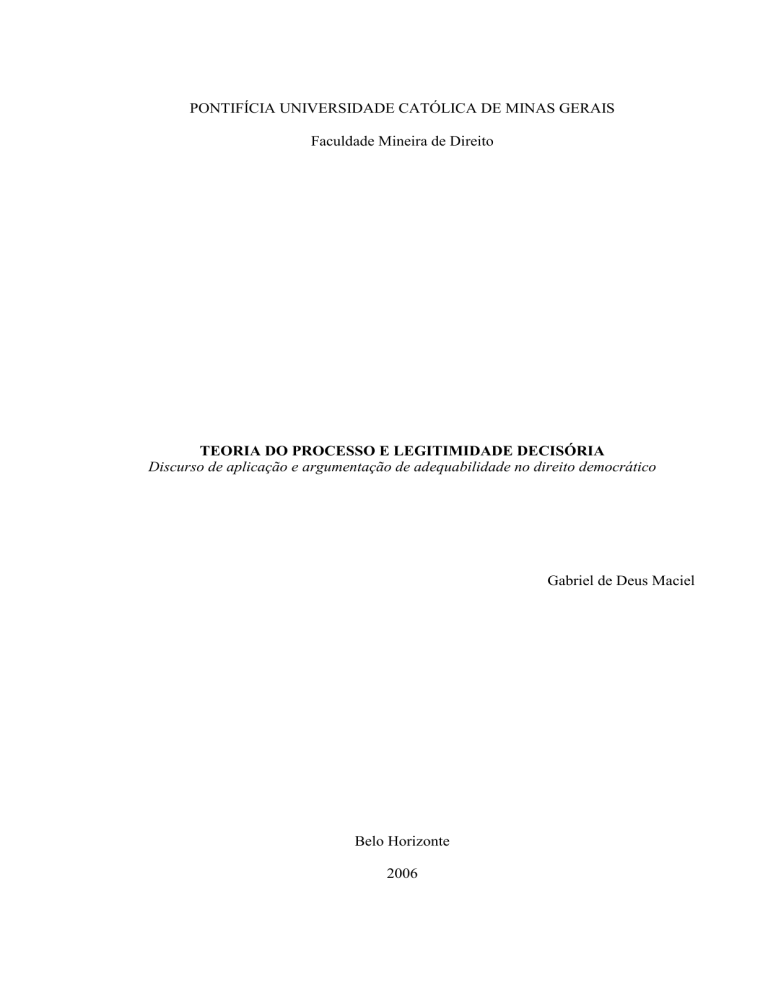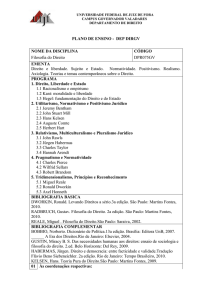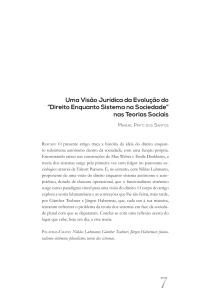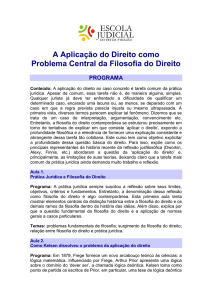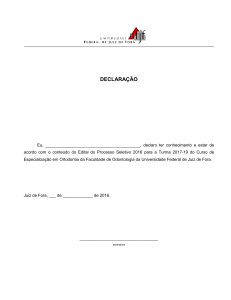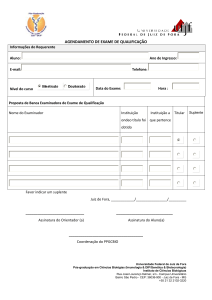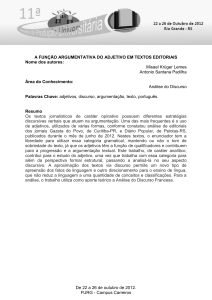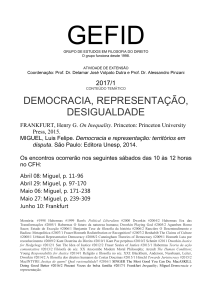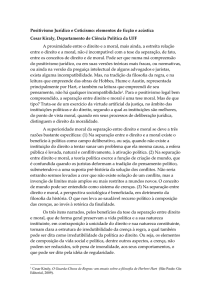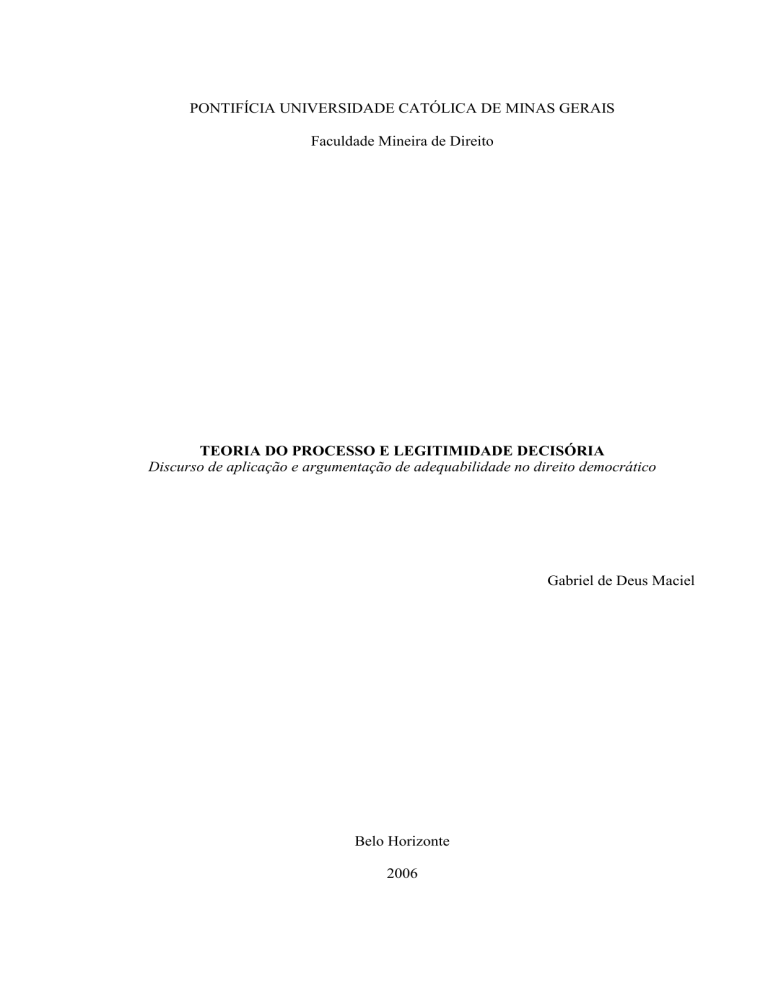
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Faculdade Mineira de Direito
TEORIA DO PROCESSO E LEGITIMIDADE DECISÓRIA
Discurso de aplicação e argumentação de adequabilidade no direito democrático
Gabriel de Deus Maciel
Belo Horizonte
2006
Gabriel de Deus Maciel
TEORIA DO PROCESSO E LEGITIMIDADE DECISÓRIA
Discurso de aplicação e argumentação de adequabilidade no direito democrático
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado
da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia
Universidade Católica de Minas de Gerais,
como requisito parcial à obtenção do título de
Mestre em Direito
Área de Concentração: Direito Processual
Orientador:
Pereira Leal
Belo Horizonte
2006
Professor
Doutor
Rosemiro
Gabriel de Deus Maciel
Teoria do processo e legitimidade decisória: discurso de aplicação e argumentação de
adequabilidade no direito democrático
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade Mineira de
Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, nível Mestrado. Belo Horizonte,
2006.
______________________________
Professor Doutor Rosemiro Pereira Leal (Orientador) – PUC Minas
______________________________
Professor Doutor Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira – PUC Minas
_______________________________
Professor Doutor Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias – PUC Minas
_______________________________
Professor Doutor José Alfredo de Oliveira Baracho – UFMG
A Cristiane; minha noiva, minha vida
AGRADECIMENTOS
À minha avó, Iracy Dias Maciel Porto, que sempre me incentivou aos estudos.
À minha mãe, Janete Cecília Maciel Porto, pelo estímulo constante ao pensar, pelo carinho e
pelas sugestões, sempre pertinentes, feitas durante a elaboração deste trabalho.
Ao meu pai, Edson Antônio de Deus, que consegue devolver a alegria mesmo aos momentos
mais tristes da vida.
A Cristiane, pelo carinho e pelo apoio, além das correções e sugestões feitas durante o
trabalho.
A Giovani José de Souza, que, em mais de uma maneira, viabilizou a execução deste trabalho.
Aos meus tios Thelma e Marcos, porto seguro durante as tormentas.
Aos meus tios Jane e Sérgio, pela alegria contagiante.
A minha tia Márcia Rosa, pelo apoio constante e por me incentivar a pensar o direito na
interface com a psicanálise.
A Sebastião Pereira, por me ensinar a escrever.
Agradeço a Maria Inês Rodrigues de Souza pela discussão crítica deste trabalho e pelo
incentivo à sua elaboração.
Aos colegas Marius Fernando Cunha de Carvalho, Adriano Ricardo de Mattos Soares e
Vinicius Lott Thibau, companheiros nas angústias da vida acadêmica.
A Elísio Vitor Figueiredo Júnior, por resolver todos os meus problemas na secretaria.
Aos amigos Cláudio e Carlos, que tanto me apoiaram, desde os tempos da graduação.
Aos Professores Fernando Horta Tavares, pela leitura crítica que fez do texto, e Zamira de
Assis, pela interlocução e pelo estímulo para repensar o direito.
A Izabel, por me adotar como um dos seus.
Ao Professor André Cordeiro Leal, por me despertar do sono dogmático.
Agradeço, especialmente, ao meu orientador, Professor Rosemiro Pereira Leal, que muito
mais do que orientação acadêmica, propiciou-me, nestes dois anos de convivência, o
aprendizado de uma vida inteira.
Agradeço aos professores José Alfredo de Oliveira Baracho, Ronaldo Brêtas de Carvalho
Dias e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, que não pouparam críticas a este trabalho,
contribuindo sobremaneira para o seu desenvolvimento e apontando novas perspectivas de
pesquisa.
RESUMO
No Estado Democrático de Direito, as razões pelas quais um juiz toma sua decisão não são
indiferentes. A racionalidade decisória, em sociedades pluralistas, não deve ser uma
racionalidade monológica. É preciso que aqueles os quais irão sofrer os efeitos da decisão
possam participar de sua preparação e, com isso, saibam quais os argumentos foram
relevantes para se chegar a um determinado resultado ou por que a decisão foi tomada em
determinado sentido. É preciso, pois, que os envolvidos contribuam para o discurso decisório
para que se reconheçam como co-autores das decisões jurídicas. Superadas as perspectivas
jusnaturalistas, que defendiam a existência de um direito suprapositivo inerente ao ser
humano, principalmente após as críticas do positivismo jurídico, o parâmetro da decisão
judicial só pode ser a lei, o direito legislado. A questão da legitimidade das decisões judiciais
no direito democrático pode ser formulada, então, da seguinte maneira: como são possíveis
decisões não só consistentes com o ordenamento jurídico, mas também racionalmente
aceitáveis? Este trabalho pretende investigar este problema, abordando-o a partir da proposta
de Klaus Günther de reconhecer a aplicação de normas jurídicas como um discurso (interação
argumentativa entre os envolvidos), em que à descrição completa da situação de fato soma-se
a coerência de normas prima facie aplicáveis com compreensões paradigmáticas do direito
vigente. Porém, essa proposta revela-se factível apenas quando uma teoria do processo
adequada viabiliza juridicamente a argumentação de adequabilidade. Uma tal teoria do
processo foi desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal. Sua teoria neo-institucionalista do
processo vincula a jurisdição aos princípios jurídicos do contraditório, isonomia e ampla
defesa. Isso possibilitou a elaboração de um espaço jurídico argumentativo, em que as partes
podem preparar argumentativamente a decisão judicial por vir. Abriu-se, assim, a
possibilidade de uma primeira resposta ao problema da legitimidade das decisões judiciais.
Palavras-chave:
Teoria do processo;
Legitimidade decisória;
Argumentação de adequabilidade;
Discursos de aplicação
ABSTRACT
In the democratic paradigm of law, the reasons why a judge take a decision are not
indifferent. Decisional rationality, in pluralistic societies, can not be monologic. Those in
which the legal sphere the judicial decision is destinated to produce its effects must participate
in its preparation, that they may know which arguments were relevant to reach a certain result
or why the decision was taken in a certain direction and not another. So, those who are
involved in application discourses must contribute to the decision-making, that they can
acknowledge themselves as coauthors of the judicial decision. Once the jusnaturalistic
perspective are not avaiable any more (specialy after the critics of the positivists), the criteria
of the judicial decisions must be found in the legislated law, in the legal statutes. The
problem of judicial decision legitimacy in the democratic paradigm of law can, thus, be
formulated as follows: how can we reach judicial decisions that are both consistent with the
legal order and rationally acceptable? The aim of this work is to investigate this problem,
approaching it from Klaus Günther’s proposal of take the application of legal norms as a
discourse (argumentative interaction between the participants), in which the complete
description of the features of a situation is combine with the coherence of prima facie
applicable norms in the face of paradigmatic understandings of the vigent law. Nevertheless,
such proposal depends on a adequate theory of process to legally implement a appropriateness
argumentation. Such theory of legal process was developted by Rosemiro Pereira Leal. His
neo-institutionalist process theory binds jurisdiction to the constitutional principles of
contradiction, broad defense and isonomy to create a legal argumentative space, where those
involved can participate argumentatively in the decision making process. Taking those
elements in count, a first preliminary answer to problem of judicial decision legitimacy could
be formulated.
Key words:
Process theory;
Decisional legitimacy;
Appropriateness argumentation;
Application discourses
“Como a decisão, na teoria da
democracia, não é soberana pelas bases
da vontade das maiorias ou de um
Estado poderoso, mas a partir de uma
escritura
prévia
de
direitos
processualmente teorizados, o decidir
não mais pode escorrer do cérebro de
um julgador privilegiado que guardasse
um sentir sapiente por juízos de justiça e
segurança que só ele pudesse, com seus
pares, aferir, induzir, ou deduzir,
transmitir e aplicar.”
Rosemiro Pereira Leal
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..........................................................................................................................9
CAPÍTULO I ............................................................................................................................12
O PROBLEMA DA LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – DO POSITIVISMO
À INTEGRIDADE ...................................................................................................................12
1 – O POSITIVISMO JURÍDICO DE HART .........................................................................12
2 – A TEORIA DO DIREITO COMO INTEGRIDADE DE DWORKIN ..............................22
3 - DISCRICIONARIEDADE DECISÓRIA: COMPREENDENDO O PROBLEMA DA
LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (I) ...............................................................28
4 - INTEGRIDADE, TAREFA HERCÚLEA: COMPREENDENDO O PROBLEMA DA
LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (II)..............................................................40
CAPÍTULO II...........................................................................................................................48
DISCURSO DE APLICAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO DE ADEQUABILIDADE...............48
5 - DISCURSO DE JUSTIFICAÇÃO E DISCURSO DE APLICAÇÃO ...............................48
6 – ELEMENTOS PARA ARGUMENTAÇÃO DE ADEQUABILIDADE...........................54
7 – ARGUMENTAÇÃO DE ADEQUABILIDADE NO DIREITO .......................................60
CAPÍTULO III .........................................................................................................................71
DISCURSO DE APLICAÇÃO E TEORIA DO PROCESSO .................................................71
8 – TEORIA DO PROCESSO E LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS ...............71
9 – PROCEDIMENTO E PROCESSO ....................................................................................76
10 – TEORIA NEO-INSTITUCIONALISTA DO PROCESSO: UMA TEORIA
DISCURSIVA ..........................................................................................................................81
11 – O CONTRADITÓRIO E A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ...........................91
12 – NOTAS SOBRE O DISCURSO DE APLICAÇÃO E O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE...................................................................................................95
CONCLUSÕES ......................................................................................................................100
Referência Bibliográfica.........................................................................................................104
9
INTRODUÇÃO
Dificilmente alguém duvidaria da afirmação “as decisões judiciais devem ser
legítimas”. Nem mesmo um ditador, que entendesse como “decisão legítima” a imposição de
sua própria vontade. Que as decisões judiciais devem ser legítimas está fora de questão. O
que interessa saber é como podem ser legítimas decisões judiciais tomadas em um espaço
jurídico que possibilite a convivência das diferenças, a crítica, a aprendizagem e o
aperfeiçoamento constante das normas que regem uma sociedade. Assim, o problema é como
podem ser legítimas as decisões judiciais, quando seus efeitos estão destinados a repercutir
em uma sociedade democrática. Neste caso, não se pode permanecer alheio ao modo pelo
qual as decisões são tomadas, a maneira pela qual a vontade decisória é formada, nem aos
caminhos que a razão percorre até concluir por uma decisão específica.
Perquirir pela
legitimidade das decisões significa, assim, percorrer os caminhos que conduziram a ela. Para
essa tarefa, não estão disponíveis, porque insondáveis, os caminhos da consciência, das
convicções íntimas, dos valores particulares. Se alter não pensa como ego, é somente pelo
medium da linguagem que se pode conseguir compreender as razões dos outros, criticá-las,
expor convicções próprias, receber críticas e finalmente aproximar-se, respeitar-se
mutuamente e conseguir acordos. Na constituição dessa linguagem, o direito cumpre papel
preeminente, torna-se condição de possibilidade desse diálogo. Isso impõe que a perspectiva
do direito como instrumento de dominação ou de controle social seja abandonada em favor da
perspectiva do direito democrático. O direito que se ergue como condição de possibilidade do
diálogo público, da participação na formação da opinião e da vontade públicas, não é qualquer
direito, é um direito qualificado.
Habermas fornece uma formulação mais precisa do problema:
“Para preencher a função de integração social do ordenamento jurídico e a
pretensão de legitimidade do direito, os tribunais devem satisfazer simultaneamente
duas condições – tomar decisões consistentes e assegurar a aceitabilidade racional
de suas decisões” (HABERMAS, 1996, p. 198).1
As decisões judiciais devem estar fundamentadas no ordenamento jurídico vigente
(consistência). Se o direito democrático é esse medium lingüístico que permite à sociedade se
1
HABERMAS, 1996, p. 198: “In order to fulfill the socially integrative function of the legal order and the
legitimacy claim of law, court rulings must satisfy simultaneously the conditions of consistent decision making
and rational acceptability”.
10
constituir juridicamente, sem recurso à violência, então as decisões dos juízes não podem
estar dissociadas daquilo que a própria sociedade escolheu, através do direito legítimo. Por
outro lado, é preciso harmonizar o requisito da consistência com o da aceitabilidade racional
das decisões.
Isso não significa que as decisões terão de ser efetivamente aceitas.
A
aceitabilidade racional quer dizer apenas que as razões pelas quais uma determinada decisão
foi tomada devem ser conhecidas: quais argumentos foram relevantes para se chegar àquela
decisão, por que determinado argumento foi aceito e outro rejeitado. Tudo isso torna uma
decisão racionalmente aceitável, ainda que não se concorde com ela.
O presente estudo procura analisar algumas das respostas que foram dadas a esse
problema. Do positivismo jurídico até a teoria do direito como integridade, autores como
Hart e Dworkin travaram debates acalorados sobre esse tema. As propostas variaram da
discricionariedade do juiz até a concepção de juízes hercúleos.
Houve progresso no
tratamento do problema, mas vários aspectos dele ainda persistem.
Este trabalho concentra-se na proposta de Klaus Günther para resolver o problema
de se tomar decisões consistentes e ao mesmo tempo racionalmente aceitáveis.
Com a
separação entre discursos de justificação e discursos de aplicação, Günther pretende
compreender a argumentação jurídica como um caso especial de argumentação moral de
aplicação, em que seria possível assegurar a imparcialidade das decisões judiciais através da
descrição completa da situação e da coerência normativa. A crítica de Habermas à tese do
caso especial (o direito não é um caso especial de argumentação moral, pois se refere, desde o
início, não à moral, mas ao direito legitimamente criado) possibilitou o tratamento jurídico do
problema. Porém, para se projetar no direito, a teoria do discurso2 demanda uma teoria do
processo, que assegure um espaço argumentativo adequado à interação argumentativa dos
interessados.
Se a aceitabilidade racional das decisões judiciais é, em suma, uma questão de
como foi tomada a decisão, nota-se por que a teoria do processo deve cumprir um papel
relevante nessa discussão. O que se pretende demonstrar a seguir é que não é qualquer teoria
do processo que serve à institucionalização da teoria discursiva do direito (ou a uma teoria
2
Falar em “discurso”, principalmente a partir das teorias de Habermas e Apel, provoca a abertura de um
horizonte de significações muito rico. Para delimitar, no entanto, o sentido desse termo ao longo do trabalho,
adotar-se-á o conceito de “discurso” tal como enunciado pela Professora Marina Velasco (2001, p. 94) – “O
contexto de interação em que falantes e ouvintes tracam argumentos é o Discurso”.
11
discursiva da tomada de decisões jurídicas).
Só uma teoria do processo radicalmente
comprometida com a democracia pode viabilizar a transição da teoria do discurso para a
teoria do direito e, com isso, permitir uma compreensão adequada da legitimidade das
decisões judiciais.
Uma tal teoria do processo foi desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal. Sua
teoria neo-institucionalista do processo vincula a jurisdição aos princípios jurídicos do
contraditório, isonomia e ampla defesa. Isso possibilitou a elaboração de um espaço jurídico
argumentativo, em que as partes podem preparar argumentativamente a decisão judicial por
vir. Abriu-se, assim, a possibilidade de uma primeira resposta ao problema da legitimidade
das decisões judiciais.
12
CAPÍTULO I
O PROBLEMA DA LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – DO
POSITIVISMO À INTEGRIDADE
1 – O POSITIVISMO JURÍDICO DE HART
A partir de uma crítica vigorosa à teoria do direito como ordens coercitivas,
defendida por autores como John Austin, Herbert Hart desenvolveu, em sua obra The Concept
of Law, publicada originalmente em 1961, uma teoria do direito em que as regras assumem o
papel central. A teoria do direito como ordens coercitivas tinha a intenção de reduzir o
fenômeno jurídico a algo puramente factual, em que não fosse preciso entrar em discussões a
respeito de sua normatividade (cf. BARZOTTO, 2004, p. 107), sempre com vistas à
utilização, também nas ciências sociais, dos métodos de verificação próprios das chamadas
ciências naturais. Com essa teoria, Hart compartilha a opinião de que onde há direito, a
conduta humana é não-opcional ou obrigatória em algum sentido.3 Sendo assim, a noção de
obrigação ocupará um lugar privilegiado nas análises de Hart.
O que poderia distinguir a ordem de um assaltante que, apontando uma arma para
a vítima, determina que ela lhe entregue o dinheiro, daquela dada por um juiz, determinando a
entrega de determinada quantia? Tendo em vista estas questões, Hart desenvolveu uma
análise da obrigação em geral, partindo das expressões “ter uma obrigação” (having an
obligation to) e “estar obrigado a” (being obliged to), para só depois tratar especificamente de
obrigações jurídicas. Segundo Hart, é compreensível que, no caso do assaltante, diga-se que a
vítima estava obrigada (compelida) a entregar o dinheiro, mas não que tinha a obrigação de
faze-lo. Os medos, as crenças ou os motivos daqueles que estão obrigados não desempenha
um papel importante nessa distinção, pois não contribuem para explicação do que quer dizer
3
HART, 1997, p. 82: “Deverá ser recordado que a teoria do direito como ordens coercitivas, não obstante seus
erros, partiu da apreciação perfeitamente correta do fato de que onde há direito, a conduta humana é feita em
algum sentido não-opcional ou obrigatória” [“It will be recalled that the theory of law as coercive orders,
notwithstanding its errors, started from the perfectly correct appreciation of the fact that where there is law,
there human conduct is made in some sense non-optional or obligatory”].
13
“ter uma obrigação”.
Percebendo isso, a teoria do direito como ordens coercitivas
desenvolveu a idéia de “ter uma obrigação” como probabilidade de sofrer uma sanção ou um
mal em caso de desobediência (cf. HART, 1997, p. 83). Contra essa noção, Hart argumenta
que o desrespeito à norma (ou padrão social de conduta) não é apenas o fundamento para a
previsão da aplicação de uma sanção, mas também a razão ou justificativa para aplicá-la (cf.
HART, 1997, p. 84). Além disso, apesar de estarem geralmente associadas, as expressões “ter
uma obrigação” e “sofrer uma sanção por desobediência” podem vir dissociadas. É possível
que alguém continue tendo a obrigação, mesmo depois de desrespeitada a norma, e não venha
a sofrer uma sanção; o fato de se furtar à sanção não elimina a obrigação. Assim, mesmo que
não haja probabilidade alguma de sofrer uma sanção, há situações em que a obrigação
continua existindo;4 logo, ter uma obrigação e sofrer provavelmente uma sanção por
desobediência são enunciados que podem divergir.
O que caracteriza, para Hart, a expressão “ter uma obrigação” é a existência de
uma regra social ou padrão de conduta. “Ter uma obrigação” implica a existência de uma
regra, mesmo que nem sempre se possa dizer que a existência de uma regra implica uma
obrigação (como se verá adiante, é caso das regras secundárias):
“A afirmação de que alguém tem ou está sob uma obrigação implica realmente a
existência de uma regra; porém, nem sempre onde existirem regras o padrão de
conduta requerido por elas poderá ser concebido em termos de uma obrigação”
(HART, 1997, p. 85-86).5
Assim, não se pode dizer no exemplo dado acima, do assaltante que coage a
vítima a entregar-lhe o dinheiro, que a vítima tenha uma obrigação, porque falta a regra social
que fundamente essa obrigação; pode-se, no entanto, dizer que a vítima foi ou que estava
obrigada (compelida) a entregar o dinheiro em virtude da grave ameaça sofrida. Uma vez
4
Hart exemplifica (1997, p. 84): “Se fosse verdadeira a afirmação segundo a qual dizer que uma pessoa tem
uma obrigação significa afirmar que ela provavelmente sofrerá uma sanção em caso de desobediência, seria
uma contradição dizer que alguém teria uma obrigação, e.g. de se apresentar ao serviço militar mas que, devido
ao fato de ter escapado da jurisdição, ou ter subornado com sucesso a polícia ou o tribunal, não haveria a
menor possibilidade de ser preso ou sofrer uma sanção. Na verdade, não há contradição alguma em dizer isto e
tais afirmações são constantemente feitas e compreendidas” [“If it were true that the statement that a person
had an obligation meant that he was likely to suffer in the event of disobedience, it would be a contradiction to
say that he had na obligation, e.g. to report for military service but that, owing to the fact that he had escaped
from the jurisdiction, or had successfully bribed the police or the court, there was not the slightest chance of his
being caught or made to suffer. In fact, there is no contradiction in saying this, and such statements are often
made and understood”].
5
HART, 1997, p. 85-86: “The statement that someone has or is under an obligation does indeed imply the
existence of a rule; yet it is not always the case that where rules exist the standard of behaviour required by
them is conceived of in terms of obligation”.
14
identificado o papel das regras na constituição de obrigações, Hart distingue três
características das normas. A primeira delas é a seriedade da pressão social por trás da regra,
é preciso que a sociedade esteja empenhada em fazer cumprir a regra em caso de
desobediência ou que haja sanções efetivas para assegurar o seu cumprimento; a segunda, diz
respeito à importância de tais regras, acredita-se que elas sejam necessárias à manutenção da
vida social ou de alguma característica muito importante dela; por fim, a conduta exigida pela
regra, apesar de benéfica aos outros, geralmente contraria aquilo que a pessoa obrigada
gostaria de fazer (cf. HART, 1997, p. 87).
Destacada a importância das regras para a existência de obrigações, pode-se
afirmar que a crítica de Hart à teoria do direito como ordens coercitivas está em que esta
teoria não descreve a conduta daqueles que seguem regras, ou seja, não descreve o
comportamento dos membros do grupo social como um comportamento determinado por
regras sociais. Isso porque para Hart as regras possuem um aspecto interno e outro externo.
Este oferece uma descrição das regras da perspectiva de um observador que examina
determinado grupo social; aquele oferece uma descrição das regras da perspectiva daqueles
que de fato as aceitam como padrão de conduta:
“Quando um grupo social possui certas regras de conduta, este fato propicia a
oportunidade para vários tipos de asserções intimamente relacionadas, mas ainda
assim diferentes; pois é possível tratar de regras ou meramente como um
observador, que não as aceita ele próprio, ou como um membro do grupo, que as
aceita e as utiliza para guiar sua conduta. Nós podemos chamar esses pontos de
vista respectivamente como externo e interno” (HART, 1997, p. 89).6
Para Hart, o ponto de vista externo não é capaz de descrever a conduta dos
membros de um grupo como um comportamento determinado por regras, logo, não é capaz de
apreender tais condutas em termos de obrigações ou deveres. Do ponto de vista externo, é
possível apenas perceber e descrever regularidades. Na medida em que o observador não
aceita as normas do grupo investigado, ele não percebe a conduta dos membros do grupo em
termos de deveres ou obrigações, pois somente aqueles que aceitam as regras percebem sua
própria conduta desta forma, uma vez que não há obrigações sem regras. Para o observador,
6
HART, 1997, p. 89: “When a social group has certain rules of conduct, this fact affords an opportunity for
many closely related yet different kinds of assertion; for it is possible to be concerned with the rules, either
merely as an observer who does not himself accept them, or as a member of the group which accepts and uses
them as guides to conduct. We may call these respectively the ‘external’ and the ‘internal points of view’”.
15
no entanto, essas condutas são percebidas em termos de padrões de regularidades, previsões,
probabilidades e signos.7 Assim, Hart afirma:
“Se, entretanto, o observador realmente mantém austeramente este ponto de vista
externo e não dá conta da maneira como os membros do grupo que aceitam as
regras vêem seus próprios comportamentos cotidianos, sua descrição da vida deles
não pode ser feita em termos de regras e, assim, também não pode ser feita em
termos das noções de obrigação e dever dependentes de regras. Ao invés, será feita
em termos de regularidades de condutas observáveis, predições, probabilidades e
signos” (HART, 1997, p. 89).8
A perspectiva externa seria aquela da teoria do direito como normas coercitivas,
razão pela qual Hart conclui que essa teoria negligencia o aspecto interno e, portanto, falha
em não perceber o papel central que as regras ocupam na teoria do direito. O aspecto interno
ocupa uma posição central na teoria de Hart. Neste aspecto, Hart identifica o traço distintivo
do direito, enquanto técnica de controle social.
Essa perspectiva permite, ainda, uma
descrição da vida social como uma tensão entre aqueles que enxergam as regras do ponto de
vista interno e aqueles que as vêem do ponto de vista externo:
“O que é característico dessa técnica [direito], comparada com ordens individuais
cara a cara como as que um oficial, como um policial no trânsito, poderia dar a um
motorista, é que os membros da sociedade são deixados para descobrir as regras e
conformar seu comportamento a elas; nesse sentido, eles ‘aplicam’ as regras eles
próprios a si próprios, apesar de estarem providos com um motivo para a
conformidade na sanção adicionada à regra” (HART, 1997, p. 39).9
E em outra passagem:
“Em qualquer momento dado, a vida social de qualquer sociedade que vive regida
por regras, legais ou não, provavelmente consistirá em uma tensão entre aqueles
que, de um lado, aceitam e voluntariamente cooperam na manutenção das regras, e,
portanto, vêem seu próprio comportamento e o de outras pessoas em termos de
7
Hart exemplifica a conduta do observador através da analogia com alguém que, ao observar durante algum
tempo o tráfico de uma rua movimentada, afirma que há uma alta probabilidade de que o tráfico pare quando o
sinal estiver vermelho. A luz vermelha é tratada por ele meramente como um sinal natural de que as pessoas vão
parar (como as nuvens são um sinal de que irá chover). Porém, dessa forma, o observador não é capaz de
perceber que para aquelas pessoas a luz vermelha não é apenas um sinal de que os outros irão parar, mas um
sinal para que elas próprias parem e, dessa forma, a luz vermelha é uma razão para parar, em conformidade com
regras que fazem do sinal vermelho um padrão de comportamento e uma obrigação (cf. HART, 1997, p. 90).
8
HART, 1997, p. 89: “If, however, the observer really keeps austerely to this external point of view and does
not give any account of the manner in which members of the group who accept the rules view their own regular
behaviour, his description of their life cannot be in terms of rules at all, and so not in the terms of the ruledependent notions of obligation or duty. Instead, it will be in terms of observable regularities of conduct,
predictions, probabilities, and signs”.
9
HART, 1997, p. 39: “What is distinctive of this technique, as compared with individuated face-to-face orders
which an official, like a policeman on traffic duty, might give to a motorist, is that the mebers of society are left
to discover the rules and conform their behaviour to them; in this sense they ‘apply’ the rules themselves to
themselves, though they are provided with a motive for conformity in the sanction added to the rule”.
16
regras, e aqueles que, por outro lado, rejeitam as regras e atendem a elas apenas do
ponto de vista externo como um sinal de uma punição” (HART, 1997, p. 91).10
Hart consegue, assim, estabelecer a importância das regras sociais (legais ou não)
na formação das obrigações. Mas, se o conjunto de regras sociais fosse composto somente
por regras que criam obrigações, padeceria, segundo Hart, de três deficiências: haveria
incerteza sobre quais seriam de fato as normas vigentes, quais os seus escopos, uma vez que
essas regras não formariam um sistema (seriam, por exemplo, como nossas regras de
etiqueta); a mudança dessas regras seria algo extremamente lento e dependeria do crescimento
da sociedade e de mudanças nos costumes, o que impõe a esse conjunto de regras um
problema de estática; finalmente, tais regras sofreriam de ineficiência, uma vez que a pressão
social, que as assegurariam, estaria difusa na sociedade, sem um aparato centralizado para
identificar o desrespeito às regras e a conseqüente aplicação das sanções (HART, 1997, p. 9293). A solução para esses problemas estaria, segundo Hart, em introduzir, ao lado das regras
que criam obrigações, regras que ele chamará de primárias, outras regras ditas secundárias,
que não criam obrigações, mas conferem competências, estabelecem procedimentos e
permitem identificar as regras válidas.11 A inclusão de regras secundárias marca, segundo
Hart, a passagem do regime de regras pré-jurídicas para um sistema jurídico. Com isso, o
direito pode ser caracterizado, por fim, como um sistema de regras primárias e secundárias:
“O remédio para cada um desses três defeitos principais [incerteza, estática,
ineficiência] nessa forma mais simples de estrutura social consiste em suplementar
as regras primárias de obrigação com regras secundárias que são de uma espécie
10
HART, 1997, p. 91: “At any given moment the life of any society which lives by rules, legal or not, is likely to
consist in a tension between those who, on the one hand, accept and voluntarily co-operate in maintaining the
rules, and so see their own and other persons’ behaviou in terms of the rules, and those who, on the other hand,
reject the rules and attend to them only from the external point of view as a sign of possible punishment”.
11
HART distingue entre regras primárias e regras secundárias da seguinte forma (1997, p. 81): “Sob as regras
do primeiro tipo, que podem bem ser consideradas do tipo básico ou primárias, é exigido dos seres humanos
fazer ou deixar de fazer determinadas ações, queiram eles ou não. Regras do outro tipo são em certo sentido
parasitárias ou secundárias às primeiras; pois elas determinam que os seres humanos podem, por seus atos ou
por certas asserções, introduzir novas regras de tipo primário, extingui-las ou modificar as regras mais
antigas, ou, de várias maneiras, determinar sua incidência ou controlar sua atuação. Regras do primeiro tipo
impõe deveres; regras do segundo conferem poderes, públicos ou privados. Regras do primeiro tipo dizem
respeito a ações envolvendo movimentos ou mudanças físicas; regras do segundo regulamentam operações que
conduzem não apenas a movimento ou mudanças físicas, mas à criação ou variação de deveres e obrigações”
[“Under rules of the one type, which may well be considered the basic or primary type, human beings are
required to do or abstain from certain actions, wheher they wish to or not. Rules of the other type are in a sense
parasitic upon or secondary to the first; for they provide that human beings may by doing or saying certain
things introduce new rules of the primary type, extinguish or modify old ones, or in various ways determine their
incidence or control their operations. Rules of the first type impose duties; rules of the second type confer
powers, public or private. Rules of the fist type concern actions involving physical movement or changes; rules
of the second type provide for operations which lead not merely to physical movement or change, but to the
creation or variation of duties or obligations”].
17
diferente. A introdução do remédio para cada defeito poderia, em si própria, ser
considerada como um passo do mundo pré-jurídico para o jurídico – uma vez que
cada remédio traz consigo muitos elementos que permeiam o direito: certamente os
três remédios juntos são o bastante para converter um regime de regras primárias
no que é incontestavelmente um sistema jurídico” (HART, 1997, p. 94).12
Assim, para resolver o problema da ineficiência, Hart sugere a introdução de
‘regras de adjudicação’ (cf. HART, 1997, p. 97), que atribuem competência a determinados
órgãos para julgar as controvérsias; regulamentam como a jurisdição será exercida; e
instituem procedimentos para tanto. A solução para o problema da estática passa, segundo
Hart, pela introdução de ‘regras de mudança’ (cf. HART, 1997, p. 95-96), que conferem
competência a um indivíduo ou grupos de indivíduos para estabelecerem novas regras
primárias ou para extinguir ou mudar as já existentes. Além disso, essas regras de mudança
definiriam o procedimento legislativo, ou seja, o procedimento para criar novas regras. Por
fim, e esse ponto merece maior atenção, para solucionar o problema da incerteza, Hart sugere
a introdução de uma ‘regra de reconhecimento’, assim caracterizada:
“Esta especificará alguma característica ou características, cuja posse por uma
regra sugerida é tida como uma indicação afirmativa e conclusiva de que aquela
regra é uma regra do grupo que deverá ser garantida pela pressão social que ela
externa. A existência de uma tal regra de reconhecimento pode adquirir uma
grande variedade de formas, simples ou complexa” (HART, 1997, p. 94).13
A regra de reconhecimento permite, pois, identificar algumas características, que
indicam a pertinência da regra ao conjunto de regras jurídicas, ou ao conjunto de regras que
terão curso pela imposição de tribunais, responsáveis pela aplicação da sanção que elas
estabelecem para o caso de seu descumprimento. A regra de reconhecimento, por outro lado,
é responsável pela unidade do sistema, pois é ela que permite a identificação das regras, assim
como a formação de uma hierarquia entre elas. Por fim, vale ressaltar que ela é responsável
pelo traço autoritativo das regras do sistema, isto é, permite identificar por quais regras os
membros do grupo social deverão orientar sua conduta. Sendo assim:
“Provendo uma marca autoritativa ela [regra de reconhecimento] introduz, ainda
que de forma embrionária, a idéia de um sistema jurídico: pois as regras agora não
12
HART, 1997, p. 94: “The remedy for each of these three main defects in this simplest form of social structure
consists in supplementing the primary rules of obligation with secondary rules which are rules of a different
kind. The introduction of the remedy for each defect might, in itself, be considered a step from the pre-legal into
the legal world; since each remedy brings with it many elements that permeate law: certainly all three remedies
together are enough to convert the regime of primary rules into what is indisputably a legal system”.
13
HART, 1997, p. 94: “This will specify some feature or features possession of whic by a suggested rule is
taken as a conclusive affirmative indication that it is a rule of the group to be supported by the social pressure it
exerts. The existence of such a rule of recognition may take any of a huge variety of forms, simple or complex”.
18
são apenas um conjunto discreto e desarticulado, mas estão, de maneira simples,
unificadas” (HART, 1997, p. 95).14
Daí segue, para Hart, a idéia de validade jurídica. Segundo Hart, uma regra é
válida quando passa pelos testes estabelecidos pela regra de reconhecimento para identificar
as regras pertencentes ao sistema. Dizer que uma regra é válida significa dizer que é uma
regra pertencente ao sistema e que, portanto, satisfaz todos os critérios estabelecidos pela
regra de reconhecimento, possui todas as características requeridas por esta para pertencer ao
sistema jurídico.15 O sentido da validade de uma regra jurídica está, pois, atrelado à regra de
reconhecimento:
“Dizer que uma determinada regra é válida significa reconhecer que ela passa por
todos os testes estabelecidos pela regra de reconhecimento e que é assim uma regra
do sistema. Na verdade, podemos dizer simplesmente que o enunciado de que uma
regra particular é válida significa que ela satisfaz todos os critérios estabelecidos
pela regra de reconhecimento” (HART, 1997, p. 103).16
Hart não vê nenhuma ligação necessária entre validade e eficácia. Caracterizando
a eficácia como o fato de uma regra ser mais obedecida do que desobedecida, Hart sustenta
que uma não depende da outra, não havendo, portanto, entre validade e eficácia nenhuma
conexão logicamente necessária:
“Se por ‘eficácia’ entende-se o fato de que uma regra de direito, que requer
determinado comportamento, é obedecida mais freqüentemente do que não, está
claro que não há conexão necessária entre a validade de uma regra particular e a
sua eficácia, a não ser que a regra de reconhecimento de um sistema inclua entre os
seus critérios, como alguns sistemas fazem, a provisão (às vezes referida como
regra de obsolecência) de que nenhuma regra deve valer como regra do sistema se
há muito deixou de ser eficaz” (HART, 1997, p. 103).17
14
HART, 1997, p. 95: “By providing an authoritative mark it introduces although in embryonic form, the idea
of a legal system: for the rules are now not just a discrete unconnected set but are, in a simple way, unified”.
15
O exemplo de Hart diz respeito a uma sociedade extremamente simples, em que as regras emanadas por um
rei, Rex, seriam respeitadas como regras jurídicas. A regra de reconhecimento desta sociedade estabeleceria,
então, que aquilo que Rex determina é regra de direito (cf. HART, 1997, p. 96). Em sistemas jurídicos mais
complexos a regra de reconhecimento também precisa sê-lo, pois deverá indicar a posição, por exemplo, dos
costumes enquanto fonte do direito, se eles se submetem ou não às leis escritas, enquanto uma fonte superior, e
assim por diante; a regra de reconhecimento deverá seguir estabelecendo critérios para que se identifique as
regras de direito e a sua posição dentro do sistema.
16
HART, 1997, p. 103: “To say that a given rule is valid is to recognize it as passing all the tests provided by
the rule of recognition and so as a rule of the system. We can indeed simply say that the statement that a
particular rule is valid means that it satisfies all the criteria provided by the rule of recognition”.
17
HART, 1997, p. 103: “If by ‘efficacy’ is meant that the fact that a rule of law which requires certain
behaviour is obeyed more often than not, it is plain that there is no necessary connection between the validity of
any particular rule and its efficacy, unless the rule of recognition of the system includes among its criteria, as
some do, the provision (sometimes refered to as a rule of obsolescence) that no rule is to count as a rule of the
system if it has long ceased to be efficacious”.
19
Contudo, apesar de não ser condição para a validade, a eficácia é erigida por Hart
a uma das condições mínimas de existência de um sistema jurídico. Na verdade, as condições
mínimas que Hart estabelece para a existência de um sistema jurídico dependem da eficácia:
por um lado, as regras válidas devem ser geralmente obedecidas, por outro, a regra de
reconhecimento deve ser aceita como padrão de conduta por aqueles responsáveis por sua
aplicação:
“Existem, pois, duas condições mínimas, necessárias e suficientes, para a existência
de um sistema jurídico. De um lado, aquelas regras de comportamento que são
válidas, segundo os critérios últimos de validade do sistema, devem ser geralmente
obedecidas, e, por outro lado, a regra de reconhecimento do sistema, que especifica
os critérios de validade jurídica, e suas regras de mudança e de adjudicação devem
ser efetivamente aceitas pelas autoridades como padrões públicos comuns de
comportamento oficial” (HART, 1997, p. 116).18
Cabe notar, ainda, que a regra de reconhecimento é descrita por Hart como uma
regra fático-jurídica. Não se trata de uma regra puramente jurídica, porque é esta a regra que
estabelece justamente o critério de validade jurídica, não havendo, portanto, um critério
jurídico superior a ela própria para determinar sua validade; nem é, por outro lado,
inteiramente fática, na medida em que estabelece critérios jurídicos de validade. Isso ajuda a
compreender e localizar a eficácia na teoria de Hart. A regra de reconhecimento comporta
afirmações a partir dos dois pontos de vista interno e externo. Do ponto de vista externo, ela é
um fato que pode ser observado, onde houver um sistema válido de regras. Do ponto de vista
interno, ela adquire caráter jurídico, haja vista que os responsáveis pela aplicação,
implementação e criação de outras regras a utilizarão para determinar sua própria conduta.
Assim tem-se que:
“A razão para chamar a regra de reconhecimento de ‘jurídica’ [law] é que a regra
que supre critérios para a identificação de outras normas do sistema pode ser
pensada como uma característica que define o sistema jurídico, e então ela própria
merece ser chamada ‘jurídica’ [law]; a razão para chamá-la ‘fática’ é que afirmar
que uma tal regra existe é, na verdade, fazer uma afirmação externa sobre um fato
relativo à maneira pela qual as regras de um sistema ‘eficaz’ são identificadas”
(HART, 1997, p. 111-112).19
18
HART, 1997, p. 116: “There are therefore two minimum conditions necessary and sufficient for the existence
of a legal system. On the one hand, those rules of behaviour which are valid accoding to the system’s ultimate
criteria of validity must be generally obeyed, and, on the other hand, its rules of recognition specifying the
criteria of legal validity and its rules of change and adjudication must be effectively accepted as commonpublic
standards of official behavior by its officials”.
19
HART, 1997, p. 111-112: “The case for calling the rule of recognition ‘law’ is that the rule providing criteria
for the identification of other rules of the system may well be thougt a defining feature of a legal system, and so
itself worth calling ‘law’; the case for calling it fact is that to assert that such a rules exists is indeed to make an
external statement of an actual fact concerning the manner in which the rules of an ‘efficacious’ system are
identified”.
20
Não se pode negligenciar aqui a crítica que Barzotto dirige a todas as construções
positivistas de norma suprema e que se aplica perfeitamente à regra de reconhecimento de
Hart:
“Há uma circularidade na construção: um conjunto de normas forma um sistema
jurídico na medida em que possui uma norma suprema, mas a norma suprema só
existe face a um conjunto de normas já identificado como jurídico” (BARZOTTO,
2004, p. 145).
Como as regras estabelecem os padrões de conduta a serem observados, uma vez
que são elas que criam obrigações e as instrumentalizam, criando tribunais para decidir os
casos controvertidos, criando órgãos legislativos e estabelecendo procedimentos, elas devem
ser comunicadas.
O sucesso do direito, afirma Hart, depende, em grande medida, da
capacidade de multidões de indivíduos reconhecerem os atos particulares e as circunstâncias
como instâncias das classificações gerais feitas pelo direito (cf. HART, 1997, p. 124). É
preciso, pois, instrumentos que permitam comunicar as regras jurídicas para que elas possam
ser reconhecidas e utilizadas pelos membros do grupo social. Dois foram, para Hart, os
principais mecanismos de comunicação das regras na história do direito: a legislação (regra
escrita) e o precedente. O primeiro (a regra escrita) faz um uso máximo de expressões gerais,
universais; enquanto o segundo, um uso mínimo. Um opera estabelecendo classificações
gerais; o outro, por exemplos. Ambos compartilham, porém, uma área de indeterminação. O
precedente, ou a comunicação da regra através de exemplos, deixa aberta a questão a respeito
de quanto uma conduta deve parecer com aquela conduta exemplar para que se possa dizer
que segue de fato o exemplo. Por outro lado, a regra escrita produz dúvidas sobre se um dado
caso particular se enquadra ou não dentro da situação geral traçada pela regra.
Evidentemente, em ambas as técnicas, existe uma massa de casos modelares, com
características que se repetem, que não levantam essas questões, mas em alguns casos a
aplicação da regra será posta em questão e haverá dúvidas a respeito de qual a conduta
adequada para dar cumprimento à regra. Para Hart, essas dúvidas sempre surgirão, porque o
ser humano estaria sujeito a duas limitações: uma relativa ignorância a respeito das
circunstâncias de fato e uma relativa indeterminação de objetivos.20 Essas duas limitações,
quando reconhecidas na indeterminação deixada pela linguagem das regras, leva Hart a
concluir que toda regra possui uma textura aberta:
20
HART, 1994, p. 128: “A primeira limitação é a nossa ignorância dos fatos: a segunda, a nossa relativa
indeterminação de objetivos” [“The first handicap is our relative ignorance of fact: the second is our relative
indeterminacy of aim”].
21
“Todas as regras envolvem reconhecer ou classificar casos particulares como
instâncias de termos gerais, e, em tudo que nós estamos preparados para chamar de
regra, é possível distinguir casos centrais claros, onde a regra certamente se aplica,
e outros onde há razões tanto para afirmar, quanto para negar que ela se aplica.
Nada pode eliminar essa dualidade de um núcleo de certeza e uma penumbra de
dúvida, quando nós nos empenhamos em trazer situações particulares sob regras
gerais. Isso impõe a todas as regras uma orla de vagüidade ou ‘textura aberta’, e
isso pode afetar tanto a regra de reconhecimento, que especifica os critérios últimos
usados na identificação do direito, quanto uma lei particular” (HART, 1997, p.
123).21
A conclusão, segundo Hart, de aplicar uma determinada regra a um caso que cai
no âmbito de textura aberta dessa regra, ainda que não seja arbitrária ou irracional, é na
verdade uma escolha. Aquele que aplica a regra escolhe adicionar a uma linha de casos um
caso novo, devido as suas características e semelhanças serem suficientemente próximas com
outros casos (cf. HART, 1997, p. 127). Há, pois, uma margem de discricionariedade para
decidir esses casos. Portanto, tribunais e juízes exerceriam uma atividade criadora, em casos
que não se enquadrassem nos estreitos limites da linha de exemplos e casos modelares que
determinam a aplicação das regras. Esse exercício de discricionaridade é, finalmente, aquilo
que a textura aberta das regras quer dizer:
“A textura aberta do direito significa que existem, na verdade, áreas de conduta
onde muito deve ser desenvolvido por tribunais ou oficiais, buscando um equilíbrio,
sob à luz das circunstâncias, entre interesses em conflito, que variam em peso de um
caso para outro” (HART, 1997, p. 135).22
Com isso, pode-se concluir, parafraseando Ronald Dworkin (cf. DWORKIN,
1978, p. 81), o qual se oporá à tese de Hart, que este último desenvolve uma teoria para
solução de casos difíceis: se um determinado caso não se enquadra na previsão de nenhuma
regra do direito, o julgador poderá decidir esse caso discricionariamente, adotando a resposta
que lhe parecer, para ele julgador, a mais adequada.
21
HART, 1997, p. 123: “All rules involve recognizing or classifying particular cases as instances of general
terms, and in the case of everything which we are prepared to call a rule it is possible to distinguish clear
central cases, where it certainly applies and others where there are reasons for both asserting and denying that
it applies. Nothing can eliminate this duality of a core of certainty and a penumbra of doubt when we are
engaged in bringing particular situations under general rules. This imparts to all rules a fringe of vagueness or
‘open texture’, and this may affect the rule of recognition specifying the ultimate criteria used in the
identification of the law as much as a particular statute”.
22
HART, 1994, p. 135: “The open texture of law means that there are, indeed, areas of conduct where much
must be left to be developed by courts or officials striking a balance, in the light of circumstances, between
competing interests which vary in weight from case to case”.
22
2 – A TEORIA DO DIREITO COMO INTEGRIDADE DE DWORKIN
A partir de 1977, com a publicação da obra Taking Rights Seriously, Ronald
Dworkin começou a traçar os contornos de uma teoria do direito que iria se opor à de Hart em
muitos pontos, dentre os quais a forma de compreender a atividade dos juízes. Dworkin se
propõe a descrever de outra maneira a forma pela qual os juízes tomam suas decisões. Sua
teoria termina por rejeitar o caráter discricionário que a teoria de Hart atribuía às decisões
judiciais nos casos difíceis. No que se segue, pretende-se descrever, em linhas gerais, a teoria
do direito de Dworkin.
Pode-se dizer que a primeira objeção que Dworkin faz aos positivistas,23 tendo
como alvo especificamente a teoria de Hart, é que o direito não pode ser reduzido a um
conjunto de regras, todas identificáveis por uma única regra de reconhecimento, não importa
quão complexa esta seja. Ao lado das regras promulgadas por uma autoridade (seja um
soberano, ou a sociedade personificada em um corpo legislativo), cujo conjunto forma o
direito na concepção de Hart por exemplo, existiria um outro tipo de norma: os princípios.
Pode-se dizer que, para Dworkin, há uma diferença lógica entre regras e
princípios. Essa diferença pode ser percebida no modo de aplicação de ambas as espécies
normativas.
Regras, como afirma Dworkin, aplicam-se da forma tudo-ou-nada (all-or-
nothing) (cf. DWORKIN, 1978, p. 24); se estão dados os fatos estipulados por uma regra
válida, deve-se aceitar a resposta que a regra fornece; dessa forma, se duas regras fornecem
respostas diferentes para um mesmo caso, uma delas não pode ser válida.24
No caso de
colisão de regras, o sistema jurídico deve dispor de outras regras que regulamentem o
conflito, estabelecendo critérios para que se escolha entre uma ou outra (cf. DWORKIN,
1978, p. 27) (como por exemplo, “lei posterior derroga lei anterior”, ou “a regra
constitucional prevalece sobre a infraconstitucional”).
Por sua vez, os princípios não
estipulam conseqüências jurídicas que se seguem automaticamente, uma vez preenchidas as
23
Sobre isso, ver o item 3, infra.
DWORKIN, 1978, p. 24: “Regras são aplicáveis à maneira tudo-ou-nada. Se os fatos que uma regra estipula
estão dados, então, ou a regra é válida, caso em que a resposta que ela fornece deve ser acatada, ou a regra
não é válida, caso em que não contribui em nada para a decisão” [“Rules are applicable in an all-or-nothing
fashion. If the facts a rule stipulates are given, then either the rule is valid, in which case the answer it supplies
must be accepted, or it is not, in which case it contributes nothing to the decision”].
24
23
condições que eles estabelecem (cf. DWORKIN, 1978, p. 25). Daí decorre uma segunda
diferença, que diz respeito à dimensão de peso que só os princípios possuem. Assim, se dois
princípios conflitam na solução de um determinado caso, quer dizer, um justifica uma decisão
em um sentido e o outro justifica uma decisão em sentido contrário, deve-se indagar sobre o
peso de cada um dos princípios diante daquele caso específico, ambos os princípios, porém,
permanecem válidos:
“Princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão de peso ou
importância. Quando princípios entrecruzam-se (a política de proteção aos
consumidores de automóveis entrecruzando-se com princípios de liberdade de
contratar por exemplo), aquele que deve resolver o conflito tem que levar em conta
o peso relativo de cada um. Isso não pode ser, evidentemente, uma medida exata, e
o juízo de que um princípio particular ou política é mais importante do que outro
muitas vezes será controverso. Não obstante, que o princípio tenha essa dimensão é
uma parte integrante do seu conceito, pois faz sentido perguntar quão importante
ou quão pesado ele é” (DWORKIN, 1978, p. 26-27).25
Ao lado dos princípios, existem também políticas (policies).
Políticas
estabelecem metas a serem alcançadas e estão geralmente associadas ao crescimento
econômico, ao crescimento da riqueza, ou seja, aspectos que dizem respeito ao bem estar da
coletividade. “Argumentos de política justificam uma decisão política, mostrando que a
decisão favorece ou protege alguma meta coletiva da comunidade como um todo”
(DWORKIN, 1978, p. 82).26 Já os princípios não estão relacionados a metas coletivas, mas a
direitos individuais ou de grupos determinados, que dizem respeito a exigências de justiça e
de eqüidade.
Portanto, “Argumentos de princípios justificam uma decisão política por
mostrar que a decisão respeita ou assegura algum direito individual ou de um grupo”
(DWORKIN, 1978, p. 82).27 Em resumo:
“Chamo uma ‘política’ àquele tipo de padrão que estabelece metas a serem
alcançadas, geralmente uma melhora em algum aspecto econômico, político ou
social da comunidade (apesar de algumas metas serem negativas, pois determinam
que algum aspecto presente deve ser protegido contra retrocessos). Chamo
‘princípio’ a um padrão que deve ser observado, não porque isso produzirá algum
25
DWORKIN, 1978, p. 26-27 “Principles have a dimension that rules do not – the dimension of weight or
importance. When princíples intersect (the policy of protecting automobile consumers intersecting with
principles of freedom of contract, for example), one who must resolve the conflict has to take into account the
relative weight of each. This cannot be, of course, an exact measurement, and the judgement that a particular
principle or policy is more important than another will often be a controversial one. Nevertheless, it is an
integral part of the concept of a principle that it has this dimension, that it makes sense to ask how important or
how weighty it is”.
26
DWORKIN, 1978, p. 82: “Arguments of policy justify a political decision by showing that the decision
advances or protects some collective goal of the community as a whole”.
27
DWORKIN, 1978, p. 82: “Arguments of principle justify a political decision by showing that the decision
respects or secures some individual or group right”.
24
avanço ou garantirá uma determinada situação econômica ou social que se crê
desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou de eqüidade ou de alguma
outra dimensão da moral” (DWORKIN, 1978, p. 22-23).28
Resumindo:
“Argumentos de princípio são argumentos destinados a estabelecer um direito
individual; argumentos de política são argumentos destinados a estabelecer uma
meta coletiva. Princípios são proposições que descrevem direitos; políticas são
proposições que descrevem metas” (DWORKIN, 1978, p. 90).29
Para Dworkin, esses princípios jurídicos, que descrevem direitos individuais, não
podem ser identificados por uma regra que especifique critérios para identificação de outras
regras ou regra de reconhecimento; os princípios não comportam um teste de pedigree. A
origem desses princípios jurídicos estaria em um senso de adequabilidade desenvolvido pelos
profissionais do direito e pelo público ao longo do tempo:
“A origem destes [princípios] como princípios jurídicos não está em uma decisão
particular de algum legislador ou tribunal, mas em um senso de adequabilidade
desenvolvido na atividade profissional e pelo público ao longo do tempo. A
continuidade de seu poder depende da manutenção desse senso de adequabilidade”
(DWORKIN, 1978, p. 40).30
O reconhecimento de um princípio por um juiz ou tribunal, assim como o peso de
um princípio, depende de quanto suporte institucional é possível conseguir para fundamentar
esse princípio. O suporte institucional de que fala Dworkin diz respeito ao fato do princípio
haver sido citado em alguma outra decisão, ou poder ser deduzido de algum texto de lei; o
suporte institucional quer dizer que o princípio, de algum modo, faz parte da história de um
determinado ordenamento jurídico. Desse modo, a fundamentação de um princípio jurídico
depende da história institucional, ou seja, o princípio deve ser reconstruído a partir do
conjunto de decisões tomadas no passado pelos tribunais ou pelo legislativo:
28
DWORKIN, 1978, p. 22-23: “I call a ‘policy’ that kind of standard that sets out a goal to be reached,
generally an improvement in some economic, political, or social feature of the community (though some goals
are negative, in that they stipulate that some present feature is to be protected from adverse change). I call a
‘principle’ a standard that is to be observed, not because it will advance or secure an economic, political, or
social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension
of morality”.
29
DWORKIN, 1978, p. 90: “Arguments of princíple are arguments intended to establish an individual right;
arguments of policy are arguments intended to establish a collective goal. Principles are propositions that
describe rights; policies are propositions that describe goals”.
30
DWORKIN, 1978, p. 40: “The origin of these as legal principles lies not in a particular decision of some
legislature or court, but in a sense of appropriateness developed in the profession and the public over time.
Their continued power depends upon this sense of appropriateness being sustained”.
25
“Certo, se fôssemos desafiados a fundamentar nossa pretensão de que determinado
princípio é um princípio do direito, mencionaríamos quaisquer casos anteriores
nos quais aquele princípio fosse citado, ou tivesse figurado no argumento.
Mencionaríamos, ainda, qualquer texto de lei que parecesse exemplificar aquele
princípio (melhor ainda se o princípio fosse citado no preâmbulo do texto legal, ou
nos relatórios de comissões ou outro documento legislativo que o acompanhasse).
A não ser que pudéssemos conseguir tal suporte institucional, provavelmente
falharíamos em nossa argumentação, e quanto mais suporte conseguíssemos, mais
peso poderíamos reclamar para o princípio” (DWORKIN, 1978, p. 40).31
Assim, pode-se dizer que os princípios são normas de um tipo diferente daquelas
descritas pelo positivismo. Dworkin insiste em que o positivismo concebeu um ordenamento
jurídico composto apenas por regras, deixando de prestar a devida atenção aos princípios.
Somente por conceber um ordenamento jurídico composto apenas por regras, segundo
Dworkin, viu-se o positivismo, sempre tendo como alvo a teoria de Hart, forçado a aceitar a
discricionaridade dos juízes para decidir casos em que não havia regulamentação ou em que a
regulamentação existente não provia uma resposta unívoca. Dworkin tenta evitar a tese da
discricionaridade, sustentando o que ele chama de Tese dos Direitos, segundo a qual as
decisões judiciais impõem o cumprimento de direitos políticos já existentes (cf. DWORKIN,
1978, p. 87),32 quer dizer, as decisões judiciais são caracteristicamente, e deveriam ser,
geradas por princípios e não por políticas (cf. DWORKIN, 1978, p. 84). Como os princípios
descrevem direitos individuais, e como as decisões judiciais em casos difíceis devem ser
guiadas por princípios, não haveria espaço para a discricionaridade, no sentido de que os
juízes não estariam livres, em tais casos, para criarem direitos ou constituir obrigações que
não existissem anteriormente.
Nos chamados casos difíceis (hard cases), em que não há uma regra específica
que ofereça uma resposta unívoca ao problema posto, ao contrário de tomar uma decisão
31
DWORKIN, 1978, p. 40: “True, if we were challenged to back up our claim that some principle is a principle
of law, we would mention any prior cases in which that principle was cited, or figured in the argument. We
would also mention any statute that seemed to exemplify that principle (even better if the principle was cited in
the preamble of the statute, or in the committee reports or other legislature documents that accompanied it).
Unless we could find some such institutional support, we would probably fail to make out our case, and the more
support we found, the more weight we could claim for the principle”.
32
Para Dworkin, direitos políticos são objetivos políticos individuados (1978, p. 91): “Eu começo com a idéia de
um objetivo político como uma justificativa política genérica. Uma teoria política toma um estado de coisas
como um objetivo político se, para aquela teoria, esse objetivo conta em favor de alguma decisão política, que
provavelmente leva adiante ou protege aquele estado de coisas, e por outro lado conta contra uma decisão que
o retardará ou o colocará em perigo. Um direito político é um objetivo político individuado” [“I begin with the
idea of a political aim as a generic political justification. A political theory takes a certain state of affairs as a
political aim if, for that theory, it counts in favor of any political decision that the decision is likely to advance,
or to protect, that state of affairs, and counts against the decision that it will retard or endanger it. A political
right is an individuated political aim”]
26
discricionária, deve o juiz, segundo Dworkin, construir uma decisão para o caso a partir dos
princípios, ou seja, respeitando direitos individuais. Para Dworkin, os juízes, bem como
qualquer funcionário público encarregado de tomar decisões, estão sujeitos à responsabilidade
política por suas decisões. A doutrina da responsabilidade política, como enunciada por
Dworkin, impõe que os funcionários públicos só podem tomar decisões dentro do quadro de
uma teoria política, que ofereça também uma justificativa para as outras decisões tomadas ou
que estes funcionários pretendam tomar.33 Assim, para que um juiz tome uma decisão com
apoio em princípios, em um caso difícil, será preciso que ele demonstre que o princípio
encontra apoio e se justifica perante (não contradiz) as decisões que foram tomadas no
passado, bem como em relação a um programa de decisões futuras:
“Um argumento de princípio pode oferecer uma justificativa para uma decisão
particular, sob a doutrina da responsabilidade, somente se for possível mostrar que
o princípio citado é consistente com decisões anteriores, que não foram retratadas,
e com decisões que a instituição está preparada para tomar em circunstâncias
hipotéticas” (DWORKIN, 1978, p. 88).34
Percebe-se que a exigência posta pela doutrina da responsabilidade é que o juiz,
ao tomar suas decisões, deve elaborar uma teoria que faça da história institucional daquela
comunidade de indivíduos um todo coerente. Isto é, o princípio que se decida aplicar não
pode estar em contradição com o todo das decisões que foram tomadas no passado; não pode
estar em franca oposição àquilo que os tribunais decidiram e àquilo que o legislador
transformou em lei. Por isso, é preciso desenvolver uma determinada teoria que explique a
conexão e as relações entre essas decisões passadas e que permita justificar, ou que se possa
deduzir, o princípio que se quer aplicar. Dworkin reconhece que a exigência de consistência
total seria um exagero. Certamente, não seria possível harmonizar decisões contraditórias que
foram tomadas no passado. Daí segue que a teoria a ser desenvolvida terá que considerar
parte da história institucional, que ela tenta explicar, como um erro (cf. DWORKIN, 1978, p.
119). A teoria que está por trás da decisão judicial deve prover, também, uma teoria dos
33
DWORKIN, 1978, p. 87: “Juízes, como qualquer autoridade política, estão sujeitos à doutrina da
responsabilidade política. Essa doutrina sustenta, em sua forma mais geral, que as autoridades políticas devem
tomar apenas aquelas decisões políticas que possam ser justificadas dentro de uma teoria política que também
possa justificar outras decisões que elas se proponham a tomar” [“Judges, like all political officials, are
subject to the doctrine of political responsibility. This doctrine states, in its most general form, that political
officials must make only such political decisions as they can justify within a political theory that also justifies the
other decisions they propose to make”].
34
DWORKIN, 1978, p. 88: “An argument of principle can supply a justification for a particular decision,
under the doctrine of responsibility, only if the principle cited can be shown to be consistent with earlier decision
not recanted, and with decision that the institution is prepared to make in the hypothetical circunstances”.
27
erros, que deve conter duas partes: uma que exponha as conseqüências para argumentos
futuros de considerar parte da história institucional como um erro, e uma outra que limite o
número de eventos que possam ser caracterizados como um erro.35 A conseqüência disso é
que não será possível dizer, diante de toda e qualquer proposição contrária à decisão que se
queira tomar, tratar-se de um erro institucional, de modo a afastar qualquer limitação ou
critério decisório.
Essa forma de decisão desenvolvida por Dworkin levou-o, posteriormente (com a
publicação da obra Law’s Empire, em 1986), a recorrer à imagem do romance em cadeia.
Para Dworkin, o juiz assemelha-se a um romancista que escreve um capítulo de um romance
escrito a várias mãos, em que cada capítulo é escrito por um escritor diferente. Tal como esse
romancista, o juiz receberá os capítulos anteriores, que já começaram a história, ou seja, já
existem personagens, já existe uma certa trama, quer dizer, decisões já foram tomadas
interpretando o direito em certo sentido, e tudo isso deverá ser levado em conta pelo
juiz/romancista. O romancista não pode desconsiderar o que foi escrito anteriormente e
começar uma nova história, tal como o juiz não poderá desconsiderar as leis e os precedentes
e tomar a decisão que ele julgar simplesmente mais adequada. Porém, a coerência que se
exige do juiz, tal como a que se exige do romancista, não significa que ele deve ficar adstrito
àquilo que foi decidido no passado, pois no momento de tomar a decisão o juiz escreve, assim
como o romancista, a continuação daquela história, de modo a torná-la a melhor possível.
Tanto num quanto noutro caso, é preciso buscar os princípios que movem as histórias, ordenálos, de tal forma que se possa compreender e desenvolver a história da melhor forma possível
(cf. DWORKIN, 1986, p. 228 et seq.).
Essa concepção de direito, que abarca regras,
princípios, políticas, metas de bem estar social, foi designa por Dworkin de integridade:
“A integridade exige que as normas públicas [public standards] de uma comunidade
sejam ao mesmo tempo criadas e vistas, até onde isso seja possível, de modo a
expressar um esquema único, coerente de justiça e eqüidade na correta proporção.
Uma instituição que aceite esse ideal irá algumas vezes, por essa razão, afastar-se
de uma linha estreita de decisões passadas, na busca por fidelidade a princípios
35
DWORKIN, 1978, p. 121: “Ele [juiz] deverá desenvolver alguma teoria de erros institucionais, e essa teoria
de erros deve conter duas partes. Deve mostrar as conseqüências para argumentos posteriores de tomar algum
evento institucional como um erro; e deve limitar o número e o caráter dos eventos que possam ser tratados
como tal” [“He must develop some theory of institutional mistakes, and this theory of mistakes must have two
parts. It must show the consequences for further arguments of taking some institutional event to be mistaken;
and it must limit the number and character of the events that can be disposed of in that way”].
28
concebidos como mais fundamentais ao esquema como um todo” (DWORKIN,
1986, p. 219).36
A resposta de Dworkin ao problema da legitimidade das decisões judiciais é,
portanto, uma teoria que reaproxima o direito da moral (cf. LEAL, 2002(a), p. 60), uma vez
que os princípios jurídicos têm uma dimensão moral, reconhecida institucionalmente. Além
disso a teoria de Dworkin rejeita a discricionariedade judicial e impõe a busca de direitos mais
fundamentais ao ordenamento jurídico, na história institucional da sociedade.
3 - DISCRICIONARIEDADE DECISÓRIA: COMPREENDENDO O PROBLEMA DA
LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (I)
A tese rejeitada por Dworkin e defendida por Hart, de que os juizes devem
decidir, discricionariamente, os casos que não estejam regulamentados, é compartilhada por
vários positivistas.37
Kelsen, por exemplo, também admite certa margem de
discricionariedade na aplicação da lei. Essa liberdade do juiz para criar direito em alguns
casos decorre da maneira como o positivismo concebe o ordenamento jurídico. De modo
geral, o positivismo sustenta que o direito é formado por um conjunto de regras que
determinam a conduta dos membros de um grupo social específico. Essas regras podem ser
identificadas por uma outra regra que estabelece critérios de identificação das regras jurídicas
36
DWORKIN, 1986, p. 219: “Integrity demands that the public standards of the community be both made and
seen, so far as this is possible, to express a single, coherent scheme of justice and fairness in the right relation.
An institution that accepts that ideal will sometimes, for that reason, depart from a narrow line of past decisions
in search of fidelity to principles conceived as more fundamental to the scheme as a whole”.
37
Dworkin chega a erigir essa tese como dogma (tenet) do positivismo. A tese da discricionariedade é o
segundo dogma característico do positivismo segundo Dworkin. O primeiro seria a existência de uma regra que
fornece critérios para identificação de regras jurídicas válidas; nunca pelo seu conteúdo, mas pelo seu pedigree
ou pela forma como são criadas e adotadas. O terceiro dogma mantém que as obrigações jurídicas são criadas
apenas por regras jurídicas. O segundo dos três dogmas, Dworkin o descreve assim (1978, p. 17): “O conjunto
dessas regras jurídicas válidas exaure ‘o direito’, de modo que se algum caso não estiver claramente
acobertado por uma dessas regras (porque não há nenhuma regra apropriada, ou porque aquelas que parecem
apropriadas são vagas, ou por outra razão qualquer), este caso, então, não poderá ser decidido ‘aplicando-se o
direito’. Ele deverá ser decidido por alguma autoridade, como um juiz, ‘exercendo sua discricionariedade,’ o
que significa buscar, além do direito, algum outro tipo de padrão para guiá-la na fabricação de uma nova regra
jurídica ou na suplementação de uma antiga” [“The set of these valid legal rules is exhaustive of ‘the law’, so
that if someone’s case is not clearly covered by such a rule (because there is none that seems appropriate, or
those that seem appropriate are vague, or for some other reason) then that case cannot be decided by ‘applying
the law.’ It must be decided by some official, like a judge, ‘exercising his discretion,’ which means reaching
beyond the law for some other sort of standard to guide him in manufacturing a fresh legal rule or
supplementing an old one”].
29
(v.g. “são regras jurídicas as determinações do rei”, “são regras jurídicas as determinações do
órgão legislativo eleito pelo povo”).
As regras jurídicas impõem, como obrigatórias,
determinadas condutas aos membros de um grupo social; significa que, em parte, a conduta
dos membros do grupo não é opcional. Com isso, no caso de desrespeito às regras jurídicas, o
seu cumprimento pode ser determinado coercitivamente. Essa determinação coercitiva, em
caso de descumprimento, é feita, em geral, por órgãos encarregados de resolver conflitos
nascidos do descumprimento ou de interpretações conflitantes das regras jurídicas.
A
resolução desses conflitos se dá, segundo os postulados do positivismo, pela aplicação dessas
regras, quer dizer, pela determinação, no caso individual, daquilo que a regra exige em
abstrato. Percebe-se, pois, que as regras jurídicas não formam um todo amorfo, mas estão, de
algum modo, organizadas e possuem um certa unidade, formam, grosso modo, um sistema: o
sistema ou ordenamento jurídico.38
A afirmação de que o juiz não pode criar as regras que aplica é sustentada pelo
princípio da legalidade, fundamental para o positivismo jurídico: um indivíduo só possui uma
obrigação jurídica se há uma regra de direito válida que a estabeleça previamente. Assim, não
poderia o juiz, sem violar o princípio da legalidade, criar, no momento de decidir uma
controvérsia, uma regra nova para regulamentar o caso. Dessa forma, o positivismo privilegia
a chamada segurança jurídica, isto é, a possibilidade de prever o comportamento alheio e agir
conforme essa previsão39. No entanto, para que a incerteza do cálculo de ação social fosse
reduzida ao mínimo, seria necessária uma regra para cada situação da vida social. Caso
contrário, os órgãos encarregados de aplicar as leis ou regras jurídicas ver-se-iam diante de
situações em que não haveria nenhuma regra para ser aplicada, ou em que aquelas existentes
não propiciariam uma resposta unívoca ou isenta de dúvidas. Resumindo, caso não haja uma
38
Aqui, utilizam-se as expressões sistema jurídico e ordenamento jurídico como sinônimas. Deve-se chamar a
atenção, porém, para o que diz Bobbio ao lembrar que uso da palavra sistema se deve aos ingleses, mas que tal
palavra não é tão precisa quanto “ordenamento” (1995, p. 198): “Os ingleses se inclinam para o termo system,
mas este pode dar lugar a confusões, porque o ordenamento jurídico pode ser considerado um sistema de
normas, mas nem todo sistema de normas (como, por exemplo, o sistema normativo moral) pode ser
considerado igual, em sua estrutura, ao ordenamento jurídico”. Para Bobbio, a noção de ordenamento jurídico
está no “coração” do positivismo jurídico e teria sido a contribuição mais relevante dessa corrente (1995, p. 197):
“Consideramos particularmente importante a teoria do ordenamento jurídico para efeito da caracterização do
positivismo jurídico, porque através dela chega-se ao coração desta corrente jurídica. (...) Antes do seu
desenvolvimento faltava no pensamento jurídico o estudo do direito considerado não como norma singular ou
como um acervo de normas singulares, mas como entidade unitária constituída pelo conjunto sistemático de
todas as normas”.
39
Luiz Fernando Barzotto vê, na segurança jurídica, um dos traços marcantes do positivismo, o ideal que o
animava (2004, p. 18): “É pressuposto deste livro a idéia de que o positivismo estava animado pelo mesmo ideal
que levou à construção do Estado Liberal e o seu direito: o ideal da segurança”.
30
regra clara para cada caso, haverá situações em que o julgador, o órgão encarregado pela
aplicação da regra jurídica, não poderá decidir sobre quem tem ou não razão no caso
individual; ou, em outros termos, não poderá decidir pela procedência ou improcedência do
pedido. Para tentar solucionar esse problema, o positivismo trabalhou, inicialmente, com os
princípios da completude e da coerência.
“Por completude”, segundo Norberto Bobbio, “entende-se a propriedade pela
qual um ordenamento jurídico possui uma norma para regular qualquer caso”.40
Especificando, pode-se dizer que um ordenamento jurídico é completo quando não se tem o
caso em que não é possível demonstrar, a partir do ordenamento jurídico, a existência de uma
norma ou da norma que a contradiz (cf. BOBBIO, 1993, p. 237). Caso não se tivesse
nenhuma das duas, ou seja, caso fosse possível demonstrar que falta ao ordenamento uma
norma, assim como aquela norma que a contradiz (quer dizer, existe uma situação tal que o
ordenamento não proíbe nem permite uma determinada situação), ter-se-ia um ordenamento
jurídico incompleto, estar-se-ia diante de uma situação de lacuna (cf. BOBBIO, 1993, p. 237238). Chama-se “lacuna”, portanto, a ausência de uma regra no ordenamento jurídico para
regulamentar uma determinada situação. Se, ao contrário, um ordenamento contivesse tanto
uma norma, quanto a norma que a contradiz, ou seja, contivesse uma norma permitindo um
comportamento e outra proibindo-o, ter-se-ia um ordenamento incoerente. Do ponto de vista
do juiz, o resultado é equivalente a não haver norma alguma regulamentando o caso, pois,
perante um ordenamento jurídico contraditório, não se pode decidir quem tem razão e quem
não tem, não se pode dar pela procedência ou improcedência do pedido.
Por isso, o positivismo viu-se forçado a trabalhar com um princípio de coerência:
“não se dá o caso em que se possa demonstrar a pertinência ao sistema de uma certa norma
e da norma contraditória”.41 Já no século XIX, vários juristas colocaram em dúvida a
completude do ordenamento jurídico. São exemplos disso a livre pesquisa científica do
direito de François Gény, o movimento para o direito livre e a jurisprudência dos interesses,
40
Tradução do livre do texto italiano (BOBBIO, 1993, p. 237): “Per ‘completezza’ s’intende la proprietà per cui
un ordinamento giuridico ha una norma per regolare qualsiasi caso”.
41
Tradução livre do italiano, (BOBBIO, 1993, p. 238): “Possiamo infatti definire la coerenza come quella
proprietà per cui nonsi dà mai il caso che si possa dimostrare l’appartenenza al sistema e di una certa norma e
della norma contraditoria” (grifos do autor).
31
além da “ofensiva sociológica” de Ehrlich.42 Todas essas correntes negaram a completude do
ordenamento jurídico e, por conseguinte, defenderam a existência de lacunas. Ao final do
século XIX, a artificialidade da completude do ordenamento jurídico havia-se revelado. As
grandes codificações do século XIX envelheceram rapidamente, pois não forneciam
regulamentação aos problemas, principalmente trabalhistas, que advieram com a revolução
industrial e o surgimento das grandes indústrias (cf. BOBBIO, 1993, p. 244).
A tese do non liquet, que sustentava que o juiz não poderia decidir casos que não
estivessem regulamentados, devendo ser provocada a atividade legislativa, foi rechaçada pela
maior parte dos positivistas como inconveniente (cf. HART, 1997, p. 275).43 Com isso, o
positivismo impôs ao juiz uma obrigação de decidir, mesmo quando faltar a regra que
regulamente o caso, ou quando há a regra, mas esta não oferece uma resposta unívoca.44
Criou-se, então, uma série de problemas: como decidir de forma consistente com o
ordenamento jurídico na ausência de regra específica para o caso? Seria possível respeitar o
princípio da legalidade no caso de criação judicial do direito? Qual o critério para identificar
o direito criado pelo juiz como regra jurídica válida? Esses foram alguns dos problemas que
embaraçaram os positivistas. Esses problemas revelaram, por um lado, a insustentabilidade
de muitos dos pressupostos teóricos do positivismo, por outro, permitiram perceber que havia
mais a considerar sobre as decisões judiciais do que o positivismo poderia supor.
42
Sobre a ofensiva sociológica de Ehrlich, vale notar aquilo que diz Luis Recaséns Siches (1973, p. 49)
[tradução livre]: “Insiste Ehrlich no que outros tantas vezes já haviam assinalado anteriormente e que haveria
de ser aduzido no futuro: o fato de que a vida é incomparavelmente mais rica do que tudo que a totalidade das
normas jurídico-positivas pôde prever. Insiste também no fato de que a variedade de interesses apresenta um
sem-fim de matizes diferentes, que não encontra expressão nas normas jurídicas gerais. Tais fatos acarretam
consigo tremendas dificuldades para o juiz que queira decidir corretamente, tomando em consideração as
singularidades de cada caso” [“Insiste Ehrlich en lo que tantas veces había sido señalado anteriormente por
otros y habría de seguir siendo aducido en el futuro: el hecho de que la vida es incomparablemente más rica que
todo lo que haya podido preveer la totalidad de todas las normas jurídico-positivas. Insiste también en el hecho
de que la variedad de intereses presenta un sinfín de matices diferentes, que no halla expresión en las normas
jurídicas generales. Tales hechos acarrean consigo tremendas dificuldades para el juez, que quiera fallar
correctamente tomando en consideración las singularidades de cada caso”]. Para uma descrição resumida das
principais correntes de pensamento que se contrapuseram aos principais postulados positivistas, pode-se
consultar Luis Recaséns Siches, Nueva filosofía de la interpretación del derecho, México: Editoria Porrúa, 1973,
Capítulo Segundo, III – Las principales críticas contra la lógica deductiva en la creación e interpretación del
Derecho, p. 33-130.
43
Hart (1997, p. 272) dá conta de que a tese do non liquet foi proposta por Jeremy Bentham. Uma defesa dessa
proposta é feita atualmente por Rosemiro Pereira Leal, na obra Teoria Processual da Decisão Jurídica, São
Paulo: Landy, 2002 – sobre essa questão ver especificamente o que é dito na p. 106 et seq.
44
Essa obrigação de decidir imposta aos juízes é vista por Rosemiro Pereira Leal como proibição dogmática do
non liquet – veja sobre isso o item 5, da obra referida na nota anterior.
32
As considerações de Hans Kelsen sobre a interpretação jurídica tentaram dar conta
de alguns desses problemas. Para Kelsen, a interpretação jurídica, como ato cognitivo de
determinação do sentido de uma norma, está presente sempre que se tenha de passar de um
nível mais alto para um nível mais baixo do ordenamento jurídico (cf. KELSEN, 1974, p. 463
e 467). Lembre-se que Kelsen concebe o ordenamento jurídico como um sistema escalonado
de normas, em que cada norma encontra seu fundamento de validade em uma norma superior,
até que a validade do sistema como um todo remonta a uma norma fundamental. Uma norma
de ordem superior determina, em parte, a implementação ou aplicação de normas de
hierarquia inferior. No entanto, essa determinação nunca é completa, resta sempre uma
margem de indeterminação que deixa ao intérprete a possibilidade de algumas escolhas. Com
base em uma mesma norma, várias decisões seriam possíveis, vários atos implementariam
aquilo que uma mesma norma determina.45 A norma, dessarte, não passaria de uma moldura
a ser preenchida por uma escolha, um ato de vontade do julgador. Assim, a interpretação dos
órgãos aplicadores do direito, interpretação autêntica segundo Kelsen, não se resumiria a um
ato cognoscitivo (determinação do sentido da norma ou enumeração dos sentidos possíveis),
mas consistiria também em um ato de vontade (escolha pela autoridade de um dos sentidos
possíveis dentro da moldura fixada pela norma). É a tese kelseniana da interpretação como
ato de conhecimento e como ato de vontade:
“Se queremos caracterizar, não apenas a interpretação da lei pelos tribunais ou
pelas autoridades administrativas, mas, de modo inteiramente geral, a interpretação
jurídica realizada pelos órgãos aplicadores do Direito, devemos dizer: Na
aplicação do Direito por um órgão jurídico, a interpretação cognoscitiva (obtida
por uma operação de conhecimento) do Direito a aplicar combina-se com um acto
de vontade em que o órgão aplicador do Direito efectua uma escolha entre as
possibilidades reveladas através daquela mesma interpretação cognoscitiva. Com
este acto, ou é produzida uma norma de escalão inferior, ou é executado um acto de
coerção estatuído na norma jurídica aplicanda” (KELSEN, 1974, p. 470).
Esse ato de vontade é a principal diferença entre a interpretação feita por órgãos
encarregados de aplicar o direito e aquela feita pela ciência jurídica. A esta incumbe apenas
traçar o quadro das interpretações possíveis. A escolha que o cientista faça de uma dessas
interpretações possíveis, tal como aquela feita por um cidadão que queira determinar sua
conduta segundo a previsão normativa, não vincula o órgão aplicador do direito. Já a escolha
45
Kelsen exemplifica (1974, p.464): “Se o órgão A emite um comando para que o órgão B prenda o súbdito C,
o órgão B tem de decidir, segundo o seu próprio critério, quando, onde e como realizará a ordem de prisão,
decisões essas que dependem de circunstâncias externas que o órgão emissor do comando não previu e,em
grande parte, nem sequer podia prever”
33
feita por um órgão encarregado de aplicar a norma, como a decisão de um juiz, cria direito
para o caso, tem força vinculante para quem sofre seus efeitos. Por isso, Kelsen diz que essa
última forma de interpretação é “autêntica”.46
A construção teórica de Kelsen, pode-se perceber, buscava manter a consistência
da decisão tomada com o ordenamento jurídico. Sem negar as várias possibilidades de
interpretação, a teoria da norma enquanto moldura interpretativa permitia a Kelsen manter a
vinculação da decisão com o ordenamento jurídico (aquela se fundamenta neste). Com isso,
Kelsen podia manter a tese de que cada norma do ordenamento encontra seu fundamento de
validade em uma norma superior, pois a norma individual criada pelo juiz para o caso
particular estaria determinada por uma norma de hierarquia superior – a lei criada pelo
legislador por exemplo. Mas Kelsen acabaria admitindo a possibilidade de criação do direito
fora da moldura, significa dizer, em algumas hipóteses a criação de uma norma jurídica não é
determinada por outra de hierarquia superior. Trata-se da hipótese de uma decisão judicial,
por exemplo, que não encontra fundamento no ordenamento jurídico, mas que, no entanto, já
passou em julgado e não pode mais ser rescindida.47
Marcelo Cattoni, em crítica arguta às teses kelsenianas sobre a interpretação,
48
demonstrou que, ao permitir a criação do direito fora dos limites da moldura normativa,
Kelsen terminou entrando em contradição com os outros postulados de sua teoria. Com
efeito, se era possível criar direito novo fora das determinações de uma norma
hierarquicamente superior (fora da moldura em termos kelsenianos), qual seria o fundamento
de validade desse novo direito? Na verdade, a validade desse direito reduziu-se a sua eficácia.
46
Vale notar que a interpretação do juiz, apesar de “criar direito’ apenas para o caso particular, também é
considerada por Kelsen interpretação autêntica (1974, p. 471): “Mas autêntica, isto é, criadora de Direito, é-o a
interpretação feita através de um órgão aplicador do Direito ainda quando crie Direito apenas para um caso
concreto, quer dizer, quando esse órgão apenas crie uma norma individual ou execute uma sanção”.
47
Como afirma Kelsen (1974, p.471): “A propósito importa notar que, pela via da interpretação autêntica, quer
dizer, da interpretação de uma norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma das
possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma
norma que se situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa”. Kelsen chama atenção
para o exemplo dos tribunais de última instância que freqüentemente criam direito novo por essa via (1974, p.
471): “É facto bem conhecido que, pela via de uma interpretação autêntica deste tipo, é muitas vezes criado
Direito novo – especialmente pelos tribunais de última instância”.
48
As considerações de Kelsen sobre a teoria da interpretação sofreram uma evolução, marcada por seus textos de
1934, 1953 (edição francesa da Teoria Pura do Direito) e 1960. A história dessa evolução foi reconstruída por
Marcelo Cattoni, em texto seminal – A interpretação como ato de conhecimento e interpretação como ato de
vontade: a tese kelseniana da interpretação autêntica – in Direito Processual Constitucional (Belo Horizonte:
Mandamentos, 2001), reimpresso em Jurisdição e Hermenêutica Constitucional (Belo Horizonte: Mandamentos,
2004).
34
O simples curso coercitivo dessas decisões marca o seu caráter jurídico.
Com isso, a
separação que Kelsen tanto quis evitar entre direito e política, validade e eficácia, entrou em
colapso:
“Simplesmente, tal teoria da interpretação autêntica, presente em 1960, é
incompatível com a teoria do ordenamento jurídico desenvolvida até então por
Kelsen, a menos que se admitisse que ele tenha assumido uma posição tão realista
no sentido de acabar, em última análise, por considerar o Direito como um sistema
escalonado de autorizações em branco que nada garantiria quanto à coerência
formal e material das decisões em face de si mesmo, o que seria, mais uma vez, uma
ruptura com postulados juspositivistas e uma abertura fatal ao realismo jurídico,
em que a questão acerca da validade das decisões estaria reduzida à questão
acerca da eficácia do Direito, numa confusão entre ‘ser’ e ‘dever-ser’” (CATTONI
DE OLIVEIRA, 2001, p. 55).
Marcelo Cattoni aponta, ainda, a insustentabilidade dos pressupostos teóricos da
teoria da interpretação de Kelsen. Cattoni coloca a questão: “É realmente possível traçar ‘o’
quadro ou moldura das interpretações possíveis de uma norma jurídica?” (CATTONI DE
OLIVEIRA, 2001, p. 56). Seria possível à ciência do direito, ao cidadão e aos órgãos que
devem aplicar as normas, traçar todas as possibilidades interpretativas de uma norma, mesmo
quando se sabe que o sentido da norma pode mudar diante das circunstâncias de fato ou da
relação que a norma venha a estabelecer com normas futuras? E se não for possível traçar
esse quadro, como dizer se uma decisão encontra-se dentro ou fora da moldura? Esses são
alguns dos problemas que depuseram contra os pressupostos teóricos kelsenianos.
A
insustentabilidade da teoria da interpretação de Kelsen revela-se quando se constata que é
humanamente impossível traçar o quadro de todos os significados lingüísticos de uma norma.
Como anota Cattoni:
“É humanamente impossível porque não é possível prever nem todas as
interpretações nem todos os desenvolvimentos que serão dados no futuro ao Direito.
Para isso, seria necessário ter uma consciência supra-histórica do Direito, e
ninguém, devido à nossa própria condição de seres históricos, seria capaz disso”
(CATTONI DE OLIVEIRA, 2001, p. 57).
Com a impossibilidade de se construir o quadro das interpretações possíveis,
conclui-se que nunca seria possível dizer se uma decisão está dentro ou fora da moldura, ou
seja, nunca se poderia saber se uma decisão foi ou não determinada por uma norma de
hierarquia superior. A validade de uma decisão judicial seria indissociável de sua eficácia.
Demais, para que sempre fosse possível tomar decisões nos limites da moldura
normativa, seria preciso que o ordenamento jurídico fosse completo e, nesse caso, Kelsen
35
precisaria responder às críticas dirigidas à teoria da completude.
Ele o faz, negando a
existência de lacunas. Kelsen parte da máxima “o que não está proibido está permitido” para
concluir que não são possíveis lacunas. Se o juiz rejeita uma pretensão, sob a alegação de que
não há uma norma que regulamente o caso, ou de que não há uma lei que sustente a pretensão
do autor, isso também seria aplicação do direito, não de uma regra específica, mas do
ordenamento jurídico como um todo:
“O essencial desta argumentação reside em que a aplicação do Direito vigente
neste caso, como conclusão do geral para o particular, não é possível neste caso,
pois falta a premissa necessária, a norma geral. Esta teoria é errónea, pois fundase na ignorância do facto de que, quando a ordem jurídica não estatui qualquer
dever de um indivíduo de realizar determinada conduta, permite esta conduta. A
aplicação da ordem jurídica vigente não é, no caso em que a teoria tradicional
admite a existência de uma lacuna, logicamente impossível. Na verdade, não é
possível, neste caso, a aplicação de uma norma jurídica singular. Mas é possível a
aplicação da ordem jurídica – e isso também é aplicação do Direito. A aplicação
do Direito não está logicamente excluída” (KELSEN, 1974, p. 338-339).
Mas apesar de empreender uma defesa da completude, Kelsen renega que o
ordenamento jurídico seja dotado de uma coerência absoluta, quer dizer, para cada caso
Kelsen admite mais de uma resposta correta. Essa impossibilidade de uma única resposta
correta é, segundo Kelsen, o resultado da indeterminação das normas jurídicas e,
conseqüentemente, da necessidade de interpretação que surge daí. Isso acaba colocando um
problema parecido com aquele de se decidir na ausência de normas: como escolher entre as
várias respostas possíveis? Nesse caso, responde Kelsen, o juiz possui discricionariedade.49
De fato, Kelsen não parece se preocupar muito com a discricionariedade do juiz, desde que
esta transite pelos meandros do direito positivo. O que parece importar é a forma jurídica,
mesmo que esta não garanta nada aos cidadãos quanto ao conteúdo da decisão, ainda que esta
só faça juridicizar a arbitrariedade do julgador:
“Se o Direito positivo, por sua vez, autoriza os juízes a decidirem em conformidade
com a Justiça, a decisão – porque autorizada pelo Direito válido – realiza-se em
aplicação deste Direito; e é defendido o postulado do positivismo jurídico: que todo
caso concreto deve ser decidido com base em Direito positivo válido – e isto quer
dizer: em aplicação do Direito positivo vigente –.” (KELSEN, 1986, p. 288).
Hart, por sua vez, admite que a linguagem utilizada para comunicar as regras
jurídicas (seja a lei escrita, seja o precedente) deixa sempre uma “penumbra” em que o seu
49
Kelsen, 1974, p. 470: “Relativamente a este [direito positivo], a produção do acto jurídico dentro da moldura
da norma jurídica aplicanda é livre, isto é, realiza-se segundo a livre apreciação do órgão chamado a produzir
o acto”.
36
sentido não está bem determinado. Isso não seria privilégio da linguagem jurídica, mas
aconteceria também com a linguagem ordinária. Essa margem inevitável de indeterminação é
o que Hart chama de “textura aberta”. Quando um caso cai nessa margem de textura aberta,
em que não está claro o que é exigido pela regra, bem como quando não há uma regra
explícita para regulamentar determinado caso, o juiz deve decidir discricionariamente,
exercitando um poder intersticial de criar o direito (cf. HART, 1997, p. 273). Hart, portanto,
não tem qualquer comprometimento com a tese da completude do ordenamento jurídico, e,
por isso, a discricionariedade é admitida mais rapidamente e de forma mais direta do que na
teoria kelseniana.
Dworkin se opôs a essa discricionariedade decisória, basicamente, com três
argumentos: a discricionariedade não descreve adequadamente a prática dos juízes; o juiz não
é um oficial público eleito e, portanto, não possui competência para criar o direito, já que não
representa o eleitorado; e a decisão judicial tomada em um caso para o qual não há
regulamentação cria, ex post facto, a obrigação das partes (cf. DWORKIN, 1978, p. 71, 8485).
Para sustentar que a discricionaridade não descreve a prática jurisdicional
adequadamente, Dworkin argumenta que nenhum advogado, sustentando a causa de seu
cliente, assim como o próprio juiz, no momento de decidir, nunca fala em criação do direito,
mas sempre em aplicação. Com efeito, nenhum advogado solicita ao juiz que crie uma nova
regra para o caso em questão, mas sim mantém que seu cliente tem o direito a uma
determinada decisão. Também o juiz, mesmo nos casos mais difíceis, jamais se manifesta
dizendo “na ausência de norma, passo a legislar”. Hart contra-argumenta que isso é mera
retórica da prática judicial, alimentada, em grande parte, pela argumentação por analogia.
Assim, mesmo quando os juízes estão, na verdade, criando direito, o fato de buscarem uma
ligação com o direito já existente (analogia) disfarça a atividade criadora, dando a impressão
de que se está aplicando direito pré-existente (cf. HART, 1997, p. 273-275).
Contra a segunda crítica de Dworkin, que os juízes não são eleitos e portanto
permitir que juízes criem direito atentaria contra o princípio democrático, Hart responde,
dizendo que este é o preço a se pagar para evitar saídas inconvenientes, como ter que se
reportar ao legislador (cf. HART, 1997, p. 275). Hart sustenta que este preço é baixo, quando
se percebe que a competência legislativa atribuída ao juiz está limitada e, além disso, o juiz
37
não pode introduzir grandes reformas, mas apenas solucionar questões erigidas pelo caso
particular. Quanto às limitações a que se submete o juiz, Hart afirma:
“Não obstante, haverá pontos em que o direito existente falha em ditar qualquer
decisão como a única correta, e, para decidir tais casos, o juiz deve exercer seus
poderes de criar direito. Mas ele não o faz arbitrariamente: isto é, ele deve sempre
ter alguma razão geral para justificar sua decisão e ele deve agir como um
legislador escrupuloso agiria, decidindo secundo suas próprias crenças e valores”
(HART, 1997, p. 273).50
Contra a última crítica de Dworkin, que no caso de criação judicial do direito uma
das partes é punida por ter violado uma norma que foi criada depois dos fatos, Hart aduz que a
força dessa objeção está em que o direito criado depois dos fatos decepciona as expectativas
daqueles que confiaram no direito para determinar as conseqüências de seus atos. Mas, como
nesses casos não há qualquer regulamentação, as partes não poderiam ter nenhuma
expectativa fundada no direito (cf. HART, 1997, p. 276).
As críticas de Dworkin e as respostas de Hart permitem uma melhor compreensão
do problema da legitimidade das decisões judiciais. Que o discurso jurídico esteja ainda
impregnado de elementos de retórica, não se discute. Mas, no caso da discricionariedade
decisória, por que é preciso recorrer à retórica para disfarçar que os juízes de fato estão
criando direito? Por que é que simplesmente juízes e advogados não admitem que, em alguns
casos, na ausência de norma, o juiz assume também uma função legislativa intersticial? No
entanto, assumir que o juiz vai legislar, no caso particular, significa dizer que as partes não
tinham qualquer direito até então. Não é por outra razão que Hart reforça que, nesses casos,
nenhuma das partes teria uma expectativa fundada no direito. Sem norma prévia, o juiz irá
criar e aplicar uma nova norma jurídica, que, no entanto, fica limitada ao caso particular,
como ressalta Hart. Lembre-se que, segundo Hart, o juiz deve agir nesses casos como um
legislador escrupuloso agiria, dessarte, o juiz estaria limitado durante o interstício legislativo.
Nitidamente, ao se admitir uma competência legislativa do juiz, surge uma necessidade de
limitar sua atividade, porque, ao concentrar as funções legislativa e judiciária, o juiz se torna
uma autoridade soberana, quer dizer, sem a norma jurídica para determinar sua decisão,
perderam-se os critérios de fundamentação da decisão judicial. Se o juiz vai criar a norma
50
HART, 1997, p. 273: “None the less there will be points where the existing law fails to dictate any decision as
the correct one, and to decide cases where this is so the judge must exercise his law-making powers. But he
must not do this arbitrarily: that is he must always have some general reasons justifying his decision and he
must act as a conscientious legislator would by deciding according to his ownbeliefs and values”.
38
que deve aplicar, não há, portanto, outro critério decisório, senão aqueles que o próprio juiz
adotar. Aqui, certamente, haverá a interferência da orientação política e moral do julgador,
sua biografia passa a servir de parâmetro para a escolha dos critérios decisórios.
Essa
situação é equivalente àquela autorização de “fechar lacunas”, discutida por Kelsen. Se o
direito positivo simplesmente transmite ao juiz uma autorização para decidir, sem qualquer
determinação de conteúdo, a biografia do juiz, seus valores, sua ética, suas opiniões políticas,
tornam-se os únicos critérios para decisão.51
Por essas razões, surge a preocupação com a pessoa do juiz.52 O próprio Dworkin
questiona o fato de se delegar competência para criar leis a um funcionário público que, via de
regra, não foi eleito pela maioria. Mas será que a eleição do juiz resolveria o problema de
tomar uma decisão em casos que não estão regulamentados? Será que o problema se resume
apenas a escolher bons juízes? E qual seria o perfil do bom juiz?53 Que a legitimidade da
decisão judicial não se reduz à pessoa do juiz, foi algo notado por Marcelo Cattoni:
“Há muito, a questão acerca da legitimidade das decisões judiciais deixou de ser
um problema que se reduza à pessoa do juiz. O exercício adequado da Jurisdição
não se legitima simplesmente pelo fato de o juiz ter sido eleito segundo o princípio
da maioria” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, p. 49).
A eleição do juiz pela maioria não permite, por si só, conhecer os critérios que o
juiz utilizará para tomar suas decisões, não permite saber quais argumentos serão decisivos
para que a decisão seja tomada num ou noutro sentido. Enfim, a eleição do juiz não torna sua
decisão racionalmente aceitável. Isso demonstra que a racionalidade das decisões não pode
51
O direito brasileiro conta com uma norma dessas, Lei 9.099/95, art. 6º - O juiz adotará em cada caso a
decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
52
André Cordeiro Leal tem chamado a atenção para o fato de alguns autores deslocarem o problema da
legitimidade das decisões judiciais para a pessoa do juiz. Dentre esses autores, pode-se citar Eduardo J. Couture
(2003, p. 57): “Da dignidade do juiz depende a dignidade do direito. O direito valerá, em um país e em um
momento histórico determinados, o que valem os juízes como homens. O dia em que os juízes tiverem medo,
nenhum cidadão poderá dormir tranqüilo”.
53
Nestas perguntas, pode-se identificar uma das críticas de Bertrand Russell a Platão (1969, vol. I, p. 125):
“Poder-se-ia sugerir que se desse aos homens sabedoria política mediante educação adequada. Mas surgiria a
questão: em que consiste uma educação adequada? E isto acabaria por se transformar numa questão de
partido. O problema de encontrar um grupo de homens ‘sábios’ e entregar-lhes o governo é, pois, insolúvel.
Eis aí a razão definitiva a favor da democracia”.
39
ser buscada na pessoa do juiz.54 Não se pode ficar indiferente à maneira pela qual os juízes
tomam suas decisões. Por isso, o estudo dos procedimentos que formam essas decisões
passou a ser um ponto importante na discussão da legitimidade das decisões judiciais. A
ênfase nessa perspectiva foi assumida de forma pioneira por Rosemiro Pereira Leal:
“É muito comum, nos livros de Direito Processual, falar-se em livre arbítrio e
discricionariedade no exercício da jurisdição quando, atualmente, com as
conquistas históricas de direitos fundamentais incorporadas ao PROCESSO, como
instrumentalizador e legitimador da Jurisdição, a atividade jurisdicional não é mais
um comportamento pessoal e idiossincrásico do juiz, mas uma estrutura
procedimentalizadora de atos jurídicos seqüenciais a que se obriga o órgão
jurisdicional pelo controle que lhe impõe a norma processual, legitimando-o ao
PROCESSO. Portanto, não há para o órgão jurisdicional qualquer folga de
conduta subjetiva ou flexibilização de vontade, pelo arbítrio ou discricionariedade,
no exercício da função jurisdicional, porque, a existirem tais hipóteses, quebrar-seia a garantia da simétrica paridade dos sujeitos do processo” (LEAL, 1999, p.
41).55
A discricionariedade provou-se insuficiente diante do problema da legitimidade
das decisões judiciais. Impõe-se, por fim, contra o postivismo a conclusão de Luiz Fernando
Barzotto (2004, p. 143): “Ainda quanto à questão da eficácia, podemos mencionar o
problema político, que podemos chamar de ‘legalização do arbítrio’. Elevando a eficácia a
critério de juridicidade, o positivismo nada mais faz do que ‘juridicizar’ a força”. Exige-se
que as decisões judiciais sejam racionalmente aceitáveis.
Porém, para que se possa
compreender melhor essa racionalidade decisória, faz-se necessário debater as teses de
Ronald Dworkin.
54
Ao se afirmar que a decisão judicial não se legitima apenas pelo fato do juiz ser eleito, pode-se ainda aduzir
mais um argumento. Bastaria pensar-se na eleição de um juiz Magnaud. Como informa Ronaldo Brêtas de
Carvalho Dias (2004, p. 134-135), em alentada pesquisa, Jean-Marie Bernard Magnaud foi um juiz francês que
se destacou por não seguir, em suas decisões, quaisquer preceitos legais, princípio de direito, doutrina ou
jurisprudência. Algumas de suas decisões apoiavam-se tão-somente em sentimentalismo e em suas opiniões
pessoais. Será que se Magnaud fosse um juiz eleito isso legitimaria suas decisões? Com efeito, a patologia
Magnaud, para usar uma expressão de Ronaldo Brêtas, não se cura com o voto da maioria. Ainda que fosse
eleito, suas decisões não se tornariam racionalmente aceitáveis. Pois, a nomeação de um juiz não é uma
delegação em branco para que ele decida.
55
Nesse sentido, pode-se citar também Marcelo Cattoni (2004, p. 49): “O que justifica a
legitimidade das decisões, no contexto de uma sociedade plural e democrática, são antes garantias processuais
atribuídas às partes, principalmente a do contraditório e da ampla defesa, além da necessidade de
fundamentação das decisões”.
40
4 - INTEGRIDADE, TAREFA HERCÚLEA: COMPREENDENDO O PROBLEMA
DA LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS (II)
Ao rejeitar a tese da discricionariedade decisória defendida pelo positivismo,
Dworkin propõe a tese do direito como integridade. Essa tese vai-se apoiar na idéia de que os
juízes, mesmo nos casos difíceis, devem descobrir quais são os direitos das partes, e não os
criar ex post facto. Para sustentar seus argumentos, Dworkin recorre à distinção entre regras,
princípios e políticas. Segundo Dworkin, as decisões judiciais devem basear-se em princípios
e não em políticas. Seria possível ao juiz desenvolver uma teoria capaz de fornecer uma
justificativa geral à história institucional de determinada comunidade. Essa teoria explicaria o
ordenamento jurídico como um todo coerente em seus princípios mais fundamentais e, com
isso, permitiria alcançar para cada caso uma única resposta correta. A análise de cada uma
dessas proposições permitirá uma melhor compreensão de alguns aspectos do problema da
legitimidade das decisões judiciais, designadamente, o problema da racionalidade decisória
para o qual o positivismo já apontava.
Como foi visto no item anterior, a discricionariedade, essa margem de liberdade
atribuída ao juiz (seja para escolher a interpretação que julgar mais adequada, seja para criar a
norma no caso concreto), não se coaduna com as demais afirmações sustentadas pelos
positivistas. O maior desafio talvez fosse conciliar o princípio da legalidade, que, na versão
positivista, exige a existência de lei prévia para que haja uma obrigação jurídica, com a
discricionariedade para criar a norma para o caso, quando não haja uma regra específica que o
regulamente.
Na ausência de regra específica, a decisão criará, inevitavelmente, uma
obrigação jurídica depois dos fatos. Isso atinge diretamente o ideal positivista de segurança
jurídica. Se as partes não conheciam as regras pelas quais deveriam determinar sua conduta,
não poderiam saber também como deveriam comportar-se naquela situação. Afastadas as
concepções jusnaturalistas, segundo as quais existiria um ordenamento jurídico suprapositivo,
completo e imutável, toda obrigação jurídica deve ser criada por uma norma jurídica; não é
possível recorrer a normas imanentes, implícitas ou pressupostas.
As normas jurídicas são criação humana e, portanto, também o são as obrigações
decorrentes de tais normas. Não é por outra razão que, no caso de conflito, as decisões
41
judiciais devem ser tomadas aplicando o direito vigente. Exige-se de uma decisão judicial,
para que possa ser qualificada como uma decisão jurídica, que seja consistente com o
ordenamento jurídico, ou seja, a decisão deve ser concebida como a aplicação de uma das
normas do sistema jurídico. Essa é a lógica do princípio da legalidade. No positivismo, é a
norma que empresta sentido jurídico ao ato, e dessa afirmação se pode deduzir o princípio da
legalidade. Sem a norma jurídica, um ato não possui significado jurídico. Assim, para que
um ato seja juridicamente relevante, é preciso que haja uma norma que lhe atribua
significação jurídica.56 Certamente, o ideal de segurança jurídica hoje deve ser questionado
(cf. HABERMAS, 1996, p. 220); mas é preciso assegurar, minimamente, a previsibilidade das
decisões judiciais, se é que o direito deve cumprir algum papel na integração social pela
estabilização de expectativas de comportamento.
Dworkin sustenta que, mesmo nos casos difíceis, o processo decisório objetiva
descobrir (construir) e não inventar o direito das partes (cf. DWORKIN, 1978, p. 280).
Assim, pode-se afirmar que, para Dworkin, o direito sempre pré-existe à decisão judicial. É
que decisões judiciais deveriam ser tomadas com base em princípios e não com base em
políticas (cf. DWORKIN, 1978, p. 84). Com isso, Dworkin pretende evitar duas objeções
feitas contra a discricionariedade: que os juízes não são eleitos e, portanto, não deveriam criar
normas; e que não se deve sacrificar os direitos de um homem inocente em nome de algum
dever criado depois do evento (cf. DWORKIN, 1978, p. 85). Os argumentos de princípios
descrevem direitos individuais, logo, exigem do juiz uma decisão em torno de quais são os
direitos das partes, sem que ele seja forçado a fazer avaliações políticas e a sopesar interesses
de grupos. De outro lado, se uma das partes tem um direito, apoiado em um princípio, a outra
conseqüentemente tem um dever, assim, não haveria criação de direitos e obrigações ex post
facto.
A distinção entre princípios (principles) e politícas (policies) indica a existência
de uma separação, na teoria de Dworkin, entre o discurso judicial e o legislativo. Valem para
cada um desses âmbitos (legislativo e judicial) argumentos diferentes. A proibição que a tese
56
Nesse sentido, pode-se citar Hans Kelsen (1974, p. 20): “O sentido jurídico específico, a sua particular
significação jurídica, recebe-a o facto em questão por intermédio de uma norma que a ele se refere com o seu
conteúdo, que lhe empresta a significação jurídica, por forma que o acto pode ser interpretado segundo esta
norma. A norma funciona como esquema de interpretação. Por outras palavras: o juízo em que se enuncia que
um acto de conduta humana constitui um acto jurídico (ou antijurídico), é o resultado de uma interpretação
específica, a saber, de uma interpretação normativa”.
42
dos direitos de Dworkin impõe aos juízes, de que não decidam com base em argumentos de
política, impede que a fronteira do discurso de aplicação de normas seja trespassada pelo juiz.
Portanto, não há que se falar em criação de normas pelos juízes; a tarefa destes está sempre
restrita à aplicação de normas, a descobrir qual é o direito, pré-existente, de cada uma das
partes.
A aplicação de princípios exige do juiz que desenvolva uma teoria que permita
interpretar o ordenamento jurídico como um todo coerente. Como já foi visto, essa não é uma
exigência de que todas as normas vigentes possam ser interpretadas como um todo coerente.
Parte da história institucional interpretada deverá ser vista como um erro, portanto não é
preciso harmonizar todas as normas existentes em uma única teoria. Demais, não se exige
que o juiz conheça toda a história institucional que pretende interpretar, mas que veja as
normas que a comunidade agora faz vigorar como um conjunto coerente de princípios:
“A integridade não requer consistência em princípio sobre todos os estágios
históricos do direito de uma comunidade; não requer que os juízes tentem entender
o direito que aplicam como uma continuação de princípios com o direito
abandonado de séculos passados ou mesmo de uma geração passada. Ela
determina uma consistência de princípio horizontal ao invés de vertical com as
normas jurídicas que a comunidade agora faz viger” (DWORKIN, 1986, p. 227).57
Porém, por mais que se tente reduzir a tarefa do juiz assim concebida, ela continua
a ser sobre-humana. Com efeito, o juiz deve conhecer todos os princípios que compõem o
direito de uma comunidade. Isso significa conhecer todas as leis, todos os textos legais, toda
a massa de decisões judiciais e legislativas. Pode-se entender agora por que o juiz concebido
por Dworkin é um juiz “Hércules”:
“Agora veremos por que eu chamei nosso juiz de Hércules. Ele deve construir um
esquema de princípios abstratos e concretos que forneçam uma justificação
coerente para todos os precedentes e para as provisões constitucionais e legais
também, na medida em que estas devam ser justificadas por princípios”
(DWORKIN, 1978, p. 116-117).58
57
DWORKIN, 1986, p. 227: “Integrity does not require consistency in principle over all historical stages of a
community’s law; it does not require that judges try to understand the law they enforce as continuous in
principle with the abandoned law of a previous century or even a previous generation. It commands a
horizontal rather than vertical consistency of principle across the range of the legal standards the community
now enforces”.
58
DWORKIN, 1978, p. 116-117: “You will now see why I called our judge Hercules. He must construct a
scheme of abstract and concrete principles that provides a coherent justification for all common law precedents
and, so far as these are to be justified on principle, constitutional and statutory provisions as well”.
43
Jürgen Habermas identificou os dois componentes de idealidade presentes no
“juiz Hércules”:
“O ‘Juiz Hércules’ tem dois componentes de um conhecimento ideal a sua
disposição: ele conhece todos os princípios e políticas válidos, necessários para
justificação; e ele possui uma visão completa da densa rede de argumentos que
junta os elementos dispersos do direito existente” (HABERMAS, 1996, p. 212).59
Com o intuito de afastar a discricionariedade, Dworkin terminou por conceber a
função do juiz como algo humanamente impossível. “Nós também não somos Hércules”,
concede o próprio Dworkin (1978, p. 130). Como relata Habermas, essa construção levou a
um debate acalorado: seriam as exigências ideais da teoria de Dworkin apenas uma idéia
regulativa, ou seriam, de fato, um falso modelo para as decisões judiciais? (cf. HABERMAS,
1996, p. 213). Não se pode acompanhar essa discussão aqui, mas alguns aspectos dela devem
ser levados em conta. Até que ponto Dworkin teria conseguido afastar a discricionariedade
do juiz para decidir casos difíceis? A que preço ele teria conseguido afastar ou reduzir a
discricionariedade?
Já se disse que para Dworkin as decisões judiciais devem ser tomadas com base
em princípios e não em políticas. Com isso, ficam excluídos do debate judicial argumentos
que comparecem no discurso legislativo. Esses argumentos dizem respeito a metas coletivas,
a objetivos políticos, ou questões relativas ao que por vezes é referido como o bem comum.
Cumpre observar que também os legisladores estão sob a incidência da integridade e,
portanto, também devem elaborar uma teoria coerente para justificar o direito.60
Tal é
decorrência, pode-se dizer, do princípio de responsabilidade imposto às autoridades públicas,
que lhes proíbe a tomada de decisões contraditórias, sem qualquer justificativa ou retratação
das decisões anteriores. Como os juízes não podem decidir com base em políticas, toda
decisão que tomam tem por base normas jurídicas prévias, expressas por princípios. Esses
59
HABERMAS, 1996, p. 212: “‘Judge Hercules’ has two components of ideal knowledge at his disposal: he
knows all the valid principles and policies necessary for justification, and he has a complete overview of the
dense web of arguments tying together the scattered elements of existing law”.
60
Dworkin divide o princípio de integridade e o aplica nos âmbitos legislativo e judiciário: “Será útil dividir as
reivindicações da integridade em outros dois princípios práticos. O primeiro é princípio da integridade na
legislação, que pede àqueles que criam o direito pela legislação que mantenham o direito coerente em seus
princípios. O segundo é princípio da integridade na adjudicação [jurisdição/judicação]: ele pede aos
responsáveis por decidir o que é o direito, que o vejam e o apliquem como sendo coerente nesse sentido” [“It
will be useful to divide the claims of integrity into two more practical principles. The first is the principle of
integrity in legislation, which asks those who create law by legislation to keep that law coherent in principle.
The second is the principle of integrity in adjudication: it asks those responsible for deciding what the law is to
see and enforce it as coherent in that way”].
44
princípios, como já se disse, são resultado de um senso de adequabilidade desenvolvido pelos
profissionais do direito e pelo público ao longo do tempo (cf. DWORKIN, 1978, p. 40). Até
aqui, os princípios dependeriam de opiniões pessoais dos profissionais do direito, ou seja,
dependeriam de convicções pessoais do juiz, e uma decisão com base em princípios não
estaria muito afastada de uma decisão discricionária.
Porém, cumpre lembrar que os
princípios devem ter suporte institucional, o que os remete ao direito vigente. Logo, os
princípios devem prover uma interpretação coerente do direito vigente e não das opiniões
pessoais do juiz:
“Sua teoria é mais propriamente uma teoria do que requer a lei escrita ou o próprio
precedente, e, apesar do fato de que ele irá repercutir, obviamente, suas próprias
convicções intelectuais e filosóficas ao julgar, isso é muito diferente de se supor que
essas convicções têm alguma força independente no seu argumento apenas porque
são suas” (DWORKIN, 1978, p. 118).61
Trata-se, pois de um equilíbrio mútuo, entre a teoria que se deve criar para
justificar a decisão e o ordenamento jurídico.62 Se por um lado, é o próprio ordenamento que
fornece elementos a partir dos quais será criada a teoria, por outro, pode-se, depois da teoria
formada, deduzir direitos que até então não estavam expressos no ordenamento jurídico. É
certo, porém, que, não estando os princípios explícitos no ordenamento, mas antes implícitos,
muitas vezes as partes serão surpreendidas pela decisão judicial, ainda que esta não esteja
propriamente criando um direito. Essa conseqüência da decisão com base em princípios é
aceita por Dworkin, que reconhece que a decisão surpreenderá uma ou outra das partes, caso
haja dúvida sobre a pretensão do demandante (cf. DWORKIN, 1978, p. 86). Mas por que a
surpresa se a decisão apenas reconhece um direito que já existia? Por que é que as partes
61
DWORKIN, 1978, p. 118: “His theory is rather a theory about what the statute or the precedent itself
requires, and though he will, of course, reflect his own intellectual and philosophical convictions in making that
judgment, that is a very different matter from supposing that those convictions have some independent force in
his argument just because they are his”.
62
Esse equilibrium, Dworkin o toma emprestado de Rawls [Sobre o equilíbrio reflexivo de Rawls – consulte-se
o seu Justiça como eqüidade (São Paulo, Martins Fontes, 2003), p. 40 et seq.; sobre a relação do equilíbrio
reflexivo de Rawls e a teoria da interpretação de Dworkin – pode-se consultar Gabriel de Deus Maciel – Um
conceito de coerência para uma teoria da argumentação jurídica – a proposta de Klaus Günther (Revista da
Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 8, n. 15, 1º sem. 2005, p. 141 et seq.]. O equilíbrio reflexivo é
uma estratégia metodológica de Rawls para harmonizar nossos juízos morais com uma teoria que os explique de
forma coerente. Dworkin aproveita essa estratégia, se bem que em um outro contexto, para desenvolver uma
teoria da interpretação que se dá em três etapas: pré-interpretativa, interpretativa e pós-interpretativa. Tudo isso
para construir uma teoria que permita uma compreensão coerente de práticas sociais. Assim, a interpretação de
práticas sociais buscaria um equilíbrio entre a justificação que se oferece de determinados dados selecionados
como práticas sociais e as exigências pós-interpretativas de um ajuste ou reconstrução da prática social diante da
justificação oferecida. Sobre o aproveitamento que Dworkin faz do equilíbrio reflexivo de Rawls, pode-se
consultar – DWORKIN, 1986, p. 65-66 e p. 424, nota 17.
45
continuam sem saber para que lado a decisão irá pender, se esta apenas irá reconhecer ou não
um direito que já se sabe existente?
Isso ocorre porque a participação daqueles que vão sofrer os efeitos da decisão é
inexpressiva. A opção metodológica de Dworkin de centrar a decisão no juiz terminou em
um procedimento monológico de formação da decisão.63 O juiz constrói sozinho a teoria que
vai harmonizar os princípios. Dworkin não reconhece ou não dá ênfase à participação dos
interessados na preparação do provimento. Ao que parece, a participação dos afetados está
reduzida à narração dos fatos, em uma espécie de “da mihi factum, dabo tibi ius” ou “iura
novit curia”, reduzida a um valor heurístico, já que pode influenciar a formação da convicção
do juiz, mas pode também ser desconsiderada por ele.64
Apesar de Dworkin, fazer várias menções à argumentação das partes (v.g., quando
discute a discricionariedade dos juízes - 1986, p. 37-38), essa argumentação parece não
desempenhar papel relevante na decisão judicial, pois a teoria que justifica o ordenamento
jurídico é construída pelo juiz isoladamente (ou pode ser construída pelo juiz isoladamente),
sem intervenção das partes, e essa teoria, quando coerente, permite apenas uma resposta
correta para cada caso (do contrário, se a teoria permitisse várias respostas, seria contraditória
e, pois, inconsistente), de modo que, posto o caso, as partes pouco ou nada contribuem para se
chegar à decisão, razão pela qual não importa se trazem argumentos quanto ao direito. Além
disso, note-se que a teoria desenvolvida pelo juiz vincula suas decisões futuras, o que atenua
ainda mais a força persuasiva que a argumentação das partes poderia ter. Desse modo, a
teoria da decisão judicial de Dworkin só se mantém se a jurisdição for interpretada como
atividade isolada do juiz, caso contrário, torna-se uma descrição falsa do procedimento de
tomada de decisões e o seu papel como idéia reguladora entra em colapso. Por outro lado,
63
Essa crítica é feita por Habermas (1996, p. 223-224) e reforçada por André Cordeiro Leal, que afirma em
relação a Dworkin (2002(a), p. 61): “Não obstante reconheça a importância da fundamentação racional das
decisões judiciais e a necessidade de que essas decisões respeitem os princípios da comunidade política, o autor
abre mão de analisar, pelos motivos epistemológicos já aludidos, o papel da contribuição argumentativa das
partes nos procedimentos judiciais”.
64
É por isso que não estamos de acordo com a interpretação de José Emílio Medauar Ommati que parece atribuir
às partes papel mais relevante dentro da teoria de Dworkin (2004, p. 162): “Ou seja, embora não esteja claro
em Dworkin, a decisão do Magistrado é produzida em um processo, que deve respeitar a própria igualdade e
liberdade das partes de produzirem seus argumentos e suas provas. Em outras palavras, Dworkin pressupõe
sempre a idéia de que a produção da decisão se dá de forma compartilhada, em simétrica paridade entre as
partes, em contraditório”. Como será visto adiante (item 11), a afirmação de que a decisão se dá de forma
compartilhada exigirá uma ligação, bem mais estreita e mais forte, entre a argumentação das partes e a
fundamentação da decisão pelo juiz, do que aquela pressuposta por Dworkin.
46
isso explica a surpresa das partes perante uma decisão tomada com base em princípios nos
casos difíceis. Como a construção da decisão é toda feita pelo juiz, as partes não podem
exercer uma fiscalização dos argumentos que determinaram a decisão.
Demais, os
argumentos utilizados pelo juiz em sua decisão ficam isentos de crítica, pois as partes não os
podem debater. Aqui surge uma complicação para Dworkin, como o juiz constrói sua teoria
justificatória sozinho, pode ser que ele não chegue a melhor teoria. Pode ser que alguma das
partes tivesse alguma crítica pertinente ou pudesse suscitar algum aspecto que imporia alguma
mudança na teoria elaborada pelo juiz. Aliás, como nenhum juiz é Hércules, nunca se chega à
melhor teoria e, mesmo que se chegasse, jamais se saberia tê-la alcançado. Logo, a teoria que
um juiz possa elaborar para justificar sua decisão de modo coerente permanece sempre
criticável.65
Pode-se redargüir que a crítica das partes poderia aparecer em um eventual
recurso contra a decisão, mas aí o procedimento decisório do juiz Hércules se repetiria no
tribunal e mais uma vez os interessados não teriam maior participação na preparação da
decisão. Dessarte, nota-se que os critérios decisórios só se explicitam com o advento da
decisão, que, nesse caso, vem surpreender as partes, que até então não podem dizer se seus
argumentos terão qualquer efeito na formação da decisão. Assim, pode-se concluir que a
racionalidade monológica que Dworkin impõe ao procedimento decisório não satisfaz o
critério de aceitabilidade racional.
Demais, como será mostrado,66 essa racionalidade
monológica prejudica a fundamentação da decisão. Por máximo que Dworkin se esforce, no
que tange ao tratamento da fundamentação das decisões, a perspectiva solitária do juiz não vai
permitir um tratamento adequado da fundamentação das decisões, de modo a atender a
demanda por aceitabilidade racional.
Apesar de desenvolver uma teoria que possibilita sempre decisões consistentes
com o ordenamento jurídico vigente, a teoria de Dworkin não permite que envolvidos
exerçam uma fiscalização na formação do ato decisório, não permite discutir e criticar os
argumentos que serão decisivos e, com isso, não permite saber, antes da decisão ser tomada,
quais serão os argumentos relevantes e por que o serão. Enfim, a teoria de Dworkin não
65
Nesse sentido, Habermas (1996, p. 227): “Mesmo a teoria jurídica atribuída a Hércules teria de permanecer
algo provisório, uma ordem coerente de razões construídas para o momento e exposta à crítica constante”
[“Even the legal theory ascribed to Hercules would have to remain something provisional, a coherent order of
reasons constructed for the time being and exposed to ongoing critique”].
66
Vide item 11, infra.
47
permite uma explicitação dos critérios decisórios para as partes antes da decisão ser tomada
(basta pensar que teorias diferentes fornecem justificativas diferentes para o ordenamento
jurídico e conduzem, assim, a decisões diferentes). Logo, a teoria de Dworkin não consegue
responder satisfatoriamente ao problema de legitimidade decisória.
A tentativa de aliviar a teoria de Dworkin de seus pressupostos ideais fortes e,
com isso, viabilizar a formação intersubjetiva das decisões foi feita por Klaus Günther com
uma teoria da argumentação de adequabilidade. À analise dessa teoria, está dedicado o
próximo capítulo.
48
CAPÍTULO II
DISCURSO DE APLICAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO DE ADEQUABILIDADE
5 - DISCURSO DE JUSTIFICAÇÃO E DISCURSO DE APLICAÇÃO
A distinção avançada por Dworkin, entre princípios e políticas, já indicava uma
distinção na lógica legislativa e judicial. Na verdade, essa distinção já estava contida no
princípio da separação de funções do Estado.67 Quando se separam os órgãos legislativo e
judicial, fica latente, uma vez que possuem funções diferentes, que esses órgãos possuem
lógicas argumentativas diferentes.68 Ao legislativo incumbe a criação das leis; ao judiciário, a
sua aplicação.69 Porém, porquanto óbvia essa afirmação, viu-se que, para o positivismo
jurídico (notadamente Hart), o órgão judicial é dotado de atribuições legislativas, na falta de
uma regra específica para decidir o caso em questão. Essa proposição tornou-se difundida. E
mesmo um autor como Zippelius, que admite que os órgãos funcionais do Estado são
estruturados para desempenhar funções específicas e portanto não seria adequado que um se
arvorasse nas funções do outro, conclui que o judiciário acaba exercendo funções legislativas:
“O poder judicial participa, através da interpretação do texto da lei e da integração
de lacunas legais, no processo de tornar mais preciso e completo o direito
legislado. As interpretações e o desenvolvimento ‘aberto’ do direito podem, sob a
forma de jurisprudência constante, consolidar-se ao ponto de alcançarem uma
possibilidade de execução fáctica equivalente a uma interpretação legal ou a uma
67
Sobre a separação de funções e para uma crítica à expressão “separação de poderes”, consulte-se Ronaldo
Brêtas de Carvalho Dias (2004, p. 61 et seq.). Ressalte-se a seguinte afirmação do autor (2004, p. 74): “Ao
finalizar o presente seguimento, desejamos considerar que esses mencionados Poderes do Estado, na dicção
constitucional brasileira, em visão tripartida e antiquada – Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder
Judiciário – só podem ser compreendidos, segundo concepção doutrinária mais atual, como sistemas ou
complexos de órgãos aos quais as normas da Constituição atribuem competências para o exercício das
qualificadas funções fundamentais do Estado”.
68
Reinhold Zippelius chega a afirmar (1997, 411): “A estrutura e o procedimento dos diversos órgãos estatais
são conformados de acordo com as tarefas a desempenhar precisamente por eles. Consequentemente, os órgãos
do Estado deveriam limitar-se, por princípio, desde logo no interesse de um tratamento adequado e racional dos
assuntos, às funções para que foram instituídos”.
69
Esse truismo é expressado por grande parte dos teóricos do processo, quando conceituam a jurisdição. Por
todos, cite-se o conceito de Chiovenda (1965, p. 301): “A jurisdição consiste na atuação da lei mediante a
substituição da atividade de outrem pela atividade de órgãos públicos, seja para afirmar a existência de uma
vontade de lei, seja para mandá-la a efeito ulteriormente” [“La giurisdizione consiste nell’attuazione della
legge mediante la sostituzione dell’attività di organi pubblici all’attività altrui, sia nell’affermare l’esistenza di
una voluntà di legge sia nel mandarla ulteriormente ad effetto”].
49
outra qualquer norma legal. Dos princípios do tratamento igual e da segurança
jurídica decorre igualmente uma vinculação de legitimidade a uma prática já
estabelecida de interpretação e integração de lacunas legais. Desta forma, apesar
de todas as reservas, o poder judicial actua inevitavelmente no âmbito funcional do
poder legislativo” (ZIPPELIUS, 1997, p. 417).
Já foi visto, todavia, que essa concentração da função legislativa no âmbito do
judiciário provoca problemas de legitimidade para as decisões judiciais. Com efeito, um dos
aspectos da legitimidade das decisões judiciais é a sua consistência com a ordem jurídica
vigente, outro é a sua aceitabilidade racional.
No caso do judiciário criar a norma no
momento de sua aplicação, nenhum dos dois requisitos pode ser atendido, seja porque não há
que se falar em consistência com a ordem jurídica, uma vez que não existe regra aplicável,
seja porque, na falta da regra, as partes não têm controle sobre os critérios decisórios. A
distinção de Dworkin entre regras, princípios e políticas pode ser vista, assim, como uma
tentativa de manter a função judicial restrita à aplicação de normas. Reforça-se, por uma
diferenciação de padrões argumentativos, o princípio da separação de funções. Para cumprir
esse objetivo, porém, a função judicial teve de ser idealizada e o problema da legitimidade
voltou a atingir a construção dworkiana. Em Dworkin, o problema da legitimidade encontrou
resposta na construção de uma teoria monológica, que consegue permanecer imune aos
argumentos das partes. Substituiu-se o autoritarismo político do positivismo (juridicização do
arbítrio) por um autoritarismo epistemológico (fundamentação solipsista). Evidentemente,
persistiu o problema da legitimidade.
Partindo de uma investigação sobre a aplicação de normas sociais, ou seja, de uma
investigação a respeito de como os atores sociais coordenam seus planos de ação através de
normas, Klaus Günther chegou ao problema da aplicação legítima de normas jurídicas. Desse
ponto de vista mais amplo, foi possível a Günther tratar tanto da aplicação de normas
jurídicas, como da aplicação de normas morais. De fato, o autor começa pelas últimas.
Günther percebe, de início, que duas atividades estão envolvidas na aplicação de normas:
“De um lado, justificar uma norma, mostrando que existem razões, de qualquer
tipo, para aceitá-la, e, de outro lado, relacionar uma norma a uma situação,
perguntando se e como a norma se ajusta à situação, se não existem outras normas
que deveriam ser preferidas nessa situação, ou se a norma proposta não deveria ser
modificada tendo em vista a situação” (GÜNTHER, 1993, p. 11).70
70
GÜNTHER, 1993, p. 11: “on the one hand, justifying a norm by showing that there are reasons, of whatever
kind, to accept it, and, on the other, relating a norm to a situation by inquiring whether and how it fits the
situation, whether there are not other norms which ought to be preferred in this situation, or whether the
proposed norm would not have to be changed in view of the sitituation”.
50
Haveria, portanto, dois momentos distintos: um de justificação, outro de aplicação
da norma. Para evidenciar isso, no discurso moral, Günther fará uma análise da ética do
discurso na versão de Habermas. Pode-se dizer que a ética do discurso se localiza dentro dos
esforços de uma ética cognitivista, isto é, entende ser possível argumentar em favor da
correção de julgamentos morais, os quais são vistos como algo mais do que opiniões privadas
sobre estados emocionais ou observações empíricas. Assim, os juízos morais podem ser
fundamentados, ou seja, pressupõe-se a possibilidade de distinguir entre juízos morais
corretos e errados. Além disso, a ética do discurso é universalista: insiste que a validade
moral é dirigida a todos e não está limitada a uma forma de vida específica ou a grupos de
pessoas. Por fim, a ética do discurso é formal. Ela abstrai de conteúdos de valor culturais e
fixa-se no exame do caráter deontológico da correção normativa; não se interessa tanto pelo
domínio dos valores culturais, mas pela demarcação do que é moralmente válido.71 Tendo em
vista essas características, pode-se dizer que a ética do discurso apenas fixa um procedimento
para a formação de juízos morais imparciais, sem dar nenhuma orientação de conteúdo.72
Dessarte, Habermas formula um princípio de universalização, que visa a garantir a formação
imparcial de juízos morais:
“(U) Toda norma válida tem que preencher a condição de que as conseqüências e
efeitos colaterais que previsivelmente resultem de sua observância universal, para a
satisfação dos interesses de todo indivíduo[,] possam ser aceitas sem coação por
todos os concernidos” (HABERMAS, 2003, p. 147).73
O princípio de universalização refere-se, pois, à fundamentação de normas. A
validade dessas normas é aferida em um outro momento por um princípio do discurso (D):
71
Sobre as características da ética do discurso apontadas acima, consulte-se GÜNTHER, The sense of
appropriateness (1993), p. 59-60 e HABERMAS, Consciência moral e agir comunicativo (2003), p. 147-148.
72
Habermas vê nesse procedimentalismo a característica distintiva da ética do discurso em relação às demais
propostas cognitivistas, universalistas e formalistas (2003, p. 148-149): “A ética do Discurso não dá nenhuma
orientação conteudística, mas sim, um procedimento rico de pressupostos, que deve garantir a imparcialidade
da formação do juízo. O Discurso prático é um processo, não para a produção de normas justificadas, mas
para o exame da validade de normas consideradas hipoteticamente. É só com esse procedimento que a ética do
Discurso se distingue de outras éticas cognitivistas, universalistas e formalistas, tais como a teoria da justiça de
Rawls”.
73
Uma outra formulação do princípio de universalização encontra-se em HABERMAS, 2003, p. 86: “ – que as
conseqüências e efeitos colaterais, que (previsivelmente) resultarem para a satisfação dos interesses de cada um
dos indivíduos do fato de ser ela universalmente seguida, possam ser aceitos por todos os concernidos (e
preferidos a todas as conseqüências das possibilidades alternativas e conhecidas de regragem)”.
51
“Toda norma válida encontraria o assentimento de todos os concernidos, se eles
pudessem participar de um Discurso prático” (HABERMAS, 2003, p. 148).74
Percebe-se que o princípio de fundamentação (U), tal como proposto por
Habermas, não distingue entre questões de justificação e de aplicação. O simples fato de uma
norma ser válida já estaria a indicar sua adequação em relação ao caso particular. Concebido
dessa forma, (U) seria não só um princípio de fundamentação, mas também um princípio de
aplicação. Klaus Günther percebeu isso e reformulou o princípio (U), dando-lhe uma versão
forte (strong version), que deixa claro os dois âmbitos, de justificação e de aplicação, que o
princípio deveria atender:
“Uma norma é válida e em todo caso adequada, se as conseqüências e efeitos
colaterais resultantes para os interesses de cada indivíduo, como resultado da
observância geral dessa norma em toda situação particular, possam ser aceitos por
todos” (GÜNTHER, 1993, p. 33).75
Mas um tal princípio estaria a exigir um requisito impossível. Com efeito, o
princípio (U), em sua versão forte, exigiria dos concernidos que antevissem todos os efeitos
decorrentes da observância de uma determinada norma por todos. Isso exigiria tempo infinito
e conhecimento infinito dos participantes em discursos racionais, logo, seria inaplicável, por
exigir um requisito impossível. Para evitar essa idealização forte, Günther oferece uma
versão mais fraca (weaker version) do princípio (U):
“Uma norma é válida se as conseqüências e efeitos colaterais decorrentes para os
interesses de cada indivíduo, como resultado da observância geral dessa norma,
sob circunstâncias invariáveis, possam ser aceitos por todos” (grifo por GDM)
(GÜNTHER, 1993, p. 35).76
Com isso, estabelece-se uma reserva “temporal e cognoscitiva” a uma norma que
tenha superado o teste de universalização (cf. HABERMAS, 2000, p. 147). O discurso de
74
Pode-se comparar esse princípio do discurso com aquele apresentado por Habermas, em Between Facts and
Norms. Esse princípio explica o significado da imparcialidade de juízos práticos, mas permanece neutro em
relação ao direito e a moral. Tal princípio tem a seguinte formulação: “D: São válidas apenas as normas de
ação com as quais possam concordar todos os possíveis afetados, enquanto participantes de discursos
racionais” [“D: Just those action norms are valid to which all possibly affected persons could agree as
participants in rational discourses”] (HABERMAS, 1996, p. 107). Esse princípio será importante para a
compreensão da relação de co-originariedade e de complementariedade entre direito e moral, propugnada por
Habermas a partir de Between Facts and Norms. Vide notas 80 e 81 infra.
75
GÜNTHER, 1993, p. 33: “A norm is valid and in every case appropriate if the consequences and side effects
arising for the interests of each individual as a result of this norm’s general observance in every particular
situation can be accepted by everyone”
76
GÜNTHER, 1993, p. 35: “A norm is valid if the consequences and side effects arising for the interests of each
individual as a result of this norm’s general observance under unchanging circumstances can be accepted by
everyone”.
52
justificação não exaure a idéia de imparcialidade.
Só a atende no que concerne à
possibilidade de obter reconhecimento recíproco. O juízo sobre a adequação da norma à
situação particular é deixado para um outro momento: o momento da aplicação. Assim, é
possível fazer a interpretação diante da constelação das circunstâncias de fato. Logo, não é
preciso antecipar, para além das situações previstas para as quais a norma foi pensada, se a
norma em questão é também adequada a novas situações, cuja antecipação não era possível.
Essa tarefa é transferida para o discurso de aplicação. “O papel que desempenha o princípio
de universalização nos discursos de fundamentação é assumido, nos discursos de aplicação,
pelo princípio de adequação” (HABERMAS, 2000, p. 147).77
Distinguem-se, portanto,
questões relativas ao discurso de justificação de questões relativas ao discurso de aplicação.
No primeiro, é discutida a universalidade da norma, a possibilidade de reconhecimento
recíproco; no segundo, trata-se de determinar a adequação da norma válida ao caso particular.
Só assim, com a conjugação do princípio de universalização com o de adequação, a idéia de
imparcialidade pode ser exaurida (cf. GÜNTHER, 1993, p. 37; HABERMAS, 2000, p. 147).78
Chega-se, então, a uma caracterização das duas espécies de discursos:
“O que é relevante para a justificação é somente a norma em si própria,
independente de sua aplicação em uma situação particular. É uma questão de estar
no interesse de todos que a regra seja seguida por cada um. Se uma norma
expressa ou não o interesse de todos, não depende de sua aplicação, mas nas razões
que podemos avançar sobre por que a norma deve ser observada como uma regra
por todos. O que é relevante para a aplicação, em contraste, é a situação
particular, independente de se a observância geral atende ao interesse de todos. É
uma questão de se e como uma regra deve ser seguida na situação particular em
vista de todas as circunstâncias particulares” (GÜNTHER, 1993, p. 37-38).79
Porém, a moral, tal como vista pela ética do discurso, constitui apenas um sistema
de conhecimento. Não há qualquer garantia de que a ação vai se passar como determinam as
normas morais. Nesse ponto, o direito cumpre uma função complementar, instituindo a
77
HABERMAS, 2000, p. 147: “El papel que desempeña el princio de universalización en los discursos de
fundamentación es asumido en los discursos de aplicación por el principio de adecuación”.
78
É preciso estar claro que imparcialidade aqui não significa fixar-se em um ponto de vista distanciado, de onde
se pudesse fazer julgamentos neutros. A imparcialidade, no sentido empregado pela ética do discurso, está muito
mais ligada à assunção reciproca de papeis. Sobre isso, veja-se Habermas (2003, p. 86): “A formação imparcial
do juízo exprime-se, por conseguinte, em um princípio que força cada um, no círculo dos concernidos, a adotar,
quando da ponderação dos interesses, a perspectiva de todos os outros”.
79
GÜNTHER, 1993, p. 37-38: “What is relevant to justification is only the norm itself, independent of its
application in a particular situation. It is a question of whether it is in the interest of all that everyone follow the
rule. Whether a norm embodies the common interest of all does not depend on its application, but on the
reasons we can advance as to why the norm ought to be observed like a rule by everyone. What is relevant to
application, in contrast, is the particular situation, independent of whether a general observance is also in the
interest of everyone. It is a question of whether and how the rule ought to be followed in a particular situation in
view of all the particular circumstances”.
53
obrigatoriedade das normas. O direito pode cumprir esse papel porque é um sistema de ação,
além de um sistema de conhecimento.80 Nota-se, contudo, que não é qualquer direito que
cumpre esse papel: deve ser um direito legítimo.81 O direito legítimo, para Habermas, tem,
pois, um componente de moralidade dentro de si. Todavia, isso não pode levar a suposição de
que a moral esteja acima do direito, como se fosse hierarquicamente superior, uma vez que
direito e moral mantém uma relação de complementariedade.82 No entanto, os dois códigos
de linguagem não se confundem e elementos da moral que migram para o direito devem ser
visto agora como direito, pois possuem validade jurídica.83 Assim, a aplicação de normas
morais, no âmbito da ética do discurso, termina por conduzir a uma discussão sobre a
aplicação de normas no direito. Também o direito legítimo pode ser avaliado, dessarte, do
ponto de vista de discursos de justificação e aplicação. Günther avança esse empreendimento.
No que se segue, busca-se uma analise de como o autor conduz essa reflexão.
80
Sobre isso, pode-se citar Habermas: “Apesar do ponto de referência comum, moral e direito diferem prima
facie na medida em que a moral pós-tradicional representa apenas uma forma de conhecimento cultural,
enquanto o direito tem, somando-se a isso, um caráter vinculante no nível institucional. O direito não é somente
um sistema simbólico, mas um sistema de ação também” [“Despite the common reference point, morality and
law differ prima facie inasmuch as posttraditional morality represents only a form of cultural knowledge,
whereas law has, in addition to this, a binding character at the institutional level. Law is not only a symbolic
system but an action system as well”] (HABERMAS, 1996, p. 106-107).
81
Como afirma Habermas: “Por outro lado, é preciso levar em conta que as pessoas que seguem o direito
também são pessoas que agem moralmente. Por isso e na medida em que elas o desejarem, devem ter a chance
de poderem obedecer ao direito também pelo motivo do respeito à lei. Por esta simples razão, o direito tem que
ser um direito legítimo” (HABERMAS, 2003(b), p. 172).
82
Esta passagem de Habermas é relevante sobre o tema: “Em virtude dos componentes de legitimidade da
validade jurídica, o direito positivo tem uma referência à moral inscrita dentro de si. Mas essa referência moral
não nos deve desencaminhar a ponto de posicionar a moral sobre o direito, como se existisse uma hierarquia de
normas. A noção de um direito mais alto (i.e., uma hierarquia de ordens jurídicas) pertence ao mundo prémoderno. Ao invés, a moral autônoma e o direito posto que depende de justificação mantêm uma relação de
complementariedade” [“In virtue of the legitimacy components of legal validity, positive law has a reference to
morality inscribed within it. But this moral reference must not mislead us into ranking morality above law, as
though there were a hierarchy of norms. The notion of a higher law (i.e., a hierarchy of legal orders) belongs to
the premodern world. Rather, autonomous morality and the enacted law that depends on justification stand in a
complementary relationship”] (HABERMAS, 1996, p. 106).
83
Conforme Habermas (1996, p. 206): “Mesmo os exemplos mencionados acima da moral no direito mostram
apenas que conteúdos morais são traduzidos para o código jurídico e revestidos com um modo de validade
diferente. Conteúdos sobrepostos não obscurecem a fronteira entre direito e moral, que são irreversivelmente
diferenciados no nível pós-convencional de justificação. Desde que a diferença entre as linguagens da moral e
do direito é mantida, a migração de conteúdos morais para o direito não significa uma imediata moralização do
direito” [“Even the above mentioned examples for morality in the law show only that moral contents are
translated into the legal code and furnished with a different mode of validity. Overlapping contents do not blur
the boudary between law and morality, which are irreversibly differentiated at the postconventional level of
justification. As long as the difference between the languages of morality and law is maintained, the migration
of moral contents into law does not signify any immediate moralization of law”].
54
6 – ELEMENTOS PARA ARGUMENTAÇÃO DE ADEQUABILIDADE
Sob a pressuposição do princípio de universalização em sentido forte, uma norma
é válida e ao mesmo tempo adequada se cada indivíduo puder concordar com as
conseqüências e efeitos colaterais decorrentes de sua observância geral (cf. GÜNTHER, 1993,
p. 33). Nesse caso, todas as hipóteses de aplicação da norma devem ser antecipadas. Se isso
fosse possível, ter-se-ia uma norma perfeita, pois as conseqüências de sua aplicação a cada
caso particular já teriam sido objeto de deliberação e já teriam encontrado o assentimento de
todos os afetados. Nesse sentido, a norma perfeita regularia sua própria aplicação.84 Tal
possibilidade, porém, não está disponível. Viu-se que o princípio de universalização, no
sentido forte, faz exigências impossíveis e, portanto, não tem aplicabilidade.
Para não
abandonar a idéia de uma fundamentação de normas pela ética do discurso, viu-se que
Günther separa as exigências do princípio de imparcialidade em dois momentos: um momento
de justificação e outro de aplicação de normas. Assim, o princípio de universalização passa a
exigir, para a validade da norma, apenas que os indivíduos concordem com as conseqüências
e efeitos colaterais decorrentes do seguimento geral de uma norma, desde que mantidas as
mesmas circunstâncias que possam ser antecipadas no momento da discussão da norma (cf.
GÜNTHER, 1993, p. 35). Mas com isso, a validade de uma norma já não implica mais sua
adequação a qualquer situação particular.85
84
Nas palavras do autor (GÜNTHER, 1995, p. 279): “Uma norma fundamentada de tal maneira seria
‘perfeita’. Poderia regular sua própria aplicação, porque todas suas possíveis aplicações individuais haveriam
sido tema do discurso e a adequação de sua aplicação pertenceria ao significado de sua validade. Qualquer
situação individual, em que o interesse de um indivíduo pudesse ver-se afetado pelo seguimento geral de uma
norma concreta, haveria sido já considerada no discurso de fundamentação. Os participantes no discurso
teriam a certeza de que não haveria nenhuma situação em que o seguimento de uma norma lesionaria um
interesse generalizável” [“Una norma fundamentada de tal manera seria ‘perfect’. Podria regular su propia
aplicación, porque todas sus posibles aplicaciones individuales habrían sido tema del discurso y la adecuación
de su aplicación pertenecería al significado de su validez. Cualquer situación individual, en la que el interés de
un individuo pudiera verse afectado por el seguimiento general de una norma concreta, habría sido ya
considerada en el discurso de fundamentación. Los participantes en el discurso tendrían la certeza de que no
habría ninguna situación en la que el seguimiento de la norma lesionara un interés generalizable”].
85
Nesse sentido, afirma o autor (GÜNTHER, 1995, p. 283): “Se delimitarmos o conceito de validade à
reciprocidade da consideração de interesses sob condições que se mantêm iguais, este conceito já não implica a
adequação da aplicação de uma norma sob qualquer circunstância. Frente a uma situação de ação as normas
válidas somente são aplicáveis prima facie” [“Si delimitamos el concepto de validez a la reciprocidad de la
consideración de intereses bajo condiciones que se mantienen iguales, este concepto ya no implica la
adequación de la aplicación de una norma bajo cualquier circunstncia. De cara a una situación de acción las
normas válidas sólo son aplicables prima facie”].
55
Essa adequação deve ser avaliada em um momento posterior, diante das
circunstâncias particulares, em relação às quais se pretende a aplicação da norma. Com isso,
Günther pretende recuperar o ideal da norma perfeita, através de uma análise das
circunstâncias particulares, que se dá em dois passos (cf. GÜNTHER, 1995, p. 283): um
discurso de justificação, que lida com a consideração recíproca de interesses, e um discurso de
aplicação, encarregado da adequação da norma ao caso particular pela análise de todas as
circunstâncias da situação. A lógica da adequação precisa ser explicitada agora.
Para Günther, a lógica de uma argumentação de adequabilidade é constituída por
dois elementos: descrição completa da situação e coerência normativa. Como foi visto
acima, seguindo uma versão fraca do princípio de universalização, as normas válidas são
aplicáveis apenas prima facie. Isso porque sua adequação ao caso particular não está contida
em sua validade, como acontecia sob a pressuposição de uma versão forte do princípio de
universalização. Assim, todas as circunstâncias da situação de fato precisam ser levadas em
conta, pois circunstâncias diferentes conduzem à aplicação de normas diferentes.86
Portanto, se um indivíduo seleciona, unilateralmente, determinadas circunstâncias
de fato em relação às quais pretende a aplicação de determinada norma, pode ficar sujeito às
objeções daqueles que terão seus interesses afetados pela aplicação da norma proposta. Com
relação aos dados fáticos, abrem-se três possibilidades de objeção (cf. Günther, 1993, p. 231):
pode-se questionar a verdade dos fatos; pode-se questionar que os fatos narrados não estão
contidos na extensão semântica da norma que se pretende aplicar; por fim, pode-se questionar
a falta de consideração de outras circunstâncias relevantes na descrição da situação.87
Dessa primeira característica, decorre que a aplicação de normas não pode ser um
ato de um ator isolado, pois, nesse caso, correr-se-ia o risco de uma seletividade em relação
86
Para esclarecer isso, vale mencionar o exemplo dado pelo próprio Günther (cf. 1993, p. 230 et seq.; 1995, p.
289 et seq.). Se alguém promete a um amigo (Smith) ir a sua festa, poder-se-ia dizer que o enunciado particular
“devo ir a festa de Smith” está assegurado pela norma “deve-se manter as promessas”. Pode ser o caso, porém,
de que, no dia da festa, outro amigo (Jones) esteja em sérias dificuldades e precise de ajuda. O enunciado
particular “devo ajudar Jones” estaria, por sua vez, assegurado pela norma “deve-se ajudar um amigo em
dificuldades”. Tem-se, na situação, duas normas válidas, que prima facie são aplicáveis. Assim, percebe-se que
a consideração de outros aspectos da situação podem levar à aplicação de normas diferentes e, portanto, podem
levar a soluções diferentes para o caso.
87
Nos termos do exemplo citado na nota anterior, pode-se formular tais objeções da seguinte forma
(GÜNTHER, 1993, p. 231): “Você não disse a Smith ontem que compareceria a sua festa”; “O que você disse a
Smith quando ele o convidou não foi uma promessa firme, mas uma combina casual de encontro”; “Você
realmente fez uma promessa firme a Smith, mas seu amigo Jones está em sérias dificuldades no momento”.
56
aos fatos e, conseqüentemente, uma aplicação unilateral e parcial de normas. O princípio de
imparcialidade exige, pois, a interação argumentativa daqueles que serão atingidos pela
norma, no momento de sua aplicação.
Mas, se prima facie pode-se ter várias normas aplicáveis a uma situação, será
preciso lidar com o conflito normativo para se chegar a uma decisão. Günther distingue dois
tipos de colisão de normas: colisões internas e externas. Colisões internas ocorrem quando
uma norma proposta não pode ser generalizada, porque não considera reciprocamente os
interesses de todos os envolvidos (v.g. “sempre que isso proporcione uma vantagem, está
permitido não manter uma promessa” – nesse caso, a norma não considera os interesses
daqueles que confiam na manutenção da promessa – cf. GÜNTHER, 1995, p. 280). A colisão
interna refere-se à validade da norma e pode ser identificada sem referência a uma situação de
aplicação particular.
Por outro lado, tem-se uma colisão externa, quando duas normas
generalizáveis disputam a aplicação no caso particular (v.g. “deve-se manter as promessas
feitas” e “deve-se ajudar um amigo em dificuldades”). Esta última não é identificável no
discurso de justificação. É possível, porém, antecipar que, em algum momento, não será
possível cumprir ambas as normas ao mesmo tempo, apesar disso, as duas normas passam
pelo discurso de justificação, uma vez que ambas as normas consideram reciprocamente o
interesse dos envolvidos. Assim, a colisão deve ser resolvida no discurso de aplicação.88 O
interesse volta-se, dessarte, para as colisões externas. Como é possível estabelecer uma
relação de preferência ou de primazia entre normas válidas?
Para responder a essa pergunta, deve-se considerar o segundo elemento de uma
lógica de argumentação de adequabilidade: a coerência normativa.
Como a descrição
completa da situação gera, muito freqüentemente, colisões entre normas válidas (entenda-se
duas ou mais normas válidas podem ser aplicadas ao caso, levando a resultados diferentes), é
preciso explicar como tais normas válidas que entraram em colisão são compatíveis entre si.
Do conjunto de normas válidas, deve ser possível, portanto, somente uma resposta correta
(adequada) para cada caso.
88
Dificilmente, na tarefa de descrever um critério de
Günther resume o que se disse sobre colisões da seguinte forma (1995, p. 281): “As colisões internas afetam
à validade de uma norma. Por meio de uma negação são identificáveis independentemente das situações reais
de aplicação. Ao contrário, as colisões externas somente podem ser identificadas em situações de aplicação”
[“Las colisiones internas afectan a la validez de una norma. Por medio de una negación son identificables
independientemente de las situaciones reales de aplicación. Por el contrario, las colisiones externas sólo
pueden identificarse en situaciones de aplicación”].
57
adequabilidade, seria possível oferecer um critério material; chega-se, no máximo, a um
critério formal. A coerência deve ser vista sob esta perspectiva. Günther, portanto, vai
afirmar:
“Se mantemos agora como válida uma norma como NI, ainda quando sabemos que
existem algumas situações em que pode colidir com normas como NII, supomos
contrafaticamente que todas as normas válidas formam finalmente um sistema
coerente ideal que permite exatamente uma resposta correta; em outras palavras: a
razão prática não se contradiz” (GÜNTHER, 1995, p. 293).89
Não é fácil oferecer uma definição concisa do que seja coerência. O próprio
Günther o reconhece, quando afirma que, nesse particular, parece haver acordo somente
quanto ao fato de que a coerência é mais ampla do que o princípio de não-contradição ou
consistência (cf. 1995, p. 274).
“Como um padrão para a validade de afirmações, a
coerência é mais fraca do que a verdade analítica assegurada por dedução lógica, mas mais
forte do que a mera isenção de contradição” (HABERMAS, 1996, p. 211).90 Habermas se
vale da comparação com um quebra-cabeça para explicar a coerência: “as coisas se passam
como na composição de um quebra-cabeça – temos que procurar ver quais os elementos que
se ajustam” (HABERMAS, 2003, p. 144-145).
Feitas essas ressalvas quanto às exigências da coerência, pode-se perceber até que
ponto Günther conseguiu especificar um critério formal de coerência. Eis a sua primeira
formulação:
“(1) Uma norma Nx é apropriada na situação Sx se for compatível com todas as
outras variantes semânticas NSVn e todas as normas aplicáveis Nn em Sx, e se a
validade de cada variante semântica individual e cada norma individual puder ser
justificada em discursos de justificação” (GÜNTHER, 1993, p. 243).
Esse primeiro critério, porém, faz uma exigência como aquela feita pela versão
forte de (U). Nunca se sabe quais são todas as normas universalizáveis que poderiam ser
aplicadas a uma determinada situação. Tal axioma de coerência exigiria uma imaginação
normativa infinita (infinite normative imagination), que permitisse antecipar todas as normas
válidas aplicáveis à situação. Todavia, quando decisões sobre relevância são feitas, como é o
89
GÜNTHER, 1995, p. 293: “Si mantenemos ahora como válida una norma como NI, aun cuando sabemos que
existen algunas situaciones en las que puede colisionar con normas como NII, suponemos contrafácticamente
que todas las normas válidas forman finalmente un sistema coherente ideal que permite exactamente una
respuesta correta; con otras palabras: la razón práctica no se contradice”.
90
HABERMAS, 1996, p. 211: “As a standard for a statement’s validity, coherence is weaker than the analytic
truth secured by logical deduction but stronger than mere freedom from contradiction”.
58
caso nos discursos de aplicação, consideram-se apenas as normas que já se provaram válidas.
Com isso, afirma Günther, pode-se sempre referir apenas as normas válidas de uma (nossa)
forma de vida particular (cf. GÜNTHER, 1993, p. 243). Pode-se formular, então, um segundo
axioma de coerência:
“(2) Uma norma Nx é aplicável adequadamente em Sx se for compatível com todas
as outras normas NFL aplicáveis em Sx, que pertençam a uma forma de vida FLx e
que possam ser justificadas em um discurso de justificação. (O mesmo se aplica a
todas as variantes semânticas” (GÜNTHER, 1993, p. 243).91
Não se deve pensar que esse índice de normas válidas, fornecido por uma forma
de vida particular, determine, antecipadamente, a aplicação dessas normas. Para que seja
possível a descrição de todos os aspectos relevantes da situação, é necessária a aplicação (ou
consideração hipotética) de todas as normas válidas.92
Assim, do ponto de vista do
observador, tem-se uma forma de vida constituída por um conjunto desordenado de normas
válidas, que se ordenam em cada situação de aplicação particular, mediante um esforço
reconstrutivo comum, que facilita a obtenção de uma resposta adequada (cf. GÜNTHER,
1995, p. 294). Do ponto de vista interno, o discurso de justificação só expressa o aspecto de
validez do princípio de imparcialidade; mas não pode gerar um conjunto de princípios
coerentes para todos os casos de colisão. O discurso de aplicação faz valer o ponto de vista da
adequação imparcial; mas só pode exigir a consideração de todos os traços relevantes da
descrição da situação (cf. GÜNTHER, 1993, p. 294). Nesses termos, parece difícil que se
leve adiante efetivamente uma orientação moral sob esses requisitos. Por isso, Günther se
utiliza da categoria dos paradigmas, que colocam as normas válidas de uma determinada
forma de vida em uma ordem transitiva. Os paradigmas, afirma Günther:
“Constituem um contexto de fundo, no qual se inserem, em cada caso, nossas
apreciações da situação e os correspondentes juízos morais prima facie. Junto com
outros saberes culturais de orientação, pertencem esses paradigmas à forma de vida
em que cada um de nós nos encontramos” (GÜNTHER, 1995, p. 294).93
91
GÜNTHER, 1993, p. 243: “(2) A norm Nx is appropriately applicable in Sx if it is compatible with all the
other norms NFL applicable in Sx which belong to a form of life FLx and can be justified in a justification
discourse. (The same applies to all the semantic variants)”.
92
É nesse sentido que Günther afirma que o problema do círculo hermenêutico pode permanecer aberto. Não
importa se os participantes do discurso de aplicação devem dispor de uma descrição completa da situação antes
de considerar as normas aplicáveis, ou se só é possível uma descrição completa da situação após a consideração
de todas as normas aplicáveis. Os participantes do discurso só podem saber quais normas entram em colisão no
caso particular se tiverem indicado, nas normas aplicáveis, todos os traços relevantes de uma descrição da
situação (cf. GÜNTHER, 1995, p. 287).
93
GÜNTHER, 1995, p. 294: “Constituyen un contexto de fondo en el que se insertan en cada caso nuestras
apreciaciones de la situación y los correspondientes juicios morales prima facie. Junto con otros saberes
culturales de orientación pertenecen estos paradigmas a la forma de vida en la que cada uno de nosotros nos
encontramos”.
59
Evidentemente, Günther reconhece que esses paradigmas cristalizam, também,
valorações deformadas e pré-conceitos, o que poderia conduzir a uma aplicação unilateral de
normas.
Por isso, os paradigmas, adverte Günther, devem permanecer criticáveis,
independentemente da forma de vida em que se encontrem, pelo menos em duas maneiras:
quanto à validade das normas particulares, se já não se consegue mais manter a consideração
recíproca de interesses; e quanto à relação de coerência entre as normas, se a descrição da
situação que serve de base já não é mais compatível com uma descrição completa da situação
(cf. GÜNTHER, 1995, p. 295).94
Os paradigmas teriam, pois, a função de reduzir a
complexidade da tarefa de aplicar normas imparcialmente. Uma diferença, porém, deve ser
assinalada entre o critério de coerência proposto por Günther e outras teorias de coerência,
como a de Dworkin por exemplo. O critério de coerência de Günther só se aplica aos
discursos de aplicação; ele não encampa a justificação da validade de normas, como ocorre
em Dworkin, pela posição de uma norma dada em relação às demais normas (cf. GÜNTHER,
1993, p. 245).
Os paradigmas podem aliviar o juiz Hércules de Dworkin de seus elementos de
idealidade. Como reconhece Habermas:
“Esses paradigmas aliviam Hécules da tarefa supercomplexa de inspecionar um
conjunto desordenado de princípios e normas válidos prima facie, que devem ser
relacionados diretamente, a olho nu, como se encontram, às características
relevantes de uma situação apreendida da maneira mais completa possível. O
resultado do procedimento torna-se, então, previsível para as partes, enquanto o
paradigma pertinente determinar uma compreensão de fundo que os especialistas
do direito compartilham com todos os cidadãos” (HABERMAS, 1996, p. 221).95
Com isso, a perspectiva monológica do juiz Hércules é obrigada a ceder, na
medida em que os paradigmas devem ser intersubjetivamente compartilhados. Por outro lado,
essa utilização de paradigmas deve ser vista como um empreendimento comum, que permita a
crítica, para evitar a cristalização de pré-conceitos (ideologias). Dessarte, a decisão do juiz
não pode ser vista como um ato isolado, resultado de uma atividade solipsista de
94
Em sentido parecido, veja-se o posicionamento de Dworkin (1986, p. 72): “Paradigmas ancoram a
interpretação, mas nenhum paradigma está seguro contra o desafio lançado por uma nova interpretação que
considera melhor outros paradigmas e deixa aquele outro isolado, como um erro” [“Paradigms anchor
interpretations, but no paradigms is secure from challenge by a new interpretation that accounts for other
paradigms better and leaves that one isolated as a mistake”].
95
HABERMAS, 1996, p. 221: “Such paradigms relieve Hercules of the hypercomplex task of surveying an
unordered set of prima facie valid principles and norms that must be related directly with the naked eye, as it
were, to the relevant features of a situation apprehended as fully as possible. The outcome of a procedure then
becomes predictable for the parties as well insofar as the pertinent paradigm determines a background
understanding that legal experts share with all citizens”.
60
interpretação. Nesse sentido, a necessidade de reconhecer ou reconstruir paradigmas que
reduzam a complexidade termina como uma crítica à perspectiva monológica de Dworkin.
Essa crítica abre a possibilidade de considerar a decisão judicial como um empreendimento
comum de vários atores. É o que se extrai das lições de Habermas:
“A abordagem monológica torna-se ainda menos sustentável se, como Günther,
considera-se necessário confiar em paradigmas para reduzir a complexidade. As
pré-compreensões paradigmáticas do direito, em geral, podem limitar a
indeterminação da tomada de decisões informadas teoricamente somente se for
compartilhado intersubjetivamente por todos os cidadãos e expressar uma
autocompreensão da comunidade jurídica como um todo. Isso também vale mutatis
mutandis para uma compreensão procedimentalista do direito, que conta, desde o
início, com uma competição discursivamente regulada entre paradigmas diferentes.
É por isso que um empreendimento cooperativo é exigido para afastar a suspeita de
ideologia que paira sobre essa compreensão de fundo. O juiz singular deve
conceber sua interpretação reconstrutiva fundamentalmente como uma empreitada
comum apoiada pela comunicação pública dos cidadãos” (HABERMAS, 1996, p.
223-224).96
Feitas essas considerações, faz-se necessário, agora, proceder a uma análise mais
detida da argumentação de adequabilidade no direito.
7 – ARGUMENTAÇÃO DE ADEQUABILIDADE NO DIREITO
Já se mencionou que a ética do discurso constitui apenas um sistema de
conhecimento.
Para torná-la efetiva seria preciso aliar ao sistema de conhecimento um
sistema de ação. Isso é necessário para que se possa lidar com o que Günther chama de dupla
contigência:
“As situações de atuação se distinguem ademais por meio do traço da ‘dupla
contingência’: alter tem de poder prever que ego seguirá também faticamente o
conjunto de normas válidas e princípios compartilhados. Em caso contrário, não
seria presumível que alter pudesse motivar-se racionalmente, em seus atos, por
96
HABERMAS, 1996, p. 223-224: “The monological approach becomes even less tenable if, like Günther, one
considers it necessary to rely on legal paradigms that reduce complexity. The paradigmatic preunderstanding of
law in general can limit the indeterminacy of theoretically informed decision making and guarantee a suffcient
measure of legal certainty only if it is intersubjectively shared by all citizens and expresses a self-understanding
of the legal community as a whole. This also holds mutatis mutandis for a proceduralist understanding of law,
which reckons from the start with a discursively regulated competition among different paradigms. This is why
a cooperative endeavor is required to remove the suspicion of ideology hanging over such a background
understanding. The single judge must conceive her constructive interpretation fundamentally as a common
undertaking supported by public communication of citizens”.
61
meio de normas válidas. Do princípio moral da ética discursiva se segue, portanto,
a autorização de utilizar meios de produção de decisões empíricas para garantir um
seguimento fático geral das normas” (GÜNTHER, 1995, p. 295).97
A isso, cumpre acrescer que as decisões cotidianas são tomadas sob condições de
escassez de tempo e de conhecimento.
Tudo isso conduz ao que Günther chama de
institucionalização do sistema jurídico: “Escassez de tempo, o estado incompleto do saber e a
dupla contingência entre os atores conduzem à institucionalização do sistema jurídico”
(GÜNTHER, 1995, p. 295).98 Está claro também que, para qualquer procedimento legislativo
que se possa conceber, a antecipação de todas as situações de aplicação nunca é possível.
Logo, nunca se alcança, faticamente, o ideal de uma norma que regula sua própria aplicação.
Isso obriga os atores, tanto os que querem guiar sua conduta pela moral, quanto os que
querem guiar sua conduta pelo direito, a ingressar em uma argumentação de adequabilidade,
em que a norma é confrontada com as características da situação particular. Portanto, também
no direito estará presente a argumentação de adequabilidade.
Porém, para se manter o nexo entre direito e ética discursiva, deve ser possível aos
atores sociais determinar sua conduta pelo direito, não apenas em termos estratégicos, mas
também racionais. Em síntese, é preciso que o direito seja legítimo:
“Todavia, as normas válidas do direito positivo e as sentenças definitivas, à
diferença das normas e juízos morais, não pretendem que sejam seguidas
faticamente por cada indivíduo somente por motivos racionais. Não podem, sem
embargo, excluir um reconhecimento e seguimento motivado racionalmente. Este
não ocorre, salvo no caso de qualquer indivíduo poder chegar ao resultado,
baseado em uma argumentação moral, de que tem boas razões para o
reconhecimento da validade e adequação de uma norma” (GÜNTHER, 1995, p.
295-296).99
Com isso, Günther se vê na contingência, tal como Alexy, de conceber o direito
como caso especial de argumentação moral. O discurso jurídico seria um caso particular de
97
GÜNTHER, 1995, p. 295: “Las situaciones de actuación se distinguen además por medio del rasgo de la
‘doble contingencia’: alter ha de poder prever que ego seguirá también facticamente el conjunto de normas
válidas y principios compartidos en común. En caso contrario, no seria presumible que alter se pudiera motivar
racionalmente en sus actos por medio de normas válidas. Del principio moral de la ética discursiva se sigue,
por tanto, la autorización de utilizar medios de producción de decisiones empíricas para garantizar un
seguimiento fáctico general de las normas”.
98
GÜNTHER, 1995, p. 295: “Escasez de tiempo, el estado incompleto del saber y la doble contingencia entre
los actores conducen a la institucionalización del sistema jurídico”.
99
GÜNTHER, 1995, p. 295-296: “Aunque las normas válidas del derecho positivo y las sentencias firmes, a
diferencia de las normas y juicios morales, no pretenden que sean seguidas fácticamente por cada individuo
sólo por motivos racionales. No pueden, sin embargo, excluir un reconocimiento y seguimiento motivado
racionalmente. Éste no ocurre salvo en el caso de que culquier individuo pudiera llegar al resultado basadoen
una argumentación moral de que hay buenas razones para el reconocimiento de la validez y adecuación de una
norma”.
62
discurso prático geral. Mas Günther faz a ressalva de que a argumentação jurídica seria um
caso especial de argumentação moral de aplicação, ou de discurso prático de aplicação, e não
de fundamentação, como aparece em Alexy. Para compreender esse ajuste proposto por
Günther à tese do caso especial, será preciso retomá-la a partir de sua proposta inicial por
Alexy.
Robert Alexy concebe o discurso jurídico, em sua Teoria da Argumentação
Jurídica, publicada originalmente em 1978, como um caso especial do discurso prático geral.
Essa caracterização se dá como se segue:
“De importância central é o pensamento de que o discurso jurídico é um caso
especial do discurso prático geral. O ponto comum do discurso jurídico e do
discurso prático geral é que as duas formas de discurso se preocupam com a
correção de afirmações normativas. Terá de ser fundamentado que tanto na
afirmação de uma construção prática geral, como na afirmação ou apresentação de
uma constatação jurídica se propõe a reivindicação da correção. O discurso
jurídico é um caso especial, visto que a argumentação jurídica acontece no contexto
de uma série de condições limitadoras. Aqui devem ser nomeados principalmente
seu caráter de ligação com a lei, a consideração pelos precedentes, a inclusão da
dogmática usada pela ciência do Direito, bem como – é claro que isso não vale
para o discurso da ciência jurídica – sua sujeição às limitações impostas pelas
regras de ordem processual” (ALEXY, 2001, p. 26-27).
E, de forma mais condensada:
“Acima afirmamos a tese de que o discurso jurídico é um caso especial do discurso
prático geral. Isso aconteceu com base em: (1) as discussões jurídicas se
preocupam com questões práticas, isto é, com o que deve ou não ser feito ou
deixado de fazer e (2) essas questões são discutidas com a exigência de correção. É
questão de ‘caso especial’ porque as discussões jurídicas (3) acontecem sob limites
do tipo descrito” (ALEXY, 2001, p. 212).
Günther dirige basicamente duas críticas à tese do caso especial de Alexy.
Primeiro, não seria uma pretensão de correção (no sentido da ética discursiva) o que
caracterizaria os argumentos jurídicos; segundo, regras que são não só necessárias, mas
suficientes, para o discurso prático, não estão presentes, por boas razões, na argumentação
jurídica (cf. GÜNTHER, 1995, p. 297). Com isso, Günther avança sua própria tese do caso
especial: “Minha tese será que somente com a ajuda da distinção suplementar entre
63
fundamentação e aplicação pode-se fundamentar por que a argumentação jurídica deve ter
lugar enquanto discurso sob condições restritas” (GÜNTHER, 1995, p. 297).100
Quanto à primeira crítica, é preciso notar que Alexy afirma que “ao contrário do
caso do discurso prático geral, essa exigência [de correção] não se relaciona com o fato de a
afirmação normativa em questão ser ou não absolutamente racional, mas antes se pode ser
racionalmente justificada no contexto da ordem jurídica em vigor” (2001, p. 269). Essa
afirmação abre a possibilidade para a crítica de Günther (1995, p. 298): “Ao contrário disso, a
pretensão de correção prática, no sentido da ética discursiva, refere-se à validade de uma
norma ou a seu reconhecimento geral”.101 Com isso, a argumentação jurídica não faria
referência a discursos de justificação, já que para justificar uma afirmação normativa, no
marco do ordenamento jurídico vigente, pressupõe-se a validade deste:
“Mas com isso se pressupõe um elemento essencial para o discurso de validade: a
consideração recíproca dos interesses de todos os afetados. Se a argumentação
jurídica pressupõe a validade das regras, os argumentos jurídicos não poderiam
formular a mesma pretensão que aqueles que se referem à validade de uma norma
polêmica” (GÜNTHER, 1995, p. 298).102
Isso prepara a segunda crítica de Günther. Se falta a referência à consideração
recíproca de interesses na argumentação jurídica, tal como pensada por Alexy, faltaria, assim,
a referência ao princípio de universalização (U), logo, faltaria à argumentação jurídica a
referência à discursividade – a validade da norma já estaria pressuposta. Como o princípio
(U) é suficiente para a constituição do discurso prático geral, nos termos da ética do discurso,
a argumentação jurídica não poderia ser vista como um caso especial de discurso prático
geral:
“Suficiente para o discurso é somente aquela variante do princípio de
universalidade, que se aplica à consideração recíproca dos interesses de todos os
afetados. Isto sucede em Alexy sob as ‘regras de fundamentação’ do discurso
prático geral (regra 5.1.2) [vide ALEXY, 2001, p. 198], mas não sob as regras e
formas da argumentação jurídica. Segundo aquilo que foi dito até agora, isto
tampouco teria que surpreender, porque a argumentação jurídica deve supor
100
GÜNTHER, 1995, p. 297: “Mi tesis será que sólo con la ayuda de la distinción suplementaria entre
fundamentación y aplicación puede fundamentarse por qué la argumentación jurídica debe tener lugar en
cuanto discurso bajo condiciones restringidas”.
101
GÜNTHER, 1995, p. 298: “A diferencia de esto la pretensión de corrección práctica en el sentido de la
ética discursiva se refiere a la validez de una norma o a su reconocibilidad general”.
102
GÜNTHER, 1995, p. 298: “Pero con eso se presupone un elemento esencial para el discurso de validez: la
consideración recíproca de los intereses de todos los afectados. Si la argumentación jurídica presupone la
validez de las reglas, los argumentos jurídicos no podrán formular la misma pretensión que aquéllos que se
refieren a la validez de una norma polémica”.
64
precisamente como dado aquilo para cuja fundamentação ele foi concebido: a
validade de uma norma” (GÜNTHER, 1995, p. 299).103
Günther, então, propõe um ajuste na tese do caso especial de Alexy.
A
argumentação jurídica deve ser vista, não como um caso especial do discurso de justificação,
mas sim como um caso especial do discurso de aplicação.
Assim, recupera-se a
argumentação jurídica enquanto discurso, pois os discursos de aplicação pressupõem a
existência de normas válidas. Desse modo, voltaria a ter sentido, também, falar de uma
fundamentação racional no marco do ordenamento jurídico.104
Aliada a essa teoria da argumentação jurídica como caso especial do discurso
moral de aplicação, Günther vai defender uma teoria radical da coerência, próxima a de
Dworkin, que seria uma condição suficiente para se chegar a uma única resposta correta
(adequada). Com isso, Günther pretende manter o caráter normativo do direito, flexibilizado
pelas propostas de “ponderação de bens”.
Apesar de Alexy distinguir valores de princípios pelo caráter deontológico
destes,
105
a estratégia da ponderação para solucionar o choque de princípios acaba
desmanchando a distinção. A ponderação é possível na medida em que Alexy concebe os
103
GÜNTHER, 1995, p. 299: “Suficiente para el discurso es sólo aquella variante del principio de
universabilidad, que se aplica a la consideración recíproca de los intereses de todos los afectados. Esto sucede
en Alexy bajo las ‘reglas de fundamentación’ del discurso práctico general (regla 5.1.2), pero no bajo las reglas
y formas de la argumentación jurídica. Según lo dicho hasta ahora, esto tampoco tendría que sorprender,
porque la argumentación jurídica debe presuponer precisamente como dado aquello para cuya fundamentación
fe concebido: la validez de una norma”.
104
GÜNTHER, 1995, p. 300: “Este problema se resolve quando se considera a argumentação jurídica como
um caso especial do discurso moral de aplicação. Para os discursos de aplicação se pressupõe já ex definitione
a validade das normas. Sob este pressuposto tem sentido não só falar da argumentação jurídica como um
discurso, mas também de uma fundamentação racional no marco do ordenamento jurídico vigente” [“Este
problema se resuelve si se considera la argumentación jurídica como un caso especial del discurso moral de
aplicación. Para los discursos de aplicación se presupone ya ex definitione la validez de las normas. Bajo este
presupuesto tiene sentido no sólo hablar de la argumentación jurídica como un discurso, sino también de una
fundamentación racional en el marco del ordenamiento jurídico vigente”].
105
ALEXY, 1997, p. 147; “A diferença entre princípios e valores se reduz assim a um ponto. O que no modelo
dos valores é prima facie o melhor é, no modelo dos princípios, prima facie devido; e o que no modelo dos
valores é definitivamente o melhor é, no modelo dos princípios, definitivamente devido. Assim, pois, os
princípios e os valores se diferenciam somente em virtude de seu caráter deontológico e axiológico
respectivamente” [“La diferencia entre principios y valores se reduce así a un punto. Lo que en el modelo de
los valores es prima facie lo mejor es, en el modelo de los principios, prima facie debido; y lo que en el modelo
de los valores es definitivamente lo mejor es, en el modelo de los principios, definitivamente debido. Así pues,
los principios y los valores se diferencian sólo en virtud de su carácter deontológico y axiológico
respectivamente”].
65
princípios como mandados de otimização.106
Caracterizados dessa forma, os princípios
admitem cumprimento em graus, o que permite elaborar uma regra ou lei de ponderação (Law
of Balancing) para determinar o seu cumprimento: “Quanto maior o grau de não satisfação
ou de prejuízo a um princípio, maior deve ser a importância da satisfação do outro”.107
Günther chama atenção para o fato de que a concepção de princípios como
mandados de otimização relaciona os princípios com um conceito teleológico de ação. A
aplicação passa a ser vista como uma questão de atingir fins legítimos com meios
convenientes e necessários, enquanto se considera o grau de invasão sobre outros fins e bens
igualmente importantes (cf. GÜNTHER, 1993, p. 218).
Com isso, corre-se o risco da
introdução de critérios materiais (fins, bens), que deveriam eles próprios ser objeto da
argumentação de adequabilidade. Nesse caso, o critério pelo qual alguém se orienta quando
pondera sobre normas em conflito já disporia de um conteúdo material predeterminado que
daria prioridade a um ponto de vista normativo sobre outros (cf. GÜNTHER, 1993, p. 240241).
Habermas também expõe críticas contra a caracterização dos princípios como
mandados de otimização. “Pretensões de validade”, afirma Habermas (1996, p. 232), “são
codificadas binariamente e não admitem graus de validade”.108 Assim, princípios, na medida
em que possuem caráter deontológico, não admitem cumprimento em graus.
Logo, a
caracterização dos princípios como mandados de otimização erradicaria o seu caráter
deontológico:
“Regras e princípios são ambos normas que reivindicam ser deontologicamente
válidas; isto é, possuem caráter obrigatório. A distinção entre esses tipos de
normas não deve ser confundida com aquela entre normas e políticas. Nem as
regras, nem os princípios têm estrutura teleológica. Ao contrário do que as
106
ALEXY, 1997, p. 86: “O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princípios são
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e
reais existentes. Por tanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que
podem ser cumpridos em diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das
possibilidades reais, senão também das jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos
princípios e regras opostos” [“El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los
principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las
posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto,los principios son mandatos de optimización, que están
caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las
posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos”]
107
ALEXY, 2005, p. 573: “The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the
greater the importance of satisfying the other”.
108
HABERMAS, 1996, p. 232: “Validity claims are binarily coded and do not admit of degrees of validity”.
66
metodologias jurídicas tendem a sugerir quando se referem à ‘ponderação de
valores’ (Güterabwägung), princípios não devem ser entendidos como prescrições
de otimização, porque isso erradicaria seu caráter deontológico” (HABERMAS,
1996, p. 208).109
Tal como Dworkin, Günther se esforça por manter o caráter deontológico dos
princípios, sejam morais, sejam jurídicos. Esforça-se também para manter a imparcialidade
na argumentação, evitando a inclusão de critérios materiais que poderiam conduzir a um préjulgamento ou à prevalência de uma preferência subjetiva. Nesse ponto, sua teoria não se
confunde com as propostas metodológicas de ponderação de valores ou bens, tal como a de
Alexy.110
Habermas, porém, avançou críticas contundentes à tese do caso especial, tanto na
versão de Alexy, quanto na de Günther. “Apesar da tese do caso especial, em uma versão ou
na outra, ser plausível de um ponto de vista heurístico, ela sugere que o direito está
subordinado à moral. Essa subordinação é desencaminhadora”, explica Habermas, “porque
ainda está sobrecarregada de conotações do direito natural” (HABERMAS, 1996, p.
233).111 Habermas enfatiza o paralelismo que há entre direito e moral. O princípio da moral
regula relações informais e simples interações face a face; o princípio da democracia regula
relações entre sujeitos de direito, que se compreendem como titulares de direitos (cf.
HABERMAS, 1996, p. 233). O direito não é um caso especial de argumentação moral,
porque faz referência, desde o início, ainda que esteja ligado a alguns elementos da moral no
que diz respeito a sua legitimidade, ao direito democraticamente promulgado e não à moral.
Como já se disse, conteúdos da moral que migram para o direito tomam outra forma de
validade; adquirem a validade jurídica e, a partir de então, fazem parte do direito. O caráter
discursivo do direito não decorre do caráter discursivo da moral, mas está embutido no
próprio direito pela institucionalização do princípio da democracia:
109
HABERMAS, 1996, p. 208: “Both rules and principles are norms that claim to be deontologically valid; that
is, they have an obligatory character. The distinction between norms and policies. Neither rules nor principles
have a teleological structure. Contrary to what legal methodologies tend to suggest when they refer to
‘weighing values’ (Güterabwägung), principles must not be understood as optimizing prescriptions, because that
would eradicate their deontological character”.
110
Nesse sentido, esclarece Marcelo Cattoni (2004, p. 66): “Todavia, adequabilidade não é poderabilidade
material de ‘comandos otimizáveis’, com base num ‘princípio da proporcionalidade (Alexy). O Direito, ao
contrário do que defende uma jurisprudência dos valores, possui um código binário, e não um código gradual:
que normas possam refletir valores, no sentido de que a justificação jurídico-normativa envolve questões não só
acerca de o que é justo para todos (morais) mas também acerca de o que é bom, no todo e a longo prazo, para
nós (éticas), não quer dizer que elas sejam ou devam ser tratadas como valores”.
111
HABERMAS, 1996, p. 233: “Although the special-case thesis, in one version or another, is plausible from a
heuristic stanpoint, it suggests that law is subordinate to morality. This subordination is misleading, because it
is still burdened by natural-law connotations”.
67
“Discursos jurídicos não representam um caso especial de argumentação moral
que, devido a sua ligação com o direito existente, estariam restritos a um
subconjunto de comandos morais ou permissões. Ao contrário, os discursos
jurídicos se referem desde o início ao direito promulgado democraticamente e, na
medida em que não se trata de uma reflexão doutrinária, são eles próprios
institucionalizados juridicamente. Em segundo, isso significa que os discursos
jurídicos não se referem apenas a normas jurídicas, mas, juntamente com a sua
forma de comunicação institucionalizada, estão eles próprios embutidos no sistema
jurídico” (HABERMAS, 1996, p. 234).112
Resumindo, o direito não é um caso especial de argumentação moral, porque o
próprio direito traça procedimentos argumentativos, os quais asseguram os pressupostos
comunicativos que determinam a criação, interpretação e aplicação legítimas do direito
vigente. Logo, a referência à moral, como uma espécie de supra-direito, é desnecessária.
Tanto os discursos jurídicos de justificação, quanto os de aplicação são regulados
juridicamente:
“Como os procedimentos democráticos na área da legislação, regras de
procedimento nos tribunais na área da aplicação jurídica destinam-se a compensar
a falibilidade e a incerteza decisória resultante do fato de que as exigentes
pressuposições comunicativas do discurso racional só podem ser cumpridas
aproximadamente” (HABERMAS, 1996, p. 234).113
Nesse ponto, é preciso concordar com Alexy, quando este afirma que (2001, p.
269):
“A racionalidade da argumentação jurídica é, portanto, na medida em que é
determinada pelo estatuto, relativa à racionalidade da legislação. A absoluta
racionalidade na tomada de decisão jurídica pressuporia a racionalidade da
legislação”.
112
HABERMAS, 1996, p. 234: “Legal discourses do not represent special cases of moral argumentation that,
because of their link to existing law, are restricted to a subset of moral commands or permissions. Rather, they
refer from the outset to democratically enacted law and, insofar as it is not a matter of doctrinal reflection, are
themselves legally institutionalized. This means that, second, legal discourses not only refer to legal norms but,
together with their institutionalized forms of communication, are themselves embedded in the legal system”.
113
HABERMAS, 1996, p. 234: “Like democratic procedures in the area of legislation, rules of court procedure
in the area of legal application are meant to compensate for the fallibility and decisional uncertainty resulting
from the fact that the demanding communicative presuppositions of rational discourses can only be
approximately fulfilled”.
68
O próprio Habermas admite que, nesse ponto, ainda há muito a se avançar. Com
efeito, falta ainda uma teoria do processo legislativo que dê conta dos pressupostos
comunicativos que asseguram a legitimidade do direito:114
“Os princípios procedimentais testados e confirmados na prática e as máximas de
interpretação canonizadas nos livros sobre método jurídico serão satisfatoriamente
capturados em uma teoria do discurso somente quando a rede de argumentação,
acordos e comunicações políticas na qual ocorre o processo legislativo tiver sido
analisada em mais detalhe do que o foi até o momento” (HABERMAS, 1996, p.
233).115
Pode-se dizer que o âmbito mais amplo de legitimidade das normas jurídicas, que
não se restringe a razões morais,116 levou Günther a abandonar a tematização dos discursos de
justificação jurídica (que não poderiam, em virtude do âmbito mais amplo em que as normas
jurídicas se encontram, ser reduzidos a um caso especial de discurso de justificação moral):
“Se tão-somente o princípio da universalidade da ética discursiva não só é
necessário, mas também suficiente para a pertinência de um tipo de argumentação
ao discurso prático geral, o discurso jurídico não pode ser tratado como um caso
especial, porque a única regra que constitui o discurso de fundamentação como tal
não existe na argumentação jurídica e tão pouco pode existir” (GÜNTHER, 1995,
p. 300).117
Se a legitimidade da criação do direito não é assegurada por um discurso de
justificação adequado, o problema da legitimidade das decisões judiciais não pode encontrar
114
Esforços nesse sentido tem sido crescente na área do direito. Como será visto, tais pressupostos
comunicativos parecem exigir uma teoria do controle de constitucionalidade. Sobre isso os estudos mais
relevantes até o momento incluem aqueles de José Alfredo de Oliveira Baracho. Processo constitucional. Rio de
Janeiro: Forense, 1984; e aqueles de Rosemiro Pereira Leal, cujo seguinte trecho pode ser citado (1999, p. 49):
“A legitimidade fundante e a validade das instituições jurídicas emergem da estrutura normativa constitucional,
quando é esta garantidora da atuação permanente da cidadania na transformação ou preservação do Estado e
das demais instituições”. Mais recentemente, também trataram do tema CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo
Andrade. Devido processo legislativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000; o próprio Professor Rosemiro
Pereira Leal, em obra inovadora - LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo:
Landy, 2002; e DEL NEGRI, André. Controle de constitucionalidade no processo legislativo. Belo Horizonte:
Fórum, 2003.
115
HABERMAS, 1996, p. 233: “The procedural principles tested and confirmed in practice and the maxims of
interpretation canonized in textbooks on legal method will be satisfactorily captured in a discourse theory only
when the network of argumentation, baragaining, and political communications in which the legislative process
occurs has been more thoroughly analysed than it has been to date”.
116
Habermas reconhece isso (1996, p. 108): “O princípio da democracia resulta da especificação
correspondente dessas normas de ação que aparecem na forma jurídica. Tais normas podem ser justificadas
com apoio em razões pragmáticas, ético-políticas e morais – aqui a justificação não está restrita a razões
morais apenas” [“The principle of democracy results from a corresponding specification for those action
norms that appear in legal form. Such norms can be justified by calling on pragmatic, ethical-political, and
moral reasons – here justification is not restricted to moral reasons alone”].
117
GÜNTHER, 1995, p. 300: “Si tan sólo el principio de universabilidad de la ética discursiva no sólo es
necesario, sino también suficiente para la pertenencia de un tipo de argumentación al discurso práctico general,
el discurso jurídico no puede tratarse de un caso especial, porque la única regla que constituye al discurso de
fundamentación como tal no existe en la argumentación jurídica, y tampoco puede existir”.
69
uma resposta completa no discurso de aplicação pela argumentação de adequabilidade, tal
como quer Günther. A única pergunta que é respondida pela argumentação de adequabilidade
no direito é aquela já antecipada por Alexy (2001, p. 269): “A única pergunta a ser feita é que
significa decidir racionalmente no contexto de uma ordem jurídica válida”. A argumentação
de adequabilidade sozinha não consegue responder ao problema da legitimidade das decisões,
porque não fornece uma justificativa externa racional, ou seja, não trata da legitimidade das
normas jurídicas em si próprias. A argumentação de adequbilidade dá conta apenas da
consistência interna, quer dizer, da compatibilidade da decisão com o conjunto de normas do
direito vigente. Esse problema, porém, não passou despercebido a Günther, que certamente
anteviu a necessidade de um procedimento legislativo que permitisse a consideração recíproca
dos interesses dos envolvidos. Todavia, Günther acabou esbarrando com a impossibilidade de
conceber os discursos de justificação jurídica como caso especial do discurso de justificação
moral, tal como foi feito com o discurso de aplicação. Pode-se dizer que lhe faltou, nesse
ponto, uma teoria dos direitos que, incidindo sobre os procedimentos jurídicos, asseguraria os
pressupostos comunicativos necessários para garantir a aceitabilidade racional das decisões
legislativas e judiciais.
Pode-se dizer, pois, agora com mais precisão, que à teoria da
adequabilidade de Günther falta uma teoria do processo jurídico, o que lhe permitiria
reconhecer a dignidade dos discursos jurídicos, não como casos de argumentação moral, mas
como espaços de argumentação propriamente jurídicos. A falta dessa teoria do processo faz
com que Günther seja forçado a procurar, na experiência histórica concreta de cada
ordenamento jurídico, aqueles sistemas que conseguiram, em alguma medida, efetivar
pressupostos comunicativos:
“A legitimidade dos resultados de tais discursos restritos depende da extensão em
que a argumentação que pode dar efeito a razões é possível e admissível nesses
discursos. De acordo com a distinção entre justificação e aplicação proposta aqui,
deve ser possível a essas razões manter uma relação com a consideração de todos
os interesses, no caso de argumentação sobre a validade de uma norma; e com a
consideração de todos os aspectos de uma situação, no caso de argumentação sobre
a adequabilidade de uma norma. O modo pelo qual o emprego desses diferentes
tipos de razões é otimamente institucionalizado é uma questão de experiência
histórica” (GÜNTHER, 1993, p. 253).118
118
GÜNTHER, 1993, p. 253: “The legitimacy of the results of such restricted discourses depends on the extent
to which argumentation that can give effect to reasons is possible and admissible in these discourses. In
accordance with the distinction between justification and application proposed here, it must be possible for these
reasons to bear a relation to the consideration of all the interests, in the case of argumentation on the validity of
a norm; and to the consideration of all the features of a situation, in the case of argumentation on the
appropriateness of a norm. The way in which the employment of these different types of reasons is optimally
institutionalized is a question of historical experience”.
70
Não se trata apenas de uma questão de experiência histórica. Sem uma teoria do
processo adequada, a legitimidade dos resultados dos discursos jurídicos jamais poderá ser
alcançada.
É preciso mostrar, no nível institucional, como são possíveis os discursos
jurídicos. A questão passa a ser quais os direitos precisam ser assegurados para garantir a
legitimidade das decisões judiciais? Quais os direitos necessários para institucionalizar os
discursos jurídicos?
Quais as relações que esses direitos mantêm uns com os outros?
Juridicamente essas perguntas podem ser tematizadas por uma teoria do processo, mas como
será visto não é qualquer teoria do processo que atende à pretensão de legitimidade das
decisões judiciais da forma propugnada por Klaus Günther e Jürgen Habermas. Assim, como
já havia percebido Marcelo Cattoni, o estudo deve-se voltar nesse ponto para o processo
jurisdicional:
“Estando, pois, fechada a porta para aquelas posturas decisionistas que negam a
possibilidade quer de correção, quer de certeza nas decisões jurisdicionais, e se a
adequabilidade do juízo jurídico-normativo não é auto-evidente ou existe de per se,
mas é uma (re)construção, que levanta pretensões de validade no quadro de um
determinado paradigma de Direito e de Estado, a adequabilidade só pode ser
buscada discursivamente, através do processo jurisdicional” (CATTONI DE
OLIVEIRA, 2004, p. 71).
O que é importante, no entanto, é esclarecer qual teoria do processo jurisdicional é
adequada para permitir a busca discursiva da adequabilidade. O próximo capítulo lida com
esse tema.
71
CAPÍTULO III
DISCURSO DE APLICAÇÃO E TEORIA DO PROCESSO
8 – TEORIA DO PROCESSO E LEGITIMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS
Sem dúvida, a teoria do processo mais influente na história do direito é aquela que
considera o processo como relação jurídica de direito público, entre juiz, autor e réu.
Nitidamente influenciada pela máxima de Bulgaro, jurista italiano do século XII, - judicium
est actus trium personarum: judicis, actoris et rei – a teoria do processo como relação jurídica
foi primeiramente sistematizada pelo jurista alemão Oskar von Bülow em 1868 (cf.
CHIOVENDA, 1965, p. 89-90; LEAL, 2005, p. 92; CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO,
2000, p. 278). Oskar Bülow foi um dos precursores do chamado “movimento para o direito
livre”, na Alemanha, o qual ganharia força, a partir de 1906, com a obra de Kantorowicz.119
O movimento para o direito livre valorizava um direito não estatal e defendia a aplicação de
normas que “brotavam” espontaneamente na sociedade.120 Parece que por “direito livre”
Kantorowicz, que não delimitou precisamente um conceito para essa expressão, refere-se às
convicções predominantes em determinado lugar e em determinado tempo (cf. RECASÉNS
SICHES, 1973, p. 54). Evidentemente, uma tal concepção termina por reforçar a figura do
juiz, o qual se converte em intérprete e guardião das convicções sociais vigentes. Isso implica
uma liberdade do juiz em relação ao ordenamento jurídico. Logo, essa doutrina não responde
ao requisito da consistência, constitutivo para o problema da legitimidade.
A isso
Kantorowicz, sem subterfúgios, teria respondido, como relata Recaséns Siches, da seguinte
maneira:
“Não se objete – disse Kantorowicz – que a convicção judicial resultaria
incontrolável e que, desse modo, dar-se-ia carta branca ao arbítrio judicial. Se não
nos podemos fiar no juramento do juiz, que o obriga a formar com seriedade suas
convicções, então é claro que não existe nenhuma garantia. Advirta-se, ainda
119
A vinculação de Bülow ao movimento para o direito livre é descrita detalhadamente por André Cordeiro Leal
em sua tese de doutoramento (2006, fls. 31 et seq.). Bülow teria lançado as bases desse movimento com a obra
Gesetz und Richteramt, de 1885.
120
“(...) las normas jurídicas que brotan espontáneamente en los grupos sociales (...)” esta é a expressão textual
de Recaséns Siches (1973, p. 53) para descrever as normas que o movimento para o direito livre pretendia
valorizar (grifos por GDM).
72
assim, que, por outra parte, também depende da livre convicção do juiz o que este
considera mediante sua interpretação como Direito vigente, e o que ele reputa
como verdade através das provas. Em definitivo, toda técnica jurídica está regida
pela vontade, e toda sentença, que nela se baseie, constitui algo como uma lex
specialis” (RECASÉNS SICHES, 1973, p. 57).121
Está claro que o movimento para o direito livre, do qual Bülow é um dos
pioneiros, não desenvolveu teorias para demarcar a formação da vontade do juiz. A sentença
surge, de imediato, como um ato isolado do julgador, cujas convicções não podem ser
intersubjetivamente controladas, por faltar qualquer critério para o seu balizamento e
limitação. De modo que uma teoria do processo, concebida sob a influência dessas idéias,
não poderia avançar muito para a construção de critérios, voltados a garantir a aceitabilidade
racional das decisões judiciais.122
A teoria processual da relação jurídica entre pessoas tirou do âmbito das exceções
das partes (meios pelos quais se apresentam alegações de defesa) as questões relativas ao que
Bülow chamou de pressupostos processuais, que deveriam ser examinados e declarados pelo
juiz, antes que este julgasse o pedido do autor da causa. Outra não era a intenção de Bülow,
senão fortalecer a figura do juiz e centralizar nele o juízo sobre a existência ou não do direito
das partes.
Enfim, a teoria do processo como relação jurídica buscava estabelecer um
controle judicial dos direitos das partes, já que ficava a cargo do juiz declarar existente ou não
a relação processual:
“Assim, defende que a exceção seja conceituada não como ‘o que o demandado
deve alegar frente à demanda’ (incluídas aí as questões referentes aos pressupostos
processuais), mas como ‘tudo o que ele deve aduzir contra aquela (e, se
contraditado, provar) quando ele deseje e queira que o juiz o considere’. Este
conceito, na linha seguida pelo autor, jamais pode ser aplicado aos pressupostos
processuais, visto que, em regra, tal matéria não pode ser deixada à disposição das
partes, cabendo ao juiz uma função ativa no sentido de contribuir para a formação
válida do processo” (SOUZA et al., 2005, p. 35).
Assim, a teoria do processo como relação jurídica, tal como concebida por Bülow,
centra-se na figura do juiz. Percebe-se que o estudo do processo gravita, pois, em torno da
121
RECASÉNS SICHES, 1973, p. 57: “No se objete – dice Kantorowicz – que la convicción judicial resultaría
incontrolable y que, de ese modo, se daría carta blanca al arbitrio judicial. Si no podemos fiarnos del
juramento del juez, que lo obliga a formar con seriedad sus convicciones, entonces claro es que no existe
ninguna garantía. Adviértase asimismo que, por otra parte, también depende de la libre convicción del juez lo
que éste estima mediante su interpretación como Derecho vigente, y lo que él reputa como verdade a través de
las pruebas. En definitiva, toda técnica jurídica está regida por la voluntad, y toda sentencia que en ella se base
constituye algo así como una lex specialis”.
122
Isso foi apontado, argutamente, por André Cordeiro Leal (2006).
73
atividade do juiz ou do que se convencionou chamar de jurisdição.123 Essa idéia mantém sua
influência ainda hoje. Dentre os doutrinadores brasileiros, por exemplo, ainda é comum
encontrar a afirmação de que “em torno deste, portanto (no caso, em torno da jurisdição), é
que gravitam os demais institutos do direito processual e sua disciplina” (DINAMARCO,
2003, p. 93). Sendo um meio para o exercício da jurisdição, nessa concepção teórica, o
processo pode ser visto, finalmente, como um mero instrumento da jurisdição:
“A preponderância metodológica da jurisdição, ao contrário do que se passa com a
preferência pela ação ou pelo processo, correspondente à preconizada visão
publicista do sistema, como instrumento do Estado, que ele usa para o cumprimento
de objetivos seus” (DINAMARCO, 2003, p. 97).
Quando a jurisdição tem preponderância metodológica, ganha importância a
categoria da efetividade. O processo, como instrumento, não deve embaraçar a atividade do
juiz. Nesse mesmo quadro de idéias, torna-se relevante à celeridade, vista como a rapidez
com que o sistema processual permite a tomada de decisões. O processo, portanto, deve ser
um meio que permita tomar decisões ágeis. Assim, não causa espécie que os juízes, frente a
esse instrumentalismo do processo, adotem a perspectiva metodológica da “ponderação de
valores”, criticada acima,124 para assumirem o papel de intérpretes privilegiados do
“sentimento nacional”.
Nesse sentido, as decisões judiciais atualizam as leis obsoletas,
segundo aquilo que a sociedade agora demanda:
“Em casos de formar-se um valo entre o texto da lei e os sentimentos da nação,
muito profundo e insuperável, perde legitimidade a lei e isso cria clima para a
legitimação das sentenças que se afastem do que ela em sua criação veio ditar”
(DINAMARCO, 2003, p. 242).
Esta é a mesma lógica do chamado “juízo de eqüidade” (giudizio d’equità),
mencionado por autores como Enrico Tullio Liebman, que não vêem problema em erigir o
juiz à intérprete de um “senso ético-jurídico” diluído na sociedade:
123
Isso explica porque todos aqueles autores que tentaram estabelecer limites à atividade do juiz e ao ato
decisório judicial pela teoria do processo como relação jurídica viram-se enredados em um paradoxo. “O
paradoxo de Bülow”, como o chamou André Cordeiro Leal (2006, fls. 43 et seq.), manifesta-se na medida em
que se tenta estabelecer limites à jurisdição com uma teoria que pretendia ampliar as faculdades do juiz. Assim,
tem-se como limite à jurisdição a ausência de limites, ou um enunciado como “o limite da atividade do juiz é a
sua liberdade”. Esse paradoxo atingiu, segundo André Leal, autores como Chiovenda e Couture, que tentaram
ora reduzir a legitimidade decisória à consistência, no caso do primeiro (atuação da vontade concreta da lei), ora
localizá-la na pessoa do juiz, exigindo-lhe o bom caráter, as boas intenções e a correção no comportamento, no
caso do segundo. Evidentemente, por tudo que já foi dito, ambas as propostas seriam insuficientes para
assegurar a aceitabilidade racional das decisões.
124
Cabem à posição do juiz, defendida pelo instrumentalismo processual, as mesmas críticas que foram feitas a
Robert Alexy, quanto aos métodos de ponderação.
74
“Eqüidade não quer dizer, porém, arbítrio do juiz, o qual deve, como juiz de
eqüidade, fazer-se intérprete do senso ético-jurídico difuso na sociedade de seu
tempo, que é algo como um direito em estado amorfo; de maneira que o critério
eqüitativo, que intervém para temperar a aspereza da rígida aplicação da lei, possa
por sua vez ser visto como preceito geral, aplicável a todos os casos idênticos
àqueles no qual foi aplicado” (LIEBMAN, 2002, p. 163-164).125
Como se pode notar, o juízo de eqüidade assume critérios materiais (senso éticojurídico, sentimento da nação), que, em última análise, são pré-compreensões ou préconceitos do próprio julgador. Essas pré-compreensões fazem parte da subjetividade do
julgador e deveriam ser elas próprias colocadas em discussão. O juízo de eqüidade, seja na
versão de Liebman, seja na de Dinamarco, não permite a discussão pelos envolvidos dos
critérios de formação do ato decisório.
Isso porque tais critérios são pré-compreensões
subjetivas do julgador, que não foram formuladas e expostas à crítica no decorrer do
procedimento. Como foi visto, isso só é possível na medida em que o ato decisório é
privativo do juiz, conforme preceitua a teoria do processo como relação jurídica. Com o ato
decisório concebido nesses termos, não se pode falar sequer em discurso de aplicação. A
aplicação das normas, nesse caso, fica submetida à prudência do julgador.
Essa prudência vai-se manifestar, como anota Günther (cf. 1993, p. 68), no
tratamento estratégico das particularidades da situação de fato, só que no caso do juízo de
eqüidade, tal como uma espécie de phronesis aristotélica, lida-se estrategicamente com a
norma, assimilando-a aos fatos. Isso afasta o princípio da imparcialidade, pois, ao invés de
levar em consideração todas as circunstâncias da situação e, então, buscar, dentre as normas
prima facie aplicáveis, aquela que seja mais adequada, segundo as exigências do ordenamento
jurídico (ou melhor, segundo as exigências de uma compreensão paradigmática do
ordenamento jurídico), o juiz assimila a norma aos fatos, decidindo conforme aquilo que ele
entende ser o mais correto para aquele caso. Não há propriamente a aplicação de uma norma,
mas a adoção de uma decisão pelo juiz, por um juízo que se ajusta “às circunstâncias
particulares do caso concreto, de modo a formular uma regra jurídica concreta que lhe
125
LIEBMAN, 2002, p. 163-164: “Equità non vuol dire però arbitrio del giudice, il quale deve, come giudice
d’equità, farsi interprete del senso etico-giuridico diffuso nella società del suo tempo, che è qualche cosa come
un diritto allo stato amorfo; cosiché il criterio equitativo, che interviene a temperare le asprezza della rigida
applicazione della legge, possa a sua volta essere sentito come precetto generale, applicabile a tutti i casi
identici a quello nel quale è stato applicato”.
75
pareça mais justa para o caso singular” (LIEBMAN, 2002, p. 163).126 Com isso, a teoria
processual da relação jurídica entre juiz, autor e réu, revela-se incompatível com a teria da
argumentação de adequabilidade de Günther.
A argumentação das partes tem quando muito um valor heurístico. Reduz-se à
possibilidade de persuadir o juiz em favor de algum argumento, mas de modo algum tem
caráter decisivo para o desfecho da causa, pois o que é decisivo para sentença é a convicção
do julgador. Nisso não se pode deixar de notar a influência do pensamento de Hegel (2000,
p.199): “A prova não contém, portanto, uma determinação objetiva absoluta e o que na
decisão soberanamente prevalece é a convicção subjetiva, a certeza de consciência (animi
sententia)”. Por sinal, a posição do juiz na teoria do processo como relação jurídica, colocado
acima das partes, parece, em certa medida, ter sido influenciada por Hegel:
“A direção do conjunto do processo, da investigação e de todos aqueles atos
jurídicos das partes que são eles mesmos direitos, bem como o julgamento jurídico,
cumprem sobretudo ao juiz qualificado” (HEGEL, 2000, p. 199).
A própria imagem do processo como um meio para atuação da jurisdição e a
necessidade de efetividade e celeridade já se encontram em Hegel. Pode-se dizer que este
inclusive denuncia o processo como um embaraço à jurisdição:
“Com a sua divisão em atos sempre mais particulares e nos direitos
correspondentes, segundo uma complicação que não tem limite em si mesma, o
processo, que começara por ser um meio, passa a distinguir-se da sua finalidade
como algo de extrínseco. Têm as partes a faculdade de percorrer todo o formalismo
do processo, o que constitui o seu direito, e isso pode tornar-se um mal e até um
veículo da injustiça. Por isso, para proteger as partes e o próprio direito, que é
aquilo de que substancialmente se trata, contra o processo e os seus abusos deverá
o tribunal submeter-se a uma jurisdição simples (tribunal arbitral, tribunal de paz)
e prestar-se a tentativas de acordo antes de entrar no processo” (HEGEL, 2000, p.
197).
Já no pensamento de Hegel estava elaborada uma versão do paradoxo de Bülow:
as partes têm direito ao processo, que é um entrave ao direito. Uma tal concepção de processo
jamais serviria para encaminhar uma teoria do discurso jurídico preocupada em assegurar a
aceitabilidade racional das decisões judiciais e compreender o ato decisório como um
empreendimento compartilhado. Pois, em última análise, a decisão se impõe, nesta teoria,
126
O texto completo diz: “In via eccezionale è invece consentito al giudice di ricavarne il criterio del suo
giudizio con maggiore libertà da fonti diverse, adattandolo alle circostanze particolari del caso concreto, in
modo da formulare una regola giuridica concreta che gli sembri più giusta per il singolo caso” (LIEBMAN,
2002, p. 163).
76
pela autoridade do julgador, haja vista que a decisão se funda em suas convicções subjetivas.
Não há que se falar nem em consistência com o ordenamento jurídico (superada pelo juízo de
eqüidade), nem em aceitabilidade racional (já que o critério decisório está enterrado nas
convicções do julgador, onde permanece imune a críticas).
Pode-se dizer, por fim, que uma maneira de resolver o problema da aceitabilidade
racional das decisões, no marco da teoria do processo como relação jurídica, seria exigir a
fundamentação das decisões.
Assim, mesmo que fundadas em critérios subjetivos, as
decisões terminariam por explicitar esses critérios, o que permitiria a sua crítica em sede de
recurso. Nesse sentido, Couture (2004, p. 234) afirma que “uma sentença sem motivação
priva as partes do mais elementar de seus poderes de fiscalização sobre os processos
reflexivos do magistrado”.127 Mas, com isso, apenas se coloca um novo problema, que tipo
de fundamentação é necessária para que uma decisão seja racionalmente aceitável? A mera
exposição dos motivos subjetivos que conduziram o julgador a determinado resultado supre
essa necessidade de fundamentação?
Na seqüência, serão abordadas outras teorias do
processo, que buscaram respostas mais consistentes para esses problemas, do que aquelas
ofertadas pela teoria do processo como relação jurídica.
9 – PROCEDIMENTO E PROCESSO
Ao definir o processo como relação jurídica entre pessoas, depararam-se os
adeptos dessa teoria com a dificuldade de definir o que eles perceberam ser o aspecto externo
dessa relação. A seqüência de atos desenvolvida em juízo e estabelecida em leis não se
confundia, em todos os seus aspectos, com o conjunto de direitos e deveres, identificados com
127
COUTURE, 2004, p. 234: “Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes
de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado”.
77
a relação jurídica processual.128 Nesse sentido, posicionou-se inicialmente Liebman (2001, p.
77):
“Todas as relações existentes entre os sujeitos do processo têm o seu fundamento,
suas raízes, sua significação no fato básico da pendência do processo; tomadas em
conjunto, formam o que se poderia denominar de tecido jurídico interno do
processo, enquanto a série de atos (o procedimento) é apenas sua manifestação
exterior e visível”.
A influência desse ensinamento de Liebman fez-se sentir no Brasil, onde, durante
muito tempo, os processualistas sustentaram que:
“O procedimento é, nesse quadro, apenas o meio extrínseco pelo qual se instaura,
desenvolve-se e termina o processo; é a manifestação extrínseca deste, a sua
realidade fenomenológica perceptível. A noção de processo é essencialmente
teleológica, porque ele se caracteriza por sua finalidade de exercício do poder (no
caso, jurisdicional). A noção de procedimento é puramente formal, não passando
da coordenação de atos que se sucedem. Conclui-se, portanto, que o procedimento
(aspecto formal do processo) é o meio pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da
ordem legal do processo” (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2000, p. 275).
Chiovenda vislumbrava nesse aspecto formal do procedimento, o que de certa
forma também já havia sido visto por Hegel antes dele, uma garantia das partes.
O
procedimento, segundo Chiovenda, seria o conjunto das “atividades das partes e dos órgãos
jurisdicionais, mediante as quais a lide procede do princípio para a definição”
(CHIOVENDA, 2000, Vol. III, p. 5).
A experiência teria demonstrado, ainda segundo
Chiovenda, contra as críticas e censuras dos leigos, que freqüentemente insistiam na abolição
das formalidades, que a “sua ausência carreia a desordem, a confusão e a incerteza”
(CHIOVENDA, 2000, vol. III, p. 6). Como se pôde notar, hodiernamente, essa crítica não
decorre somente dos leigos, mas dos processualistas também, que em nome da celeridade e da
efetividade têm defendido procedimentos simplificados e mais maleáveis.129 Pode-se dizer
128
Para compreender esse contraste entre um aspecto interno e outro externo do processo, pode-se citar Liebman
(2002, p. 37): “O conjunto dos atos, na sua sucessão e unidade formal, recebe o nome técnico de procedimento.
Do segundo ponto de vista, deve-se destacar que a pendência do processo determina a existência entre os seus
sujeitos de toda uma série de posições e de relações recíprocas, as quais são juridicamente reguladas e formam
no seu conjunto uma relação jurídica, a relação jurídica processual” [L’insieme degli atti, nella loro
successione e unità formale, prende il nome tecnico di procedimento. Dal secondo punto di vista, va rilevato
che la pendenza del processo determina l’esistenza tra i suoi soggetti di tutta una serie di posizioni e di relazioni
reciproche, le quali sono giuridicamente regolate e formano nel loro insieme un rapporto giuridico, il rapporto
giuridico processuale”].
129
Os reflexos legislativos dessas idéias podem ser verificados, v.g., no artigo 5º, da Lei 9.099/95 – “O juiz
dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar
especial valor às regras de experiência comum ou técnicas”. Desse modo, o aspecto de garantia das partes que
poderia haver na fixação legal da seqüência de atos praticados em juízo fica muito mitigado, pois a subjetividade
do juiz comparece, agora, para determinar esses atos em função da sua consciência e das suas convicções
pessoais. Isso fica patente pela presença do juízo de eqüidade no artigo 6º, da Lei 9.099/95, o qual vai permitir
fundar a decisão nas convicções subjetivas do juiz – “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais
justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.
78
que a contribuição de Chiovenda para essa discussão foi ressaltar que essas supostas
formalidades são, na verdade, garantias das partes e que não podem ser superadas, sem mais,
em nome de uma jurisdição mais célere.
Mais tarde, o próprio Liebman perceberia um aspecto importante do
procedimento. Os atos que o constituem estão interligados e têm um escopo comum: a
formação do provimento final ou sentença. Liebman havia percebido que o procedimento
prepara a sentença:
“Os atos são antes de tudo coligados pela unidade do escopo, entendido em sentido
formal, em quanto visam a provocar e preparar o ato final que concluirá e
encerrará o procedimento. Cada ato possui porém um escopo imediato próprio,
que o qualifica na sua individualidade, mas este escopo imediato não possui outra
razão de ser que aquela de representar um passo em direção a um escopo mais
distante, que é comum a todos os atos, e é a formação do ato final, que resumirá
todo o procedimento e constituirá seu resultado” (LIEBMAN, 2002, p. 207).130
Com isso, já se começava a perceber que o procedimento, como garantia das
partes, tinha a função de preparar o ato final, a sentença. Faltava aprofundar o estudo quanto
à relação que mantinham processo e procedimento. Esse aprofundamento foi feito por Elio
Fazzalari.
Partindo de uma análise do ponto de vista lógico, Fazzalari concluiu que o
processo é, na verdade, uma espécie de procedimento.
O processo é um procedimento
realizado em contraditório. É a participação dos interessados no iter procedimental que
caracteriza o processo. O processo, portanto, é um procedimento, no qual são habilitados a
participar, em contraditório, na preparação do ato final (sentença, no caso do processo
judicial), aqueles em cuja esfera de direitos tal ato é destinado a repercutir:
“Se, pois, o procedimento é regulado de modo que participem também aqueles em
cuja esfera jurídica o ato final está destinado a produzir efeitos (tal que o autor
desse deva ter em conta a atividade deles), e se tal participação é combinada de
modo que os ‘interessados’ contrapostos (aqueles que aspiram à emanação do ato
final – ‘interessados’ em sentido estrito – e aqueles que pretendem evitá-la –
‘contra-interessados’-) estejam em plano de simétrica paridade; então o
procedimento compreende o ‘contraditório’, faz-se mais articulado e complexo, e do
130
LIEBMAN, 2002, p. 207: “Gli atti sono anzitutto collegati dall’unità dello scopo, inteso in senso formale, in
quanto sono intesi a provocare e preparare l’atto finale che compirà e chiuderà il procedimento. Ciascun atto
ha bensì uno scopo immediato proprio, che lo qualifica nella sua individualità, ma questo scopo immediato non
ha altra ragion d’essere che quella di rappresentare un passo verso uno scopo più lontano, che è comune a tutti
gli atti, ed è la formazione dell’atto finale, che riassumerà l’intero procedimento e ne costituirà il risultato”.
79
genus ‘procedimento’ é dado enuclear a species ‘processo’” (FAZZALARI, 1996,
p. 61).131
Com isso, o processo deixa de gravitar, pelo menos no que tange à metodologia de
seu estudo, em torno da jurisdição; o resultado é a abertura de um campo de estudo autônomo
do processo.132 Fazzalari possibilitou, com isso, que a jurisdição não fosse mais estudada do
ponto de vista do exercício do poder,133
mas a partir da necessidade de buscar a sua
legitimidade, ou seja, pela necessidade de buscar a legitimidade das decisões.134 A partir da
proposta de Fazzalari, a teoria do processo passou a lidar com o problema da legitimidade das
decisões judiciais, um problema que até então pertencia ao campo da filosofia do direito, o
tratamento de questões comuns marca um entrecruzamento entre essas duas disciplinas.
Cumpre, no entanto, analisar a teoria fazzalariana mais de perto para determinar o
alcance de suas contribuições. Primeiramente, se processo é uma espécie de procedimento, é
preciso dizer com mais detalhe o que seja o procedimento:
“Esclareça-se, a estrutura do procedimento se colhe quando se está diante de uma
série de ‘normas’ (tendo ao final uma norma que regulamenta um ato final:
geralmente um provimento, mas pode tratar-se também de um mero ato), das quais
cada uma regula uma determinada conduta (qualificando-a como lícita ou como
devida), mas enuncia como pressuposto do seu próprio operar o cumprimento de
uma atividade regulada por outra norma da série” (FAZZALARI, 1996, p. 77).135
131
FAZZALARI, 1996, p. 61: “Se, poi, il procedimento è regolato in modo che vi partecipino anche coloro
nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a svolgere effetti (talché l’autore di esso deba tener conto della
loro attività), e se tale partecipazione è congegnata in modo che i contrapposti ‘interessati’ (queli che aspirano
alla emanazione dell’atto finale – ‘interessati’ in senso stretto – e quelli che vogliono evitarla –
‘controinteressati’-) siano sul piano di dimmstrica parità; allora il procedimento comprende il ‘contraddittorio’,
si fa più articolato e complesso, e dal genus ‘procedimento’ è consentito enucleare la species ‘processo’”.
132
Para André Cordeiro Leal (2006, fls. 88 et seq.), é a própria ciência do processo que é fundada por Fazzalari.
Aquilo que havia servido de marco para o estudo do processo desde Bülow não passou do estudo de meios
técnicos para o exercício da jurisdição.
133
Como se pode encontrar por exemplo em Dinamarco (2003, p. 95): “Não-obstante se diga teoria geral do
processo e se continue sempre a dizer direito processual, tem-se no fundo e essencialmente a disciplina do poder
e do seu exercício e esse é o fator de unidade que reúne numa teoria os institutos, fenômenos, princípios e
normas de diversos ramos aparentemente distintos e independentes entre si”.
134
Perspectiva que foi levada a diante, com novos contornos, por Rosemiro Pereira Leal (1999, p. 42):
“Portanto, a jurisdição, face ao estágio da Ciência Processual e do Direito Processual, não tem qualquer valia
sem o PROCESSO, hoje considerado no plano do direito processual positivo, como complexo normativo
constitucionalizado e garantidor dos direitos fundamentais da ampla defesa, contraditório e isonomia das partes
e como mecanismo legal de controle da atividade do órgão-jurisdicional (juiz) que não mais está autorizado a
utilizar o PROCESSO como método, meio ou mera exteriorização instrumental do exercício da jurisdição”.
135
FAZZALARI, 1996, p. 77: “Ciò chiarito, la struttura del procedimento si coglie quando ci si trovi di fronte
ad una serie di ‘norme’ (fino a quella regolatrice di un atto finale: di solito un provvedimento, ma può trattarsi
anche di un atto mero), ciascuna delle quali regola una determinata condotta (qualificandola come lecita o
come doverosa), ma enuncia come presupposto del proprio operare il compimento di una attività regolata da
altra norma della serie”.
80
Fazzalari não explica como nem por que o procedimento se torna processo,
quando se desenvolve em contraditório entre as partes. Fica a impressão de que na própria
palavra “processo” já estaria a substância do procedimento realizado em contraditório, de que,
portanto, haveria uma “essência” do processo contida na própria palavra. Isso não explica,
porém, como o princípio do contraditório é introduzido no sistema jurídico e como este
princípio chega a se instalar no procedimento. A teoria de Fazzalari perde, nesse ponto, um
pouco de sua força explicativa.136
Cabe esclarecer, ainda, o que Fazzalari entende por contraditório. Valendo-se das
lições de Aroldo Plínio Gonçalves, um dos maiores estudiosos da obra de Fazzalari no Brasil,
pode-se dizer que:
“O contraditório não é apenas ‘a participação dos sujeitos do processo’. Sujeitos
do processo são o juiz, seus auxiliares, o Ministério Público, quando a lei o exige, e
as partes (autor, réu, intervenientes). O contraditório é a garantia de participação,
em simétrica paridade, das partes, daqueles a quem se destinam os efeitos da
sentença, daqueles que são os ‘interessados’, ou seja, aqueles sujeitos do processo
que suportarão os efeitos do provimento e da medida jurisdicional que ele vier a
impor” (GONÇALVES, 1992, p. 120).
Fazzalari contribuiu, também, com a indicação de que o juiz, ao decidir, não pode
ignorar o debate das partes. Começa-se a desenvolver uma teoria que liga o debate dos
interessados com o provimento judicial. Nesse sentido, já se tem, em Fazzalari, uma relação
embrionária entre contraditório e fundamentação das decisões:
“Tem-se, em suma, ‘processo’ quando em uma ou mais fases do iter de formação de
um ato é contemplada a participação não só – e obviamente – do seu autor, mas
também dos destinatários dos seus efeitos, em contraditório, de modo que estes
possam desenvolver atividade cujo autor do ato deve ter em conta; cujos resultados,
pois, ele pode desatender, mas não ignorar” (FAZZALARI, 1996, p. 83).137
Na seqüência, é preciso perceber os impactos da proposta fazzalariana na teoria do
processo.
136
Esta é a crítica feita por Rosemiro Pereira Leal (2002(b), p. 169) que segue nos seguintes termos: “Em
Fazzalari, por ser o contraditório uma qualidade transformadora do procedimento em processo, ainda, assim,
embora auxilie a aprendizagem da teoria do direito democrático, nos remete a uma cogitação aristotélicoessencialista que lhe retira a racionalidade explicativa de como é institucionalizado o princípio do contraditório
para que este adquira força transmutativa do procedimento em processo quando não apoiada numa
coercitividade autopoiética de cunho meramente legalista e própria do Estado burguês de direito”.
137
FAZZALARI, 1996, p. 83: “C’è, insomma, ‘processo’ quando in una o più fasi dell’iter di formazione di un
atto è contemplata la partecipazione non solo – ed ovviamente – del suo autore, ma anche dei destinatari dei
suoi effetti, in contraddittorio, in modo che costoro possano svolgere attività di cui l’autore dell’atto deve tener
conto; i cui risultati, cioè, egli può disattendere, ma non ignorare”.
81
10 – TEORIA NEO-INSTITUCIONALISTA DO PROCESSO: UMA TEORIA
DISCURSIVA
A partir dos estudos de Elio Fazzalari, o processo ganhou um âmbito de estudo
próprio, que não gravita em torno da jurisdição. Dessa perspectiva, o processo só trata da
jurisdição na medida em que o exercício desta deve ser legitimado. Já se viu que a teoria do
processo como relação jurídica entre pessoas concebe a jurisdição como atividade decisória
privativa do juiz. Pode-se afirmar também que uma teoria que concentre o ato decisório na
pessoa do juiz, seja atribuindo-lhe discricionariedade, seja colocando-o em uma posição
hermenêutica privilegiada (intérprete de valores sociais ou responsável por uma ponderação
de interesses), não atende aos pressupostos de legitimação do ato decisório, exigidos por uma
sociedade democrática. Até Fazzalari, a teoria do processo contribuiu pouco para o debate
acerca da consistência da decisão com as normas vigentes e da aceitabilidade racional das
decisões. Sob o marco teórico da relação jurídica processual, a racionalidade decisória é o
resultado das convicções do julgador, de certezas que este carrega em seu íntimo e de uma
autoridade muitas vezes lastreada apenas pelo aparato de coerção estatal. Por outro lado, o
desenvolvimento que a teoria do direito alcançou, mormente depois dos estudos de Günther e
Habermas, permitiu abrir caminho para a construção de um discurso jurídico legitimatório,
baseado na racionalidade argumentativa e não mais na autoridade apoiada pela tradição ou
pela força.
Faltava, porém, uma contrapartida institucional, uma teoria do direito que
mostrasse como era possível a implementação jurídica de uma teoria discursiva da
legitimidade decisória. Quais os direitos necessários para que se pudesse propiciar uma
interação argumentativa, livre de coerções, entre os destinatários dos efeitos de decisões
jurídicas (legislativas, administrativas e judiciais)?
Como uma sociedade poderia, pelo
medium lingüístico do direito, determinar as regras de sua convivência sem se submeter a
autoridades soberanas que ditam normas por conveniência?
Esses foram alguns dos
problemas com os quais Rosemiro Pereira Leal procurou lidar ao desenvolver uma teoria neo-
82
institucionalista do processo. Para compreender o alcance dessa teoria, é preciso perceber até
que ponto a teoria discursiva do direito de Habermas conseguiu chegar.
Partindo de um princípio do discurso que procura expressar tão-somente os
requisitos de legitimidade de normas de ação em sociedades pós-tradicionais, cujo pluralismo
de formas de vida já não permite mais um acordo baseado em um ethos comum, uma
moralidade compartilhada, ou em convicções religiosas compartilhadas,138 Jürgen Habermas
procurou elaborar uma teoria discursiva do direito, que buscasse sua legitimidade para além
dos marcos da tradição e da força. O princípio do discurso, “D: Somente são válidas as
normas de ação com as quais possam concordar todos os possíveis afetados, enquanto
participantes de discursos racionais”,139 inicialmente neutro em relação à moral e ao direito,
permite explicar, pela sua ramificação nesses dois âmbitos, como é possível a legitimidade de
normas morais e jurídicas, em sociedades pluralistas ou pós-tradicionais. A ramificação do
princípio do discurso na moral resulta no princípio (U), já discutido anteriormente.
A
ramificação desse mesmo princípio do discurso (D) no direito resulta em um princípio da
democracia (De), que tem o seguinte enunciado:
“Especificamente, o princípio democrático declara que somente podem reclamar
legitimidade aquelas leis (statutes) que possam encontrar o assentimento de todos
os cidadãos em um processo discursivo de legislação, que em contrapartida haja
sido constituído legalmente” (HABERMAS, 1996, p. 110).140
Para Habermas, o princípio da democracia deriva da interpenetração entre o
princípio do discurso e a forma jurídica. O que Habermas entende como uma “gênese lógica
dos direitos” pode ser descrito assim:
138
Sobre o pluralismo pode-se mencionar Habermas (1996, p. 200): “Em uma sociedade pluralista, na qual
vários sistemas de crenças competem uns com os outros, o recurso a um ethos prevalecente desenvolvido por
interpretação não oferece uma base convincente para discursos jurídicos. O que conta para uma pessoa como
um topos historicamente provado é para outras ideologia ou mero preconceito” [“In a pluralistic society in
which various belief systems compete with each other, recourse to a prevailing ethos developed through
interpretation does not offer a convincing basis for legal discourse. What counts for one person as a historically
proven topos is for others ideology or sheer prejudice”]. John Rawls caracteriza o que ele chama de “fato do
pluralismo razoável” da seguinte forma (2003, p. 4): “Esse fato consiste em profundas e irreconsiliáveis
diferenças nas concepções religiosas e filosóficas, razoáveis e abrangentes, que os cidadãos têm do mundo, e na
idéia que eles têm dos valores morais e estéticos a serem alcançados na vida humana”.
139
HABERMAS, 1996, p. 107: “D: Just those action norms are valid to which all possibly affected persons
could agree as participants in rational discourses”.
140
HABERMAS, 1996, p. 110: “Specifically, the democratic principle states that only those statutes may claim
legitimacy that can meet with the assent (Zustimmung) of all citizens in a discursive process of legislation that in
turn has been legally constituted”.
83
“Começa-se pela aplicação do princípio do discurso ao direito geral a liberdades –
um direito constitutivo para a forma jurídica como tal – e termina
institucionalizando juridicamente as condições para um exercício discursivo da
autonomia política” (HABERMAS, 1996, p. 121).141
Parece que o ponto central de Habermas, neste passo, é institucionalizar direitos
que assegurem tanto a autonomia pública, quanto à autonomia privada dos cidadãos. Os
direitos de liberdade e os direitos de participação seriam, por essa razão, indivisíveis:
“O nexo interno da democracia com o Estado de direito consiste no fato de que, por
um lado, os cidadãos só poderão utilizar condizentemente a sua autonomia pública
se forem suficientemente independentes graças a uma autonomia privada
assegurada de modo igualitário. Por outro lado, só poderão usufruir de modo
igualitário da autonomia privada se eles, como cidadãos, fizerem um uso adequado
da sua autonomia política. Por isso os direitos fundamentais liberais e políticos são
indivisíveis. A imagem do núcleo e da casca é enganadora – como se existisse um
âmbito nuclear de direitos elementares à liberdade que devesse reivindicar
precedência com relação aos direitos à comunicação e à participação. Para o tipo
de legitimação ocidental é essencial a mesma origem dos direitos à liberdade e
civis” (HABERMAS, 2001, p. 149).
Habermas então introduz três categorias de direitos que definiriam o código
jurídico enquanto tal, por definir o status de sujeito de direito:
“1 – Direitos fundamentais que resultam da elaboração politicamente autônoma do
direito a maior medida possível de iguais liberdades individuais.
Esses direitos requerem os seguintes como corolários necessários:
2 – Direitos fundamentais que resultam da elaboração politicamente autônoma do
status de membro em uma associação voluntária de associados sob o direito.
3 – Direitos fundamentais que resultam imediatamente da acionabilidade dos
direitos e da elaboração politicamente autônoma da proteção jurídica individual”
(HABERMAS, 1996, p. 122).142
É preciso ainda um próximo passo para que os sujeitos de direito possam
reconhecer-se como co-autores do ordenamento jurídico. Outras categorias de direitos devem
complementar as três já elaboradas:
141
HABERMAS, 1996, p. 121: “One begins by applying the discourse principle to the general right to liberties
– a right constitutive for the legal form as such – and ends by legally institutionalizing the conditions for a
discursive exercise of political autonomy”.
142
“1. Basic rights that result from the politically autonomous elaboration of the right to the greatest possible
measure of equal individual liberties.
2. Basic rights that result from the politically autonomous elaboration of the status of a member in a voluntary
association of consociates under law.
3. Basic rights that result immediately from the actionability of rights and from the politically autonomous
elaboration of individual legal protection” (HABERMAS, 1996, p. 122).
84
“4 - Direitos fundamentais a oportunidades iguais de participar em processos de
formação da opinião e da vontade nos quais os cidadãos exercem sua autonomia
política e através do qual eles geram direito legítimo”.
“5 – Direitos fundamentais para a provisão de condições de vida que são, social,
tecnológica e ecologicamente resguardados, à medida que as circunstâncias
correntes façam isso necessário para que os cidadãos tenham iguais oportunidades
de utilizar os direitos civis listados de (1) a (4)” (HABERMAS, 1996, p. 123).143
Evidentemente, para que sejam possíveis oportunidades igualitárias de
participação em processos de formação da vontade e da opinião políticas, esses processos não
podem ter curso em qualquer espaço. As praças públicas, o meio da rua ou mesmo a
televisão, o rádio e outros meios de comunicação de massa, em geral, não são espaços
adequados para a incidência de direitos que garantam uma situação paritária entre os
envolvidos, de modo que cada um possa oferecer seus argumentos e suas críticas aos
argumentos dos outros e também possa ouvir as críticas e os argumentos dos outros e avaliálos. Não se trata, pois, de um espaço físico, mas de um espaço lingüístico que possa ser
demarcado juridicamente:
“O que se teria no direito democrático constitucionalizado é a despersonificação de
uma justiça de um Judiciário mítico (vassalo de THEMIS) e a instituição de um
Logos argumentativo-discursivo pelo direito ao contraditório na formação das
opiniões e vontades construtivas, reconstrutivas e aplicativas da lei jurídica. Claro
que esse direito ao contraditório não pode ser exercido a céu aberto por relações
intersubjetivas tão do agrado dos sociologistas nostálgicos – adeptos ainda do
espaço magnético (telepático) da Ágora grega como recipiendária do bios-polytikos
ou da escatologia messiânica (historicista) dos marxianos, que pensam as
transformações sociais por um andar botânico (funcionalista) da história ou por
uma libido providencial (militância-aceleração ativista) das relações humanas. Na
contemporaneidade dos estudos da teoria da democracia, a legitimidade e
aplicação do direito são entendidos como irrestrito direito-de-ação coextenso ao
procedimento (legitimatio ao processo) como direito fundamental de aquisição e
atuação de cidadania” (LEAL, 2005(c), p. 7).
Há, portanto, a necessidade de que esse espaço seja procedimental, pois o
procedimento vai permitir a modulação do tempo e o encadeamento de atos, até aquele ato
final corolário de toda a cadeia. Não basta, outrossim, que o procedimento seja pensado, é
preciso que ele seja juridicamente descrito e assegurado. O procedimento, tal como sugeria
Chiovenda, deve ser um direito dos envolvidos. Da mesma forma que para os direitos
descritos em (4), os direitos descritos em (3), relativos à acionabilidade dos direitos, ou seja,
143
“4. Basic rights to equal opportunities to participate in processes of opinion- and will-formation in which
citizens exercise their political autonomy and through which they generate legitimate law.
5. Basic rights to the provision of living conditions that are socially, technologically, and ecologically
safeguarded, insofar as the current circumstances make this necessary if citizens are to have equal opportunities
to utilize the civil rights listed in (1) through (4)” (HABERMAS, 1996, p. 123).
85
relativos à aplicação de normas jurídicas a casos em que alguém entenda ter tido algum direito
lesionado, representam, se é que a aplicação de normas deve ser vista como discurso, um
direito de instaurar procedimentos. Mas não é qualquer procedimento que conseguirá atender,
ainda que minimamente, aos exigentes pressupostos comunicativos da criação e aplicação
legítimas do direito. Logo, o entrelaçamento do princípio do discurso com a forma jurídica
exige a criação de procedimentos específicos para o balizamento das decisões legislativas,
administrativas e judiciais, ou antes, para a formação da vontade e da opinião políticas. É,
nesse ponto, que se percebe a necessidade de uma teoria do processo adequada.
Partindo da teoria do processo de Fazzalari, já seria possível afirmar que os
pressupostos comunicativos exigidos pelos padrões de legitimidade do direito não poderiam
ser alcançados através de um mero procedimento. Com efeito, a norma jurídica criada por
uma autoridade soberana (rei ou presidente da república) pode-se dar através de
procedimentos (v.g. a edição de medidas provisórias), que não contam, no entanto, com a
participação daqueles que sofrerão os efeitos do provimento. O mero procedimento não basta,
mas é condição necessária para a participação dos envolvidos. Se esse procedimento se
realiza, agora, em contraditório, quer dizer, em termos fazzalarianos, se há processo, exige-se
a participação argumentativa, em simétrica paridade, daqueles que serão afetados pelo
provimento.144
Por isso, Fazzalari insiste que mesmo os procedimentos legislativos são
processos, haja vista a necessidade de se dar espaço para a manifestação das opiniões
contrapostas.145 Porém, como foi visto, a teoria de Fazzalari, apesar da grande contribuição
que trouxe, não é suficiente para explicar a institucionalização do princípio do contraditório.
Foi Eduardo J. Couture, processualista uruguaio, um dos primeiros juristas a
defender a idéia de que os princípios regentes das estruturas procedimentais criadas por lei
144
Cumpre enfatizar, com Aroldo Plínio Gonçalves (1992, p. 127), que: “O contraditório não é o ‘dizer’ e o
‘contradizer’ sobre matéria controvertida, não é a discussão que se trava no processo sobre a relação de direito
material, não é a polêmica que se desenvolve em torno dos interesses divergentes sobre o conteúdo do ato final.
Essa será a sua matéria, o seu conteúdo possível. O contraditório é a igualdade de oportunidade no processo, é
a igual oportunidade de igual tratamento, que se funda na liberdade de todos perante a lei”.
145
Referindo-se ao procedimento legislativo, Fazzalari enfatiza: “Se trata, portanto não de meros
procedimentos, porém de processos. Aqui o processo confirma, se porventura isso se fizesse necessário, a sua
essência de estrutura privilegiada para gestão democrática de atividades fundamentais; e, portanto, de
instrumento para realização e para salvaguarda das liberdades” [“Si tratta, dunque non di meri procedimenti,
bensì di processi. Qui il processo conferma, se mai ve ne sia bisogno, la sua essenza di struttura privilegiata
per la gestione democratica di attività fondamentali; e, dunque, di strumento per la realizzazione e per la
salvaguardia delle libertà”] (FAZZALARI, 1996, p. 620).
86
estavam na Constituição.146
Couture fala em uma “tutela constitucional do processo”,
querendo dizer que os legisladores, ao elaborar as normas procedimentais, deveriam observar
os princípios constitucionais relativos ao processo. Assim, na estruturação dos procedimentos
infraconstitucionais, os legisladores deveriam, sob pena de inconstitucionalidade das normas
criadas, observar os princípios processuais acolhidos pela Constituição. Sobre esse tema, vale
citar o processualista uruguayo:
“Não existe uma teoria geral da tutela constitucional do processo, no sentido de
enumeração conclusiva de soluções. A tese assentada para um direito positivo,
pode não ter validade para outro. Em todo caso, esta teoria consiste em determinar
a relação entre o âmbito de validade de uma Constituição, no sentido positivo, e a
forma dada a um processo por uma lei ditada dentro desse mesmo direito positivo”
(COUTURE, 2004, p. 125).147
O desenvolvimento dessa proposta teórica, principalmente na Itália, deu lugar ao
chamado modelo constitucional do processo:
“As normas e os princípios constitucionais relativos ao exercício da função
jurisdicional, se consideradas na sua complexidade, permitem ao intérprete
delinear um verdadeiro e próprio esquema geral de processo, suscetível de formar o
objeto de uma exposição unitária” (ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 7).148
Uma das principais contribuições dos italianos Italo Andolina e Giuseppe Vignera
foi o desenvolvimento da idéia de expansividade dos princípios processuais contidos na
Constituição. Tais princípios têm a capacidade de condicionar a estrutura dos procedimentos
146
Héctor Fix Zamudio chega a apontar Couture como o criador de um novo campo de estudos o Direito
Constitucional Processual (1988, p. 194): “Todavia mais recente é a disciplina que temos chamado dereito
constitucional processual, como aquele ramo do direito constitucional que se ocupa do estudo sistemático dos
conceitos, categorias e instituições processuais consagradas pelas disposições da lei fundamental, e em cuja
criação devemos destacar, como o temos sustentado ao longo deste trabalho, o pensamento do ilustre
processualista uruguaio Eduardo J. Couture, que foi um dos primeiros juristas não só entre os latiamericanos,
mas também em âmbito mundial, que advertiu sobre a necessidade de analisar cientificamente as normas
constitucionais que regulam as instituições processuais” [“Todavía más reciente es la disciplina que hemos
llamado derecho constitucional procesal, como aquella rama del derecho constitucional que se ocupa del estudio
sistemático de los conceptos, categorías e instituciones procesales consagradas por las disposiciones de la ley
fundamental, y en cuya creación debemos destacar, como lo hemos sostenido a lo largo de este trabajo, el
pensamiento del ilustre procesalista uruguayo Eduardo J. Couture, quien fue uno de los primeros juristas no
sólo latinoamericanos, sino en el ámbito mundial, que advirtió la necesidad de analizar científicamente las
normas constitucionales que regulan las instituciones procesales”]. No Brasil, a teoria constitucionalista do
processo foi desenvolvida pioneiramente por José Alfredo de Oliveira Baracho – Processo constitucional. Rio
de Janeiro: Forense, 1984.
147
COUTURE, 2004, p. 125: “No existe una teoria general de la tutela constitucional del proceso, en el sentido
de enumeración conclusiva de soluciones. La tesis sentada para un derecho positivo, puede no tener validez
para otro. En todo caso, esta teoría consiste en determinar la relación entre el ámbito de validez de una
Constitución, en sentido positiv, y la forma dada a un proceso por una ley dictada dentro de ese mismo derecho
positivo”.
148
ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 7: “Le norme ed i principi costituzionali riguardanti l’esercizio della
funzione giurisdizionale, se considerati nella loro complessità, consentono all’interprete di disegnare un vero e
proprio schema generale di processo, suscettibile di formare l’oggetto di una esposizione unitaria”.
87
infraconstitucionais, de modo que os procedimentos criados em desacordo com os princípios
constitucionais não encontram validade no ordenamento jurídico:
“A expansividade, consiste na sua [do modelo constitucional de processo]
idoneidade (devido à posição primária das normas constitucionais na hierarquia
das fontes) para condicionar a fisionomia dos procedimentos jurisdicionais
singulares introduzidos pelo legislador ordinário, a qual (fisionomia) deve ser,
todavia, compatível com os traços daquele modelo” (ANDOLINA, VIGNERA,
1997, p. 9).149
A expansividade, pode-se dizer, é o desenvolvimento da idéia de tutela
constitucional do processo, preconizada por Couture. Andolina e Vignera ainda destacam
duas outras características do modelo constitucional do processo: a variabilidade e a
perfectibilidade. A primeira informa que os procedimentos criados pelo legislador podem
atender de várias maneiras ao modelo constitucional de processo, segundo os escopos
buscados. A segunda quer dizer que o legislador pode aperfeiçoar o modelo constitucional de
processo, construindo procedimentos caracterizados por garantias e institutos desconhecidos
pelo modelo constitucional (cf. ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 9).
O ponto mais vulnerável dessa teoria já havia sido apontado por Couture. Com
efeito, a análise do modelo constitucional de processo é feita a partir de um ordenamento
jurídico positivo. Parte-se de uma Constituição concreta para traçar o modelo constitucional
de processo.
Daí a dificuldade de Couture para elaborar uma teoria geral da tutela
constitucional do processo; o que vale para um ordenamento jurídico pode não valer para
outro. Conclui-se, pois, que podem faltar princípios importantes no modelo constitucional de
processo. Em confronto com a teoria fazzalariana, por exemplo, poderia faltar o próprio
processo, caso o princípio do contraditório não fizesse parte da Constituição. Isso dificulta o
aproveitamento dessa teoria para encaminhar uma teoria do discurso jurídico, na medida em
que esta ficaria refém das experiências históricas de cada ordenamento jurídico. No entanto, a
teoria do modelo constitucional do processo fornece alguns elementos importantes para se
compreender a institucionalização dos direitos processuais e o modo pelo qual esses direitos
influenciam a construção dos procedimentos infraconstitucionais. Sabe-se, depois das teorias
constitucionalistas do processo, de Couture a Andolina e Vignera, passando por Fix Zamudio
149
ANDOLINA, VIGNERA, 1997, p. 9: “a) nella espansività, consistente nella sua idoneità (conseguente alla
posizione primaria delle norme costituzionali nella gerarchia delle fonti) a condizionare la fisionomia dei
singoli procedimenti giurisdizionali introdotti dal legislatore ordinario, la quale (fisionomia) deve essere
comunque compatibile coi connotati di quel modello”.
88
e Baracho, que os princípios processuais, regentes da estrutura procedimental, devem ter
status constitucional; segundo, pela hierarquia das normas constitucionais, tais princípios
ganham uma característica de expansividade, o que obriga o legislador a ter em conta esses
princípios como marco teórico para a construção dos procedimentos infraconstitucionais.
Aproveitando alguns dos elementos das teorias de Fazzalari e do modelo
constitucional do processo, Rosemiro Pereira Leal propôs uma teoria neo-institucionalista do
processo para tentar solucionar alguns dos problemas deixados pelas outras teorias. A teoria
neo-institucionalista não utiliza o termo instituição no sentido de conjunto de condutas sociais
estabilizadas; instituição é tratada por essa teoria como um conjunto de princípios e institutos
jurídicos, acolhidos pelo texto constitucional, que se aproximam por correlações lógicas.150
Os princípios institutivos do processo, para essa teoria, seriam o contraditório, a ampla defesa
e a isonomia. Tais princípios serviriam de marco teórico para a formação da vontade e
opinião políticas. Daí o comprometimento radical da teoria neo-institucionalista com a teoria
da democracia, pois a teoria neo-institucionalista proíbe a criação, modificação e aplicação do
direito fora dos marcos do contraditório, isonomia e ampla defesa. Logo, esses princípios
constitucionais
institutivos
têm
incidência
sobre
os
procedimentos
da
infraconstitucionalidade, determinando a estruturação de todos os procedimentos, cujos
provimentos terão repercussão na esfera de direitos dos cidadãos. Impõe-se, assim, um
devido processo à própria Constituição, como marco de legitimação da ordem constitucional;
por sua vez, a Constituição deve recepcionar os princípios institutivos do processo,
articulando,
assim,
o
devido
processo
constitucional,
que
se
expande
para
a
infraconstitucionalidade, na forma de um devido processo legal.151 Nas palavras do autor da
teoria neo-institucionalista:
150
Pode-se extrair da obra de Rosemiro Leal as seguintes indicações de seu pensamento sobre as instituições:
“Achamos melhor começar pelas instituições do Direito, uma vez que entendemos que as instituições são
agrupamentos de institutos jurídicos e estes, por sua vez, reúnem, em classes bem definidas, os princípios, as
regras e as normas” (2005(b), p. 7). “Basta-nos que o termo instituição venha acompanhado de uma conotação
procedimental-dialética e que implique um referente significativo objetivado, para que dele nos utilizemos na
acepção que lhe queremos transmitir neste trabalho” (2005(b), p. 8). “As instituições jurídicas, como súmula
estrutural do princípio, regra, norma e dos institutos jurídicos, aglutinam-se, em suas múltiplas modalidades,
para criarem pelo Direito Formulado o discurso básico do ordenamento jurídico nacional” (2005(b), p. 10).
151
Aqui, seguimos a lição de André Cordeiro Leal (2003, p. 17): “Se acatarmos que há um devido processo
constitucional como matriz principiológica a vincular o exercício legítimo da jurisdição, o devido processo
legal (entendo esse como necessária oferta de modelos procedimentais pela lei) só será observado se os modelos
apresentados possibilitarem a efetiva participação das partes mediante observância dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da isonomia na construção dos procedimentos”.
89
“Como já dissemos, a palavra instituição em nossa teoria não tem o significado que
lhe deram Hauriou e Guasp, ou que lhe possam dar os cientistas sociais e
econômicos antigos ou modernos. É que instituição não é aqui utilizada no sentido
de bloco de condutas aleatoriamente construído pelas supostas leis naturais da
sociologia ou da economia. Recebe, em nossa teoria, a acepção de conjunto de
princípios e institutos jurídicos reunidos ou aproximados pelo Texto Constitucional
com a denominação jurídica de Processo, cuja característica é assegurar, pelos
princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, do direito ao advogado e
do livre acesso à jurisdicionalidade, o exercício dos direitos criados e expressos no
ordenamento constitucional e infraconstitucional por via de procedimentos
estabelecidos em modelos legais (devido processo legal) como instrumentalidade
manejável pelos juridicamente legitimados” (LEAL, 2005, p. 100).
O que diferencia a teoria neo-institucionalista do processo das teorias
constitucionalistas é o fato de que estas não esclarecem o marco da constitucionalidade que
adotam. Como se disse, uma ordem Constitucional autoritária, ainda assim pode ter um
modelo constitucional do processo. Não há, assim, um comprometimento com uma teoria da
democracia.
Ao passo que a teoria neo-institucionalista do processo vai exigir que os
princípios do contraditório, isonomia e ampla defesa sejam balizadores (marco teórico,
referencial para formação da vontade e da opinião políticas) da ordem constitucional. A
teoria neo-institucionalista não se coaduna, portanto, com qualquer teoria da Constituição (cf.
LEAL, 2005, p. 104-105).
Ao contrário, ela delineia uma teoria da constitucionalidade
democrática:
“Infere-se que uma teoria neo-institucionalista do processo só é compreensível por
uma teoria constitucional de direito democrático de bases legitimantes na cidadania
(soberania popular). Como veremos, a instituição do processo constitucionalizado
é referente jurídico-discursivo de estruturação dos procedimentos (judiciais,
legiferantes e administrativos), de tal modo que os provimentos (decisões, leis e
sentenças decorrentes) resultem de compartilhamento dialógico-processual na
Comunidade Jurídica, ao longo da criação, da alteração, do reconhecimento e da
aplicação de direitos, e não de estruturas de poderes do autoritarismo sistêmico dos
órgãos dirigentes, legiferantes e judicantes de um Estado ou Comunidade” (LEAL,
2005, p. 100).
Com isso, nota-se que a categoria geral de direito à participação, como trabalhada
por Habermas na sua quarta categoria de direitos, demanda uma teoria do processo adequada
para caracterizar, nos termos do princípio da democracia (De), os procedimentos pelos quais
um tal direito pode ser exercido. Isso também ocorre com a terceira categoria de direitos,
referente à acionabilidade dos direitos. Na verdade, pode-se dizer que uma teoria do processo
adequada é uma exigência dos discursos de justificação e de aplicação. Tanto a criação do
direito, quanto a sua aplicação, demandam um referencial jurídico que possibilite a
participação dos envolvidos na preparação das decisões. Uma teoria do processo como
90
relação jurídica não preenche as exigências da teoria discursiva habermasiana. Isso porque a
teoria do processo como relação jurídica permite decisões tomadas isoladamente pelo
julgador. Essa teoria talvez fosse compatível com os padrões decisórios do positivismo
jurídico, mas não com uma teoria discursiva do direito, cujos padrões decisórios exigem a
interação argumentativa dos envolvidos. Do mesmo modo, as teorias constitucionalistas, que
não guardam comprometimento com a teoria da democracia, mas com o direito positivo que
pode provir de uma constitucionalidade indemarcada, sem parâmetros processuaisdiscursivos, também não pode garantir a instauração de procedimentos que permitam a
vinculação das decisões ao debate das partes no decorrer do procedimento.
Conclui-se que, sem o referencial dos princípios institutivos do processo
(contraditório, isonomia e ampla defesa), não é possível articular um procedimento que
permita a participação dos envolvidos, tal como exige a teoria discursiva do direito de
Habermas. Assim, pode-se dizer que a teoria neo-institucionalista do processo completa a
passagem do princípio do discurso (D) para o princípio da democracia (De), porque assegura
da maneira mais aproximada possível os pressupostos comunicativos dos discursos de
justificação.152 Pode-se, então, concluir com Rosemiro Leal:
“É que, no paradigma do direito democrático, o eixo das decisões não se encontra
na razão imediata e prescritiva do julgador, mas se constrói no espaço
procedimental da razão discursiva (linguagem) egressa da inter-relacionalidade
normativa (conexão) do ordenamento jurídico obtido a partir da teoria da
Constituição democrática. Nesse sentido, os argumentos de fundamentação do
direito a legitimar pretensões de validade são retirados da teoria processual que se
concebe pela isonomia entre produtores e destinatários das normas jurídicas de tal
modo que, no apontamento incessante de falibilidade do sistema jurídico no espaço
procedimental acessível a todos, os destinatários das normas se reconhecem autores
da produção do direito” (LEAL, 2002(b), p. 183-184).
O mesmo ocorre com os discursos de aplicação. Sem o contraditório, a ampla
defesa e a isonomia, não há falar em imparcialidade do julgador. Porém, é preciso explicitar
como é que esses princípios se articulam, de modo a vincular a decisão do juiz à
argumentação das partes e, com isso, possibilitar a compreensão da decisão como um
empreendimento comum, que não se coaduna com unilateralismos nem com decisões
baseadas na autoridade e na tradição.
152
Devido às limitações do procedimento legislativo, outras exigências deverão ser cumpridas para garantir a
aceitabilidade racional das normas promulgadas.
Tais exigências dizem respeito ao controle de
constitucionalidade e serão brevemente analisadas no item 12 infra.
91
11 – O CONTRADITÓRIO E A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
Eduardo Couture já havia ressaltado a importância da fundamentação das decisões
judiciais.
Couture via na exigência de fundamentação um dever administrativo do
magistrado. Só a fundamentação permitiria às partes fiscalizar a atividade intelectual do juiz
para saber em que bases a decisão foi tomada, se aplicou uma norma do ordenamento,
levando em conta as circunstâncias do caso particular ou se simplesmente resultou de uma
vontade autoritária do julgador:
“A motivação da decisão constitui um dever administrativo do magistrado. A lei
lho impõe como uma maneira de fiscalizar sua atividade intelectual frente ao caso,
para o efeito de poder-se comprovar que sua decisão é um ato reflexivo, emanado
de um estudo das circunstâncias particulares, e não um ato discricionário de sua
vontade autoritária” (COUTURE, 2004, p. 234).153
A fundamentação das decisões tem, pois, importância, no sentido de permitir às
partes fiscalizar os caminhos percorridos pelo julgador para chegar à decisão.
Essa
fiscalização deve pressupor um parâmetro para a decisão. Não há que se falar em fiscalização
se o juiz puder percorrer livremente suas convicções e chegar a qualquer decisão, ou àquela
decisão que ele, juiz, repute a mais correta. Se assim for, a decisão é livre, e as partes não têm
direito a nenhuma decisão específica, logo, não há o que fiscalizar. Portanto, só é possível a
fiscalização, no sentido de apontar falhas na decisão ou de dirigir-lhe críticas, se houver, em
contrapartida, um dever de consistência do juiz, quer dizer, se o juiz estiver obrigado a decidir
conforme as normas do ordenamento jurídico vigente. Mas será que basta, então, que o juiz
exponha o itinerário de seu pensamento para que uma decisão se considere fundamentada?
Enfim, o que é que o juiz deve levar em conta na sua decisão? O que conta como fundamento
para uma decisão, quando não se exige apenas consistência mas também aceitabilidade
racional das decisões?
153
COUTURE, 2004, p. 234: “La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La
ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse
comprobar que su decisíón es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no
un acto discrecional de su voluntad autoritaria”.
92
Já foi visto a importância do princípio do contraditório. A possibilidade de debate
entre as partes é algo constitutivo do processo, seja para Fazzalari ou para Rosemiro Leal.
Mesmo os instrumentalistas mais ferrenhos estão dispostos a ver no contraditório a marca
distintiva do processo.154 Mas de nada adiantaria o contraditório entre as partes se o juiz
pudesse, ao final, desconsiderar aquilo que foi debatido e tomar a decisão que lhe conviesse,
ainda que tente manter a adequabilidade, pela consideração da descrição completa das
circunstâncias de fato e da coerência normativa, e fundamente ao final sua decisão, expondo a
seqüência lógica que o levou a decidir daquela maneira.155 Alexy percebeu o problema,156
mas não conseguiu resolvê-lo, uma vez que a ponderação de comandos otimizáveis não exige,
necessariamente, o debate dos envolvidos.157 Pode-se dizer, portanto, que o debate das partes
no iter procedimental não pode ficar reduzido a um papel heurístico, no sentido de que as
partes buscam com seus argumentos somente influenciar o julgador, sem no entanto que esse
precise estar atento a tais argumentos. Como afirmou André Cordeiro Leal (cf. 2002, p. 104),
se o pronunciamento das partes não for efetivamente considerado, quando da prolatação da
decisão, há negação de vigência aos princípios constitucionais do processo. Partindo dessa
premissa, pode-se concluir que, novamente com André Leal (cf. 2002, p. 104-105), uma
154
Cândido Dinamarco, por exemplo, distingue o processo do procedimento do mesmo modo que Fazzalari,
ainda que isso leve a um sincretismo inconciliável entre as teorias de Fazzalari e Bülow: “O que caracteriza
fundamentalmente o processo é a celebração contraditória do procedimento, assegurada a participação dos
interessados mediante exercício das faculdades e poderes integrantes da relação jurídica processual” (2003, p.
79). Aroldo Plínio Gonçalves (1992, p. 132) argumenta contra a possibilidade de conciliação entre as duas
teorias, como quer Dinamarco: “O conceito de relação jurídica é o de vínculo de exigibilidade, de
subordinação, de supra e infra-ordenação, de sujeição. Uma garantia não é uma imposição, é uma liberdade
protegida, não pode ser coativamente oferecida e não se identifica como instrumento de sujeição. Garantia é
liberdade assegurada. Se o contraditório é garantia de simétrica igualdade de participação no processo, como
conciliá-lo com a categoria da relação jurídica? Os conceitos de garantia e de vínculo de sujeição vêm de
esquemas teóricos distintos. O processo como relação jurídica e como procedimento realizado em contraditório
entre as partes não se encontram no mesmo quadro, e não há ponto de identificação entre eles que permita sua
unificação conceitual”.
155
Isto é o que parece estar expresso no artigo 131, do Código de Processo Civil Brasileiro, sua redação deixa
entender que o juiz pode apreciar livremente o debate das partes e pode-se valer, para sua decisão, até de
circunstâncias que não foram alegadas, quer dizer, pode em parte desconsiderar o debate desde que fundamente
suas convicções – “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o
convencimento”. André Cordeiro Leal já denunciou a inconstitucionalidade desse dispositivo legal (2002, p. 106
et seq.).
156
Ao final do pós-fácil da sua Teoria da argumentação jurídica, Alexy afirma (2001, p. 324): “Quando o juiz
deixa as partes falar, porém não participa da brincadeira, na medida em que no final decide de forma a fazer
valer o direito como ele o entende, ele trata as partes como pessoas que não entenderam o que é um processo
jurídico, e que, portanto, não podem participar dele. Isso mostra que a argumentação em juízo não só deve ser
interpretada no sentido de uma teoria do discurso, mas também precisa ser interpretada dessa maneira”.
157
Basta perceber que a metodologia da ponderação se coaduna com a idéia de processo objetivo (processo sem
partes), associada aos procedimentos de declaração de inconstitucionalidade, mormente aqueles que se fazem
pela via concentrada.
93
decisão que não leve em conta o debate entre as partes não pode ser fundamentada no marco
de ordenamento constitucional democrático, porque isso acarretaria violação ao princípio do
contraditório. O próprio Habermas não percebeu isso e, de fato, chega a afirmar:
“Em suma, pode-se afirmar que os códigos de procedimento fornecem regras
relativamente estritas para a introdução de evidências relativas aos fatos. Tais
códigos definem, então, os limites dentro dos quais as partes podem lidar
estrategicamente com o direito. O discurso jurídico do tribunal, por outro lado, é
desenvolvido em um vácuo [vacuum] jurídico-procedimental, de modo que o ato de
alcançar um julgamento é deixado à habilidade profissional do juiz”
(HABERMAS, 1996, p. 237).158
Um tal posicionamento não leva adiante a proposta de Günther, defendida com
algumas ressalvas também por Habermas, de conceber a aplicação de normas jurídicas como
discurso. A dificuldade de interpretar o papel assumido pelo juiz leva a um hiato entre o
discurso jurídico de aplicação e a argumentação jurídica que efetivamente ocorre perante os
tribunais. Esse problema, porém, encontra uma resposta na hipótese, levantada por André
Cordeiro Leal, de vinculação entre o contraditório e a fundamentação das decisões:
“Mais do que garantia de participação das partes em simétrica paridade, portanto,
o contraditório deve efetivamente ser entrelaçado com o princípio (requisito) da
fundamentação das decisões de forma a gerar bases argumentativas acerca dos
fatos e do direito debatido para a motivação das decisões” (LEAL, 2002(a), p.
105).
Com isso, a argumentação dos tribunais não pode desenvolver-se em um vacuum
do direito processual. De fato, ela está completamente vinculada ao procedimento, pois só
serve, como fundamento decisório, aquelas afirmações que foram discutidas em contraditório
entre as partes:
“É que somente se poderia imaginar presentes nos autos os fatos que já passaram
pelo crivo do contraditório. Eles só chegam aos autos mediante reconstrução pelos
destinatários do ato decisional. Por conseguinte, o juiz tem que se manter adstrito à
prova dos autos. Não qualquer prova, mas somente aquela que tenha sido
compartilhadamente produzida pelas próprias partes, em consonância com os meios
legalmente previstos” (LEAL, 2002(a), p. 107).
Isso contribui para uma interpretação da argumentação judicial como um discurso
de aplicação, como proposto por Günther. Percebe-se que as questões relativas aos fatos
estão sob responsabilidade das partes. Portanto, a descrição completa da situação fica restrita
158
HABERMAS, 1996, p. 237: “In summary, one can say that codes of procedure provide relatively strict rules
for the introduction of evidence regarding what took place. Such codes thus define the bounds within which
parties can deal with the law strategically. The legal discourse of the court, on the other hand, is played out in a
procedural-legal vacuum, so that reaching a judgment is left up to the judge’s professional ability”.
94
aquilo que foi alegado e provado pelas partes. O fato de alguma circunstância relevante, seja
para o reconhecimento do direito do autor, seja para a defesa do réu, não ter sido alegada, e
assim ficar de fora da avaliação do juiz, é de inteira responsabilidade das partes. Não que o
juiz não possa solicitar a produção de alguma prova, relativa a alguma das alegações das
partes, seja para confirmar ou refutar a alegação, desde que isso se faça pelos meios de prova
previstos em lei, os quais devem observar o contraditório. O elemento de prova assim colhido
passa a fazer parte dos autos e, desse modo, fica sujeito à argumentação das partes, que
podem então debatê-lo. Se o juiz só pode decidir com base naquilo que foi objeto de debate
das partes, está claro que as partes não podem restringir-se ao debate dos fatos. Não tem mais
lugar o iura novit curia ou o da mihi factum dabo tibi ius. Na própria seleção dos fatos, as
partes já devem estar apoiadas em normas (isso também porque sua pretensão deve estar
apoiada em norma prévia do ordenamento jurídico – é preciso indicar a causa de pedir
próxima).
Assim, as partes devem propor uma solução ao caso, a qual pretendem ver
acolhida pelo juiz, solução essa que já deve levar em conta à completa descrição dos fatos e a
coerência normativa. Alguma falha nessa construção, seja uma descrição parcial dos fatos ou
a consideração unilateral de uma norma, abre espaço para uma objeção da contraparte (porque
não considerar a circunstância x, que pode ser comprovada pelo meio de prova p, e que
levaria a aplicação da norma n, a qual ainda não foi considerada).159 Por outro lado, não se
veda ao juiz que suscite uma “terceira via” (terza via), quer dizer, que indique a possibilidade
de aplicação de uma outra norma não alegada pelas partes, desde que ele submeta ao debate
dos interessados a norma que ele entende aplicável à situação. Excetuada essa hipótese, a
terceira via fica proibida.160
Desse modo, a argumentação das partes é co-extensiva à decisão do juiz, de modo
que há um câmbio no conceito de autoria do ato decisório. A decisão não é mais um ato
159
Basta ter em mente a obrigação do autor de alegar e provar o fato constitutivo do seu direito (fatos que, tendo
em vista uma determinada norma, conduz a uma decisão que assegura um direito do autor) e a obrigação do réu
de alegar e provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do réu (CPC, art. 333, incisos I e
II).
160
Note-se que a Convenção Européia, como anota Giuseppe Tarzia, proíbe em seu artigo 6º o chamado juízo de
terceira via, que venha surpreender as partes, pois nesse caso estaria violada a garantia de paridade entre as
partes. Tarzia anota, ainda, que há autores que já defendem a inconstitucionalidade por omissão dos códigos que
não imponham ao juiz a obrigação de submeter à prévia discussão das partes, não somente a discussão das
provas determinadas pelo juiz, mas também os argumentos de prova que ele pretenda utilizar, os fatos que
considera provados ou notórios e as presunções simples que efetue (2001, p. 166-167).
95
isolado, mas se insere no contexto argumentativo do procedimento. Logo, as partes são coautoras do provimento, já que o juiz não pode reivindicar para si todo o discurso
argumentativo desenvolvido durante o procedimento. Com isso, esclarece-se, outrossim, a
idéia inicial de Fazzalari de que os interessados participem na preparação do provimento final.
De tudo isso, pode-se perceber, porém, que o discurso jurídico de aplicação, tal
como quer Günther, permanece restrito à avaliação da adequabilidade de normas às
circunstâncias de fato. Toda a argumentação das partes se desenvolve nesse sentido. Assim,
pode-se concluir que uma teoria adequada do processo pode implementar satisfatoriamente,
no plano institucional, um discurso jurídico de aplicação, que assegure a legitimidade das
decisões judiciais. Evidentemente, a racionalidade completa dessa decisão ainda estará ligada
à legitimidade do direito positivo, uma vez que no discurso de aplicação a validade das
normas não é discutida. Mas será que, nos discursos jurídicos, a tematização da validade das
normas estaria restrita ao procedimento legislativo? Será que isso não imporia uma restrição
aos pressupostos do discurso de justificação, já que no procedimento legislativo não se conta
com a participação direta de todos os afetados, mas somente de seus representantes? Na
seqüência, discute-se alguns aspectos desses problemas.
12 – NOTAS SOBRE O DISCURSO DE APLICAÇÃO E O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE
Como bem afirma Marcelo Cattoni (2004(b), p. 451-452, nota 14), não se pode
exigir do processo legislativo, para que seja democrático, que seja feito sob bases
plebicitárias, com a efetiva participação de todos aqueles que serão afetados pelo provimento,
como queria por exemplo Rousseau. A participação de todos os afetados na preparação de
cada ato administrativo, outrossim, inviabilizaria a atividade administrativa. Será, então, que
o caráter democrático do direito, no caso da atividade legislativa e administrativa, estaria
restrito à eleição de representantes? Será que a discussão das normas jurídicas, uma vez
promulgadas, assim como do ato administrativo, uma vez editado, fica preclusa aos cidadãos?
O controle de constitucionalidade das leis desempenha um papel relevante no tratamento
dessas questões.
96
Em geral, o exercício do controle de constitucionalidade está a cargo do
161
Judiciário.
A competência para declarar a inconstitucionalidade de normas pode estar
concentrada em um único tribunal ou corte constitucional (sistema concentrado ou austríaco);
ou pode estar difusa, atribuída a todos os juízes (sistema difuso ou americano). Seguindo a
distinção entre discurso de aplicação e discurso de justificação, proposta por Klaus Günther,
pode-se dizer que, no direito, os discursos de aplicação estão vinculados à atividade
administrativa e judicial, enquanto os discursos de justificação vinculam-se à atividade
legislativa. Logo, o controle de constitucionalidade, onde estiver entregue ao judiciário, fará
parte do discurso de aplicação e não do discurso de justificação. Assim, afasta-se qualquer
competência legislativa (de criação de normas) que se queira atribuir aos órgãos judiciais
encarregados do controle de constitucionalidade:
“Estamos diante de uma diferença qualitativa e não meramente quantitativa:
enquanto os discursos legislativos de justificação normativa se referem à validade
das normas, nos termos das condições institucionais exigidas pelo princípio
democrático, os discursos jurisdicionais de aplicação normativa se referem à
adequabilidade de normas válidas a um caso concreto, à luz de visões
paradigmático-jurídicas que cobram reflexividade. No processo constitucional, não
se trata de justificar a validade das normas jurídicas legislativas, mas sim de
averiguar a constitucionalidade e a regularidade do processo legislativo, aplicando
a Constituição. Há uma diferença inafastável do modo e da finalidade dos
processos legislativo e jurisdicional constitucional” (CATTONI DE OLIVEIRA,
2004(b), p. 460-461).162
Para que se possa compreender a importância do controle de constitucionalidade
para o problema da legitimidade das decisões judiciais, é preciso fazer algumas observações
sobre a distinção entre legitimidade e validade das normas jurídicas. Com efeito, legitimidade
e validade não se confundem. Pode-se dizer que, a partir do positivismo jurídico, a validade
161
Exceção feita ao chamado controle político (cf. CANOTILHO, 1998, p. 832), em que uma assembléia
representativa fica encarregada de averiguar a compatibilidade de uma lei com a Constituição. Via de regra, o
controle político é feito antes mesmo da lei ser promulgada (controle preventivo): “Não se trata, por um lado,
de um controlo sobre normas válidas, mas sobre projectos de normas. Por outro lado, o tribunal ou órgão
encarregado deste controlo não declara a nulidade de uma lei; propõe a reabertura do processo legislativo
para eliminar eventuais inconstitucionalidades” (CANOTILHO, 1998, p. 836). O sistema de controle político
predomina na França (cf. BARACHO, 1984, p. 287 et seq.).
162
Aroldo Plínio Gonçalves também parece sustentar esse ponto de vista (2000, p. 116): “Ademais, quando o
controle da constitucionalidade da lei é feito pela via judicial, como ocorre no sistema jurídico brasileiro, o
pronunciamento da inconstitucionalidade da lei é o ato final de um processo, e a desconstituição da lei não se
dá pelo método usual da revogação, que é próprio da ação do PODER LEGISLATIVO, mas pelo PODER
JUDICIÁRIO, no exercício de sua função jurisdicional”.
97
diz respeito apenas ao modo pelo qual as normas jurídicas são criadas.163 No caso de Hart,
por exemplo, uma norma é considerada válida se atende aos critérios estabelecidos pela regra
de reconhecimento. Dessa perspectiva, a validade é essencialmente formal e não diz nada
quanto à qualidade do direito, se democrático ou autoritário. Para exemplificar isso, basta
pensar que a regra de reconhecimento poderia considerar como juridicamente válidas as
normas editadas por uma junta militar. A legitimidade, por sua vez, reclama a consistência da
norma infraconstitucional com a Constituição e a aceitabilidade racional, que se traduz na
explicitação dos critérios de criação da norma. Nota-se, dessarte, que a legitimidade da norma
pode ser questionada, ou porque o processo legislativo não foi atendido (os critérios de
validade da norma jurídica não foram devidamente explicitados), ou porque o conteúdo
daquela norma é incompatível com a ordem constitucional. Esse questionamento é feito pelos
instrumentos de controle da constitucionalidade das normas, regidos pelo processo
constitucional.164
Com isso, não é preciso pressupor, no discurso jurídico de aplicação, a
legitimidade das normas. Assim, os discursos jurídicos de aplicação, que se fazem pelo
marco da teoria do processo (contraditório, ampla defesa e isonomia), estão aptos a tematizar
a legitimidade das normas jurídicas perante os conteúdos Constitucionais ou perante os
princípios constitucionais do processo que informam a atividade legiferativa. Abre-se uma
possibilidade de fiscalização dos provimentos legislativos, administrativos e mesmo judiciais,
pelos destinatários desses provimentos.
Nenhum provimento, portanto, seja legislativo,
administrativo ou judicial, está imune ao juízo de constitucionalidade:165
163
Max Weber (2002, p. 707) deu expressão a esse pensamento em sua concepção de dominação legal, cuja
“idéia básica é: qualquer direito pode ser criado e modificado por meio de um estatuto sancionado
corretamente quanto à forma” [“Su idea básica es: que cualquer derecho puede crearse y modificarse por
medio de un estatuto sancionado correctamente en cuanto a la forma”].
164
Na lição de Baracho (1984, p. 347): “O Processo Constitucional move-se em abstrato, não para regular um
direito, mas sim estabelecer a legitimidade de uma lei, fonte mesma do direito. Não fixa uma situação
constitutiva, não realiza uma composição jurídica, comum às sentenças do juízo ordinário, mas limita-se a
verificar a conformidade de uma norma vigente com a Constituição”.
165
Nesse sentido, há que se mencionar a proposta de André Del Negri (2003, p. 105) de um controle de
constitucionalidade amplo, feito no decorrer do procedimento legislativo. Segundo o autor, o direito-de-ação, tal
como foi estabelecido na Constituição brasileira de 1988, já permitiria o ingresso de ações declaratórias de
inconstitucionalidade, por via principal, contra projetos de lei (na iminência do provimento legislativo causar
dano ou estar em desacordo com a Constituição): “O controle preventivo, nos moldes do denominado Conseil
Constitutionnel dos franceses, como uma etapa necessária dentro do próprio processo legislativo, em
substituição às comissões das Casas legislativas e do veto presidencial já está, a nosso juízo, autorizado pelo
direito-de-ação incondicionado do art. 5º, XXXV da CR/88. Com relação a essa hipótese, há de se confinar o
controle preventivo de constitucionalidade ao exame do Judiciário (art. 5º, XXXV, da CR/88) pela fiscalização
dos pressupostos e condições do procedimento legislativo e à observância do devido processo constitucional”.
98
“O Devido Processo Constitucional é que é jurisdicional, porque o PROCESSO é
que cria e rege a dicção procedimental do direito, cabendo ao juízo ditar o direito
pela escritura da lei no provimento judicial. Mesmo o controle judicial de
constitucionalidade há de se fazer pelo devido processo processo constitucional,
porque a tutela jurisdicional da constitucionalidade é pela Jurisdição
Constitucional da Lei democrática e não da autoridade (poder) judicacional
(decisória) dos juízes” (LEAL, 2001, p. 17).
Daí se percebe que os meios para o controle de constitucionalidade devem estar
disponíveis a qualquer um do povo, pois o controle de constitucionalidade completa a
participação dos interessados na preparação dos provimentos, permitindo que os seus
destinatários possam ser vistos também como seus co-autores, tal como preceitua o princípio
da democracia habermasiano. Assim, podem ser questionados, quanto à sua compatibilidade
com a Constituição, mesmo os provimentos para os quais não concorreram diretamente, em
sua preparação, aqueles que serão afetados.
Aqui é necessário reconhecer a importância do controle de constitucionalidade
difuso para uma concepção de direito democrático.166
Pois, é fundamental que estejam
disponíveis, em todo caso de aplicação do direito, os meios para o controle de
constitucionalidade (legitimação irrestrita),167 uma vez que a reconstrução interpretativa do
ordenamento jurídico deverá se dar diante das circunstâncias do caso concreto para se
averiguar a adequabilidade das normas aplicáveis prima facie. A constitucionalidade das
normas aplicáveis prima facie diante das circunstâncias do caso concreto é elemento
indispensável de sua adequabilidade. Por outro lado, não se pode simplesmente pressupor a
legitimidade das normas, como se a sua constitucionalidade também já estivesse dada de
antemão.
Com isso, forma-se pelo processo um espaço procedimental para fiscalização
constante do ordenamento jurídico, diante de reconstruções paradigmáticas do direito
constitucional:
“Nas democracias, é o devido processo o medium lingüístico inafastável à
discussão permanente dos conteúdos de falibilidade e efetividade de todo o
ordenamento jurídico, só cabendo às Cortes Constitucionais, se existirem, a
observância de valores e conceitos que estejam juridicamente normatizados e
abertos a uma fiscalização procedimental legitimada a todos (concreta e abstrata)
pelo devido processo legal” (LEAL, 2002(b), p. 133).
166
Cumpre esclarecer que o controle de constitucionalidade pode ser classificado em concentrado e difuso,
segundo haja um órgão específico para essa função (Corte Constitucional) ou possa ela ser exercida por qualquer
juiz; o controle pode, ainda, ser classificado em incidental e principal, quando seja suscitado como incidente no
curso de um procedimento ou seja objeto principal da demanda; pode ser ainda abstrato ou concreto, seja a
impugnação de inconstitucionalidade feita independentemente de qualquer litígio concreto ou se deve ser feita
diante das circunstâncias do caso particular (CANOTILHO, 1998, p. 832-835).
167
Tratada por parte dos constitucionalistas como legitimação universal – cf. CANOTILHO, 1998, p. 836.
99
Por fim, cabe uma última crítica às súmulas vinculantes. Do ponto de vista dos
discursos de aplicação, para se aplicar uma norma é preciso considerar todas as circunstâncias
da situação de fato. Isso só é possível diante do caso particular, no qual, como se viu, a
descrição dos fatos, as circunstâncias relevantes a considerar, deverão ser trazidas aos autos
através das provas, o que fica fundamentalmente a cargo das partes.
Uma súmula
representaria apenas mais uma norma a ser aplicada, cuja adequabilidade deveria ser aferida
nos discursos de aplicação. Os mecanismos de controle de constitucionalidade deveriam estar
disponíveis em relação às súmulas, porque diante do caso concreto uma determinada
interpretação da súmula poderia conduzir a um resultado inconstitucional.168
Diante da
descrição completa da situação, uma determinada interpretação da norma pode-se mostrar
inconstitucional e, portanto, assim pode ser declarada.
observado no Brasil.
Porém, não é isso que se tem
As orientações legislativas mais recentes indicam que as súmulas
tendem a uma aplicação mecânica, que exclui a consideração de todas as circunstâncias da
situação.
Ocorrendo as circunstâncias descritas na súmula, sua aplicação estaria pré-
determinada, sem necessidade de cogitar das demais particularidades do caso. Manejadas
dessa maneira, as súmulas impedem o discurso sobre a adequabilidade da norma e, com isso,
inviabilizam uma aplicação legítima do direito. Isso sem contar a forma como são criadas, no
âmbito do judiciário, sem qualquer participação dos interessados. Não há, portanto, pode-se
concluir, nenhum sistema democrático que conviva bem com súmulas vinculantes, da forma
como essas foram concebidas e institucionalizadas no Brasil.169
168
A declaração parcial de inconstitucionalidade e a interpretação conforme a constituição não são estranhas ao
direito brasileiro – vide o parágrafo único do artigo 28, da Lei 9.868/1999.
169
Sobre este assunto, é preciso reportar às últimas alterações, introduzidas no Código de Processo Civil pelas
Leis n.º 11.276 e 11.277, ambas de 7 de fevereiro de 2006. A primeira trouxe a canhestra previsão de uma
sentença de improcedência do pedido (decisão de mérito), sem a citação do réu, quando a questão for apenas de
direito e já houver sido decido outro “caso idêntico” no mesmo sentido. Obviamente, essa alteração destruiu a
discursividade nesses casos, seja por desconsiderar que não existem casos idênticos, seja por substituir o debate
em torno da coerência normativa por uma imposição decisória do juiz. Combinado a isso, a segunda das leis
mencionadas subtraiu a possibilidade de qualquer discussão sobre a adequação de uma súmula ao caso particular
ao vedar o recurso de apelação contra decisão fundada em súmula. Lamentavelmente, o direito brasileiro
distancia-se cada vez mais da compreensão democrática de sua própria Constituição.
100
CONCLUSÕES
Diante do exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões:
1 – O problema da legitimidade das decisões judiciais, do ponto de vista
democrático, pode ser formulado da seguinte forma: como são possíveis decisões ao mesmo
tempo consistentes com o ordenamento jurídico vigente e racionalmente aceitáveis?
2 – O positivismo jurídico, versão de Hart, admite que, nos casos difíceis (quando
não há norma regulamentando ou quando a norma que regulamenta o caso não fornece uma
resposta unívoca), o juiz tem um poder legislativo intersticial, limitado por seu escrúpulo e
por seu caráter. Em suma, nos casos difíceis o juiz possui discricionariedade para decidir.
3 – O direito como integridade, proposto por Dworkin, sustenta que os juízes não
criam direito ao decidir casos difíceis. Os juízes devem se esforçar em determinar o direito
das partes que é sempre pré-existente. Isso porque os juízes devem decidir com base em
princípios (normas que definem direitos individuais) e não em políticas (metas coletivas). Os
princípios não podem ser identificados por uma regra de reconhecimento. Ao contrário,
dependem de um senso de adequabilidade dos profissionais do direito e do público, assim
como de suporte institucional. Na aplicação dos princípios, o juiz deve, por determinação do
princípio de responsabilidade, desenvolver uma teoria que permita compreender o
ordenamento jurídico como um todo coerente. A coerência deve ser buscada entre as normas
que a sociedade faz viger no presente.
Parte da história institucional que o juiz deve
interpretar terá de ser vista como um erro na elaboração dessa teoria. A coerência dessa teoria
deve ser forte o suficiente para permitir para cada caso apenas uma resposta correta.
4 – Nem o positivismo, nem o direito como integridade fornecem uma resposta
adequada ao problema da legitimidade das decisões judiciais.
O primeiro, porque a
discricionariedade não garante nem a consistência nem a aceitabilidade racional. O segundo,
porque, para garantir a consistência, Dworkin fez demasiadas exigências ideais à figura do
juiz. O resultado foi uma centralização da decisão na pessoa do juiz, que não se deixa criticar
pelos envolvidos. Uma decisão construída assim, de maneira monológica, não atende ao
101
critério de aceitabilidade racional, por não disponibilizar à critica das partes os critérios e
parâmetros decisórios.
5 – Klaus Günther buscou aliviar a teoria de Dworkin de seus pressupostos ideais
irrealizáveis. Sua teoria baseia-se na separação entre discursos de aplicação e discursos de
justificação.
Estes tratam da consideração recíproca dos interesses, como teste para
universalização de normas (aceitabilidade por todos os participantes do discurso). Aquele
completa a especificação do princípio da imparcialidade, exigindo, no momento da aplicação,
que seja considerada a descrição completa da situação e a coerência normativa. A aplicação
de normas é regida, então, por uma argumentação de adequabilidade, que tem o objetivo de
garantir a imparcialidade. Assim, seria possível garantir consistência (coerência normativa) e
aceitabilidade racional (consideração da descrição completa da situação).
6 – Günther, no entanto, concebe a argumentação jurídica como caso especial de
discurso moral de aplicação. Isso porque faltaria ao direito o discurso de universalização para
justificação das normas. O direito deve, assim, pressupor a validade das normas jurídicas e
garantir, no plano institucional, condições para que se desenvolva a argumentação de
adequabilidade para aplicação imparcial das normas pressupostamente válidas. A tese do
caso especial sofre a crítica de Habermas, o qual a entende como desencaminhadora por
conter conotações de direito natural. A tese do caso especial sugeriria uma subordinação do
direito à moral, o que não acontece, desde que mantido o paralelismo entre os dois códigos de
linguagem. O direito, na visão de Habermas, não se reporta em momento algum à moral, mas
sim ao direito legitimamente criado.
7 – Mas Günher, assim como Habermas, não percebem que a implementação de
uma teoria do discurso no direito exige uma teoria adequada do processo jurisdicional. Aqui
a experiência histórica de cada sistema não oferece ajuda.
Para corroborar isso, basta
perceber que a teoria do processo de maior repercussão na história do direito, a teoria do
processo como relação jurídica, não atende aos pressupostos comunicativos da teoria do
discurso. Essa teoria foi criada com o objetivo de reforçar o controle do juiz sobre o processo
e conseqüentemente sobre o direito das partes. Essa teoria não estabelece uma vinculação
necessária entre a argumentação das partes e a decisão do juiz. Logo, dificilmente se poderia
conceber a aplicação de normas como discurso (aplicação dependente de uma interação
argumentativa entre os envolvidos) a partir da teoria do processo como relação jurídica.
102
8 – A partir dos estudos de Elio Fazzalari, a teoria do processo ganhou um campo
de estudo próprio, o qual deixou de gravitar em torno da jurisdição. O estudo do processo
como balizador da jurisdição começa a ganhar preeminência. Fazzalari concebe o processo
como procedimento em contraditório entre as partes na preparação do provimento final.
Procedimento e processo são nitidamente distinguidos e o estudo do processo volta-se para os
princípios que estruturam o procedimento. Com as teorias constitucionalistas do processo, foi
possível compreender que os princípios processuais deveriam ter estatura constitucional. Isso
lhes garante a expansividade necessária para determinar a estruturação dos procedimentos
infraconstitucionais.
9 – Foi, no entanto, com Rosemiro Pereira Leal que se desenvolveu uma teoria
Neo-Institucionalista do processo que exige a presença dos princípios do contraditório,
isonomia e ampla defesa como balizadores da formação da vontade e da opinião políticas.
Essa teoria permitiu compreender como a participação dos interessados pode ser
juridicamente assegurada, tanto no discurso de justificação (legislativo), quanto no discurso
de aplicação (judicial e administrativo). Com isso, foi possível especificar a passagem do
princípio do discurso para o princípio da democracia. Assim, pode-se explicar juridicamente
como se dá a legitimidade do direito sem precisar de uma referência direta à moral.
10 – A teoria Neo-Institucionalista do processo possibilitou a André Cordeiro
Leal entretecer o princípio do contraditório com a necessidade de fundamentação das
decisões. O juiz não pode mais desconsiderar a argumentação das partes sob pena de negar
vigência ao princípio constitucional do contraditório e, com isso, tornar inconstitucional sua
decisão. Só pode servir como fundamento decisório aqueles argumentos que foram criticados
e sustentados pelas partes.
Isso possibilita reconstruir juridicamente o debate entre os
interessados como uma argumentação de adequabilidade, tal como propõe Günther. Nestes
moldes, a decisão judicial alcançaria consistência e aceitabilidade racional.
11 – A validade das normas jurídicas não precisa ser pressuposta nos discursos de
aplicação. Ela pode ser tematizada pelos interessados através dos procedimentos de controle
de constitucionalidade, sem que isso desmanche a distinção entre justificação e aplicação.
Com isso, é possível assegurar a legitimidade do direito legislado, uma vez que é aberta a
possibilidade de crítica da lei diante da Constituição, tanto diante do caso particular (controle
difuso), quanto da lei em si (controle abstrato). A teoria Neo-Institucionalista do processo vai
103
exigir, nesse passo, uma legitimação ampla e irrestrita ao controle de constitucionalidade para
a construção de uma sociedade democrática.
12 – Assim, é possível levantar uma primeira hipótese, a ser desenvolvida,
repensada, criticada e mesmo refutada (para que soluções melhores sejam propostas), como
resposta ao problema da legitimidade das decisões judiciais: uma decisão judicial é legítima,
na medida em que o procedimento que a preparou tenha observado os princípios jurídicos da
isonomia, da ampla defesa e do contraditório, possibilitando assim uma interação
argumentativa, livre de coações externas, entre as partes, em que seja aferida a adequabilidade
da norma proposta em relação ao caso particular (através da descrição completa dos fatos e da
coerência normativa), desde que a fundamentação da decisão esteja vinculada ao debate dos
interessados e que estejam disponíveis os procedimentos necessários para questionar a
constitucionalidade das normas que se pretende aplicar.
104
Referência Bibliográfica
ALEXY, Robert. Balancing, constitutional review, and representation. I.CON, New York
University School of Law, Volume 3, Number 4, 2005, p. 572-581.
ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild
Silva. São Paulo: Landy, 2001.
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Versión castellana Ernesto Garzón
Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
ANDOLINA, Italo; VIGNERA, Giuseppe. I fondamenti costituzionali della giustizia civile:
il modello constituzionale del processo civile italiano. Seconda edizione. Torino:
G.Giappichelli Editore, 1997.
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. Rio de Janeiro: Forense,
1984.
BARZOTTO, Luis Fernando.
UNISINOS, 2004.
O positivismo jurídico contemporâneo.
São Leopoldo:
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. Tradução de Márcio Pugliesi et al. São Paulo:
Ícone, 1995.
BOBBIO, Norberto. Teoria generale del diritto. Torino: G. Giappichelli Editore, 1993.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3ª ed.
Coimbra: Almedina, 1998.
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade.
Horizonte: Mandamentos, 2001.
Direito processual constitucional.
Belo
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Jurisdição e hermenêutica constitucional no
Estado Democrático de Direito: um ensaio de teoria da interpretação enquanto teoria
descursiva da argumentação jurídica de aplicação. In CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo
Andrade (coordenador). Jurisdição e hermenêutica constitucional. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2004, p. 47-78.
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Processo e jurisdição constitucional. In
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (coordenador). Jurisdição e hermenêutica
constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004(b), p. 447-462.
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil.
Capitanio. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2000, vol. III.
Tradução de Paolo
105
CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile.
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1965.
3ª ed.
Napoli: Casa
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido
Rangel. Teoria geral do processo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª edición. MontevideoBuenos Aires: Julio César Faira, 2004.
COUTURE, Eduardo J. Introdução ao estudo do processo civil. Tradução de Hiltomar
Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2003.
DEL NEGRI, André. Controle de constitucionalidade no processo legislativo: teoria da
legitimidade democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2003.
DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional.
Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
DINAMARCO, Cândido Ragel. A instrumentalidade do processo. 11ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2003.
DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,
1986.
DWORKIN, Ronald.
University Press, 1978.
Taking rights seriously.
Cambridge, Massachusetts: Harvard
FAZZALARI, Elio. Istituzioni di diritto processuale. Ottava edizione. Padova: CEDAM,
1996.
FIX ZAMUDIO, Héctor. El pensamiento de Eduardo J. Couture y el derecho constitucional
procesal. In FIX ZAMUDIO, Héctor. Latinoamerica: constitución, proceso y derechos
humanos. México: Miguel Angel Porrúa, 1988, p. 185-220.
GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no processo. Rio de Janeiro: Aide, 2000.
GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. Rio de Janeiro:
Aide, 1992.
GÜNTHER, Klaus. The sense of appropriateness: application discourses in morality and
law. Translated by John Farrell. Albany: State University of New York Press, 1993.
GÜNTHER, Klaus. Un concepto normativo de coherencia para una teoria de la
argumentación jurídica. Doxa, México, v. 17-18, 1995, p. 271-302.
HABERMAS, Jürgen. Acerca da legitimação com base nos Direito Humanos. In
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio
Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 143-166.
106
HABERMAS, Jürgen. Aclaraciones a la ética del discurso.
Mardomingo. Madrid: Editorial Trotta, 2000.
Traducción de José
HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law
and democracy. Translated by William Rehg. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,
1996.
HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de Guido A. de
Almeida. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
HABERMAS, Jürgen. O Estado democrático de direito – uma amarração paradoxal de
princípios contraditórios? In HABERMAS, Jürgen. Era das transições. Tradução de Flávio
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003(b).
HART, Herbert L. A. The concept of law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press,
1997.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Orlando
Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução de José Florentino Duarte. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. Coimbra:
Arménio Amado, 1974.
LEAL, André Cordeiro. A teoria do processo de conhecimento e a inconstitucionalidade do
sistema de provas dos juizados especiais cíveis (Lei n.º 9.099/95). Revista do Curso de
Direito (Unicentro Izabela Hendrix), Volume 2, 2º semestre de 2003, p. 12-19.
LEAL, André Cordeiro. O contraditório e a fundamentação das decisões no direito
processual democrático. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002(a).
LEAL, André Cordeiro. Processo e jurisdição no Estado Democrático de Direito –
reconstrução da jurisdição a partir do direito processual democrático. Belo Horizonte: Curso
de Pós-Graduação em Direito da PUC, 2006 (Tese de Doutoramento em Direito Processual).
LEAL, Rosemiro Pereira. Direito Econômico: soberania e mercado mundial.
Horizonte: Del Rey, 2005(b).
Belo
LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e hermenêutica constitucional a partir do Estado
Democrático de Direito. In LEAL, Rosemiro Pereira (coord.). Estudos continuados de teoria
do processo. Porto Alegre: Síntese, 2001, vol. II, p. 13-25.
LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e democracia – ação jurídica como exercício da
cidadania.
Virtuajus, ano 4, número 1, julho de 2005(c), 14p., disponível em
http://www.fmd.pucminas.br/Virtuajus/1_2005/Docentes/PDF/Processo%20e%20democracia.
pdf; acesso em 5 de março de 2006.
107
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo – primeiros estudos. Porto Alegre:
Síntese, 1999.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6ª ed. São Paulo: IOB Thomson, 2005.
LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica. São Paulo: Landy, 2002(b).
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile (principi). Sesta edizione.
Milano: Giuffrè Editore, 2002.
LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. Araras: Bestbook, 2001.
MACIEL, Gabriel de Deus. Um conceito de coerência para uma teoria da argumentação
jurídica – a proposta de Klaus Günther. Revista da Faculadade Mineira de Direito, Belo
Horizonte, v. 8, n. 15, 1º sem. 2005, p. 140-148.
OMMATI, José Emílio Medauar. A teoria jurídica de Ronald Dworkin: o direito como
integridade. In CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (coord.). Jurisdição e
hermenêutica constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
RAWLS, John. Justiça como eqüidade: uma reformulação. Tradução de Cláudia Berliner.
São Paulo: Martins Fontes, 2003.
RECASÉNS SICHES, Luis. Nueva filosofía de la interpretación del derecho. México:
Editorial Porrúa, 1973.
RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. Tradução de Breno Silveira. 3ª ed.
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969, vol. I.
SOUZA, Maria Inês Rodrigues de; et al. Processo, ação e jurisdição em Oskar von Bülow.
In LEAL, Rosemiro Pereira (coord.). Estudos continuados de teoria do processo. São
Paulo: IOB Thomson, 2005, Vol. VI, p. 15-52.
TARZIA, Giuseppe. L’art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile. Revista de
Processo, São Paulo, v. 26, n. 103, p. 156-174, jul/set, 2001.
VELASCO, Marina. Ética do discurso: Apel ou Habermas? Rio de Janeiro: FAPERJ:
Mauad, 2001.
WEBER, Max. Los tres tipos puros de la dominación legítima. In WEBER, Max. Economia
y sociedad. Traducción de José Medina Echavarria et al. Segunda edición en español,
decimocuarta reimpresión. México: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 706-716.
ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria geral do estado. Tradução de Karin Praefke-Aires Coutinho.
3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.