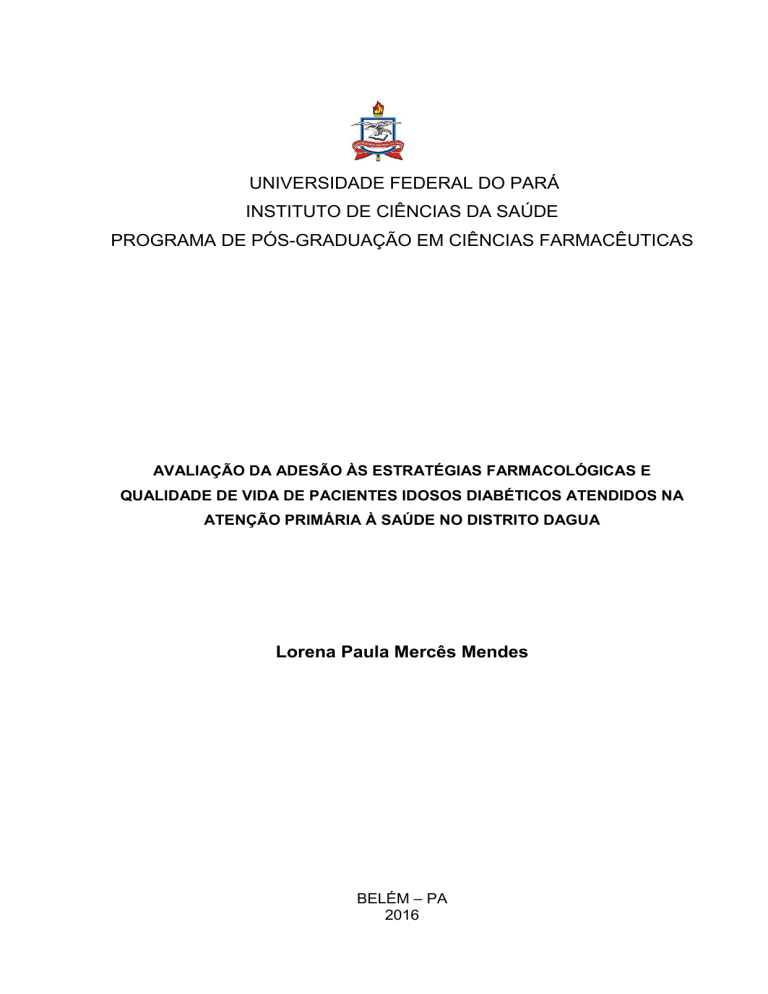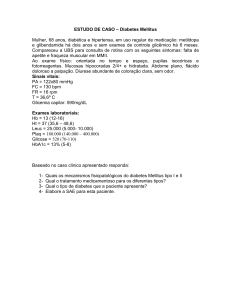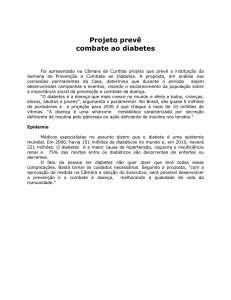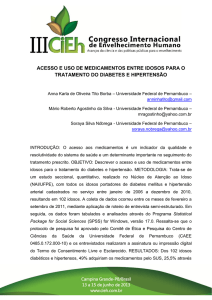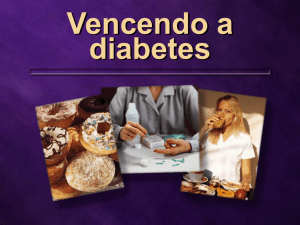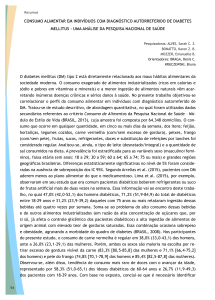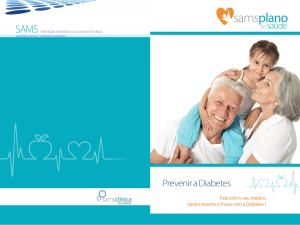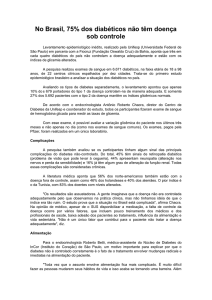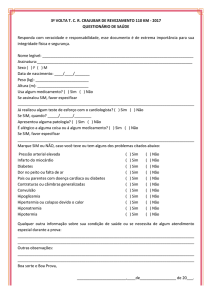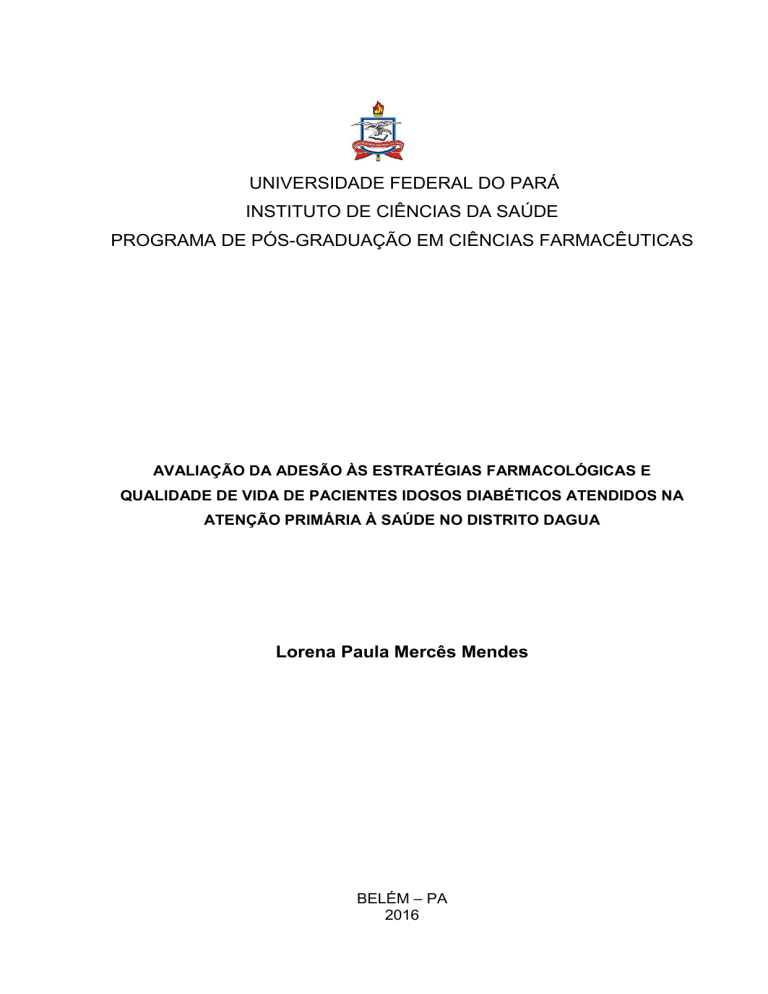
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
AVALIAÇÃO DA ADESÃO ÀS ESTRATÉGIAS FARMACOLÓGICAS E
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS ATENDIDOS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO DISTRITO DAGUA
Lorena Paula Mercês Mendes
BELÉM – PA
2016
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
AVALIAÇÃO DA ADESÃO ÀS ESTRATÉGIAS FARMACOLÓGICAS E
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS ATENDIDOS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO DISTRITO DAGUA
Autor: Lorena Paula Mercês Mendes
Orientador: Profª Drª Marcieni Ataíde de Andrade
Co-orientador: Prof. Dr. Marcos Valério Santos da Silva
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em
Ciências Farmacêuticas, área de concentração: Fármacos e
Medicamentos, do Instituto de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção
do título de Mestre em Ciências Farmacêuticas.
BELÉM – PA
2016
3
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Sistema de Bibliotecas da UFPA
Mendes, Lorena Paula Mercês, 1986- Avaliação da adesão às estratégias
farmacológicas e qualidade de vida de pacientes idosos diabéticos
atendidos na atenção primária à saúde no distrito DAGUA / Lorena
Paula Mercês Mendes. - 2016.
Orientadora: Marcieni Ataíde de Andrade; Coorientadora: Marcos Valério
Santos da Silva. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará,
Instituto de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas, Belém, 2016.
1. Diabetes mellitus Tipo 2. 2. Adesão à medicação.
3. Qualidade de vida. 4. Idoso. I. Título.
CDD 22. ed. 616.462
4
FOLHA DE APROVAÇÃO
Lorena Paula Mercês Mendes
Avaliação da adesão às estratégias farmacológicas e qualidade de vida de pacientes
idosos diabéticos atendidos na atenção primária à saúde no distrito DAGUA.
Dissertação apresentada ao Programa de Pós
Graduação em Ciências Farmacêuticas, área de
concentração:
Fármacos e Medicamentos, do
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Pará, como requisito para obtenção do
título de Mestre em Ciências Farmacêuticas.
Área de Concentração: Medicamentos em Idosos
Diabéticos.
Aprovado em:
Banca Examinadora
Prof.ª Dr.ª (Orientadora):________________________________________________
Instituição: _________________________ Assinatura:________________________
Prof. Dr._____________________________________________________________
Instituição: _________________________ Assinatura:________________________
Prof. Dr._____________________________________________________________
Instituição: _________________________ Assinatura:________________________
BELÉM – PA
2016
5
DEDICATÓRIA
Aos meus pais, Luiz Otávio Cardoso Mendes e Pêdra Mercês
Mendes, por todo o apoio, conselhos e orientações; além de
todas as oportunidades a mim oferecidas, pois sem elas, com
certeza, eu não estaria conquistando mais esta vitória em minha
vida profissional.
Aos meus irmãos Lilian Patrícia Mercês Mendes, Leila Priscila
Mercês Mendes e Leonardo Otávio Mercês Mendes pelo carinho
e apoio constante.
Ao meu marido, Marcos Azevedo dos Santos, por todo amor,
atenção e paciência dedicados nesta etapa de construção em
nossas vidas.
6
AGRADECIMENTOS
A Deus, por me proteger, guiar meus pensamentos e me dar coragem para
superar todos os desafios que surgem em minha vida, pois nada disto existiria sem
Ele.
A meus pais, Luiz Otávio Cardoso Mendes e Pêdra Mercês por me terem
permitido concluir mais esta etapa de minha vida, pela oportunidade de crescer
pessoal e profissionalmente, pelo constante apoio e incentivo; sem eles, com
certeza, eu não chegaria até aqui.
Aos meus irmãos, Lilian Patrícia Mercês Mendes, Leila Priscila Mercês
Mendes e Leonardo Otávio Mercês Mendes, por sempre ter acreditado em mim,
incentivando e criticando, sendo meus verdadeiros amigos.
Ao meu amado marido, Marcos Azevedo dos Santos, pelo companheirismo e
incentivo para que eu sempre busque ser melhor em cada etapa da nossa vida e em
nossa profissão.
As alunas de graduação Thayná Modesto e Magda Vieira Cardoso pela ajuda
na etapa de pesquisa de campo, por todo esforço dispensado para realização da
coleta dos dados e pela excelente companhia.
A minha amiga Vanessa da Silva Cuentro, por todo apoio e incentivo recebido
durante a minha trajetória da pós graduação.
À Profª. Drª. Marcieni Ataíde de Andrade, pela oportunidade de realizar este
trabalho e pela confiança em mim depositada; demonstrando em todos os
momentos paciência e atenção, orientando sempre com muita simplicidade e
enorme competência. Obrigado por todos os ensinamentos acadêmicos e pessoais.
Ao Prof. Dr. Marcos Valério Santos da Silva, meu coorientador, pela confiança
e oportunidades proporcionadas no decorrer da realização deste trabalho.
A todos os amigos, que sempre acreditaram em meu potencial e em vários
momentos me deram forças para chegar até a conclusão deste trabalho.
À Secretária Municipal de Saúde do Município de Belém, que permitiu a
realização deste trabalho.
À UFPA e ao Curso de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pelo
acolhimento para o desenvolvimento desta dissertação.
Finalmente, a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a
realização deste sonho.
7
RESUMO
AVALIAÇÃO DA ADESÃO ÀS ESTRATÉGIAS FARMACOLÓGICAS E
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES IDOSOS DIABÉTICOS ATENDIDOS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO DISTRITO DAGUA
A adesão à farmacoterapia em diversas doenças crônicas, especialmente no
diabetes mellitus, tem grande importância para a prevenção, diminuição e controle
de agravos e complicações, reduzindo assim a morbi-mortalidade e melhorando a
qualidade de vida do paciente. O objetivo deste estudo é verificar a adesão ao
tratamento e qualidade de vida, identificar os fatores intervenientes relacionados ao
abandono do tratamento ou ao não cumprimento das orientações terapêuticas entre
pacientes com idade igual ou superior a 60 anos com diagnostico de Diabetes
mellitus cadastrados nas unidades de saúde do Distrito Administrativo do Guamá no
município de Belém. Estudo descritivo observacional de natureza transversal e
analítica de 113 pacientes idosos, cadastrados no programa Hipertensão e Diabetes.
Foram avaliados o conhecimento e o grau de adesão a terapia medicamentosa
utilizando os testes de Morisky e Green e o de Batalla e a Qualidade de Vida pelo
instrumento
DQOL-Brasil.
A
população
estudada
foi
caracterizada,
predominantemente, por mulheres (66,4%), pardos (38,9%), casados (51,3%),
aposentados (71,7%) e com baixo grau de escolaridade (88,5%). Não aderiram ao
tratamento (68,1%) de acordo com o teste de Morisky e Green, (83,2%) pelo Teste
de Batalla. Quanto a Qualidade de Vida, o escore médio com a aplicação do DQOLBrasil foi de 2,84, entre os domínios, a satisfação foi avaliada em 3,02, o impacto em
2,65 e preocupações com o diabetes em 2,42. Diante destes resultados, observouse que a adesão dos idosos ao tratamento medicamentoso foi considerada falha e a
Qualidade de Vida ruim.
Palavras-chave: Diabetes tipo 2. Adesão. Qualidade de Vida. Idosos.
8
ABSTRACT
ACCESSION TO THE ASSESSMENT STRATEGIES PHARMACOLOGICAL AND
QUALITY OF ELDERLY DIABETIC PATIENTS TREATED FOR LIFE IN PRIMARY
HEALTH CARE DISTRICT DAGUA
Adherence to pharmacotherapy in several chronic diseases, especially diabetes
mellitus, is of great importance for the prevention, reduction and control of diseases
and complications, thereby reducing morbidity and mortality and improving the quality
of life of patients. The aim of this study is to verify adherence to treatment and quality
of life, identify intervening factors related to the abandonment of treatment or noncompliance with treatment guidelines among patients aged over 60 years with
diabetes registered diabetes diagnosis in units health Administrative District Guama
in the city of Bethlehem. observational descriptive study of transversal and
quantitative analysis of 113 elderly patients enrolled in the Hypertension and
Diabetes program. They assessed the knowledge and the degree of adherence to
drug therapy using Morisky tests and Green and the Batalla and Quality of Life by
DQOL-Brazil instrument. The study population was characterized predominantly by
women (66.4%), brown (38.9%), married (51.3%), retired (71.7%) and low level of
education (88.5 %). Not adhered to treatment (68.1%) according to Morisky test and
Green (83.2%) by Batalla test. The Quality of Life, the average score with the
application of DQOL-Brazil was 2.84, while among the fields, satisfaction was
assessed at 3.02, the impact at 2.65 and concerns with diabetes 2, 42. Given these
results, it was observed that the accession of the elderly to drug treatment was
considered failure and bad Quality of Life.
Keywords: Diabetes. Accession. Quality of life. Elderly.
9
LISTA DE FIGURAS
Figura 01 – Pirâmides Etárias absolutas do crescimento populacional entre 21
homens e mulheres no período de 2013 a 2060.
Figura 02 – Fatores relacionados com a não adesão à terapêutica
medicamentosa.
29
Figura 03 – Distrito administrativo do Guamá (DAGUA).
46
10
LISTA DE TABELAS
Tabela 01: Caraterização de idosos diabéticos
sociodemográfico, de hábitos de saúde e problemas.
quanto
às
variáveis 56
Tabela 02: Frequência de medicamentos para controle de diabetes mellitus e de 61
hipertensão arterial dos idosos diabéticos.
Tabela 03: Características dos idosos diabéticos segundo relacionamento com a 62
equipe de saúde e orientação no uso correto do medicamento.
Tabela 04: Nível de adesão ao tratamento medicamentoso observado no teste 65
Morisky e Green e no teste de Batalla em idosos diabéticos.
Tabela 05: Questionamentos sobre a adesão ao tratamento medicamentoso pelo 66
teste Morisky e Green em idosos diabéticos.
Tabela 06: Questionamentos sobre a adesão ao tratamento medicamentoso pelo 67
teste de Batalla em idosos diabéticos.
Tabela 07: Nível de adesão ao tratamento medicamentoso medido pelo Teste de 63
Morisky e Green e pelo Teste de Batalla de acordo com variáveis categóricas
dos idosos diabéticos.
Tabela 08: Valores do DQOL-Brasil segundo variáveis categóricas dos idosos 73
diabéticos.
Tabela 09: Valores do DQOL-Brasil segundo variáveis de saúde dos idosos 76
diabéticos e do nível de adesão ao tratamento.
Tabela 10: Valores dos domínios do DQOL observados em idosos diabéticos.
77
Tabela 11: Frequência relativa em percentual das questões sobre os domínios 78
do DQOL-Brasil observados em idosos diabéticos.
Tabela 12: Valores dos Coeficientes de Correlação de Spearman entre os 79
domínios do DQOL observados em idosos diabéticos.
11
ABREVIATURAS E SIGLAS
ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ADA
Associação Americana De Diabetes
APS
Atenção Primária à Saúde
BLSA
Baltimore Longitudinal Study on Aging
CODEM
COAP
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área
Metropolitana de Belém
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde
CEP
Comitê de Ética em Pesquisa
DAGUA
Distrito Administrativo do Guamá
DATASUS
Departamento de Informática do SUS
DCVs
Doenças Cardiovasculares
DCNT
Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DM
Diabetes mellitus
DM 1
Diabetes mellitus tipo 1
DM 2
Diabetes mellitus tipo 2
DQOL
Diabetes Quality of Life Measure
ESF
Estratégia Saúde da Família
HAS
Hipertensão Arterial Sistêmica
HIPERDIA
Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e
Diabéticos
IBGE
Instituto Brasileiro Geografia e Estatística
LADA
Diabetes Autoimune Latente do Adulto
OMS
Organização Mundial de Saúde
PNAF
Política Nacional de Assistência Farmacêutica
PNAD
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PFPB
Programa Farmácia Popular do Brasil
PNM
Política Nacional de Medicamentos
PNAUM
Pesquisa Nacional sobre o Acesso, Utilização e Uso Racional de
Medicamentos no Brasil
Programa de Saúde da Família
PSF
QUALIFAR- SUS
QV
Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica
no âmbito do Sistema Único de Saúde
Qualidade de Vida
12
QVRS
Qualidade de Vida Relacionada a Saúde
QVLS
Qualidade de Vida Ligada à Saúde
RAS
Redes de Atenção à Saúde
RENAME
Relação Nacional de Medicamentos
RENASES
Relação Nacional de Serviços de Saúde
SESMA
Secretaria Municipal de Saúde de Belém
SBD
Sociedade Brasileira de Diabetes
SPSS
Statistical Package for Social Sciences
SUS
Sistema Único de Saúde
TB
Teste de Batalla
TCLE
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TMG
Teste de Morisky e Green
WHO
World Health Organization
WHOQOL-100
World Health Organization Quality of Life
13
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ................................................................................................ 15
2.
REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................... 20
2.1
O envelhecimento da população brasileira ....................................... 21
2.2
Diabetes mellitus no idosos ............................................................... 24
2.3
Adesão ao Tratamento Farmacológico .............................................. 27
2.4
O Idoso e a Adesão ao Tratamento Farmacológico ......................... 31
2.5
Qualidade de Vida do paciente Idoso.................................................33
2.6
Estratégia de saúde da família .........................................................36
2.7
Assistência Farmacêutica....................................................................39
2.8
O Papel do Farmacêutico.....................................................................41
3.
OBJETIVOS .................................................................................................... 43
3.1.
Objetivo Geral ............................................................................................... 44
3.2.
Objetivos Específicos .................................................................................. 44
4.
CASUÍSTICA E MÉTODOS ............................................................................ 45
4.1.
Desenho da pesquisa .......................................................................... 46
4.2.
Local do estudo ................................................................................... 46
4.3.
População e amostra ........................................................................... 47
4.5.
Critério de exclusão e perdas ............................................................. 48
4.6.
Variáveis do estudo ............................................................................. 48
4.6.1.
Variável dependente ............................................................................ 48
4.6.2.
Variável independente ......................................................................... 49
4.7.
Aspectos éticos ................................................................................... 49
4.8.
Procedimentos para a coleta de dados ............................................. 49
4.9.
Grau de adesão pelo teste de Morisky e Green (TMG) e pelo teste
de Batalla (TB). ........................................................................................................ 50
4.10.
Avaliação da Qualidade de Vida..........................................................51
4.11.
Instrumento para coleta de dados ..................................................... 52
4.12.
Organização dos dados ...................................................................... 52
4.13.
Análise estatística ............................................................................... 52
14
5.
5.1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................54
Caracterização Dos Portadores De Diabetes Segundo as Variáveis
Sociodemográficas..................................................................................................56
5.2.
Caracterização Dos Portadores De Diabetes Segundo a Adesão
Terapêutica...............................................................................................................65
5.3.
Caracterização dos Portadores de Diabetes Segundo a Qualidade de
Vida............................................................................................................................72
6.
CONCLUSÃO..................................................................................................81
7.
REFERÊNCIAS...............................................................................................84
8.
ANEXOS........................................................................................................101
15
INTRODUÇÃO
__________________________________________________
_______________________________________
________________________
16
1. INTRODUÇÃO
___________________________________________________________________
O mundo vive em constante evolução e transformação; e o homem, objeto
desse cenário, procura acompanhar esse ritmo de maneira a aumentar seus
benefícios e qualidade de vida (QV). Com a ocorrência de transições demográficas e
epidemiológicas o envelhecimento populacional tornou-se o principal fenômeno
demográfico do século XX (NASRI, 2008). Envelhecer é inevitável, pois ocorre por
um processo fisiológico e natural em todos os organismos multicelulares acarretando
várias alterações morfofuncionais e psicológicas (SANTOS et al, 2010).
Este acontecimento tem levado a uma reorganização do sistema de saúde,
sendo um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea, pois essa
população exige cuidados desafiadores devido ao aparecimento de diversas
patologias relacionadas com a idade, a exemplo disso, uma maior prevalência das
patologias crônicas (NASRI, 2008). Este fenômeno ocorreu inicialmente em países
desenvolvidos, porém, mais recentemente é nos países em desenvolvimento que o
envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acentuada (GOUVEIA,
2012).
No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa tem sido sistemático e
consistente, mas sem a correspondente modificação nas condições de vida
(CERVATO et al, 2005). Em 2002, os idosos totalizavam 14,1 milhões de pessoas e,
em 2025 as estimativas são de 33,4 milhões. A população brasileira envelheceu
rapidamente a partir da década de 60 e esse crescimento não se dá de forma
homogênea em todas as regiões. O país é composto por cinco regiões geográficas
que variam significativamente em suas dimensões territoriais, sociais, econômicas e
culturais. Outrossim, o envelhecimento também se manifesta segundo as
diversidades e desequilíbrios regionais, principalmente sociais e econômicos. Todos
esses fatos refletem na longevidade da população das diferentes regiões. Os idosos
apresentam alta utilização dos serviços de saúde e elevado índice de permanência e
reinternação hospitalar. Esse conjunto de acontecimentos traz à tona um problema
de grande importância, em termos de saúde pública, ou seja, a ausência de políticas
e ações que visam à melhoria das condições de vida do novo perfil populacional
(INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010; ESTRELLA et al,
2009).
17
Alterações fisiológicas comuns do próprio organismo, decorrentes do
envelhecimento fazem com que os idosos apresentem condições peculiares que
comprometem seu estado nutricional, enquanto que outros condicionantes são
desenvolvidos com o passar do tempo através das práticas ao longo da vida (dieta e
atividade física) e situação socioeconômica; podendo influenciar as enfermidades
presentes (SAMPAIO, 2004; AMADO et al, 2007). Fatores de risco como: obesidade,
sedentarismo, fumo, entre outros, acabam por aumentar a possibilidade do
surgimento de doenças crônicas. É possível citar a intolerância ao carboidrato, que
aumenta com o passar da idade, como uma das alterações responsáveis pela
elevação da glicemia contribuindo para o aparecimento do diabetes na fase adulta.
O Diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada por hiperglicemia
crônica, e muitas vezes interligada a outras doenças. O Diabetes mellitus tipo 2
(DM2) é o mais presente entre a população idosa e surge principalmente após os 40
anos
de
idade.
Esses
elementos
quando
somados
as
modificações
na
farmacocinética e farmacodinâmica de diversos medicamentos, com potenciais
riscos à saúde, e ainda, a polifarmácia, predispõe aos pacientes idosos um maior
número
de interações
medicamentosas,
alimentar
e reações adversas
a
medicamentos (VERAS, 2003; GUIMARAES et al, 2010).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2013), estima se que
350 milhões de pessoas vivem com diabetes e que este número deve dobrar entre
2005 e 2030. A OMS também relatou que 80% das pessoas com diabetes vivem em
países de baixa e média renda e têm entre 35 e 64 anos de idade, acrescentando
que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para o
controle da doença (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2013). Os pacientes
diabéticos têm mais chance de apresentar outras doenças, tais como as vasculares
arteroescleróticas, e a cada ano mais de três milhões de pessoas que tiveram
diabetes morrem de problemas como ataques cardíacos, derrames e insuficiência
renal. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, indicam que 5,6% dos brasileiros
são diabéticos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).
Além do aumento no uso de medicamentos junto com a ocorrência do
envelhecimento, aumenta, cada vez mais, a necessidade de conhecimento dos
elementos que incidem sobre a predominância das Doenças Crônicas Não
18
Transmissíveis (DCNT) associadas à idade (ACUNÃ et al, 2004). Para o paciente
idoso e diabético muitos são os fatores relacionados que contribuem ou não com
aumento da expectativa de vida, como mecanismo de apoio, os avanços da
tecnologia e as melhorias em tratamentos médicos tem grande contribuição para a
melhor Qualidade de Vida Relacionada a Saúde (QVRS) (BORBA, 2012).
Outro fator importante é o cumprimento do esquema posológico que
condiciona diretamente a efetividade terapêutica, sendo de primordial importância a
adesão do paciente ao tratamento farmacológico que se traduz na observância das
instruções verbais ou escritas de um médico ou de um profissional de saúde em
relação as estratégias de tratamento (PENAFORTE, 2012).
O aumento da adesão depende da comunicação do médico com seu
paciente, sobretudo quando aborda aspectos práticos da condição ou doença em
seu tratamento, assim como aspectos fisiopatológicos e efeitos colaterais palpáveis
do uso de medicamentos. Isto revela que o problema é vulnerável sob esse aspecto.
A informação é também a chave para adesão a tratamentos agudos ou crônicos e, é
essencial a participação do farmacêutico, profissional habilitado enquanto parte de
uma equipe multiprofissional, na elaboração de estratégias personalizadas para
aumentar a adesão aos tratamentos medicamentosos (ASSOCIAÇÃO MÉDICA
BRASILEIRA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009).
Diante do exposto, não surpreende que o fenômeno do envelhecimento
ganhe importância significativa em vários setores da sociedade, o que tem suscitado
discussão com desdobramentos importantes. Ao longo do tempo, alterações nas
políticas de atenção ao idoso e, consequentemente, nas representações sociais da
chamada terceira idade vem sendo aprimoradas.
Vários são os meios de melhorar a qualidade de vida daqueles que estão no
processo de envelhecer, a perspectiva tem sido de reconhecer a necessidade de
debates
fundamentados
para
a
constituição
de
políticas
públicas
e
o
desenvolvimento de programas de saúde que proporcionem à população um
envelhecimento ativo, saudável e com a melhor QV possível, tendo como base a
comunidade e que implicam promoção da saúde do idoso. Viver mais é importante
desde que se consiga agregar qualidade de vida aos anos adicionados de vida.
19
Nesta direção, surgem desafios para a Saúde Pública como fortalecer as
medidas destinadas à proteção dos idosos como cidadãos e as práticas de
prevenção e promoção da saúde (GOUVEIA, 2012). Devido a todos esses fatores
mencionados, justifica-se a necessidade de estudar a adesão ao tratamento e a
qualidade de vida dos pacientes idosos em tratamento para o diabetes mellitus,
visando ampliar o sucesso na terapia; evitando riscos adicionais.
20
REVISÃO DA LITERATURA
__________________________________________________
_______________________________________
________________________
21
2. REVISÃO DA LITERATURA
__________________________________________________________________
2.1.
O envelhecimento da população brasileira
O número de pessoas idosas cresce em ritmo maior do que o número de
pessoas que nascem, acarretando um conjunto de situações que modificam a
estrutura de gastos dos países em uma série de áreas importantes (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). O envelhecimento da
população é um fenômeno de amplitude mundial. Todavia, esse processo ganha
maior importância nos países em desenvolvimento, com o crescimento acelerado da
população de 60 anos ou mais em relação à população geral. Aumentos de até
300% da população idosa são esperados nesses países, especialmente nos que
integram a América Latina (GIATTI et al, 2003).
Para fins de levantamento demográfico, considera-se idoso o indivíduo de 60
anos ou mais de idade definido pela OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2005), para os países em desenvolvimento e, além disso, no Brasil existem dois
documentos oficiais: Decreto nº 1948/96, que regulamenta a Lei nº 8842/94,
estabelecendo a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1996) e o Estatuto do Idoso,
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (BRASIL, 2003), que também define a idade
a partir dos 60 anos para designar idoso.
A OMS considera uma população envelhecida quando a proporção de
pessoas com 60 anos ou mais atinge 7% com tendência a crescer. Segundo
projeções da OMS, o Brasil será o sexto país do mundo com o maior número de
pessoas idosas. Esse grupo de pessoas, denominado de “melhor idade”, apresenta
as taxas mais elevadas de crescimento no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) (2013), a população com essa faixa etária deve
passar de 14,9 milhões (7,4% do total), em 2013, para 58,4 milhões (26,7% do total),
em 2060 (Figura 01). No período, a expectativa média de vida do brasileiro deve
aumentar dos atuais 75 anos para 81 anos. De acordo com o IBGE, as mulheres
continuarão vivendo mais do que os homens. Em 2060, a expectativa de vida delas
será de 84,4 anos, contra 78,03 dos homens. Hoje, elas vivem, em média, até os
22
78,5 anos, enquanto eles, até os 71,5 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013).
Figura 01: Pirâmides Etárias absolutas do crescimento populacional entre homens e
mulheres no período de 2013 a 2060.
Fonte: Adaptado IBGE, 2013
A senescência da população se associa a importantes transformações sociais
e econômicas, bem como à mudança no perfil epidemiológico e demandas dos
serviços de saúde. Esta mudança, implica na elevação dos custos diretos e indiretos
para o sistema de saúde, fazendo do envelhecimento um evento que precisa de
ampla discussão. No Brasil, a atenção à saúde do idoso é uma especialidade em
expansão que ainda carece de profissionais habilitados. Tal atenção deve
oportunizar o cuidado integral e contextualizado, através do reconhecimento de
necessidades e de aspectos individuais e coletivos dos idosos (PAZ et al,2006).
O paciente idoso está exposto a maior vulnerabilidade e sofre várias
transformações biológicas, inerentes à natureza humana, e diversas mudanças que
variam consoante o desenvolvimento psicossocial de cada indivíduo, tornando a
saúde dos idosos um importante foco de atenção (VELOSO et al, 2011). À medida
que a pessoa envelhece, maiores são as chances de contrair uma DCNT, principais
causas de morbidez, deficiências e mortalidade em todo o mundo. O termo doença
23
crônica é usado para designar patologias com um ponto em comum: são constantes
e precisam de zelo permanente. São exemplos de DCNT a hipertensão arterial,
diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, osteoartrose e câncer. O crescimento
das condições crônicas é vertiginoso (QUADRANTE, 2012).
Segundo o IBGE
somente 22,6% das pessoas de 60 anos ou mais de idade declaram não possuir
doenças. Para aqueles de 75 anos ou mais de idade, esta proporção cai para 19,7%
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
Estudos revelam que entre os pacientes idosos, vários medicamentos são
utilizados sem indicação clínica específica, prescritos e/ou de automedicação, que
podem causar reações adversas e/ou interações medicamentosas que acabam por
aumentar constantemente o número de medicamentos administrados, ao que
denominamos polifarmácia (SANTOS et al, 2010). Esse uso, algumas vezes
indiscriminado, é responsável pela baixa adesão dos tratamentos medicamentosos
necessários e, pelo aumento dos custos da saúde pública.
Nos EUA, dados indicam que em torno de 20% dos indivíduos com mais de
65 anos usam pelo menos cinco medicamentos concomitantes, sendo alguns deles
considerados desnecessários como tratamento (LAGO, 2011). Apesar do processo
de
envelhecimento
não
estar,
essencialmente,
relacionado
a
doenças
e
incapacidades, as doenças crônico-degenerativas são frequentemente encontradas
entre os idosos. Assim, a tendência atual é termos um número crescente de
indivíduos idosos que, apesar de viverem mais, apresentam maiores condições
crônicas, estando diretamente relacionado com maior incapacidade funcional e
menor qualidade de vida (ALVES et al, 2007).
Atualmente as DCNT’s são responsáveis por cerca de 60% do ônus
decorrente de todas as doenças no mundo e acredita-se que em 2020 responderão
por 80% das doenças em países em desenvolvimento, causando impacto em níveis
individuais, sociais e econômicos. Após os 45 anos de idade, as DCNTs são
responsáveis pela maioria das mortes e enfermidades, índice que aumenta com
idades superiores a 60 anos (QUADRANTE, 2012).
O paciente com DCNT necessitará alterar hábitos de vida, ter uma boa
adesão as estratégias de tratamentos, além de conviver com a incapacidade, se o
24
controle da patologia não tiver sucesso. Há grande impacto econômico causado não
só pelos custos diretamente relacionados ao tratamento de saúde, como também
por aqueles derivados da diminuição da força laboral devida a óbitos, incapacidade e
perda de produtividade (SOUZA, 2012). No Brasil, estimativa de gastos do Sistema
Único de Saúde (SUS) com DCNT em 2002 revelou que o total de gastos com esse
grupo de doenças, incluindo aqueles com os procedimentos ambulatoriais e com as
internações, corresponderam a 69% (BRASIL, 2005).
Em 2008, dos 57 milhões de óbitos ocorridos no mundo, 36 milhões, ou
63,0%, podem ser atribuídos às DCNT, principalmente as doenças do aparelho
circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória crônica. Aproximadamente 80,0%
dos óbitos por DCNT ocorrem em países de renda baixa ou média, onde 29,0%
desses registros são de pessoas com menos de 60 anos, enquanto nos países de
alta renda, apenas 13,0% são óbitos precoces (FREITAS, GARCIA, 2012).
2.2.
Diabetes mellitus no idoso
O DM não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, a qual é o resultado de
defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas (SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE
DIABETES,
2014).
As
complicações
do
metabolismo,
principalmente a falta de insulina, que é o hormônio produzido em pequena
quantidade pelas células ßeta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, tem como
função disponibilizar glicose às células (CINTRA, RAMOS, VALLE, 1997).
A deficiência de produção e/ou de ação da insulina leva a um aproveitamento
incorreto dos açucares, das gorduras e das proteínas, que representam as principais
fontes de energia do organismo e podem causar sintomas agudos e complicações
crônicas características. O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, das gorduras
e das proteínas, que cursa com consequências graves, quando surge rapidamente
ou mesmo quando se instala lentamente. Uma hiperglicemia crônica vai originar,
além dos sintomas clássicos, como a poliúria, polidipsia e perda de peso, um
comprometimento vascular, com consequentes lesões nos tecidos e órgãos
(CZEPIELEWSKI, 2004; SOUSA, 2003).
25
O diabetes mellitus tipo 1 (DM1), como forma presente em 5% a 10% dos
casos, é o resultado da destruição de células beta-pancreáticas com consequente
deficiência de insulina. Na maioria dos casos, essa destruição de células beta é
mediada por autoimunidade, porém existem casos em que não há evidências de
processo autoimune, sendo, portanto, referidos como forma idiopática de DM1. O
DM2 é a forma presente em 90% a 95% dos casos e caracteriza-se por defeitos na
ação e secreção da insulina. Em geral, ambos os defeitos estão presentes quando a
hiperglicemia se manifesta, porém pode haver predomínio de um deles. O DM2 pode
ocorrer em qualquer idade, mas é geralmente diagnosticado após os 40 anos. Os
pacientes não dependem de insulina exógena para sobreviver, porém podem
necessitar de tratamento com insulina para obter controle metabólico adequado
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).
A DM2 surge habitualmente de forma silenciosa, frequentemente não dando
qualquer sinal ou sintoma de forma que quando é diagnosticada (por vezes em
análises de rotina), já tem alguns anos de evolução, podendo, também, coexistirem
algumas complicações associadas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES,
2002; SOUSA, 2003). Aproximadamente metade dos portadores de DM2
desconhecem sua condição, uma vez que a doença é pouco sintomática.
O diagnóstico precoce do diabetes é importante, pois o tratamento evita suas
complicações. A patologia do DM é considerada um grave problema de saúde
pública em todo o mundo. Sua ocorrência é universal e em todas as classes
socioeconômicas e, independente do gênero vem aumentando em virtude da maior
urbanização, da industrialização, da crescente prevalência de obesidade e
sedentarismo, do envelhecimento populacional, bem como da maior sobrevida de
pacientes com DM.
Por se tratar de uma doença crônica tem alta prevalência entre os idosos,
pela morbidade e por ser um dos principais fatores de risco cardiovascular e
cerebrovascular. Quantificar a prevalência atual de DM e estimar o número de
pessoas com diabetes no futuro é importante, pois permite planejar e alocar
recursos de forma racional (FRANCO,1998; WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2002; MENDES et al,2011). O Ministério da Saúde informou que o número de
internações por diabetes no SUS aumentou 10% entre 2008 e 2011, passando de
26
131.734 para 145.869. Entretanto, houve queda na comparação com 2010, quando
as internações totalizaram 148.452. Em 2009, foram notificadas 52.104 mortes pela
doença em todo o País. No ano seguinte, os óbitos aumentaram para 54.542
(BRASIL, 2012).
A forma mais frequente de apresentação do DM no idoso é um achado casual
devido a uma doença intercorrente (habitualmente infecções), uma manifestação de
complicação típica do diabetes em longo prazo (doença cerebrovascular, infarto do
miocárdio, arteriopatia periférica), um exame de saúde ou um exame de glicemia
não diretamente relacionado com a suspeita de diabetes. Outras formas de
apresentação são aumento da sede (polidipsia), aumento da micção (poliúria),
aumento do apetite (polifagia), fadiga, visão turva, infecções que curam lentamente e
impotência em homens (RAMOS, 2012).
A gravidade da doença, especialmente quanto a presença de complicações
tardias, está relacionada a circulação sanguínea (macro e microaginopatias) e/ou
neurológicas (neuropatias periféricas e autonômicas). Como causa de óbito,
destacam-se o coma cetoacidótico nos pacientes que fazem uso continuo de
insulina e com diagnóstico mais recente, a nefropatia diabética nos pacientes com
longo tempo de doença. As doenças cardiovasculares são a principal causa de
morte entre os diabéticos que não fazem uso continuo de insulina (LESSA, 1998).
Ainda segundo Lessa (1998), a importância do diabetes como causa de morte
é muito subestimada, uma vez que apenas as causas básicas do óbito são
analisadas nos estudos epidemiológicos. Quando verificadas as causas múltiplas, a
mortalidade por diabetes aumenta até 6,4 vezes. Frequentemente, na declaração de
óbito não se menciona DM pelo fato de serem suas complicações, particularmente
as cardiovasculares e cerebro-vasculares, as causas da morte. No início do século
XXI foi possível fazer uma estimativa que se atribuíram 5,2% de todos os óbitos no
mundo ao diabetes, o que torna essa doença a quinta principal causa de morte.
Parcela importante desses óbitos é prematura, ocorrendo quando ainda os
indivíduos contribuem economicamente para a sociedade (ROGLIC, 2005).
O diabetes, embora com menor prevalência se comparado a outras
morbidades, é uma doença altamente limitante, podendo causar cegueira,
27
amputações, nefropatias, complicações cardiovasculares e encefálicas, entre outras,
que acarretam prejuízos à capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida do
indivíduo. Também é uma das principais causas de mortes prematuras, em virtude
do aumento do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, as quais
contribuem para 50% a 80% das mortes dos diabéticos (RAMOS, 2012). Um estudo
Multicêntrico sobre a Prevalência do Diabetes no Brasil evidenciou a influência da
idade na prevalência de DM e observou incremento de 2,7% na faixa etária de 30 a
59 anos para 17,4% na de 60 a 69 anos, ou seja, um aumento de 6,4 vezes
(MALERBI, 1992).
Gomes (2003), afirmou que os resultados mais satisfatórios em longo prazo
no controle do diabetes são obtidos com programas de prevenção da obesidade, por
meio de mudanças de hábitos alimentares e de aumento da atividade física, frente a
um trabalho conjunto de profissionais da saúde e de familiares. Viver com diabetes
pressupõe a adoção de um estilo de vida ajustado a situação de saúde, exigindo
uma alteração e interação nas atividades de vida diária e uma adesão terapêutica
permanente e continuada no tempo, pois só assim se evita as graves complicações
decorrentes da doença.
De acordo com Grossi (2009), por mais eficazes que sejam os tratamentos
cientificamente comprovados por estudos experimentais, de nada adianta, se os
pacientes não os incorporam de maneira adequada na vida diária. Por mais efetivas
que sejam as intervenções comportamentais implementadas, nos estudos
prospectivos e controlados, tudo se perde, se os paciente não derem continuidade a
elas. É de extrema importância que o paciente idoso diabético busque mudar seu
estilo de vida e ter adesão ao tratamento para diabetes.
2.3.
Adesão ao Tratamento Farmacológico
Há distintos conceitos de adesão ao tratamento, mas se pode definir como: “A
utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos
80% de seu total, observando horários, doses, tempo de tratamento” (ASSOCIAÇÃO
MÉDICA BRASILEIRA E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009). Representa
a etapa final do que se sugere como uso racional de medicamentos. A adesão à
farmacoterapia é um aspecto complexo e primordial para o alcance dos resultados
28
clínicos desejados (OBRELI-NETO et al, 2011). Pacientes não-aderentes podem
apresentar complicações ou agravamentos das enfermidades pelas falhas no uso de
medicamentos, ocasionando muitas vezes, hospitalizações e procedimentos
onerosos ao sistema de saúde (DIMATTEO, 2004).
A não adesão à farmacoterapia é considerada um importante problema de
saúde pública. Estima-se que 50% dos pacientes portadores de doenças crônicas
em países desenvolvidos sejam não-aderentes as terapias medicamentosas, sendo
esta
taxa
superior
nos
países
em
desenvolvimento
(WORLD
HEALTH
ORGANIZATION, 2003). Os métodos de adesão se subdividem em diretos e
indiretos. Os métodos diretos são técnicas analíticas laboratoriais que estimam se o
medicamento foi utilizado na dose e frequência necessárias, enquanto os métodos
indiretos são fundamentados em informações produzidas pelo paciente ou outras
estimativas indiretas (BRAWLEY, CULOS-REED, 2000; MÁRQUEZ-CONTRERAS,
2008)
A adesão à terapia representa a extensão na qual o comportamento do
paciente coincide com o aconselhamento dado pelo profissional de saúde, no que se
refere, por exemplo, ao uso dos medicamentos prescritos. Quando revisamos a
literatura sobre a adesão do paciente a terapia medicamentosa encontramos
estimativas que variam entre 4% e 92%, com uma média de adesão nas patologias
crônicas entre 50% e 65% (NICHOL et al, 1999).
Diversos fatores podem estar associados à não-adesão, sendo relatados
com maior frequência os relacionados com o paciente, a doença e ao tratamento,
bem como aqueles relacionados aos profissionais e aos comportamentos de saúde.
A adesão a terapêutica também se encontra relacionada com a gravidade da
doença, devido aos sinais e sintomas; isto é, a medida que estes aumentam, a
adesão aumenta (ZACEST, 1981). Por outro lado, pessoas que sofrem de doenças
crônicas com pouco ou nenhum sinais e sintoma são as mais propensas à não
adesão (RUBIN, 2005).
O aumento da adesão depende muito do processo de comunicação do
médico com seu paciente, sobretudo quando aborda aspectos práticos da condição
ou doença e seu tratamento, assim como aspectos fisiopatológicos e efeitos
29
colaterais palpáveis do uso de medicamentos (CARVALHO et al, 2003).
Frequentemente o idoso não segue o que foi proposto, o que pode ser causado por
diversos fatores, tais como a não-aceitação do tratamento, erros de ingestão devido
a dificuldades auditivas e/ou visuais, assim como esquemas posológicos complexos,
decorrentes do consumo simultâneo de vários medicamentos (TRENTIN, 2009).
Um outro aspecto importante que pode levar à não-adesão é a ocorrência de
reações adversas, pois o idoso reage de forma diferente aos medicamentos,
potencializando assim, os efeitos adversos. Isto revela que o problema é vulnerável
sob esse aspecto. Além destes fatores deve ser levando em consideração que as
variáveis socioeconômicas; em especial pela falta de recursos financeiros para
compra do medicamento, bem como pelo hábito e/ou estilo de vida. Nesse sentido, a
melhoria da aderência a tratamentos medicamentosos não é exclusivamente um
problema do médico ou apenas do paciente (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009).
A adesão pode ser influenciada pelo desconhecimento do paciente, ou
responsável por ele, sobre a importância do tratamento; um reflexo de baixo nível
educacional da população, consideradas causas de não-adesão decorrentes de um
processo de comunicação inefetivo (Figura 2). O primeiro passo no sentido de
promover a adesão à prescrição médica é a detecção de sua falta. Para tanto,
podem ser utilizados vários métodos, entre eles podemos citar: Questionários
semiestruturados, analise de algum parâmetro biológico e a contagem de
comprimidos. Como o segundo requer maiores recursos financeiro, acaba-se
priorizando o primeiro (TRENTIN, 2009).
30
Muitas são as razões apontadas para a fraca adesão à terapia
medicamentosa (Figura 2), as quais estão relacionadas principalmente com fatores
relacionados ao próprio paciente e à doença, ao tipo de tratamento, o
relacionamento com os profissionais de saúde e as características do sistema de
saúde (ALMEIDA, 2012). Para investigar a adesão à prescrição em pacientes
hipertensos, Morisky, desenvolveu uma escala própria, cujo instrumento é composto
por quatro perguntas fechadas e pontuadas de acordo com o escore obtido
(MORISKY et al,1986). O paciente é identificado como aderente ou não aderente.
Este questionário foi adaptado para o português por Werlang (WERLANG, 2001).
Figura 02 – Fatores relacionados com a não adesão à terapêutica medicamentosa.
Fonte: ALMEIDA, 2012.
2.4.
O Idoso e a Adesão ao Tratamento Farmacológico
Com o passar da idade, ocorrem inúmeras alterações morfológicas e
funcionais em todos os órgãos e tecido. Entre essas, pode-se citar problemas de
31
memória e dificuldade de aquisição de novos conhecimentos, diminuição da visão e
da audição, perda de massa óssea e aumento no percentual de gordura. Os
problemas de memória e dificuldade de aquisição de novos conhecimentos
dificultam bastante a vida diária do idoso, pois podem afetar, por exemplo, o uso de
suas medicações (TRENTIN, 2009).
O
declínio
cognitivo
associado
ao
processo
de
envelhecimento
é
caracterizado por diversas alterações, nomeadamente (VELOSO et al., 2011):
Aumento da dificuldade em compreender mensagens longas e/ou complexas
e em recuperar termos específicos;
Maior dificuldade nas atividades de raciocínio que envolvam a análise lógica e
organizada de material abstrato ou não familiar;
Discurso mais repetitivo; dificuldade em selecionar informação;
Diminuição da capacidade de execução das tarefas psicomotoras novas e
rápidas;
Prejuízo da memória, especialmente da secundária que se refere à aquisição
de nova informação, e em repartir a atenção em múltiplas tarefas;
Dificuldades no raciocínio indutivo, na orientação espacial, nas aptidões
numéricas e verbais e na velocidade perceptiva.
O nível educacional dos idosos brasileiros é notoriamente baixo. Isso por que,
os idosos tiveram poucas oportunidades de frequentar a escola na etapa da vida
considerada oportuna e esperada. Além disso, a educação básica sempre foi
enfatizada na faixa etária entre sete e quatorze anos e pouca atenção foi dada ao
ensino básico fora dessa idade convencionada, sendo assim, após certa idade fica
difícil aos adultos reverterem sua condição de analfabeto (SOUZA, 1999).
O idoso apresenta, invariavelmente, índices maiores de morbidade quando
comparados aos demais grupos etários. Estatísticas mostram que aproximadamente
entre 80% e 90% dos idosos apresentam uma ou mais doenças crônicas (ALMEIDA,
2012). A inevitável polipatologia parece direcionar para a polifarmácia; uma condição
mais frequente no idoso do que na população jovem.
32
A maioria dos idosos consome pelo menos um medicamento, e cerca de um
terço deles consome 5 ou mais simultaneamente, sendo que a média oscila entre 2
e 5 medicamentos (ALMEIDA, 2012). Esta complexa terapia medicamentosa
adicionada à propensão para se automedicar aumenta a possibilidade de erro.
Alguns pacientes geriátricos têm confusão mental e perda de memória relacionada à
idade, doenças, ou medicamentos como neurolépticos ou agentes ansiolíticos.
Um idoso com uma ou mais doenças crônicas pode ser considerado um idoso
saudável, se comparado com um idoso com as mesmas doenças, porém sem
controle destas, com sequelas decorrentes e incapacidades associadas (RAMOS,
2003). A hospitalização e o repouso no leito prolongado, de forma intermitente,
podem determinar o agravamento da situação de saúde do idoso, tornando-o mais
frágil. O declínio da capacidade funcional geralmente conduz a pessoa idosa à
limitação ou perda total da capacidade de desempenhar, de forma independente,
suas atividades cotidianas (PAZ et al,2006).
Em adição, segundo o Estudo Longitudinal de Baltimore, conhecido como
BLSA (Baltimore Longitudinal Study on Aging), os aspectos cognitivos sofrem
mudanças com o envelhecimento (ALMEIDA, 2012). Sob este aspecto, algumas das
conclusões obtidas até o momento, indicam que (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009):
• A memória a curto prazo diminui com a idade.
• A capacidade de aprendizado de materiais orais (em oposição a materiais
escritos) diminui depois dos setenta anos.
• O número de erros na execução de tarefas de aprendizado verbal cometidos
pelos indivíduos com mais de sessenta anos é maior do que o cometido por adultos
jovens.
É provável, portanto, que subgrupos de idosos, como os mais velhos, aqueles
que estão mentalmente ou fisicamente prejudicados, ou aqueles que devem tomar
múltiplos medicamentos causadores de déficits cognitivos, tenham maiores
problemas na administração de seus medicamentos, tendo em vista que a maioria
das orientações sobre o uso dos medicamentos durante a consulta é verbal
(ALMEIDA, 2012). As consequências de erros de medicação em idosos tem
33
consequências sérias quando comparados com os jovens (ALMEIDA, ALMEIDA,
2013)
Pacientes que convivem com sua família podem apresentar melhores taxas
de adesão do que os que vivem sozinhos. Por outro lado, na maioria dos estudos
realizados, características sociodemográficas como gênero, nível educacional, nível
socioeconômico, ocupação, estado civil, raça, etnia e religião, não tenham
demonstrado relação com a adesão, alguns traços de personalidade parecem estar
relacionados (ALMEIDA, 2012). Em um estudo realizado por Raskin, citado por
Luscher et al (1985), pacientes não aderentes indicavam em maior grau um
sentimento de hostilidade e agressividade frente a figuras de autoridade e parentais,
do que os aderentes.
Somando todos esses fatores é necessário, também, avaliar como se
encontra a QV na terceira idade. O paciente idoso precisa ter uma boa adesão a
terapia medicamentosa, assegurando, assim, um bem-estar e uma melhor condição
de vida para a sua longevidade.
2.5.
Qualidade de Vida do paciente Idoso
Quanto mais aprimorada a democracia, mais ampla é a noção de QV, o grau
de bem-estar da sociedade e de igual acesso a bens materiais e culturais (MATOS,
1999). QV é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau
de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria
estética existencial.
A QV pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os
elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bemestar (MINAYO et al, 2000). O comprometimento da capacidade funcional do idoso
tem implicações importantes para a família, a comunidade, para o sistema de saúde
e para a vida do próprio idoso, uma vez que a incapacidade ocasiona maior
vulnerabilidade e dependência na velhice, contribuindo para a diminuição do seu
bem-estar (ALVES et al, 2007).
Do ponto de vista biofisiológico todos os sistemas do organismo podem refletir
as alterações estruturais e funcionais decorrentes do avanço da idade, embora
34
variem de um indivíduo para outro. A maior evidência poderá refletir-se no sistema
nervoso, nomeadamente no declínio cognitivo associado, por consequência, à
diminuição de variáveis emocionais importantes, como o autoconceito, ânimo e QV
(VELOSO et al, 2011).
No campo da saúde, o discurso da relação entre saúde e QV, embora
bastante inespecífico e generalizante, existe desde o nascimento da medicina social,
nos séculos XVIII e XIX, quando investigações sistemáticas começaram a referendar
esta tese e, dar subsídios para políticas públicas e movimentos sociais (MINAYO et
al, 2000). A expressão Qualidade de Vida Ligada à Saúde (QVLS) é definida por
Auquier et al (1997), “como o valor atribuído à vida, ponderado pelas deteriorações
funcionais; as percepções e condições sociais que são induzidas pela doença,
agravos, tratamentos; e a organização política e econômica do sistema assistencial”.
Em relação ao campo de aplicação, as medidas podem ser classificadas
como genéricas, se usam questionários de base populacional sem especificar
patologias, sendo mais apropriadas a estudos epidemiológicos, planejamento e
avaliação do sistema de saúde. Um desses instrumentos foi desenvolvido pela OMS
que criou o Grupo de QV: World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100),
e definiu o termo como: “A percepção do indivíduo de sua posição na vida, no
contexto da cultura e do sistema de valores em que vive e em relação aos seus
objetivos,
expectativas,
padrões
e
preocupações”
(WORLD
HEALTH
ORGANIZATION QUALITY OF LIFE, 1995). Assim, o instrumento desenvolvido por
esse organismo internacional em estudo multicêntrico baseia-se nos pressupostos
de que qualidade de vida é uma construção subjetiva (percepção do indivíduo em
questão), multidimensional e composta por elementos positivos (por exemplo,
mobilidade) e negativos (dor) (MINAYO et al, 2000).
Estudos apontam, em geral, para situações relacionadas à QV cotidiana dos
indivíduos, subsequente à experiência de doenças, agravos ou intervenções
médicas. Referem-se a doenças crônicas – como câncer, diabetes, doença
coronariana e cerebrovascular, Parkinson e outros problemas do sistema nervoso,
hepatites e artrites crônicas, asma brônquica e outras doenças respiratórias – ou a
consequências crônicas (sequelas ou medidas curativas e reabilitadoras) de
doenças ou agravos agudos, como problemas neurológicos pós-traumáticos,
35
transplantes, uso de insulina e outros medicamentos de uso prolongado. Vários
instrumentos incluem indicadores para aspectos subjetivos da convivência com
doenças e lesões, como sentimentos de vergonha e culpa, que trazem
consequências negativas sobre a percepção da qualidade de vida por parte dos
indivíduos acometidos e suas famílias (MINAYO et al, 2000).
Uma das patologias crônicas que afeta a QV do paciente idoso é o Diabetes,
muitos pacientes são portadores da doença, no entanto desconhecem esse fato. É
preciso entender o que é a doença para então melhor conduzir o tratamento
(ALMEIDA, 2012). Envelhecimento saudável, dentro dessa nova ótica, passa a ser a
resultante da interação multidimensional entre saúde física, saúde mental,
independência na vida diária, integração social, suporte familiar e independência
econômica.
O bem-estar na velhice, ou saúde num sentido amplo, seria o resultado do
equilíbrio entre as várias dimensões da capacidade funcional do idoso, sem
necessariamente significar ausência de problemas em todas as dimensões. A
velhice é um período da vida com uma alta prevalência de DCNT, limitações físicas,
perdas cognitivas, sintomas depressivos, declínio sensorial, acidentes e isolamento
social (ALMEIDA, 2012).
Outrossim, tem crescido o interesse em estabelecer quais os fatores que,
isolada ou conjuntamente, melhor explicam o risco que um idoso tem que morrer em
curto prazo, uma noção útil do ponto de vista epidemiológico e clínico. O principal
fator de risco para mortalidade continua sendo a própria idade. Quanto mais se vive
maior é a chance de morrer. A maioria dos estudos longitudinais com idosos
residentes na comunidade parece concordar que, além da idade, o sexo do indivíduo
pode ser determinante do risco morte, com os homens apresentando um risco maior
do que as mulheres (RAMOS, 2003).
Dados do IBGE apresentam que o percentual da população brasileira que
possui plano de saúde privado varia de no mínimo de 26,11% entre pessoas de até
18 anos, a um máximo 28,96% entre pessoas de 40 a 64 anos de idade. Entre
pessoas com mais de 65 anos a cobertura atinge 6,77% para os homens e 9,18%
para
as
mulheres
(INTITUTO
BRASILEIRO
DE
GEOGRAFIA
E
36
ESTATÍSTICA,2010). Baseado nessa estatística é possível chegar à conclusão que
grande parte da população idosa brasileira é atendida pelo SUS. Com intuito de
prestar um bom atendimento e melhorar a QV foi publicada a Política Nacional do
Idoso (BRASIL, 1994) e, criados programas direcionados ao fortalecimento da
Atenção Primária à Saúde, entre eles podemos citar o Programa Saúde da Família
(BRASIL, 1996; 1997; 2006) e, mais recente, a Estratégia da Saúde da Família
(BRASIL, 2011).
2.6.
Estratégia de Saúde da Família
O desafio maior no século XXI é cuidar de uma população de mais de 32
milhões de idosos, a maioria com nível socioeconômico e educacional baixos e uma
alta prevalência de doenças crônicas e incapacitantes. O sistema de saúde terá que
fazer frente a uma crescente demanda por procedimentos diagnósticos e
terapêuticos
das
DCNTs,
principalmente
as
cardiovasculares
e
as
neurodegenerativas, e a uma demanda ainda maior por serviços de reabilitação
física e mental (RAMOS, 2003).
É preciso estabelecer indicadores de saúde capazes de identificar idosos de
alto risco com perda funcional e orientar ações concentradas de promoção de saúde
e manutenção da capacidade funcional. Ações que tenham um significado prático
para os profissionais atuando no nível primário de atenção à saúde e que tenham
uma relação de custo-benefício aceitável para os administradores dos parcos
recursos destinados à área da saúde. Medidas de intervenção visando identificar
causas tratáveis de déficit cognitivo e de perda de independência no dia-a-dia
deveriam tornar-se prioridade do sistema de saúde, dentro de uma perspectiva de
reestruturação programática realmente sintonizada com a saúde e o bem-estar da
crescente população de idosos (RAMOS, 2003).
O Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza a universalização do acesso, a
integralidade
da
atenção,
a
equidade,
a
descentralização
da
gestão,
a
hierarquização dos serviços e o controle social (BRASIL, 1990a). Assim, a
implantação desse sistema pressupõe a reorganização das práticas sanitárias e,
37
consequentemente, a transformação do modelo assistencial e da organização do
serviço no atendimento à saúde do idoso. Um dos objetivos do Estatuto do Idoso
(BRASIL, 2003) é manter a pessoa idosa na comunidade, junto de sua família, de
forma digna e confortável. Muitas vezes, as condições de saúde dos idosos exigem
hospitalização; porém, espera-se que essa não tenha longa duração, bem como que
a família seja orientada para o cuidado no contexto domiciliar (ROSA, LABATE,
2005; PAZ et al, 2006).
As DCNTs segundo a OMS se caracterizam por ter uma etiologia múltipla,
longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa, por sua
associação a deficiência e incapacidade funcionais e, também, por ser um conjunto
de doenças que tem fatores de risco semelhante. Entre elas encontramos a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), as neoplasias, as doenças respiratórias
crônicas e a DM (BRASIL,2008).
No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCVs) representam importantes
problemas de saúde pública, pois são a primeira causa de morte nos pais (BRASIL,
2006; ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE,2010). Neste contexto,
destacam-se a HAS e o DM como os mais importantes fatores de risco para o
desenvolvimento das DCVs. Possuem diversos pontos em comum, tais como
etiopatogenia, fatores de risco, facilidade de diagnostico, necessidade de
acompanhamento por equipe multidisciplinar, tratamento não medicamentoso e
medicamentoso e dificuldade de adesão as recomendações prescritas. (BRASIL,
2006b; 2006c; 2006d).
A intervenção comunitária como medida para mudanças no hábito de vida e
adoção de hábitos mais saudáveis devem ser sustentáveis a longo prazo e devem
incluir todos os grupos sociais, mais especificamente aqueles com menores
possibilidade de escolha em razão da pobreza e da exclusão social. De qualquer
forma, devem ser considerados outros aspectos para o desenvolvimento de
estratégias de promoção da saúde na população geral (BARRETO,2003).
Diante do agravamento desse cenário em nível nacional o MS em 2001
desenvolveu o Plano de Reorganização da Atenção a Hipertensão e Diabetes na
Rede Básica do SUS para a prevenção e controle da HAS e DM (BRASIL, 2001).
38
Em 2002 as novas estratégias foram incorporadas na rotina das unidades
ambulatoriais do SUS, através do Programa para Hipertensão e Diabetes HIPERDIA (BRASIL, 2002). A partir do cadastramento dos usuários hipertensos e
diabéticos em formulários padronizados, buscou-se favorecer sua vinculação e
acompanhamento e garantir o recebimento de medicamentos para o tratamento
farmacológico. Além disso, através da análise dos indicadores do respectivo
programa é possível conhecer o perfil epidemiológico da população assistida
(BRASIL, 2012).
O Programa de Saúde da Família (PSF) (BRASIL, 1996; 1997; 2006) e mais
recentemente a Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2011), implantados
pelo Ministério da Saúde vem fortalecer o processo de promoção à saúde e
prevenção de agravos à saúde por meio da Atenção Primária à Saúde, tendo como
foco na família. Surge como um modelo democrático, universal e integral, tendo
como objetivo reorganizar a prática assistencial em novas bases e critérios,
substituindo o modelo tradicional de assistência, individualista, curativista,
biologicista, hospitalar; ou seja, dar um salto qualitativo de um modelo procedimentocentrado para um modelo usuário-centrado, reorientando assim o modelo
assistencial e a prática assistencial (ALVES, 2005; ROSA, LABATE, 2005).
A ESF, configura-se, assim um elemento-chave no desenvolvimento das
ações de controle da HAS e DM, mediante as ações da equipe multidisciplinar. Atua
na promoção e manutenção de saúde, na prevenção, recuperação, reabilitação e
paliação dessas doenças e, no estabelecimento de vínculos de compromisso e de
corresponsabilidade (BRASIL, 2011). Tais vínculos são decisivos para o sucesso do
tratamento não farmacológicos e farmacológicos pelos hipertensos e diabéticos, pois
quanto maior o grau de participação dos usuários como protagonistas no cuidado à
saúde, maior será sua adesão ao plano terapêutico proposto. O objetivo principal do
sistema deve ser a manutenção da capacidade funcional do idoso, mantendo-o na
comunidade, pelo maior tempo possível, gozando ao máximo sua independência.
Acredita-se, que o maior acesso a cuidados de saúde contribua para a queda
na mortalidade por DCNT observada no Brasil. Dados sobre internações hospitalares
sensíveis a Atenção Primária à Saúde (APS) apoiam essa hipótese; ou seja, uma
melhor atuação das equipes de APS associou-se às quedas acentuadas e níveis
39
mais baixos dessas internações, incluindo as causadas por doenças crônicas
(SCHMIDT, DUNCAN, 2011).
É reconhecido que uma APS orientada por seus atributos essenciais –
acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação – é central para o
enfrentamento das DCNTs. Outros aspectos importantes para o modelo de atenção
é o cuidado centrado no indivíduo – e não na doença – exercido por equipe
multiprofissional, organizado em Redes de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES,
2011) e, redesenhado para melhor atender pessoas com condições crônicas
(SCHMIDT, DUNCAN, 2011).
O farmacêutico como um componente estratégico dentro da equipe
multidisciplinar, participa do processo de promoção, prevenção, paliação, tratamento
e melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. Sabe-se que a
informação é a chave para adesão aos tratamentos agudos ou crônicos. Neste
sentido, o profissional farmacêutico está habilitado para elaborar estratégias
personalizadas para assegurar a adesão as estratégias terapêuticas não
farmacológicas e farmacológicas.
2.7. Assistência Farmacêutica
No campo das políticas de saúde, houve avanços com a regulamentação da
Política Nacional de Medicamentos (PNM) em 1998 (BRASIL, 1998), a criação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 1999 (BRASIL, 1999) e a
aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) em 2004
(BRASIL, 2004), assegurando novos marcos para o acesso, a qualidade e o uso
racional de medicamentos.
Ainda quanto a melhoria do acesso aos medicamentos, tem-se o Programa
Farmácia Popular do Brasil, implantado por meio da Lei nº 10.858 de 13 de abril de
2004 e o Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, expandido pela Portaria GM/MS
n° 491 de 09 de março de 2006, que estabelece o “Aqui Tem Farmácia Popular”,
aproveitando a rede instalada do comércio varejista de produtos farmacêuticos, bem
40
como a cadeia do medicamento para ampliação do acesso a medicamentos
mediante copagamento (BRASIL,2004a,2004b,2006e).
Além dos medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, oferece
mais 11 itens, entre medicamentos e a fralda geriátrica, com preços até 90% mais
baratos utilizados no tratamento de dislipidemia, rinite, mal de Parkinson,
osteoporose, glaucoma e contraceptivos (BRASIL, 2012). Em tempo, registra-se que
o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) foi reorientado pelo meio da Portaria
nº 111, ampliando, assim, o acesso a esses produtos (BRASIL, 2016).
Em adição, a Lei nº 12.401 de 28 de abril de 2011, veio regulamentar a
Assistência Terapêutica e a Incorporação de Tecnologia em Saúde no âmbito do
SUS, adotando os Protocolos Clínicos e Formulários Terapêuticos – por meio
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS do Ministério da Saúde
– que deve levar em consideração, as evidências científicas sobre a eficácia, a
acurácia, a efetividade, a segurança do medicamento, além do fator econômico
(BRASIL,2011).
Para superar a fragmentação da gestão e aperfeiçoar o funcionamento
político-institucional e técnico-assistencial do SUS, tem-se o Decreto Presidencial nº
7.508 de 28 de junho de 2011, que trata da Rede de Atenção à Saúde (RAS), tendo
como foco a consolidação das Regiões de Saúde, na Hierarquização, no
Planejamento da Saúde, na Assistência à Saúde por meio da Relação Nacional de
Serviços de Saúde (RENASES) e da Relação Nacional de Medicamentos
(RENAME),
fundamentadas
na
Articulação
Interfederativa,
nas
Comissões
Intergestores e no Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP)
(BRASIL, 2011).
Outrossim, registra-se, os esforços empreendidos por meio do Programa
Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único
de Saúde (Qualifar- SUS) – instituído pela Portaria GM nº 1.214 de 13 de junho de
2012 – organizado em 4 (quatro) eixos, com os seguintes objetivos: I - Eixo
Estrutura: contribuir para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS, de
modo que estes sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na Assistência
Farmacêutica, considerando a área física, os equipamentos, mobiliários e recursos
41
humanos; II - Eixo Educação: promover a educação permanente e capacitação dos
profissionais de saúde para qualificação das ações da Assistência Farmacêutica
voltadas ao aprimoramento das práticas profissionais no contexto das Redes de
Atenção à Saúde; III - Eixo Informação: produzir documentos técnicos e
disponibilizar informações que possibilitem o acompanhamento, monitoramento e
avaliação das ações e serviços da Assistência Farmacêutica; e IV - Eixo Cuidado:
inserir a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas visando a resolutividade das
ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos relacionados à
farmacoterapia (BRASIL, 2012).
Por fim, sabe-se que as tecnologias de gestão clínica do medicamento podem
ser incorporadas a vários locais de prática, públicos ou privados, envolvendo,
portanto, uma carteira de serviços distribuídos pelos diferentes pontos da Rede de
Atenção à Saúde. Em adição, a Lei nº 13.021 de 2014 (BRASIL, 2014a) estabelece
uma nova regulamentação do exercício e da fiscalização das atividades
farmacêuticas, caracterizando as farmácias comunitárias como estabelecimentos de
saúde.
Como resultado do esforço de todas as políticas implementadas, dados
preliminares da Pesquisa Nacional sobre o Acesso, Utilização e Uso Racional de
Medicamentos
no
Brasil
(PNAUM)
demostram
melhoria
do
acesso
aos
medicamentos para o tratamento das doenças crônicas mais prevalentes a exemplo
do Diabetes Mellitus e, para algumas doenças que apresentam episódios agudos
(BRASIL, 2014).
2.7.
O Papel do Farmacêutico
Segundo Grossi (2009) uma epidemia de diabetes está em curso em todo
mundo. Esforços governamentais e de todos os seguimentos da sociedade são
urgentes no sentido de prevenir ou retardar o aparecimento das complicações
relacionadas a doença. Por este motivo, o maior desafio para os profissionais de
saúde frente às pessoas com diabetes consiste em ensiná-las a como conviver e
manejar a doença diante das situações que se apresentam no dia a dia.
42
Outrossim, significa educar para que as mudanças comportamentais
aconteçam e se mantenham ao longo da maior parte da trajetória da doença e da
vida (RAMOS, 2012). O envolvimento do idoso, do cuidador/família, da comunidade
e dos profissionais de saúde torna-se imprescindível para a elaboração, a efetivação
e a avaliação do plano de cuidados após a consultas e alta hospitalar (PAZ et al,
2006).
Nesta direção, a Assistência Farmacêutica é parte integrante e essencial dos
processos de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade. No âmbito
hospitalar e em outros serviços de saúde, dadas as características das ações
desenvolvidas e dos perfis dos usuários atendidos, torna-se primordial que as
atividades do serviço de farmácia sejam executadas de forma que garantam
efetividade e segurança no processo de utilização dos medicamentos, otimizando
resultados clínicos e econômicos. Ao longo dos anos, vários esforços têm sido
realizados para promover o uso racional de medicamentos, diminuindo os custos e
efeitos adversos decorrentes da utilização incorreta dos mesmos (GOMES et al,
2010).
A qualidade e a quantidade do consumo de medicamentos estão sob ação
direta da prescrição, que, por sua vez, sofre influências de alguns fatores como a
oferta dos produtos pela indústria farmacêutica e a expectativa dos pacientes. Uma
boa prescrição deve conter o mínimo de medicamentos possível, mínimos efeitos
colaterais, inexistência de contraindicação, forma farmacêutica e posologia
apropriada, além de menor tempo de tratamento possível (CARMO, 2003; GOMES
et al, 2010).
Estudos demonstraram uma diminuição significativa nos erros de medicação
em instituições nas quais farmacêuticos realizam intervenções com a equipe clínica.
Reforçam a ideia de que a intervenção farmacêutica pode reduzir o número de
eventos adversos, aumentar a qualidade do atendimento e diminuir custos
hospitalares (MORIEL et al, 2011). Viktil, Blix (2008) mostraram que efetivamente o
farmacêutico clinico e capaz de identificar, resolver e prevenir problemas
farmacoterapêuticos clinicamente significantes.
43
A presença do farmacêutico como um profissional capaz de conduzir o
paciente em relação as terapias farmacológicas, realizando o acompanhamento
farmacoterapêutico, estimula os pacientes a estarem familiarizados com seus
próprios esquemas terapêuticos, tornando mais simples a compreensão da
importância do uso correto do medicamento, aumentando a segurança, a adesão a
terapia, a efetividade dos medicamentos e a eficiência dos tratamentos (CORRER,
OTUKI, SOLER, 2011; MORIEL et al, 2011).
O cuidado com o próximo é um compromisso de todo o profissional da área
da saúde, e é nesta direção que o farmacêutico deve orientar e auxiliar na promoção
garantias de que os pacientes que recebam seu acompanhamento, possam além de
melhorar sua condição de saúde, tenham também uma ótima qualidade de vida.
44
OBJETIVOS
__________________________________________________
_______________________________________
________________________
45
3. OBJETIVOS
___________________________________________________________________
3.1.
Objetivo Geral
Caracterizar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida
identificando os fatores intervenientes relacionados ao abandono do
tratamento ou ao não cumprimento das orientações terapêuticas entre
pacientes com idade igual ou superior a 60 anos com diagnostico de
diabetes cadastrados nas Unidades de Saúde / Estratégias Saúde da
Família do distrito DAGUA no município de Belém.
3.2.
Objetivos Específicos
Caracterizar o perfil sociodemografico dos pacientes idosos diabéticos
em tratamento nas ESF;
Identificar os portadores de diabetes nas unidades de saúde segundo
hábitos de vida (atividade física, reeducação alimentar, consumo de
bebida alcoólica) e dados relacionados à diabetes (comorbidades), uso
de medicamentos antidiabéticos;
Verificar o relacionamento com a equipe de saúde e a orientação no
uso correto de medicamentos.
Identificar a adesão o tratamento da diabetes por meio do Teste de
Morisky e Green (TMG) e teste de Batalla (TB).
Identificar a QV através do instrumento DQOL-Brasil.
Associar se a falta de adesão ao tratamento prejudica a qualidade de
vida.
46
CASUÍSTICA
E
MÉTODOS
__________________________________________________
_______________________________________
________________________
47
4. CASUÍSTICA E MÉTODOS
___________________________________________________________________
4.1.
Desenho da pesquisa
Estudo descritivo observacional de natureza transversal e analítica, que foi
realizado por meio de entrevista com pacientes idosos de idade igual ou superior a
60 anos portadores de DM2, cadastrados nas Unidades de Saúde / Estratégia
Saúde da Família do Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), no período de
Novembro e Dezembro de 2015, com intuito de avaliar a adesão ao tratamento
farmacológico e a Qualidade de Vida (QV).
4.2.
Local do estudo
O município de Belém (PA) é oficialmente dividido em 71 bairros, distribuídos
por 08 Distritos Administrativos, a partir dos quais a Prefeitura de Belém destina as
diretrizes do planejamento para a cidade em geral. Essa divisão está relacionada à
incorporação histórica dos bairros à malha urbana de Belém, de acordo com a
Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém –
CODEM (BELÉM, 2010).
O Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA) engloba os seguintes bairros:
Canudos, Cremação, Condor, Guamá, Terra Firme, onde estes estão entre os mais
populosos da cidade. Uma parte significativa da população dessa área é de baixa
renda, onde há diversas áreas de ocupação espontânea ou Aglomerados
Subnormais (IBGE, 2010), principalmente ao longo das principais avenidas, como a
Bernardo Sayão, Perimetral e Cipriano Santos, sendo acompanhada com a carência
de saneamento básico (Tratamento de esgoto doméstico e água canalizada
potável), culminando na frequência de doenças relacionados a transmissão pela
água, assim como sendo uma área marcada pela violência e pobreza.
Recentemente, a Prefeitura de Belém vem realizando intervenções na sua orla,
modificando parcialmente a realidade desses bairros.
48
O 8º Distrito DAGUA tem área territorial de 14.403.233,12 m 2, totalizando uma
população de 349.535 habitantes, sendo 166.985 homens e 182.550 mulheres,
sendo em sua totalidade urbana (BELÉM, 2010). A investigação ocorrerá nas
unidades de ESF componentes do Distrito DAGUA no município de Belém. Este
distrito é composto por 06 unidades que são: Riacho Doce, Terra Firme, Combú,
Radional II e Parque Amazônia I e II.
Figura 03 - Distrito administrativo do Guamá (DAGUA)
Fonte: GUSMÃO, 2014.
4.3.
População e amostra
A população em estudo é constituída por todos os pacientes idosos diabéticos
que estão cadastrados e são atendidos pelas unidades da ESF, pacientes de ambos
os sexos, com idade maior ou igual a 60 anos. O total de entrevistados que
participaram deste estudo foi de 113 idosos.
49
4.4.
Critério de inclusão
Foram incluídos no estudo todos os pacientes com idade igual ou superior a
60 anos, diabéticos, cadastrados e em atendimentos pelas unidades da ESF do
distrito DAGUA.
Os critérios para inclusão dos pacientes foram:
Ser paciente com diagnóstico de diabético em seguimento em uma das 06
unidades de saúde do DÁGUA;
Estar em uso de medicamentos antidiabéticos há pelo menos 06 meses;
Ser capaz de compreender, verbalizar e responder às questões. Em caso
de pessoas sem essas condições as informações foram coletadas a partir
dos seus cuidadores.
Concordar em participar do estudo, expresso mediante a assinatura de um
termo de consentimento livre e esclarecido, estando ciente da natureza da
investigação e seus objetivos.
4.5.
Critério de exclusão e perdas
Foram excluídos do estudo pacientes que estavam cadastrados, mais que
não seguiam as orientações nos atendimentos pelos profissionais das
ESF.
Não concordar com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
4.6.
Variáveis do estudo
4.6.1. Variável dependente
Grau de adesão: pelo teste de Morisky e Green (TMG) e pelo teste de Batalla
(TB).
Qualidade de vida: Instrumento desenvolvido pelo grupo Control and
Complications Trial (DCCT), denominado Diabetes Quality of Life Measure
(DQOL).
50
4.6.2. Variável independente
Condições sociodemográficas;
Da equipe e do serviço de saúde;
Terapias medicamentosas;
Nível de conhecimento sobre a diabetes mellitus;
Paciente.
4.7.
Aspectos éticos
A investigação foi desenvolvida respeitando-se todos os princípios éticos
constantes da Resolução CNS n.º 466/12 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE,
2013) sobre pesquisa envolvendo seres humanos. O sigilo e a confidencialidade dos
dados coletados foram assegurados.
Este estudo foi aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém
(SESMA) e pela Coordenação da ESF, bem como pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Pará por meio do Parecer nº
119233/2015 e CAAE 35557514.4.0000.0018 (Anexo A).
4.8.
Procedimentos para a coleta de dados
As informações foram obtidas por pessoal treinado, sendo os dados coletados
através da análise de entrevista semiaberta estruturada (ANEXO B) nos meses de
novembro e dezembro de 2015 através de visita domiciliar. Os entrevistados foram
orientados quanto aos objetivos da pesquisa e, após a leitura e entendimento da
mesma, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As
variáveis relacionadas ao acesso aos medicamentos corresponderam a: aquisição
do medicamento, possibilidade de comprar os medicamentos e dificuldade no uso
dos medicamentos. Entre as características socioeconômicas e demográficas,
51
investigaram-se: sexo, faixa etária, anos de estudo, situação conjugal, situação de
atividade remunerada ou não. Foi fornecido aos responsáveis pelas unidades um
documento constando que o projeto da pesquisa foi aprovado pelo CONEP a fim de
se obter acesso aos dados cadastrais dos idosos para que fosse realizada a
entrevista para a produção do trabalho.
4.9.
Grau de adesão pelo teste de Morisky e Green (TMG) e pelo teste
de Batalla (TB)
A adesão dos idosos diabéticos ao tratamento foi mensurada utilizando-se a
escala de Morisky e Green (1986) e de Batalla-Martinez (1984). A teoria fundamental
desta medida abrange que o uso inadequado de medicamentos que se dá em uma
ou todas as formas seguintes: esquecimento, falta de cuidado, interromper o
medicamento quando se sentir melhor ou interromper o medicamento quando se
sentir pior.
A escolha do TMG e do TB se fundamenta no fato de se ter disponível, em
língua portuguesa, um instrumento de fácil medida, com número relativamente
pequeno de questões compreensíveis, que proporcionam a verificação da atitude do
paciente frente o uso de medicamentos.
As pontuações das respostas no TMG são a seguinte, SIM = 0 e NÃO = 1. Se
todas as respostas forem NÃO, a pontuação será 4 (quatro), e se todos forem SIM,
será 0 (zero), para tentar vislumbrar a adesão ao uso do medicamento.
Os estudos que utilizam o TMG possuem diferenças no critério de definição
do grau de adesão:
Pelo critério 1(um), definiu-se como “maior adesão” os que obtiverem 3
(três) ou 4 (quatro) pontos no TMG, e como “menor adesão” os que
obtiverem de 0 (zero) a 2 (dois) pontos.
Pelo critério 2 (dois), definiu-se como “maior adesão” os que obtiverem 4
pontos no TGM e como “menor adesão” os que obtiverem de 0 a 3 pontos.
Neste estudo, foi utilizado o critério 2 (dois) do TMG para estudar as variáveis
relacionadas à adesão ao tratamento.
O TMG adaptado para a língua portuguesa contém as seguintes questões:
52
O senhor (a) às vezes tem problemas em se lembrar de tomar a sua
medicação?
O senhor (a) às vezes se descuida de tomar seu medicamento?
Quando está se sentindo melhor, o senhor às vezes para de tomar seu
medicamento?
Quando se sente mal ao tomar a medicação, o senhor para de tomá-la?
O idoso será considerado aderente ao responder “NÃO” para todas as perguntas.
O TB tem como princípio a relação entre o conhecimento da hipertensão e a
adesão ao tratamento, na qual pacientes com maior conhecimento possuem uma
melhor adesão ao tratamento. Para este estudo foi feita a adaptação dos
questionamentos para o conhecimento dos pacientes idosos sobre o diabetes. Esse
teste consiste de três perguntas nas quais se classifica como aderente o paciente
que consegue responder corretamente a todas as perguntas:
A Diabetes é uma doença para toda vida?
A diabetes pode ser controlada com dieta e/ou remédios?
Cite dois ou mais órgãos afetados pelo aumento da glicose no sangue.
Uma resposta errada classifica o paciente como não aderente.
4.10. Avaliação da Qualidade de Vida
Foi utilizada a tradução de um instrumento desenvolvido pelo grupo Control
and Complications Trial (DCCT), denominado Diabetes Quality of Life Measure
(DQOL), o qual é útil para conhecer a realidade do paciente no momento em
questão, além de avaliar mudanças após uma possível intervenção terapêutica
(Correr et al, 2008). A tradução e validação foi feita por Correr et al. (2008),
passando a ser chamado DQOL-Brasil.
O instrumento possui 4 domínios (satisfação, impacto, preocupações
sociais/vocacionais e preocupações relacionadas ao diabetes), porém para este
estudo foram utilizados apenas 3 domínios, excluindo-se o de preocupações
sociais/vocacionais. As respostas ao instrumento estão organizadas em uma escala
53
Likert de 5 pontos, na qual a satisfação está distribuída em uma escala de
intensidade (1 - muito satisfeito a 5 - nada satisfeito), enquanto que as respostas dos
domínios de impacto e preocupações estão em uma escala de frequência (1 = nunca
a 5 = sempre). O cálculo dos escores pode ser realizado pela média simples dos
valores dos itens individuais, ou seja, quanto mais próximo a 1 estiver o resultado,
melhor a avaliação da QVRS.
4.11. Instrumento para coleta de dados
Pré-teste do Formulário
O pré-teste do formulário de entrevista foi realizado com 20 pacientes. O
objetivo do pré-teste foi a verificação do entendimento do paciente em relação às
perguntas e a clareza das perguntas elaboradas, à ordem de sequência e à duração
da entrevista e demais dificuldades que pudessem ser encontradas pelos
entrevistadores.
Formulário
O formulário semiestruturado continha questões abertas e fechadas, foram
preenchidos através da entrevista direta com os usuários (tanto na unidade como
em suas residências), durando em média 40 minutos, contendo informações sobre a
identificação do paciente, variáveis socioeconômicas, relacionadas ao hábito de
vida, às questões do TMG, TB, fatores relacionados à equipe da ESF e ao serviço
de saúde, medicamentos utilizados, situação de saúde e fatores relacionados ao
paciente. (PALOTA, 2010; MORISKY, GREEN, LEVINE, 1986; STRELEC, PIERIN,
MION, 2003). O instrumento para a coleta de dados (Anexo B).
4.12. Organização dos dados
As informações coletadas foram organizadas e digitadas em tabelas para um
banco de dados criado no software Microsoft Excel® 2010.
54
4.13. Análise estatística
Os dados, processados em banco de dados criado no software Microsoft
Office Excel®, foram copiados para o software Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) for Windows® versão 20.0. A estatística descritiva foi realizada
para obtenção das frequências absoluta e relativa das variáveis categóricas
analisadas, bem como das medidas de tendência central e de variabilidade das
variáveis quantitativas.
Para quantificar a relação entre os domínios do DQOL-Brasil, foi realizada a
Análise de Correlação de Spearman. Na análise bivariada, verificou-se a associação
entre cada uma das variáveis categóricas independentes e com as variáveis
dependentes que medem o “nível de adesão”, usando o teste Qui-quadrado (χ2) e
suas alternativas. Também se comparou as medidas das variáveis quantitativas
independentes com a variável dependente a partir da análise do teste t-student e da
Análise de Variância (ANOVA). Adotou-se o nível de significância de 5% (α = 0.05)
em todas as análises estatísticas.
55
RESULTADOS E DISCUSSÃO
__________________________________________________
_______________________________________
________________________
56
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No censo feito pelo IBGE em 2010, o munícipio de Belém, era composto por
1.393.399 habitantes, possuindo um dos maiores Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) entre os municípios do norte brasileiro e contendo 168
estabelecimentos de saúde do SUS (IBGE, 2010). Porém, ainda são muitos os
problemas relacionados à saúde: nem toda população consegue ter acesso rápido
aos atendimentos pela equipe multiprofissional, ocorre dificuldade na aquisição dos
medicamentos e quando necessário há poucos leitos. A produção de estudos e
pesquisas voltados para essa problemática é de extrema necessidade. O presente
estudo é um trabalho pioneiro na região metropolitana de Belém, no que diz
respeito a avaliação dos idosos diabéticos cadastrados nas estratégias de saúde
da família.
Houveram alguns contratempos na coleta, como a disponibilidade dos idosos
em participar da pesquisa e o deslocamento até a residência de cada idoso. Os
dados foram coletados em 05 das 06 ESF do distrito DAGUA, ficando fora somente
a estratégia da ilha do Combú, devido ao fato dessa estratégia ter um número
muito pequeno de idosos diabéticos (14) e por somente ter acesso de barco as
residências dos mesmos.
Em todas as ESF um dia da semana é destinado ao programa HIPERDIA,
com a apresentação de palestras e esclarecimento de dúvidas dos pacientes.
Entretanto poucos ou nenhum dos idosos compareciam nas unidades neste dia.
Situação considerada preocupante, pois os idosos se limitam a somente
comparecer as consultas, que aconteciam geralmente a cada 02 ou 03 meses.
Essa programação das unidades é uma forma de acompanhamento do tratamento
dos idosos.
57
5.1.
Caracterização dos portadores de Diabetes Mellitus segundo as
variáveis sociodemográficas
O estudo foi composto de 113 idosos com 51,3% na faixa etária de 61 à 70
anos idade, em sua maioria mulheres (66,4%), casados (51,3%) e aposentados
(71,7%) (Tabela 01). A prevalência do diabetes no Brasil apresenta percentuais
iguais para ambos os sexos (MALERBI, FRANCO, 1992). Porém, nos estudos de
Viegas Pereira (2006) e de Tavares (2007), foi encontrada predominância do sexo
feminino em idosos diabéticos, semelhante aos resultados obtidos no presente
estudo. Assim como na pesquisa de Borba et al (2013), em Pernambuco, que
também avaliou a adesão à terapêutica medicamentosa de idosos diabéticos, 73,8%
da amostra foi composta por mulheres.
A maior frequência de mulheres diabéticas pode ser justificada geralmente
por que este gênero tem maior atenção com o surgimento de problemas de saúde,
mais consciência de seus sintomas e fazem uso mais constante dos serviços de
saúde do que os homens. Alguns fatores buscam explicar a diferença entre os sexos
a favor das mulheres tais como: a proteção cardiovascular dada pelo estrógeno,
maiores taxas de mortalidade por causas externa entre os homens, menor consumo
de tabaco e álcool entre elas (SANTOS et al, 2010; BORBA et al, 2013).
No que se refere ao nível de escolaridade 46,9% estudaram até o ensino
fundamental I e, apenas 11,5% possuem ensino médio completo. Destaca-se que os
analfabetos representaram 9,7% (Tabela 01). O baixo índice de escolaridade
corrobora com os resultados encontrados na literatura (CARVALHO et al, 2012,
ROSENDO, 2012; BORBA et al, 2013; RAMOS et al, 2015).
O Ministério da Saúde realizou um levantamento em 26 capitais e no Distrito
Federal, o qual demostrou que o diabetes é morbidade mais comum em pessoas
que estudam menos: 3,7% dos brasileiros que têm mais de 12 anos de estudo
declaram ser diabéticos, enquanto 7,5% dos que têm até oito anos de escolaridade
dizem ter a doença. O diagnóstico da doença também aumenta conforme a idade da
população, já que o diabetes chega a atingir 21,6% dos idosos (maiores de 65 anos)
e apenas 0,6% das pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2012).
58
Tabela 01: Caraterização de idosos diabéticos quanto às variáveis socioeconômicas,
de hábitos de saúde e problemas.
Variáveis
Categorias
fa
%
Sexo
Feminino
Masculino
61 a 70 anos
> 70 anos
Branco
Indígena
Pardo
Negro
75
38
58
55
43
8
44
18
66.4
33.6
51.3
48.7
38.1
7.1
38.9
15.9
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Analfabeto
Até ensino fundamental I
Até ensino fundamental II
Ensino médio e superior
16
58
7
32
11
53
36
13
14.2
51.3
6.2
28.3
9.7
46.9
31.9
11.5
Ocupação
Autônomo/trabalhador
Desempregado
Do lar
Aposentado/pensionista/benefício
17
3
12
81
15.0
2.7
10.6
71.7
Acesso de medicamentos
Posto
Comunitária
Ambos
Sim
Não
Sim
Não
Às vezes
31
59
23
83
30
19
78
16
27.4
52.2
20.4
73.5
26.5
16.8
69.0
14.2
Sim
Não
Às vezes
Usa
Já usou
Nunca usou
Sim
Não
Sim
54
18
41
14
49
50
77
36
44
47.8
15.9
36.3
12.4
43.4
44.2
68.1
31.9
38.9
Não
Sim
Não
69
43
70
61.1
38.1
61.9
Total
113
100.0
Faixa etária
Grupo étnico
Estado civil
Escolaridade
Condições para a compra
Atividade física
Controle da dieta
Uso de Álcool
Hipertensão arterial sistêmica
Problemas reumatológicos
Artrite
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em percentual.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
59
Com
relação
ao
local
de
aquisição
dos
medicamentos
houve
predominância na retirada dos medicamentos nas redes de farmácias comunitárias
(52,2%) credenciadas para dispensação de medicamentos gratuitos de uso continuo
do Programa Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006)
destacando que 20,3% dos idosos retiram seus medicamentos tanto no posto de
saúde como na farmácia comunitária. Em adição 73,4% dos idosos informaram que
tem condições de comprar os seus medicamentos, na impossibilidade de receber
gratuitamente, mesmo com a baixa renda familiar mensal, já que a maioria dos
idosos relatou ser aposentado (Tabela 01).
Sabe-se que o acesso ao local de retirada dos medicamentos é um fator
importante para adesão, o contratempo em adquirir os medicamentos nos postos de
saúde foi relatada por grande parcela dos entrevistados. A falta de medicamentos
nas Unidades Básicas de Saúde foi o principal motivo identificado para esta
dificuldade, sendo a justificativa para que a aquisição dos medicamentos
(dispensados gratuitamente) tenha sido em maior frequência nas farmácias
comunitárias.
Este achado discorda com o que foi encontrado por Lima-Costa et al
(2003), na avaliação de idosos residentes no município de Bambuí (MG) e na
pesquisa realizada por Borba et al (2013) em que 47,6% dos idosos diabéticos
atendidos pelo SUS em Pernambuco faziam aquisição dos medicamentos nos
postos de saúde.
No estudo de Carvalho et al (2012), que avaliou a adesão de pacientes
cadastrados no programa HIPERDIA no município de Teresina (PI), utilizando os
Teste de Batalla e Morisk-Green, foi observado que a maioria dos entrevistados
desconhecia a maneira correta de usar os medicamentos, 223 (55,75%) não sabiam
o nome do medicamento usado, 291 (72,75%) a dose administrada, 26 (6,5%) o
intervalo e 293 (73,25%) não sabiam dizer até quando iriam tomá-los. Este
desconhecimento dos efeitos adversos dos medicamentos se reflete em problemas
no tratamento das doenças que vão desde falhas terapêuticas até ao abandono do
uso dos medicamentos, devido às dificuldades encontradas e pela assintomatologia
e cronicidade das doenças. Os efeitos colaterais dos medicamentos reduzem em
sete vezes as chances dos usuários aderirem ao tratamento (CINTRA et al, 2010).
O farmacêutico tem papel fundamental na elaboração de estratégias que
auxiliem o paciente no entendimento da terapêutica recomendada para sua
60
patologia, o profissional deve estar atento às dificuldades que o idoso pode ter para
entender e seguir as orientações fornecidas para o controle glicêmico. A não
disponibilidade da assistência farmacêutica completa, isto é, não ter acesso ou têm
de forma limitada, influencia na subutilização dos medicamentos prescritos entre os
idosos. Este fato é ainda mais agravante nesta faixa etária, já que com o
envelhecimento aumenta a prevalência de doenças crônicas e as necessidades por
cuidados de saúde, entre elas o consumo de fármacos (BORBA et al, 2013).
Quanto ao fato de fazer dieta observou-se que 47,7% dos idosos diabéticos
informaram ter mudado seus hábitos alimentares com a intenção de reduzir seus
níveis glicêmicos junto ao tratamento medicamentoso. Em relação ao uso de bebida
alcoólica 44,2% relataram que não fazem uso e que nunca beberam e somente
12,4% mesmo sabendo que não é recomendado a ingestão fazem o uso de bebida
alcoólica. No que se refere a mudança no estilo de vida 69% dos idosos declararam
ser sedentários (não praticam nenhuma atividade física) e 31% praticam ou fazem
algumas vezes. Esses dados corroboram com os que foram encontrados por
Rosendo et al (2012) na Paraíba com pacientes diabéticos atendidos no PSF, em se
tratando da prática de alguma atividade física 44% dos pacientes relataram fazer
caminhada, enquanto 56% não realizam nenhum tipo de atividade física diária ou
regular para favorecer o seu estado geral de saúde (Tabela 01).
Dalcegio et al (2009), encontraram também alguns dados semelhantes em
sua pesquisa com pacientes diabéticos atendidos nos ambulatórios do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC), em
Florianópolis (SC), quanto aos hábitos de vida, onde 38,9% relataram realizar
atividade física regularmente, 50% realizam dieta com restrição de carboidratos,
27,8% faziam uso atual de álcool e 11,1% eram fumantes no período da pesquisa. A
tomada de consciência sobre mudar o estilo de vida é um fator importante para a
melhoria na condição de saúde do paciente, uma vez que ao dispor de uma DCNT o
paciente deve se adequar a essa situação para ter uma melhor QVRS, o que não foi
observado nos idosos nesse estudo.
Com relação à análise da presença de doenças associadas, 87,6% relataram
ter pelo menos 02 comorbidades, na qual a mais citada foi a HAS presente em
68,1%, seguido de problemas reumatológicos (38,9%) e artrite (38%) (Tabela 01).
No Brasil a literatura indica a presença de pelo menos uma condição clínica crônica
61
associada em pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (LIMA-COSTA et al,
2003; DALCEGIO et al, 2009; CINTRA et al, 2010; RAMOS et al, 2015).
Faria et al. (2013) em seu estudo realizado na região sudeste do Brasil, que
avaliou
fatores
associados
à
adesão
ao
tratamento
de
pacientes
com
diabetes mellitus, encontrou resultados similares, onde as principais comorbidades
identificadas foram: hipertensão arterial (81,3%) e dislipidemia (32,4%) e as
complicações crônicas: retinopatia (37,8%) e cardiopatia (20,3%).
De forma semelhante, a maioria dos idosos deste estudo revelaram a
presença de pelo menos uma condição clínica associada, além da diabetes. A alta
proporção da HAS era esperada, tendo em vista que esta patologia crônica é
comum nas faixas etárias mais elevadas. A hipertensão, na maioria das pessoas
idosas é assintomática, tornando a mensuração da pressão arterial imprescindível
para o correto diagnóstico. Os sintomas que levam à suspeita de um paciente
comprometido são dificuldade na respiração após qualquer esforço e predisposição
a angina pelo esforço, palpitação e dor de cabeça. Após os 40 anos é importante
fazer exames periodicamente, pois as comorbidades na terceira idade são geradas
pela má qualidade nos hábitos de vida na fase jovem e adulta. (IBGE, 2000; LESSA,
2004; PINELLI et al, 2005; TEIXEIRA, 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2007; MORIGUCHI, 2008).
No que diz respeito ao consumo de medicamentos 54,8% dos idosos fazem
uso de 2 a 3 medicamentos, nos quais os mais prevalentes foram o cloridato de
metformina (59,3%) e a glibenclamida (57,5%) (Tabela 02). Todos os idosos
entrevistados informaram utilizar pelo menos um medicamento e, por apresentarem
outras patologias acabam por fazer uso de um número maior. Cintra et al (2010),
encontrou em sua pesquisa desenvolvida no Hospital das Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp/SP), um total de medicamentos em uso contínuo
pelos entrevistados com variação entre 01 e 12, com média de 4,5 (± 2,4; mediana:
4,0) medicamentos por idoso. Grande parte dos entrevistados (70,3%) referiu utilizálos sem auxílio ou supervisão. De forma equilibrada, 16,4% e 13,3% dos idosos
informaram que o uso de medicamentos era feito sob supervisão ou administrado
por outra pessoa, respectivamente.
A quantidade diária de medicamentos a ser consumida pode originar erros na
sua administração, particularmente entre os idosos, em função da utilização de
vários comprimidos ao dia em horários distintos podendo ser dificultado pelo
62
esquecimento, trabalho e déficit cognitivo (DONNA, 2002). Cuentro (2013) em seu
trabalho, avaliou a utilização e segurança de medicamentos em pacientes idosos
internados em hospital universitário, observou que ocorreu maior frequência da
polifarmácia quanto ao maior número de diagnósticos (51,2%) e ao maior tempo de
internação (54,1%). O desfecho clínico desses pacientes idosos, foi que 16,3% com
presença de polifarmácia evoluíram a óbito.
Isto remete à necessidade de
orientação profissional de forma diferenciada aos idosos, especialmente na
prescrição das orientações terapêuticas (TEIXEIRA, 2005; MARTÍNEZ, 2008).
Segundo as diretrizes da SBD (2015), as principais sociedades científicas
internacionais (Associação Americana de Diabetes [ADA] e European Association for
the Study of Diabetes [EASD]) não estabelecem metas glicêmicas específicas para a
população idosa, entretanto a maioria dos autores recomenda a individualização do
tratamento, levando-se em consideração diferentes fatores, como presença ou não
de comorbidades que limitam a qualidade e/ou quantidade de potenciais anos de
vida e idade muito avançada, na qual o tempo de hiperglicemia não seria suficiente
para desenvolver as complicações crônicas do diabetes.
Limitações econômicas, sociais ou familiares podem inviabilizar esquemas
terapêuticos complexos necessários para o controle glicêmico ideal. Como
tratamento inicial as sociedades cientificas recomendam a metformina associada a
mudanças nos hábitos de vida (dieta e atividades físicas com redução do peso)
como primeira medida a se utilizar no tratamento do diabetes.
63
Tabela 02: Frequência de medicamentos para controle de
diabetes mellitus e de hipertensão arterial dos
idosos diabéticos.
Medicamentos
Insulina
Sim
Não
Glibenclamida
Sim
Não
Metformina
Sim
Não
Outros medicamentos para diabetes*
Sim
Não
Anlodipino
Sim
Não
Aradois
Sim
Não
Atenolol
Sim
Não
Captopril
Sim
Não
Losartana
Sim
Não
Nifendipino
Sim
Não
Outros medicamentos sobre hipertensão
Sim
Não
Total
fa
%
10
103
8.8
91.2
65
48
57.5
42.5
67
46
59.3
40.7
3
110
2.7
97.3
4
109
3.5
96.5
1
112
0.9
99.1
4
109
3.5
96.5
14
99
12.4
87.6
34
79
30.1
69.9
2
111
1.8
98.2
8
105
113
7.1
92.9
100.0
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em
percentual.
*Medicamentos éticos que não atendidos pelo programa Aqui
tem Farmácia Popular
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
As análises dos dados obtidos acerca da avaliação dos pacientes quanto a
equipe de profissionais da saúde, são muito relevantes no que tange a uma alta
porcentagem (91,1%) dos pacientes que sempre confiavam nos médicos e (94,7%)
nos profissionais da equipe do ESF (Tabela 03). É possível verificar nos dados a
satisfação dos pacientes com os serviços de saúde das unidades, o que pode ter
relação direta com o cumprimento das recomendações de todos os profissionais
64
estarem envolvidos com a terapêutica do paciente. Contudo faz-se necessário
ampliar a disponibilidade e a qualidade do atendimento relacionados aos serviços de
saúde devido aumento na demanda, bem como, oportunizar ações educativas e
promocionais de saúde em consonância com as potencialidades e necessidades do
idoso (TAVARES, 2011).
Tabela 03: Características dos idosos diabéticos segundo
relacionamento com a equipe de saúde e
orientação no uso correto do medicamento.
Características
Fa
Confia no médico
Sim
103
Não
7
Às vezes
3
Confia na equipe de saúde
Sim
107
Não
1
Às vezes
5
Entende as explicações sobre a doença
Sim
77
Não
21
Às vezes
15
Esclarece suas dúvidas sobre a doença
Sim
80
Não
18
Às vezes
15
Orientação do Médico sobre uso de medicamentos
Sim
105
Não
8
Orientação do Enfermeiro sobre uso de medicamentos
Sim
24
Não
89
Orientação do Farmacêutico sobre uso de medicamentos
Sim
33
Não
80
Orientação do ACS sobre uso de medicamentos
Sim
10
Não
103
Dificuldade em medir a glicemia
Sim
54
Não
18
Às vezes
41
Satisfação no atendimento da equipe
Sim
76
Não
15
Às vezes
22
Total
113
%
91.1
6.2
2.7
94.7
0.9
4.4
68.1
18.6
13.3
70.8
15.9
13.3
92.9
7.1
21.2
78.8
29.2
70.8
8.8
91.2
47.8
15.9
36.3
67.2
13.3
19.5
100.0
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em
percentual.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
65
Em relação à opinião do idoso quanto aos esclarecimentos sobre sua doença
durante o atendimento nas unidades de saúde e o entendimento das explicações
sobre o que é o Diabetes, 68,1% dos idosos informaram ter compreendido as
explicações que foram dadas durante as consultas (Tabela 03). Observa-se que
70,8% dos pacientes relataram sempre solicitar esclarecimento quando apresentam
alguma dúvida em relação às explicações sobre o diabetes feita pelos profissionais
da equipe de saúde e 15,9% informaram que não gostam de perguntar quando não
entendem as explicações. Houve destaque para o médico como profissional citado
como orientador do tratamento para diabetes em todas as respostas, sendo
informando por 29,2% dos pacientes que os farmacêuticos, também, fazem
orientação.
O desenvolvimento de programas de Atenção Farmacêutica (Segmento
Farmacêutico) para pacientes com DM tem se destacado como uma estratégia no
cuidado ao diabético. Estes cuidados conduzem a uma redução da glicemia e da
pressão sanguínea, evidenciando que o envolvimento do farmacêutico contribui,
também, para a melhoria nos níveis de hemoglobina glicada, além de auxiliar na
redução do risco de aparecimento de comorbidades associadas (SANTOS et al,
2010).
66
5.2.
Caracterização dos portadores de diabetes segundo a adesão associado
as variáveis sociodemográficas
Os resultados obtidos nos TMG e TB não condizem com os altos percentuais
encontrados nos questionamentos sobre seguir as recomendações dos profissionais
de saúde e sobre o esclarecimento das explicações e dúvidas da doença e da
terapêutica, obtidos nos fatores relacionados aos serviços de saúde e aos
profissionais.
A Tabela 04 apresenta os resultados da análise do nível de adesão ao
tratamento medicamentoso observado no TMG e no TB para os idosos diabéticos
entrevistados, onde foi observado que a maioria dos idosos (85,5%) não apresentam
adesão ao tratamento, sendo que o maior índice de não adesão foi demostrando
quando aplicado o TB (83,2%).
A literatura acerca do uso de medicamentos na população idosa aponta
muitos elementos, em especial os efeitos colaterais, que influenciam a não adesão
ao tratamento medicamentoso, revelando o medo de apresentar problemas
causados pelas medicações como um dos pontos para o não cumprimento da
prescrição médica (TEXEIRA,1988; FIRMO, 2004; VASCONCELOS, 2005). Ramos
et al (2015), utilizou em sua pesquisa o TMG para avaliar a adesão ao tratamento
medicamentoso com idosos cadastrados no Programa HIPERDIA no município de
Caxias (MA), o acesso aos idosos cadastrados se deu através das equipes que
compõem a ESF. Os resultados apontaram que 67,3% dos pacientes do estudo
foram classificados como não aderentes ao tratamento medicamentoso.
Em uma pesquisa realizada por Rocha et al (2008), com 466 idosos no
Município de Porto Alegre (RS) foi encontrado que 62,9% dos idosos da comunidade
eram não aderentes ao tratamento da HAS. Em uma revisão sistemática da literatura
realizada por Henriques (2006) sobre o tema, foi evidenciado média de 50% de
adesão entre idosos, variando de acordo com o método de avaliação e definição de
adesão. Outras razões que influenciam a não adesão é a falta de informações sobre
a terapêutica, o alto custo dos medicamentos e o número elevado do uso de
medicamentos (polifarmácia), além das características socioeconômicas (CINTRA,
2010).
Borba et al (2013), em seu trabalho ao investigar a adesão à terapêutica
medicamentosa em idosos diabéticos, utilizando como instrumento o Teste de
67
Batalla, encontrou 93,7% que referiram utilizar regularmente o medicamento
prescrito para o controle do diabetes. No entanto, apenas 52,4% dos entrevistados
puderam ser considerados aderentes segundo o conhecimento sobre o diabetes.
Tabela 04: Nível de adesão ao tratamento medicamentoso
observado no teste Morisky e Green e no
teste de Batalla em idosos diabéticos.
Nível de adesão
fa
%
Não aderente
77
68.1
Aderente
36
31.9
Não aderente
94
83.2
Aderente
19
16.8
113
100.0
Teste Morisky e Green
Teste de Batalla
Total
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
A Tabela 05 revela a análise individual das 04 (quatro) perguntas que
compõem
o
TMG,
demostrando
assim,
que
os
pacientes
apresentam
comportamentos diferentes de adesão e não adesão ao tratamento medicamentoso
antidiabético de acordo com o tipo de pergunta respondida. A partir dos critérios de
avaliação da adesão que foram adotados neste trabalho, observou-se que 36 idosos
(Tabela 04) responderam “NÃO” para todas as perguntas do TMG, fazendo um total
de 31,9% de idosos aderentes a farmacoterapia para DM. Dalcegio et al (2009) ao
investigar a adesão aos antidiabéticos orais, encontrou que metade dos pacientes
(50%) apresentou adesão adequada aos medicamentos antidiabéticos orais.
Nos estudos de Tretin et al (2009), com idosos diabéticos, 98 responderam ao
questionário de adesão de Morisky, da população estudada, 28,6% eram aderentes
e 71,4% não aderentes. Faria et al, (2013) utilizou questionário, por meio de escala
ordinal para quantificar os pacientes como aderentes ou não. Os resultados obtidos
mostraram que 357 (84,4%) pacientes apresentaram adesão ao tratamento
medicamentoso. A partir de dados encontrados na literatura, é possível observar que
ocorre uma grande variação nos percentuais de indivíduos (não obrigatoriamente
idosos) aderentes ou não a terapia medicamentosa para o diabetes, essa variação
pode estar associada ao instrumento de avaliação utilizado, entre outros fatores
particulares em cada pesquisa.
68
O não cumprimento das orientações terapêuticas pode, em alguns casos,
estar associado à manifestação de reações indesejáveis, que nem sempre são
compreendidas pelo paciente. Nesta pesquisa destaca-se que a 69,9% dos idosos
relatou não deixar de fazer uso do medicamento quando se sentem mal, somente
quando recebem orientação médica, e nem quando se sentem bem.
Tabela 05: Questionamentos sobre a adesão ao tratamento medicamentoso pelo
teste Morisky e Green em idosos diabéticos.
Sim
Questionamento (às vezes)
Não
Total
Esquece de usar os remédios
Fa
54
%
47.8
fa
59
%
52.2
Fa
113
%
100.0
Descuida-se com horários dos remédios
45
39.8
68
60.2
113
100.0
Deixa de tomar remédios quando se sente bem
34
30.1
79
69.9
113
100.0
Deixa de tomar remédios quando se sente mal
34
30.1
79
69.9
113
100.0
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em percentual.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
Para a pergunta “deixar de tomar o remédio por se sentir mal” foi um dos
principais motivo da resposta “NÃO” (indicador de adesão) seguida da pergunta
“deixar de tomar o remédio por se sentir bem”, conforme preconizado pelo TMG,
sendo as duas relacionadas com o maior número de indivíduos diabéticos
controlados, demonstra uma atitude em relação a uma tomada de decisão quanto a
terapêutica utilizada pelo idoso (Tabela 05).
Observa-se também que a maioria dos idosos afirmou ter cuidado extremo
com o horário e a forma de tomar os medicamentos (60,2%) (Tabela 05). Esta
informação é semelhante com
outras
investigações
em
população idosa
(BERTI,1999; WERLANG, 2001; TEIXEIRA, 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2013) e em adultos não necessariamente idosos (MOREIRA, 2004;
GUEDES, 2005;) conforme literatura, a adesão pode variar de 14 a 94,7%,
dependendo do método de detecção utilizado, das faixas etárias analisadas e das
patologias pesquisadas.
Assim, como neste em outros trabalhos não foi evidenciado diferença
significativa entre o sexo e a adesão. Em adição, estudo que avalia o grau de
cumprimento da prescrição médica em idosos, considerando os motivos e
características biossociais, somente 8,4% da amostra cumpriam totalmente o
tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2007).
69
Na Tabela 06 pode ser observado que a maioria (61.1%) dos idosos não sabe
definir o que é o diabetes e, 32.7% se limitaram em responder que sabem apenas
que se trata de haver “muito açúcar no sangue”, mas não sabendo quais as causas
desse excesso de glicose. Mesmo já tendo recebido explicações pelos profissionais
de saúde sobre o que é a doença, suas complicações, cuidados necessários e
tratamento, 15.9% dos idosos responderam que o diabetes não é uma doença para
vida toda, mas a maioria 84.1% estão conscientes de que a doença ainda não
possui cura.
Observa-se, também, que 63.7% não souberam informar pelo menos dois
órgãos que podem ser afetados em decorrência de agravos da doença. Os 41
idosos que responderam, mencionando um ou dois órgãos prejudicados, deixaram
transparecer que a informação passada se dava pelo fato de já terem apresentado
ou por estar em tratamento de alguma patologia em um dos órgãos citados. É
importante ressaltar que 98.2% dos idosos estão conscientes de que a doença pode
ser controlada através de uma dieta adequado e o uso correto dos medicamentos
(Tabela 06).
Tabela
06:
Questionamentos sobre a adesão ao
tratamento medicamentoso pelo teste de
Batalla em idosos diabéticos.
Questionamentos
Definição de Diabetes
Açúcar no sangue
Doença perigosa
Doença hereditária
Não sabe
Doença para o restante da vida
Sabe
Não sabe
Controle da doença por dieta/medicamento
Sabe
Não sabe
Sabe ao menos 2 órgãos afetados
por descontrole da doença
Sabe
Não sabe
Total
fa
%
37
5
2
69
32.7
4.4
1.8
61.1
95
18
84.1
15.9
111
2
98.2
1.8
41
72
113
36.3
63.7
100.0
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em
percentual.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
70
Nesta investigação não foi encontrada associação entre o uso incorreto dos
medicamentos e as variáveis: idade, sexo, estado civil. Entretanto, foi observado
forte associação entre a não adesão e a baixa escolaridade e o arranjo familiar:
"mora sozinho". A participação da família ou do cuidador se mostra importante para
o cumprimento da terapêutica pelos idosos, uma vez que, com o avançar da idade
eles tendem a se tornar mais dependentes devido aos déficits cognitivo e fisiológico,
característicos dessa fase da vida (TEXEIRA, 1988; BERNSTEIN, 1989; FIRMO,
2004; VASCONCELOS, 2005). Verificou-se que, quanto maior a escolaridade a
influencia na adesão ocorre de forma positiva, o que condiz com o encontrado na
literatura (MARDBY, 2007).
A Tabela 07 relacionam os níveis de adesão com todas as variáveis
categóricas avaliadas neste estudo. No TMG houve uma variável (acesso aos
medicamentos) que foi significativa (p<0.05). Encontrando-se uma maior frequência
de acesso ao medicamento em farmácias comunitária pelos idosos que
apresentaram adesão (69.4%) em relação aos não aderentes (44.2%). Observando
no TB, houve duas variáveis significativas (p<0.05): Faixa etária e Escolaridade. Nos
pacientes não aderentes ocorreu uma maior frequência de idosos (54.3%) e, houve
maior frequência nas categorias de mais escolarizados nos indivíduos aderentes
(31.6% com ensino médio ou superior).
Quando relacionado os níveis de adesão com as variáveis que avaliaram a
saúde dos idosos (Tabela 08), ao correlacionar o TMG com a pratica de atividade
física, os idosos classificados como não aderentes apresentaram uma maior
frequência em realizar as atividades (20.8%) em contrapartida aos que são
aderentes (8.3%) (p<0.05). Não ocorreu diferença significativa na associação do TB
com as variáveis de saúde do idoso.
71
Tabela 07: Nível de adesão ao tratamento medicamentoso medido pelo Teste de Morisky e Green e pelo Teste de Batalla
de acordo com variáveis categóricas dos idosos diabéticos (Continua)
Variáveis
Sexo
Feminino
Masculino
Nível de adesão ao tratamento pelo
Teste de Morisky e Green
Não aderente
Aderente
fa
%
fa
%
51
26
66.2
33.8
24
12
66.7
33.3
Faixa etária
61 a 70 anos
> 70 anos
38
39
49.4
50.6
20
16
55.6
44.4
Estado civil
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
11
42
5
19
14.3
54.5
6.5
24.7
5
16
2
13
13.9
44.4
5.6
36.1
Escolaridade
Analfabeto
Até ensino fundamental I
Até ensino fundamental II
Ensino médio e superior
7
37
23
10
9.1
48.1
29.9
13.0
4
16
13
3
11.1
44.4
36.1
8.3
Acesso de medicamentos
Posto
Comunitária
Ambos
25
34
18
32.5
44.2
23.4
6
25
5
16.7
69.4
13.9
Condições para a compra
Sim
Não
54
23
70.1
29.9
29
7
80.6
19.4
Total
77
100.0
36
100.0
p
0.964
Nível de adesão ao tratamento pelo
Teste de Batalla
Não aderente
Aderente
Fa
%
Fa
%
60
34
63.8
36.2
15
4
78.9
21.1
43
51
45.7
54.3
15
4
78.9
21.1
14
49
4
27
14.9
52.1
4.3
28.7
2
9
3
5
10.5
47.4
15.8
26.3
11
47
29
7
11.7
50.0
30.9
7.4
0
6
7
6
0.0
31.6
36.8
31.6
27
49
18
28.7
52.1
19.1
4
10
5
21.1
52.6
26.3
69
25
73.4
26.6
14
5
73.7
26.3
94
100.0
19
100.0
0.539
0.008
0.646
0.295
0.818
0.009
0.042
0.691
0.242
-------
0.980
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em percentual. p=probabilidade calculada pelo teste Qui-quadrado.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
p
0.203
-------
72
Tabela 08: Nível de adesão ao tratamento medicamentoso medido pelo Teste de Morisky e Green e pelo Teste de Batalla
de acordo com variáveis de saúde dos idosos diabéticos (Final).
Variáveis
Atividade física
Sim
Não
Às vezes
Nível de adesão ao tratamento pelo
Teste de Morisky e Green
Não aderente
Aderente
Fa
%
fa
%
16
54
7
20.8
70.1
9.1
3
24
9
8.3
66.7
25.0
Controle da dieta
Sim
Não
Às vezes
37
12
28
48.1
15.6
36.4
17
6
13
47.2
16.7
36.1
Hipertensão arterial sistêmica
Sim
Não
52
25
67.5
32.5
25
11
69.4
30.6
Problemas reumatológicos
Sim
Não
26
51
33.8
66.2
18
18
50.0
50.0
Artrite
Sim
Não
26
51
33.8
66.2
17
19
47.2
52.8
Total
77
100.0
36
100.0
p
0.035
Nível de adesão ao tratamento pelo
Teste de Batalla
Não aderente
Aderente
fa
%
fa
%
14
67
13
14.9
71.3
13.8
5
11
3
26.3
57.9
15.8
42
16
36
44.7
17.0
38.3
12
2
5
63.2
10.5
26.3
61
33
64.9
35.1
16
3
84.2
15.8
38
56
40.4
59.6
6
13
31.6
68.4
37
57
39.4
60.6
6
13
31.6
68.4
94
100.0
19
100.0
0.989
0.337
0.839
0.099
0.099
0.471
0.170
-------
0.524
Legenda: fa = frequência absoluta. % = frequência relativa em percentual. p=probabilidade calculada pelo teste Qui-quadrado.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
p
0.432
-------
73
5.3.
Caracterização dos portadores de DM fatores relacionados à QV
Ao
ser
comparada
as
médias
dos
dados
entre
cada
variável
sociodemográfica, por exemplo, o escore do DQOL entre o sexo feminino (2.73) e o
masculino (2.87), observou-se que nenhuma das variáveis analisadas apresentou
significância estatística, ou seja, diferença entre variáveis distintas (Tabela 09).
Porém pesquisadores têm demostrado que a QV quando relacionada ao sexo, é
melhor entre os homens diabéticos do que entre as mulheres com diabetes
(WANDELL, 2005).
No estudo de Frota et al (2015), que avaliou fatores relacionados à qualidade
de vida de pacientes diabéticos, em uma unidade de Atenção Primária a Saúde no
município de Fortaleza (CE), utilizando o mesmo instrumento de pesquisa (DQOLBrasil) também encontrou que os homens possuem melhor qualidade de vida
(72,8+2,8), do que as mulheres (64,9+1,8), houve diferença significativa na
pontuação da escala total e domínio satisfação.
A literatura relata que os homens são mais satisfeitos com o regime de
tratamento da doença, a sobrecarga da patologia é menor, faltam menos ao trabalho
e frequentam mais as atividades de lazer, quando comparados as mulheres. Estes
resultados, sobre a vantagem dos homens diabéticos em relação às mulheres
diabéticas na QVRS reforçam a necessidade de controle por sexo em pesquisas
sobre o tema (RUBIN, PEYROT, 1999, WANDELL, 2005; MIRANZI et al,2008).
Campolina et al (2011), avaliou em sua pesquisa o impacto das doenças crônicas na
qualidade de vida de idosos de uma comunidade em São Paulo, utilizando como
instrumento de pesquisa um questionário de 36 questões (SF-36), encontrou quase
50% dos homens que referiram um estado de saúde muito ou um pouco melhor,
número que não chegou a 15% no grupo das mulheres.
Quando avaliada a média do DQOL em relação ao nível de escolaridade é
possível observar que os idosos analfabetos apresentaram maior escore (2.89),
seguido dos idosos com até o ensino fundamental I (2.81). Estes resultados
corroboram com os dados obtidos no estudo de Frota et al.(2015) que também
encontrou, em relação à escolaridade, evidências que apontam que os analfabetos
apresentam melhor qualidade de vida (72,5+2,7).
Leite et al (2015), em sua pesquisa que avaliaram o impacto do diabetes
mellitus na qualidade de vida de idosos, atendidos em 11 Unidades Básicas de
Saúde da Família (UBASF) localizadas na zona urbana do município de Cajazeiras
74
(PB), observou em relação a escolaridade, que os resultados revelaram que 60,3%
dos entrevistados possuem apenas o ensino fundamental. A pesquisa mostrou ainda
uma taxa considerável de analfabetismo (32,4%), e que estes idosos apresentaram
boa QVRS.
Estes resultados são determinantes para o sucesso da abordagem preventiva
do diabetes neste público, pois a baixa escolaridade pode dificultar o acesso a
informações, trazer menos chances de aprendizado sobre o autocuidado, além de
dificuldades no entendimento das condutas terapêuticas (MIRANZI et al,2008).
Todos estes achados discordaram de outros estudos encontrados na literatura que
relatam que a QV do diabético é associada significativamente com a renda e o nível
de escolaridade. Os diabéticos com maior nível educacional e com maior poder
aquisitivo apresentam maiores pontuações nos domínios dos testes que avaliam a
QV (RUBIN, PEYROT, 1999; WANDELL, 2005).
Sabe-se
que
o
nível
educacional
é
um
indicador
das
condições
socioeconômicas de uma população, e que os indivíduos que hoje são idosos são
reflexo das condições de acesso desigual, pois os mesmos na infância (décadas de
30 a 50) não tiveram acesso à escola ou o mesmo foi restrito a uma parcela
privilegiada da população brasileira. Esse dado merece destaque uma vez que
estudos têm demonstrado que os idosos com nível mais baixo de escolaridade
apresentaram maior probabilidade de apresentarem dependência física, e também é
um fator de risco para as demências (REIS e GLASHAN, 2001; MOREIRA et al,
2003; TAVARES et al, 2008; BELTRAME, 2008).
A presença de maior número de analfabetos entre os idosos diabéticos
também é um dado preocupante uma vez que além dos fatores de risco
mencionados anteriormente o menor nível de escolaridade parece estar associado
diretamente com sintomas depressivos entre os diabéticos, visto que um menor nível
educacional dificulta o entendimento das implicações de uma doença crônica e de
seu tratamento (REIS e GLASHAN, 2001; MOREIRA et al, 2003; TAVARES et al,
2008; BELTRAME, 2008).
A qualidade de vida do idoso compreende a consideração de diversos
critérios de natureza biológica, psicológica e sócio estrutural, pois vários elementos
são apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na terceira idade:
longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo,
competência social, produtividade, eficácia cognitiva, status social, continuidade de
75
papéis familiares e ocupacionais e continuidade de relações informais com amigos
(HEINONEN et al, 2004).
Tabela 09: Valores do DQOL-Brasil segundo variáveis
categóricas dos idosos diabéticos.
Variáveis
Sexo
DQOL-Brasil
̅
s
N
Feminino
75
2.73
0.53
Masculino
38
2.87
0.57
Faixa etária
0.616*
61 a 70 anos
58
2.80
0.58
> 70 anos
55
2.75
0.51
#
Estado civil
0.527
Solteiro
16
2.95
0.42
Casado
58
2.72
0.56
7
2.85
0.60
32
2.76
0.58
Divorciado
Viúvo
#
Escolaridade
0.635
Analfabeto
11
2.89
0.61
Até ensino fundamental I
53
2.81
0.50
Até ensino fundamental II
36
2.68
0.57
Até ensino médio
13
2.81
0.65
#
Acesso de medicamentos
0.352
Posto
31
2.72
0.55
Comunitária
59
2.74
0.60
Ambos
23
2.92
0.36
Condições para a compra
0.659*
Sim
83
2.76
0.52
Não
30
2.81
0.62
113
2.77
0.55
Total
P
0.209*
------
Legenda: n = amostra. ̅ = média. s = desvio padrão. p = probabilidade
#
calculada pelo teste estatístico. *Teste t-student. Análise de Variância.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
Com referência as médias do DQOL entre cada categoria das variáveis que
avaliaram as mudanças de hábitos de vida e a presença de comorbidade (Tabela
10), houve significância estatística somente na variável dieta. As letras sobrescritas
nos valores das médias indicam a diferença pela Análise de Variância (p = 0.006). A
76
média do DQOL em quem realiza dieta (letra “a” – 2.61) é diferente em quem realiza
dieta às vezes (letra “b” – 2.93).
O escore maior dos idosos que realizam dieta “as vezes” pode ser justificado
pela não preocupação desses idosos em limitar sua alimentação, ou seja, por
poderem comer o que gostam, se sentem bem, mesmo que essa alimentação possa
influenciar negativamente os seus níveis glicêmicos. Estes dados corroboram com a
pesquisa de Frota et al (2015), que correlacionou e avaliou a qualidade de vida com
modo de viver, e percebeu que as pessoas com melhor qualidade de vida são
aquelas que não seguem o tratamento adequado do diabetes. Seus resultados
mostram que as pessoas que não praticam atividade física (67,9+1,99), que não
seguem a dieta recomendada pela nutricionista (68,4+1,8) e que não realizam os
cuidados com pés (68,3+2,1) possuem os maiores valores na escala total.
As informações são relevantes, pois mostram que as pessoas que não
praticam atividade física (67,9+1,99), que não seguem a dieta recomendada pela
nutricionista (68,4+1,8) e que não realizam os cuidados com pés (68,3+2,1)
possuem os maiores valores na escala total, possuindo maiores níveis de qualidade
de vida.
É sabido que 87,6% dos idosos entrevistados informaram possuir outra
doença associada ao diabetes. A presença de uma ou mais DCNT associadas –
além do diabetes – comprometem a QV. A importância delas é variável, por
exemplo, o paciente diabético tem pior QV em relação aos hipertensos, e melhor
quando comparado com os pacientes com problemas cárdicos. Estudo acerca da
QV em indivíduos com HAS identificou que o fato de ter uma doença crônica implica
negativamente na sua avaliação geral da QV (ALEY, 2007; TAVARES, 2011).
Em seu estudo Frota et al (2015), encontrou dados que apontaram que a
qualidade de vida dos participantes que possuem outras doenças, além do diabetes
é pior (66,7+1,7). O mesmo foi percebido por Stival et al (2014), em sua pesquisa
sobre fatores associados à qualidade de vida de idosos que frequentam uma
unidade de saúde do Distrito Federal (DF), onde observou quanto às características
clínicas, que a HAS foi a doença mais prevalente, sendo encontrada isoladamente
(42,2%) e associada à diabetes (20,6%). Os idosos que não apresentaram doença
demonstraram melhor QV nos domínios "físico", "psicológico" e "meio ambiente". Os
pacientes com diabetes foram os que apresentaram os piores escores de QV nestes
domínios.
77
Quando feita a avaliação dos valores de DQOL com os resultados
encontrados nos testes de adesão pelo Morisky Green e Batalla não foi encontrada
significância estatística nos valores obtidos (p= 0,461 e p= 0,522 respectivamente).
Porém foi observado neste estudo que a maioria dos idosos não tem adesão a
terapia medicamentosa, e por não apresentar cuidados com sua saúde, esses
fatores acabam por implicar diretamente em sua QV, pois uma vez que surgirem
agravos na doença em virtude dessa não adesão, consequentemente, ocorrerá um
declínio na QV desse idoso.
Um estudo realizado com 762 adultos infectados pelo HIV revelou que o
grupo de pessoas classificadas como não aderentes apresentaram piores resultados
de QV, sendo esta relação significativa em quatro dos seis domínios avaliados pelo
WHOQOL-HIV-Bref (MARGALHO et al,2011). Em outra pesquisa no cenário da
Nigéria, pacientes com esquizofrenia foram investigados, sendo classificados como
aderentes (59,7%) e não aderentes (40,3%) de acordo com o teste de Morisky.
Quando relacionados com a QV, os escores médios do grupo aderente foram
significativamente maiores do que os escores médios do grupo não aderente em
todos os domínios avaliados pelo WHOQOL-BREF (p ≤ 0,001) (ADELUFOSI et al,
2011).
Liberato et al (2014), realizou uma revisão integrativa para investigar as
relações entre adesão ao tratamento e qualidade de vida, em estudos publicados na
literatura científica. Entre um total de 14 artigos analisados, cinco não encontraram
relação significativa entre adesão ao tratamento e qualidade de vida (HOLMES et
al,2007; MARTÍNEZ et al,2008; Wagner et al,2008 COTUGNO et al,2011;
GOREVSKI et al,2013). No entanto, um dos referidos estudos identificou que a
combinação de conhecimento adequado e atitude positiva frente ao tratamento
apresentou relação significativa com todos os domínios da QV avaliados
(MARTÍNEZ et al,2008). Com base nesses resultados evidencia-se a importância de
estimular o conhecimento do paciente sobre seu tratamento, incentivar o mesmo a
expressar suas percepções e explorar fatores psicológicos envolvidos.
78
Tabela 10: Valores do DQOL-Brasil segundo variáveis de saúde dos
idosos diabéticos e do nível de adesão ao tratamento.
Variáveis
Atividade física
N
DQOL-Brasil
̅
s
Sim
19
2.74
0.53
Não
78
2.75
0.56
#
Dieta
0.006
Sim
54
Não
18
Às vezes
41
a
0.54
ab
0.35
b
0.57
2.61
2.94
2.93
*
Hipertensão arterial sistêmica
0.631
Sim
77
2.79
0.53
Não
36
2.74
0.58
*
Problemas reumatológicos
0.411
Sim
44
2.83
0.53
Não
69
2.74
0.56
Artrite
0.343*
Sim
43
2.84
0.53
Não
70
2.74
0.55
Nível
de
adesão
ao
tratamento (Morisky e Green)
Menor adesão
Maior adesão
Nível
de
adesão
tratamento (Batalla)
Aderente
Não aderente
Total
P
0.928*
0.461*
77
2.80
0.52
36
2.72
0.60
ao
0.522*
19
2.70
0.52
94
2.79
0.55
113
2.77
0.55
------
Legenda: n = amostra. ̅ = média. s = desvio padrão. p = probabilidade
#
calculada pelo teste estatístico. *Teste t-student. Análise de Variância.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
79
Quando avaliado os domínios, o escore médio geral obtido foi de 2.77 (IC
95% 2.67-2.88), em relação aos domínios os valores de 3.02 (IC 95% 2.91-3.13)
para satisfação, o impacto com escore 2.65 (IC 95% 2.53-2.76) e para as
preocupações com o diabetes 2.42 (IC 95% 2.28-2.57) (Tabela 11). Esses valores
se assemelham ao encontrado por Brasil et al (2014), em sua pesquisa que avaliou
a qualidade de vida em adultos com diabetes tipo 1 e validade do DQOL-Brasil, que
fazem acompanhamento no ambulatório de diabetes do Hospital de Clínicas, da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba (PR). Encontrou que o escore
médio geral obtido com a aplicação do DQOL-Brasil foi de 2,46 (IC 95% 2,35 - 2,56).
E entre os domínios, a satisfação foi avaliada em 2,63 (IC 95% 2,50-2,75), o impacto
em 2,29 (IC 95% 2,18-2,39), preocupações sociais/vocacionais em 2,37 (IC 95%
2,21- 2,53) e preocupações com o diabetes em 2,72 (IC 95% 2,57-2,87).
Tabela 11: Valores dos domínios do DQOL observados em idosos
diabéticos.
Domínios
̅
Satisfação
3.02
2.91-3.13
0.60
Impacto
2.65
2.53-2.76
0.60
Preocupações
2.42
2.28-2.57
0.75
DQOL-Brasil
2.77
2.67-2.88
0.55
IC95%
S
Legenda: ̅: média. IC95%: Intervalo de confiança de 95%. s: desvio padrão.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
Na Tabela 12 estão as frequências relativas em percentual de algumas
questões dos domínios satisfação, impacto e preocupações relacionadas ao DM é
possível observar que os idosos se sentem parcialmente satisfeitos com sua vida
por terem que conviver com a DM. A percepção desse resultado preocupante está
relacionado, principalmente, à alimentação na qual a maioria (82,4%) se referiu de
médio a nada satisfeito com a flexibilidade na dieta e 53,1% dos entrevistados
informaram que às vezes comem algo que não deveria, quando lhe é oferecido, ao
invés de informar sua doença.
No início do tratamento, o paciente costuma seguir o planejamento alimentar,
porém com o tempo, a grande maioria não consegue manter a disciplina constante,
80
ou por falta de recursos financeiros ou de esforço e aos poucos vai abandonando a
dieta (MOLENA-FERNANDES et al.,2005).
Outro fator importante para baixa satisfação, pode estar relacionado ao
número de comorbidades, associadas ao diabetes, que impactariam no cotidiano
gerando dor ou desconforto e diminuindo ou limitando capacidade de trabalho e
lazer dos idosos. Além disso, as comorbidades podem levar à necessidade do uso
de um número maior de medicamentos e de maior acesso aos serviços de saúde, o
que influência diretamente também na adesão aos tratamentos (FERREIRA et al.,
2014).
A tabela 12 apresenta também a frequência relativa para o domínio
preocupações dos idosos em relação ao diabetes, onde 39.8% informaram que as
vezes sentem receio com a possibilidade de terem desmaio e, 29.2% sempre estão
preocupados com probabilidade de vir a ter alguma complicação decorrente de
agravos da doença.
Tabela 12- Frequência relativa em percentual das questões sobre os domínios do
DQOL-Brasil observados em idosos diabéticos.
Satisfação
Nível de Satisfação (%)
Muito
Bastante
Médio
Pouco
Nada
19.5
26.5
37.2
12.4
4.4
Flexibilidade na dieta
2.7
15.0
42.5
25.7
14.2
Conhecimento sobre a doença
0.0
7.1
34.5
38.1
20.4
16.8
32.7
38.9
8.0
3.5
Tratamento atual
Vida em geral
Frequência do Impacto (%)
Impacto
Quase
Às
Quase
Nunca
Nunca
vezes
Sempre
Sempre
17.9
17.9
45.5
11.6
7.1
Restrição por causa da dieta
8.0
8.0
38.9
20.4
24.8
Come algo que não deveria
8.8
18.6
53.1
9.7
9.7
19.5
13.3
27.4
15.0
24.8
Noite de sono ruim
Incômodo por ter diabetes
Frequência de Preocupação (%)
Preocupação
Virá a desmaiar
Terá complicações
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
Quase
Às
Quase
Nunca
Nunca
vezes
Sempre
Sempre
31.9
11.5
38.9
11,5
5.3
9.7
17.7
22.1
21.2
29.2
81
.
Na Tabela 13 é apresentado os valores dos Coeficientes de Correlação de
Spearman entre os domínios de DQOL-Brasil, onde a maior correlação foi entre os
domínios satisfação e impactos (0.667), sendo significativo, ou seja, há correlação
positiva (diretamente proporcional) entre estes dois domínios.
Tabela 13: Valores dos Coeficientes de Correlação de Spearman entre os domínios
do DQOL observados em idosos diabéticos.
Domínios
Satisfação
Impacto
Preocupações
DQOL-Brasil
Satisfação
1.000
0.667*
0.493*
0.859*
Impacto
0.667*
1.000
0.627*
0.930*
Preocupações
0.493*
0.627*
1.000
0.727*
DQOL-Brasil
0.859*
0.930*
0.727*
1.000
Legenda: *p < 0.01.
Fonte: Pesquisa de campo (2015).
Os domínios do DQOL-Brasil, quando confrontados entre si e com o escore
global do questionário, apresentaram todas as correlações significativas (p< 0.01).
Deve-se frisar que nenhuma correlação instituída entre os escores de domínios
distintos foi maior que as correlações estabelecidas entre qualquer domínio e o
escore global do instrumento.
Dessa forma evidencia-se com os resultados descritos acima que a
efetividade da adesão ao tratamento pelo paciente idoso diabético está diretamente
relacionada a qualidade de vida deste, influenciando assim nas atividades diárias de
vida e na promoção do auto cuidado.
Estes fatores geram desafios para equipe das estratégias de saúde da família
e consequentemente ampliam a responsabilidade na atenção primaria a saúde do
idoso.
Sendo assim, programas de prevenção ao diabetes e de atenção a pessoas
já portadoras da patologia devem incorporar ações que ofereçam apoio psicossocial
e promovam mudanças no estilo de vida. Para tanto, faz-se necessário além da
orientação médica, a participação de uma equipe multidisciplinar, contando com a
presença de psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e profissionais de
educação física.
82
CONCLUSÃO
__________________________________________________
_______________________________________
________________________
83
6. CONCLUSÃO
_______________________________________________________________
Os
idosos
atendidos
na
atenção
primária
no
Distrito
DAGUA
se
caracterizaram em sua maioria por mulheres, pardos, com baixa escolaridade, com
faixa etária entre 61 à 70 anos, casados e aposentados.
Com relação aos hábitos de vida observou-se que estes idosos são
predominantemente sedentários, não utilizam bebidas alcoólicas e relataram fazer
dieta, porém não demonstraram realizar uma reeducação alimentar adequada para
sua condição de saúde.
Apresentaram a HAS (68,1%) mais citada em associação ao diabetes,
seguida de problemas rematológicos (38,9%) e artrite (38,1%). No que diz respeito
ao consumo de medicamentos 54,8% dos idosos fazem uso de 2 a 3 medicamentos,
nos quais os mais prevalentes foram o cloridato de metformina (59,3%) e a
glibenclamida (57,5%).
Grande parte dos idosos informaram ter confiança na orientação médica e na
equipe de profissionais de saúde nas ESF, assim como relataram entender as
explicações e esclarecerem suas dúvidas.
Os medicamentos utilizados pelos idosos são retirados predominantemente
nas redes de farmácia comunitária, e na impossibilidade de receber gratuitamente,
73,5% possuem condições de realizar a compra.
Com relação a orientação sobre a utilização de medicamentos por
profissionais de saúde, o médico foi o mais citado (82,9%), seguido do farmacêutico
(29,2%) e do enfermeiro (21,2%). A maioria (47,8%) dos idosos tem dificuldades em
verificar a glicemia, entretanto estão satisfeitos no atendimento realizado pelas
equipes das ESF (67,2%).
Os resultados referentes aos testes de adesão de Morisky-Green foram
classificados como não aderentes (68,1%), sendo o motivo mais citado o
esquecimento no uso dos medicamentos (47,8%), seguido do descuido com o
horário da medicação.
Para o teste de Batalla os idosos também foram classificados como não
aderentes (83,2%), e quando questionados sobre a definição de diabetes
demonstraram desconhecer a doença (61,1%), contradizendo o fato de entender as
84
explicações da mesma, sendo este um dos fatores de que influenciou a não adesão
dos entrevistados.
O Domínio de satisfação apresentou um escore de 3.02, sendo um dos
motivo para menor contentamento a flexibilidade na dieta e a vida de forma geral.
Para o domínio Impacto encontrou-se o escore de 2.65, onde o
questionamento “incomodo por ter diabetes” mostrou que a 27.4% as vezes se
sentem incomodados e 24.8% sempre.
Em relação a preocupação, 39.8% informaram que as vezes sentem receio
com a possibilidade de terem desmaio e, 29.2% sempre estão preocupados com
probabilidade de vir a ter alguma complicação decorrente de agravos da doença.
Na correlação spearman a maior foi entre os domínios satisfação e impactos
(0.667). Os domínios do DQOL-Brasil, quando confrontados entre si e com o escore
global do questionário, apresentaram todos as correlações significativas.
O estudo evidenciou a necessidade de serem realizadas intervenções no
serviço de atenção primária à saúde, afim de mudar a baixa adesão a
farmacoterapia e aumentar a qualidade de vida do idoso diabético.
85
REFERÊNCIAS
_______________________________________________
__________________________________________
________________________
86
7. REFERÊNCIAS
_______________________________________________________________
ACUÑA K, Cruz T. Avaliação do estado nutricional de adultos e idosos e
situação nutricional da população brasileira. Arq Bras Endocrinol Metab
2004; 48(3):345-61.
ADELUFOSI AO, Adebowale TO, Abayomi O, Mosanya JT. Medication
adherence and quality of life among Nigerian outpatients with
schizophrenia. Gen Hosp Psychiatry. [Internet]. 2011;34(1):72-9. Available
from: http://www.ghpjournal.com/article/S0163-8343(11)00290- 8/fulltext
ALEY, LPV. Qualidade de Vida de Idosos Diabéticos tipo 2, Usuários de
um Ambulatória de Hospital Escola. São Paulo 2007, Dissertação de
Mestrado em Ciências, Área de Concentração Medicina Preventiva,
Universidade e são Paulo (USP), São Paulo, 2007. Disponível em <
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-19102007.../laisusp.pdf>
Acesso em 15/08/2015.
ALMEIDA, S.L.R., Influência dos Conhecimentos dos Pacientes na Não
adesão à Terapia Medicamentosa: Desenvolvimento e avaliação de um
modelo comportamental teórico em pacientes crónicos com diabetes tipo
II. Tese de doutorado em Saúde Pública, Universidade de Santiago de
Compostela - Faculdade de Medicina, Cidade de Santiago de Compostela,
Espanha,
2012.
Disponível
em:
<
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/8167/1/rep_431.pdf
>
Acesso
em
20/10/2014.
ALMEIDA, S.L.R., ALMEIDA, M.A.R.. Envelhecimento, adesão à terapia
medicamentosa e a educação em saúde. Enfermagem Brasil, Janeiro /
Fevereiro 2013;12.p.
ALVES,V.S. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da
Família: pela integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial.
Interface – Comunicação: Saúde e Educação, Botucatu, v.9, n.16. p. 39-52,
set/fev.2004.
ALVES LC, LEIMANN BCQ, VASCONCELOS MEL, CARVALHO MS,
VASCONCELOS AGG, FONSECA TCO, LEBRÃO ML, LAURENTI R. A
influência das doenças crônicas na capacidade funcional dos idosos do
Município de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,
23(8):1924-1930, ago, 2007.
AMADO, TCF, ARRURA, IKG, FERREIRA, RAR. Aspectos alimentares,
nutricionais e de saúde de idosas atendidas no Núcleo de Atenção ao Idoso NAI, Recife 2005. Arch Latinoam Nutr 2007; 57(4):366-72.
ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA E CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA. Aderência a Tratamento Medicamentoso, Projetos e Diretrizes,
87
2009. Disponível em: < http://www.projetodiretrizes.org.br/8_volume/02Aderencia.pdf > Acesso em: 15/06/2014.
AUQUIER P, SIMEONI MC & MENDIZABAL H 1997. Approches théoriques et
méthodologiques de la qualité de vie liée à la santé. Revue Prevenir 33:7786.
BARRETO SM, PASSOS VM, CARDOSO AR, LIMA-COSTA MF. Quantifying
the risk of coronary artery disease in a community: the Bambuí project. Arquivo
Brasileiro de Cardiologia 2003;81(6):556-561, 549-555.
BATALLA- MARTÍNEZ, C.; BLANQUER, A.; CIURANA, M. R. GARCIA, S. M;
JORDI, C. E.; PÉREZ, C. A. Cumplimiento de laprescrición farmacológica em
pacientes hipertensos. Aten primaria, v.1, p. 185-91, 1984.
BELÉM. Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e
Gestão ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, v.15, 2010 –
Belém:,2011.
BELTRAME, Vilma. Qualidade de vida de idosos diabéticos. Porto Alegre:
PUCRS, 2008. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Instituto de Geriatria e Gerontologia. Doutorado em
Gerontologia Biomédica.
BERNSTEIN LR, Folkman S, Lazarus RS. Characterization of the use and
misuse of medications by an elderly, ambulatory population. Medical Care
1989; 27(6):654-663.
BERTI, A. R., A terapêutica na terceira idade e o uso racional de
medicamentos. Estud. interdiscip. Envelhec.1999 (2):.89-102.
BORBA, A. Diabetes no Idoso: Praticas educativas e fatores associados a
adesão terapêutica. Dissertação de Mestrado em Enfermagem. Linha de
Pesquisa: Educação em Saúde nos Diferentes Cenários do Cuidar,
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. Disponível em<
http://repositorio.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/10702/PPGENF%20%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Vers%C3%A3o%20final%20%20Anna%20Karla.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Aceso em 10/09/2015.
BORBA, AKOT; MARQUES, APO; LEAL, MCC; RAMOS, RSPS; GUERRA,
ACCG; CALDAS, TM. Adesão à terapêutica medicamentosa em idosos
diabéticos. Rev Rene. 2013; 14(2):394-404
BRASIL. Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. DOU
de 20 de setembro de 1990.
88
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº. 8.142 de 1990. Regulamentação do
Sistema Único de Saúde – SUS: serviços complementares. Brasília. Centro de
Documentação. 1990. 58 p.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 8.842/1994 de 04 de janeiro de 1994.
Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências. Brasília (DF).
BRASIL. Lei n. 8842/94. Regulamentada pelo Decreto n. 1948 de 04 de janeiro
de 1996. Estabelece a Política Nacional do Idoso. Diário Oficial da União,
Brasília, 1996.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.203 de 5 de novembro de 1996.
Regulamenta a Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do Sistema Único de
Saúde (SUS) e redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde,
constituindo, por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da
atenção integral à saúde da população e ao disciplinamento das relações entre
as três esferas de gestão do Sistema. Brasília (DF).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação
de Saúde da Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para a
reorientação do modelo assistencial. Brasília. Ministério da Saúde, 1997. 36p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde,
Departamento de Formulação de Políticas de Saúde, Portaria GM nº 3.916, de
30 de outubro de 1998. Aprovar a Política Nacional de Medicamentos.
Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se
relacionem com o tema objeto da Política agora aprovada, promovam a
elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades
na conformidade das diretrizes, prioridades e responsabilidades nela
estabelecidas.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento
de Ações Programáticas Estratégicas. Série C. Projetos, Programas e
Relatórios. Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao
diabetes mellitus. Manual de hipertensão arterial e diabetes mellitus. 102 p.
Brasília, DF, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 371, de 04 de
março de 2002. Instituí o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, parte integrante do Plano Nacional de
Reorganização da Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 06 mar. 2002. p. 88.
89
______. Lei n. 57, de 23 de setembro de 2003 (n. 3.561, de 1997, na Casa de
Origem). Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário
Oficial da União. Brasília, 2003.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 10.741 de 1 de outubro de 2003. Dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Brasília (DF).
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 338
CNS de 06 de maio de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica. Brasília: Ministério da Saúde.
8. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEI Nº 10.858, DE 13 DE ABRIL DE
2004. AUTORIZA A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ A
DISPONIBILIZAR MEDICAMENTOS, MEDIANTE RESSARCIMENTO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004.
Regulamenta a Lei no 10.858, de 13 de abril de 2004, e institui o programa
"Farmácia Popular do Brasil", e dá outras providências.
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. A vigilância, o controle e a
prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis: DCNT no contexto do
Sistema Único de Saúde brasileiro. Brasília, Ministério da Saúde, 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006.
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde
(PACS).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciências, Tecnologias e Insumos
Estratégicos. Decreto nº. 5.813, de 22/06/2006. Regulamenta a Política de
Plantas Medicinal e Fitoterápica. Brasília. DF.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica, n 14. Série A. Normas e
Manuais Técnicos. Prevenção clínica de doenças cardiovasculares,
cerebrovasculares e renais. 56 p. Brasília, DF, 2006a.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica, n 15. Série A. Normas e
Manuais Técnicos. Hipertensão Arterial Sistêmica. 58 p. Brasília, DF, 2006b.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica, n 16. Série A. Normas e
Manuais Técnicos. Diabetes Mellitus. 64 p. Brasília: DF, 2006c.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Série
F. Comunicação e Educação. 2. ed. O trabalho dos agentes comunitários de
90
saúde na promoção do uso correto de medicamentos. 69 p. Brasília, DF,
2006d.
BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. Portaria nº 491, de 09 de Março de 2006.
Dispõe sobre a expansão do Programa “Farmácia Popular do Brasil”.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Série B: Textos Básicos de Atenção à Saúde. Série Pactos
pela Saúde 2006. Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de
doenças crônicas não - transmissíveis: promoção da saúde, vigilância,
prevenção e assistência. Brasília, DF, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS: PNPIC: atitude de ampliação de acesso. Brasília:
Ministério da Saúde, 2008. 92 p. il. (Série B. Textos Básicos de Saúde). ISBN
85-334-1208-8.
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações da Atenção Básica –
SIAB 2011. Disponível em http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php.
Acessado em 11.03.2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil
2011: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico. Dados sobre Diabetes. Ministério da Saúde, Secretaria de
Vigilância em Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em:<
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Mai/09/Vigitel_2
011_diabetes_final.pdf >
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011.
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, a Estratégia Saúde
da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Brasília (DF).
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência
Farmacêutica no SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília:
CONASS, 2011. 186 p. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 7).
ISBN: 978-85-89545-67-9.
BRASIL. Gabinete da Presidência da República. Decreto Presidencial nº 7508,
de 2011. Dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e
dá outras providências.
BRASIL. Lei nº. 12.401, de 28 de abril de 2011, altera a Lei nº. 8.080, de 19 de
setembro de1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação
de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
91
BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº. 1214, de 13 de
junho de 2012, que institui o Programa Nacional de Qualificação da Assistência
Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 971, de 15 de Maio de 2012.
Dispôe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. Esta Portaria dispõe
sobre as normas operacionais do Programa Farmácia Popular do Brasil
(PFPB).
BRASIL. Lei Nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Estabelece uma nova
regulamentação do exercício e da fiscalização das atividades farmacêuticas,
caracterizando as farmácias comunitárias como estabelecimentos de saúde.
DOU. Brasília. 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Pesquisa nacional sobre o acesso, utilização e
uso racional de medicamentos no Brasil (PNAUM) 2014. Primeiros resultados.
En: Ciência, tecnologia e inovação em saúde: resultados e avanços de
pesquisas estratégicas para o SUS; 12-14 de noviembre de 2014; Brasília,
Brasil. Ministério da Saúde. 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 111 de 28 de janeiro de 2016.
Dispõe sobre a reorientação do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).
Brasília (DF).
BRASIL F; PONTAROLO R, CORRER CJ. Qualidade de vida em adultos com
diabetes tipo 1 e validade do DQOL-Brasil. Rev Ciênc Farm Básica Apl.,
2014;35(1):105-112.
BRAWLEY LR, CULOS-REED SN. Studying adherence to therapeutics
regimens: overview, theories, recommendations. Control Clin Trials. 21(5): 156–
163, 2000.
CAMPOLINA, AG; DINI, OS; CICONELLI, RM. Impacto da doença crônica na
qualidade de vida de idosos da comunidade em São Paulo (SP, Brasil). Ciência
& Saúde Coletiva, 16(6):2919-2925, 2011.
CARMO T. A., Farhat F. C. L. G., Alves J. M., Indicadores de Prescrição
Medicamentosa: Ferramentas para Intervenção. Saúde em Revista, 2003,
5(11): 49-55.
CARVALHO, CV; DUARTE, DB; MERCHÁNHAMANN, E; BICUDO, E;
LAGUARDIA, J. Determinantes da aderência à terapia antiretroviral combinada
em Brasília, Distrito Federal, Brasil, 1999-2000. Cad Saúde Pública 2003; 19:
593-604.
CARVALHO, J. A. M.; GARCIA, R. A. O envelhecimento da população
brasileira: um enfoque demográfico. Cad. Saúde Pública, v. 19, n. 3, p. 725733, 2003.
92
CERVATO AM, DERNTL AM, LATORRE MRDO, MARUCCI MFN. Educação
nutricional para adultos e idosos: uma experiência positiva em Universidade
Aberta para a Terceira Idade. Rev Nutrição 2005; 18(1):41-52.
CINTRA, FP.; RAMOS, J.; VALLE, J. R. Manual prático de diagnóstico e
tratamento. 18 ed., São Paulo: Artes Médicas, 1997.
CINTRA, FA; GUARIENTO, ME; MIYASAKI, LA. Adesão medicamentosa em
idosos em seguimento ambulatorial. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2010,
vol.15, suppl.3, pp. 3507-3515. ISSN 1413-8123.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - Conep - Ministério da Saúde. Publicada
no DOU nº 12 – quinta-feira, 13 de junho de 2013 – Seção 1 – Página 59.
Disponível em < http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>
Acesso 23/02/216.
CORRER CJ, PONTAROLO R, MELCHIORS AC, ROSSIGNOLI P,
FERNÁNDEZ-LLIMÓS F, RADOMINSKI RB. Tradução para o português e
validação do instrumento Diabetes Quality of Life Measure (DQOL-Brasil). Arq
Bras Endrocrinol Metab. 2008; 52(3): 515-22.
CORRER, CJ; OTUKI, MF; SOLER, O. Assistência farmacêutica integrada ao
processo de cuidado em saúde: gestão clínica do medicamento. Rev PanAmaz Saude [online]. v. 2, n. 3, p. 41-49, 2011.
COTUGNO G, NICOLÒ R, CAPPELLETTI S, GOFFREDO BM, DIONISI VICI
C, V DI CIOMMO V. Adherence to diet and quality of life in patients with
phenylketonuria. Acta Paediatr. 2011 Aug;100(8):1144-9. doi: 10.1111/j.16512227.2011.02227.x.
Epub
2011
Apr
20.
Disponível
em
<
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651- 2227.2011.02227.x/full>
CUENTRO, VS. Avaliação da utilização e segurança de medicamentos em
pacientes idosos internados em um hospital universitário. Dissertação de
Mestrado. Universidade Federal do Pará. 2013.
CUSACK, B. J. Pharmacokinetics in older persons. Am. J. Geriatr.
Pharmacother, v. 2, n. 4, p. 274-302, 2004.
CZEPIELEWSKI, M. A. Diabetes. Equipe ABC da Saúde, São Paulo, v. 1, nov.,
2004. Disponível em:< http://www.abcdasaude.com.br >. Acesso em:
14/03/2014.
DALCEGIO M, DALCEGIO M, FAVRETTO. GED, Coral MHC, Hohl A. Adesão
aos antidiabéticos orais: prevalência e fatores associados. ACM arq catarin
med. 2009; 38(4).
DIMATTEO MR. Evidence-based strategies to foster adherence and improve
patient outcomes. JAAPA. 17(11): 18–21, 2004.
93
DONNAN, PT; MACDONALD, TM; MORRIS, AD. Adherence to prescribe oral
hypoglycaemic medication in a population of patients with Type 2 diabetes: a
retrospective cohort study. Diabet Medic, 2002; 19: 279-284.
ESTRELLLA, Kylza. et al. Detecção do risco para internação hospitalar em
população idosa: um estudo a partir da porta de entrada no sistema de saúde
suplementar. Cad. Saúde Pública vol.25 no.3 Rio de Janeiro Mar. 2009.
FARIA, HTG. Conhecimento sobre terapêutica medicamentosa em diabetes:
um desafio na atenção à saúde. Acta Paul Enferm 2009;22(5):612-7
FARIA, H.T.G.; RODRIGUES, F.F.L.; ZANETTI, M.L.; ARAUJO, M.F.M;
DAMASCENO, M.MC. Fatores associados à adesão ao tratamento de
pacientes com diabetes mellitus. Acta paul. enferm. vol.26 no.3 São
Paulo 2013.
FERREIRA RA, BARRETO SM, GIATTI L. Hipertensão arterial referida e
utilização de medicamentos de uso contínuo no Brasil: um estudo de base
populacional. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30(4):815-826, abr, 2014.
FIRMO, JAO; LIMA-COSTA, MF; UCHÔA, E. Projeto Bambuí: maneiras de
pensar e agir de idosos hipertensos. Cad Saude Publica 2004; 20(4):10291040.
FRANCO, L. J. Epidemiologia do diabetes mellitus. In: LESSA, I. O adulto
brasileiro e as doenças da modernidade: epidemiologia das doenças crônicas
não transmissíveis. São Paulo/ Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1998.
FREITAS LRS, GARCIA LP. Evolução da prevalência do diabetes e deste
associado à hipertensão arterial no Brasil: análise da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios, 1998, 2003 e 2008. Epidemiol. Serv.
Saúde v.21 n.1 Brasília mar. 2012.
FROTA, SS; GUEDES, MVC; LOPES, LV. Fatores relacionados à qualidade
de vida de pacientes diabéticos. Rev Rene. 2015 set-out; 16(5):639-48
GIATTI L, Barreto SM. Saúde, trabalho e envelhecimento no Brasil. Cad Saúde
Pública 2003; 19(3):759-71.
GOMES, M. B. Epidemiologia do diabetes tipo 2. In: BANDEIRA, F.
Endocrinologia e diabetes. Rio de Janeiro: Medsi, 2003.
GOMES CAP; FONSECA, AL; ROSA, MB; MACHADO, MC; FASSAY, MF;
SILVA, RMC, Soler O. A assistência farmacêutica na atenção à saúde. 2. ed.
Belo Horizonte: Fundação Ezequiel Neves; 2010.
GOREVSKI E, SUCCOP P, SACHDEVA J, CAVANAUGH TM, VOLEK P,
HEATON P, et al. Is there an association between immunosuppressant therapy
medication adherence and depression, quality of life, and personality traits in
the kidney and liver transplant population?. Patient Prefer Adherence. [Internet].
94
2013;16(7):301-7.
Disponível
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3630988/
em:
GOUVEIA,L.A.G.. Envelhecimento populacional no contexto da Saúde
Pública. Revista Tempus Actas de Saúde Coletiva. PG 101- 111, 2012.
GROSSI SAA. O manejo do diabetes mellitus sob a perspectiva da mudança
comportamental. In: Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Cuidados de
enfermagem em diabetes mellitus. São Paulo; 2009.
GUEDES NG, Costa FBC, Moreira RP, Chaves ES, Araújo TL. Crises
hipertensivas em portadores de hipertensão arterial em tratamento
ambulatorial. Rev Esc Enf USP 2005; 39(2):181-188.
GUIMARAES, Paula et al. Avaliação preliminar da utilização de medicamentos
empacientes idosos em um hospital da região noroeste paulista.Arq. ciênc.
saúde;17(4):192-197, out.-dez. 2010.
GUSMÃO LHA. Geografia e Cartografia Digital de Belém. Disponível em
<http://geocartografiadigital.blogspot.com.br/2013/05/cartografia-dos-distritos.html > Acesso
em 12/03/2014.
HEINONEN, H. et al. Is the evaluation of the global quality of life determined by
emotional status? Quality of Life Research, [S.l.], v. 13, n.8, p. 1347-56, 2004.
HENRIQUES, M. A. P. Adesão ao regime terapêutico em idosos. 51 f. Tese
(Doutorado em Enfermagem) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2006.
HOLMES WC, BILKER WB, WANG H, CHAPMAN J, GROSS R. HIV/AIDSSpecific Quality of Life and Adherence to Antiretroviral Therapy Over Time. J
Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2007;46(3):323-7. Disponivel em:
http://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2007/11010/HIV_AIDS_S
pecific_Quality_of_Life_and_Adherence_to.11.aspx
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de
Indicadores Sociais Uma análise das condições de vida da população
brasileira
2010.
Disponível
no
site:
<
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadores
minimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf > Acesso em 20/06/2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. BBC Noticias
Brasil – Informações sobre o Censo Demográfico de 2010, 29/08/ 2013.
Disponível
no
site:
<
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/08/130829_demografia_ibge_po
pulacao_brasil_lgb.shtml > Acesso em 20/06/2014.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo
Demográfico 2010 – Informações por município brasileiro. Disponível no
95
site < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=150140> Acesso em
15/03/2015.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios, Um Panorama da Saúde no Brasil –
Acesso e Utilização dos Serviços, Condições de Saúde e Fatores de Risco e
Proteção à Saúde, 2008. Divulgado em 2010. Disponível em <
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/panorama_saude_brasil_20
03_2008/PNAD_2008_saude.pdf> Acesso em 20/03/2016.
LAGO, L.D.; Envelhecimento e doença crônica. Revista da AMRIGS, Porto
Alegre, 55 (1): 5-6, jan.-mar. 2011.
LEITE ES, LUBENOW JAM, MOREIRA MRC, MARTINS MM, COSTA IP,
SILVA AO. Avaliação do Impacto da Diabetes mellitus na Qualidade de Vida de
Idosos. Cienc Cuid Saude 2015 Jan/Mar; 14(1):822-829.
LESSA, I. O adulto brasileiro e as doenças da modernidade: epidemiologia
das doenças crônicas não transmissíveis. São Paulo/ Rio de Janeiro:
Hucitec/Abrasco, 1998.
LESSA, I.; Doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil: um desafio para a
complexa tarefa da vigilância; Ciênc Saúde Coletiva. 2004; 9 (4): 931-943.
LIBERATO, SMD; SOUZA, AJG; GOMES, ATL; MEDEIROS, LP; COSTA, IKF;
TORRES, GV. Relação entre adesão ao tratamento e qualidade de vida:
revisão integrativa da literatura. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2014
jan/mar;16(1):191-8. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v16i1.22041.
LIMA COSTA MF, Barreto SM, Giatti L. Condições de saúde, capacidade
funcional, uso de serviços de saúde e gastos com medicamentos da população
idosa brasileira: um estudo descritivo baseado na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios. Cad Saude Pública 2003; 19(3):735-743.
LUSCHER, TF, Vetter H, Siegenthaler W, Vetter W. Compliance in
hypertension: facts and concepts. J Hypertens. 1985; 3(Suppl 1):3-9.
MALERBI D, Franco LJ; the Brazilian Cooperative Group on the Study of
Diabetes Prevalence. Multicenter study of the prevalence of diabetes mellitus
and impaired glucose tolerance in the urban Brazilian population aged 30 a 69
years. Diabetes Care. 1992; 15(11):1509-16.
MARDBY, A-C., Arkerlind, I., Jörgensen, T., Beliefs about medicines and selfreported adherence among pharmacy clients. Patient Educ Couns, 2007; 69:
158-164.
MARGALHO R, Pereira M, Ouakinin S, Canavarro MC. Adesão à haart,
qualidade de vida e sintomatologia psicopatológica em doentes infectados pelo
VIH/SIDA. Acta Med Port. [Internet]. 2011;24 Suppl 2:539-48. Disponível em:
96
<http://www.actamedicaportuguesa.com/pdf/2011originais/539-548.pdf > Acesso em 16/04/2014.
24/suplemento-
MÁRQUEZ-CONTRERAS E. Evaluación del incumplimiento en la práctica
clínica. Hipertensión (Madri). 25(5): 205-213, 2008.
MARTÍNEZ, Y. V., PRADO-AGUILAR, C. A., RASCÓN-PACHECO, R. A.,
Valdivia-MARTÍNEZ, J. J., Quality of life associated with treatment adherence in
patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study. BMC Health Services
Researche,
2008;
8:
164-173.
Disponível
em
http://www.biomedcentral.com/1472- 6963/8/164
MATOS O 1998. As formas modernas do atraso. Folha de S. Paulo, Primeiro
Caderno,
27
de
setembro,
p.
3.
Disponível
em
<www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz27099809.htm>
MENDES, José Dínio Vaz. Perfil da Mortalidade de Idosos no Estado de São
Paulo em 2010. BEPA, Bol. epidemiol. paul. 2012, vol.9, n.99, pp. 33-49. ISSN
1806-4272.
MENDES, T.A.B., GOLDBAUM, M., SEGRI, N.J., BARROS, M.B.A., CESAR,
C.L.G., CARANDINA, L., Alves, M.C.G.P. Diabetes mellitus: fatores
associados à prevalência em idosos, medidas e práticas de controle e uso
dos serviços de saúde em São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de
Janeiro, 27(6):1233-1243, jun, 2011
MINAYO, Maria Cecília de Souza; HARTZ, Zulmira Maria de
Araújo and BUSS, Paulo Marchiori. Qualidade de vida e saúde:um debate
necessário. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2000, vol.5, n.1, pp. 7-18. ISSN
1678-4561.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portal Saúde. Informações sobre o Programa
Farmácia
Popular
do
Brasil.
Disponível
em
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-oministerio/346-sctie-raiz/daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/18008programa-farmacia-popular-do-brasil > Acesso em 15/03/2016.
MINITÉRIO DA SAÚDE-Portal Brasil, Alerta sobre diabetes no Brasil.
Informação disponível no site http://www.brasil.gov.br/saude/2012/05/mais-de5-dos-brasileiros-sao-diabeticos-e-doenca-cresce-entre-homens-alerta-saude1. >Acesso em 15/09/2015.
MIRANZI SSC, FERREIRA FS, IWAMOTO HH, Pereira AG, Miranzi MAS.
Qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus e hipertensão
acompanhados por uma equipe de saúde da família. Rev Texto Contexto
Enferm. 2008 out/dez; 17(4):672-9.
MOLENA-FERNANDES CA, Nardo Junior N, Tasca RS, Pelloso SM, Cuman
RKN. A importância da associação de dieta e de atividade física na prevenção
97
e controle do Diabetes mellitus tipo 2. Acta Sci Health Sci., Maringá, 2005;
27(2): 195-205.
MOREIRA TMM, Araújo TL. Verificação da eficácia de uma proposta de
cuidado para aumento da adesão ao tratamento da hipertensão arterial. Acta
Paul Enferm 2004; 17(3):268-277.
MORIEL P., CARNEVALE R.C., Costa. C.G.R., BRAZ N.C., SANTOS C.Z.,
BALEIRO L.S., HOLSBACK V.S.S., MAZZOLA P.G. . Efeitos das intervenções
farmacêuticas em pacientes hiv positivos: influência nos problemas
farmacoterapêuticos, parâmetros clínicos e economia. R. Bras. Farm. Hosp.
Serv. Saúde São Paulo v.2 n.3 5-10 set./dez. 2011.
MORIGUCHI, Y., Nascimento, N. M. R., Geriatria preventiva. Pgs. 87-102. In:
Schwanke, C. H. A., Scheneider R. H., Atualizações em Geriatria e
Gerontologia: da pesquisa à prática clínica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.
MORISKY DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a
self-reported measure of medication adherence. Med Care. 1986; 24(1): 67-74.
NASRI, F. O envelhecimento populacional no Brasil. Einstein. v. 6(1 supl.), p.
4-6, 2008.
NICHOL MB, Venturini F, Sung JC. A critical evaluat ion of the methodology of
the literature on medication compliance. Ann Pharmacoth er. 1999; 33(5):531540
OBRELI-NETO PR, GUIDONI CM, BALDONI AO, PILGER D, CRUCIOLSOUZA JM, GAETI-FRANCO WP, CUMAN RKN. Effect of a 36-month
pharmaceutical care program on pharmacotherapy adherence in elderly
diabetic and hypertensive patients. Int J Clin Pharm. 33(4): 642-649, 2011.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Envelhecimento ativo: uma
política de saúde.Brasília: OPAS; 2005.
______.The uses of Epidemiology in the study of the elderly. Geneva,
WHO, 1984. (Technical Report Series, 706).
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Portal de Notícias. Disponível em <
https://nacoesunidas.org/onu-pede-habitos-mais-saudaveis-para-evitar-quemundo-dobre-numero-de-diabeticos/> Acesso em 23/11/2015.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE/Federação Internacional de Diabetes.
Ação já contra o diabetes: uma iniciativa da Organização Mundial da
Saúde e da Federação Internacional de Diabetes. Genebra: Organização
Mundial da Saúde/Federação Internacional de Diabetes; 2004.
ORGANIZACION PANAMERICANA DE SAÚDE. (2010). A Saúde Pública nas
Américas. Washington. Disponível em http://www.opas.org.br.
98
PAZ AA et al., Vulnerabilidade e envelhecimento no contexto da saúde, Acta
Paul. Enferm. Vol.19 no.3 São Paulo July/Sept, 2006, p. 1 a 6. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010321002006000300014 > Acesso em 20/12/2014.
PENAFORTE KL. Polifarmacia e adesão ao tratamento medicamentosos em
pacientes com diabetes tipo 2 atendidos na rede pública de saúde no município
de Fortaleza, Ceará. Dissertação de Mestrado em Saúde Coletiva, Faculdade
de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. Disponível em
<http://www.saudepublica.ufc.br/imagens/uploads/dissertacoes/66476c1277843
e9ff8aeb277a4369bff.pdf > Acesso em 25/04/2015.
PINELLI, LAP; MONTANDON, AAB; BOSCHI, A; FAIS, LMG. Prevalência de
doenças crônicas em pacientes geriátricos. Revista Odonto Ciência – Fac.
Odonto/PUCRS, v. 20, n. 47, jan./mar. 2005
9. QUADRANTE ACR. DOENÇAS CRÔNICAS E O ENVELHECIMENTO.
2004. DISPONÍVEL EM
<http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/acervo/artieop/geral/artigo250.h
tm>ACESSO EM: 22/04/2015.
RAMOS, Roberta. S. P. S. Diabetes and associated factors among elderly in
assistedgeriatric service gerontogeriatric. Recife-PE: UFPE, 2012. 111f.
Dissertation (Master's in Nursing) - Graduate Program in Nursing, Federal
University of Pernambuco, Recife-PE, 2012.
RAMOS, JS; CARVALHO FILHA, FSS; SILVA, RNA. Avaliação da adesão ao
tratamento por idosos cadastrados no programa do hiperdia. Revista de Gestão
em Sistemas de Saúde – RGSS, Vol. 4, N. 1. Janeiro/Junho. 2015
REIS MG, GLASHAN RQ. Adultos hipertensos hospitalizados: percepção de
gravidade da doença e da qualidade de vida. Rev Latino-Am Enfermagem.
2001;9(3)51-7.
ROCHA, C. H.; OLIVEIRA, A. P.S.; FERREIRA, C.; FAGGIANI, F. T.;
SCHOETER, G.; SOUZA, A. C. A.; DECARLI, G. A.; MORRONE, F. B.;
WERLANG, M. C. Adesão à prescrição médica em idosos de Porto Alegre, RS.
Ciênc. Saúde Coletiva, São Paulo, v. 13, p. 703-707, 2008.
ROGLIC G, Unwin N, Bennett PH, Mathers C, Tuomilehto J, Nag S et al. The
burden of mortality attributable to diabetes: realistic estimates for the year 2000.
Diabetes Care. 2005; 28(9):2130-5.
ROSA WAG, LABATE RC. Programa Saúde Da Família: A Construção de um
novo modelo de assistência. Rev Latino-am Enfermagem 2005 novembrodezembro; 13(6):1027-34.
ROSENDO, RA; FREITAS, CHSM. Diabetes Melito: Dificuldades de Acesso
e Adesão de Pacientes ao Programa de Saúde da Família. Rev bras ci
Saúde 16(1):13-20, 2012
99
RUBIN RR. Adherence to pharmacological therapy in patients with type 2
diabetes mellitus. A J Med. 2005; 118(5A):27S-34S.
RUBIN RR, PEYROT M. Quality of life and dibetes. Diabetes Metab Res Rev.
1999;15; 205-18.
SAMPAIO, LR. Avaliação nutricional e envelhecimento. Rev Nutr 2004;
17(4):507-14.
SANTOS SAL, TAVARES DMS, Barabosa MH. Fatores socioeconômicos,
incapacidade funcional e número de doenças entre idosos. Rev. Eletr. Enf.
2010.
(4):692-7.Disponível
em< http://dx.doi.org/10.5216/ree.v12i4.7628>
Acesso em: 30/04/2014.
SANTOS KS, ENGROFF P , ELY LS , FREITAS R , MORIGUCHI Y, De CARLI
GA, MORRONE FB. Uso de hipoglicemiantes e adesão à terapia por pacientes
diabéticos atendidos no sistema único de saúde. Rev HCPA 2010;30(4):349355.p.
SCHMIDT MI, DUNCAN BBa. O enfrentamento das doenças crônicas não
transmissíveis: um desafio para a sociedade brasileira. Epidemiol. Serv.
Saúde v.20 n.4 Brasília dez. 2011
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2002. Consenso Brasileiro sobre
Diabetes; Rio de Janeiro, Editora Diagraphic; maio 2003.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Consenso Brasileiro sobre
Diabetes: diagnóstico e classificação do diabetes melito e tratamento do
diabetes melito do tipo 2. 2002. Disponível em: < http://www.diabetes.org.br >.
Acesso em: 21/04/2014.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes 2007; Tratamento e
acompanhamento do Diabetes mellitus. Em http://www.diabetes.org.br/ Acesso
em: 21/09/2015.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes 2013 - 2014; Tratamento
e acompanhamento do Diabetes mellitus. Em http://www.diabetes.org.br/
Acesso em 15/12/2014.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes 2015. Tratamento e
acompanhamento do Diabetes mellitus. Em http://www.diabetes.org.br/ Acesso
em 17/02/2016.
SOUSA, M. R. M. G. Estudo dos conhecimentos e representações de
doença associados a adesão terapêutica nos diabéticos tipo 2.
Dissertação ao Mestrado de Educação, área de especialização de Educação
para a Saúde, Universidade do Minho, Braga, 2003. Disponível em <
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/668/1/tesefinalMS.pdf>
Acesso em 21/10/2015.
100
SOUZA, Elisabete Costa. Atenção à saúde de hipertensos e diabéticos na
estratégia de saúde da família em Pernambuco: um estudo das características
da qualidade do atendimento. 2012. Dissertação (Mestrado Profissional em
Saúde Pública) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo
Cruz, Recife, 2012.
SOUZA, M. M. C. O analfabetismo no Brasil sob o enfoque demográfico.
Caderno
de
Pesquisa,
n.
107,
1999.
Disponível
em:<http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_99/td_639.pdf >. Acesso em: 21/04/
2014.
STIVAL MM, LIMA LR, FUNGHETTO SS, SILVA AO, PINHO DLM,
KARNIKOWSKI MGO. Fatores associados à qualidade de vida de idosos que
frequentam uma unidade de saúde do Distrito Federal. Rev. Bras. Geriatr.
Gerontol., Rio de Janeiro, 2014; 17(2):395-405.
TAVARES DMS, RODRIGUES FR, SILVA CGC, MIRANZI SSC,
Caracterização de idosos diabéticos atendidos na atenção secundária, Ciência
e Saúde Coletiva, 12 (5): 1341-1352, 2007.
TAVARES DMS, DRUMOND FR, PEREIRA GA. Condições de saúde de
idosos com diabetes no município de Uberaba, Minas Gerais. Texto contexto –
enferm.
[periódico
online].
2008
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072008000200017&lng=en&nrm. Acesso em 27/09/2915.
TAVARES DMS, MARTINS NPF, DIAS FA, DINIZ MA. Qualidade de vida de
idosos com e sem hipertensão arterial. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2011
abr/jun;13(2):211-8. A
TEIXEIRA JJV, Spínola AWP. Comportamento do paciente idoso frente à
aderência medicamentosa. Arq Geriatr Gerontol 1998; 2(1):5-9.
TEIXEIRA J. J., Levfévre F. A prescrição medicamentosa sob a ótica do
paciente idoso. Rev Saúde Pública. 2005;39:924-9.
THE WHOQOL Group 1995. The World Health Organization quality of life
assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization.
Social Science and Medicine 10:1403-1409.
TRENTIN, Cristiani Silveira Netto. Adesão medicamentosa em pacientes
idosos diabéticos. Dissertação de Mestrado em Gerontologia Biomédica,
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, Porto Alegre.
2009.
Disponível
em
<http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/3622/1/000412180Texto%2BCompleto-0.pdf > Acesso em 20/06/2015.
101
VASCONCELOS, FF, Victor JF, Moreira TMM, Araújo TL. Utilização
medicamentosa por idosos de uma Unidade Básica de Saúde da Família de
Fortaleza-CE. Acta Paul Enferm 2005; 18(2):78-83.
VELOSO AI, MEALHA O, FERREIRA S, SIMÕES J, FONSECA I. A utilização
da comunicação mediada tecnologicamente pelo cidadão sênior. 2011.
<http://www.seduce.pt/SITE_PT/documentos/rc12/rc12_total.pdf >. Acesso em
19/06/2015.
VERAS, R. Em busca de uma assistência adequada à saúde do idoso: revisão
da literatura e aplicação de um instrumento de detecção precoce e de
previsibilidade de agravos. Cad Saude Publica 2003; 19(3):705-715.
VIEGAS-PEREIRA APF. Aspectos sócio-demográficos e de saúde dos idosos
com diabetes auto-referido: um estudo para o estado de Minas Gerais, 2003.
[Tese de Doutorado]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais;
2006. (96 p).
VIKTILl KK, BLIX S. The Impact of Clinical Pharmacists on Drug- -Related
Problems and Clinical Outcomes. Nordic Pharmaco- logical Society. Basic &
Clinical Pharmacology & Toxicology, 2008, 102: 275–280.
WAGNER G, BERGER G, SINNREICH U, GRYLLI V, SCHOBER E, HUBER
WD, et al. Quality of Life in Adolescents With Treated Coeliac Disease:
Influence of Compliance and Age at Diagnosis. J Pediatr Gastroenterol Nutr.
[Internet].
2008
47(5):555-61.
Disponivel
em
<
http://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2008/11000/Quality_of_Lif
e_in_Adolescents_With_Treated.5.aspx>
WANDELL PE. Quality of Life of patients with diabetes melitus. Scand J Prim
Health Care. 2005; 23(2): 68 – 74.
WERLANG, M. C., and Stein, L. M.; Estratégias de memória e aderência à
prescrição médica em idosos. (Dissertação do Programa de Mestrado da
Faculdade de Psicologia) Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul; 2001.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. The World Health Organization Report
2002: reducing risks, promoting healthy life. Geneve, WHO. 2002.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long term therapies:
evidence for action. Geneva, 2003.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, Envelhecimento ativo: uma política de
saúde. tradução Suzana Gontijo. – Brasília: Organização Pan-Americana da
Saúde,
2005.
Disponível
em:
<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf> Acesso
em 22/05/2014.
102
ZACEST, R, Barrow CG, O'Halloran MW, Wilson LL. Relationship of
psychological factors to failure of hypertensive drug treatment. Aust N Z J Med.
1981; 11:501-7.
103
ANEXOS
_______________________________________________
__________________________________________
________________________
104
ANEXO A – PARECER DO CEP
105
ANEXO A - INSTRUMENTO DE ENTREVISTA
PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO
1. Qual seu gênero?
( ) Feminino
( ) Masculino
2. Qual a data de nascimento do Sr.(a) ? ____/____/____
Idade:
_______
3. Estado Civil?
( ) Casado
( ) Viúvo
( ) Solteiro
( ) Divorciado/ Separado
4. Qual a cor/cor da pele do Sr.(a) ?
( ) Branca
( ) Preta
( ) Amarela
( ) Parda
(
)
Indígena
5. Qual seu nível de escolaridade?
( ) Analfabeto
( ) Primário Incompleto
( ) Ensino Fundamental Incompleto
Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Primário Completo
(
) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Completo
6. O que o Sr. (a) faz atualmente ?
( ) Desempregado
( ) Trabalhador Informal/por conta própria
(
)
Do Lar
( ) Aposentado
( ) Trabalhador com carteira assinada
7. Onde o Sr. (a) retira/pega o seus remédios para diabetes?
( ) Posto de Saúde
( ) Farmácia Comercial
( ) Nos dois
8. Se o Sr. (a) não conseguir os seus remédios gratuitamente, o Sr. (a)
tem condições de comprar?
( ) Sim
( ) Não
106
9. O Sr. (a) prática algum tipo de atividade física?
( ) Sim
( ) Às vezes
( ) Não
10. O que o Sr.(a) costuma fazer?
( ) Caminhada
( ) Hidroginástica
( ) Andar de Bicicleta
(
)Outros.
Qual?___________________
11. O Sr. (a) faz algum tipo de dieta?
( ) Sim
( ) Às vezes
( ) Não
12. O Sr. (a) costuma beber bebida alcoólica?
( ) Sim
( ) Não, nunca bebi
( ) Não, parei
AVALIAÇÃO DE ADESÃO A TERAPIA MEDICAMENTOSA
Teste De Morisky e Green ( As Respostas Sim = 0 E Não = 1)
NÃO
SIM
1
O Sr. (a), às vezes esquece de tomar seus remédios?
1
0
2
O Sr. (a), às vezes se descuida quanto ao horário de 1
0
tomar seus remédios?
3
Quando o Sr. (a) se sente bem, às vezes deixa de 1
0
tomar seus remédios?
4
Quando o Sr.(a) se sente mal com seus remédios, às 1
0
vezes deixa de tomá-los?
Maior Adesão: 4 pontos
Menor Adesão: 0 à 3 pontos
FATORES RELACIONADOS À EQUIPE E AO SERVIÇO DE SAÚDE
1. O Sr. (a) confia no médico que o atende na Unidade?
( ) Não
( ) Sim
( ) Ás Vezes
2. O Sr. (a) confia na equipe de profissionais que o atende na
Unidade?
( ) Não
( ) Sim
( ) Ás Vezes
107
3. O Sr. (a) entende as explicações sobre doença diabetes e o
tratamento feito pelos profissionais da Unidade?
( ) Não
( ) Sim
( ) Ás Vezes
4. O Sr.(a) esclarece as suas dúvidas sobre diabetes e o tratamento
com o médico?
( ) Não
( ) Sim
( ) Ás Vezes
5. O médico pergunta se o Sr.(a) está tomando corretamente os
remédios conforme orientado?
( ) Não
( ) Sim
( ) Ás Vezes
6. Quem orienta o Sr.(a) como tomar corretamente os remédios para
diabetes?
( ) Médico
( ) Farmacêutico
( ) Enfermeiro
( ) Agente Comunitário
( ) OuQual?________________
FATORES RELACIONADOS À TERAPIA
(
)
Metformina
500
ou
850mg_____________________________comprimidos/dia
(
)
Glibenclamida
5mg___________________________________comprimidos/dia
(
)
Insulina
NPH,
Regular_________________________________aplicações/dia
(
)
Hidroclorotiazida
25mg_________________________________comprimidos/dia
(
)
Losartana
50mg______________________________________comprimidos/dia
(
)
Captopril
25mg
______________________________________comprimidos/dia
(
)
Sinvastatina
20
ou
40
mg_______________________________comprimidos/dia
(
)
Outros
_____________________________________________comprimidos/dia
2. A maioria das pessoas, por uma razão ou por outra, tem dificuldade em
tomar seus comprimidos. O Sr.(a) tem dificuldade em tomá-los?
( ) Sim
( ) Não
108
3. O Sr.(a) toma seus comprimidos?
( ) Todos os dias
( ) Muitos dias
( ) Alguns dias
4. O Sr. (a) por acaso tem ou teve alguma destas doenças?
( ) Doença na coluna/costas
( ) Pressão Alta
(
) Bronquite ou
asma
( ) Artrite ou reumatismo
( ) Depressão
( ) Câncer
( ) Outra. Qual?____________________
FATORES REALACIONADOS AO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE A
DIABETES (ADAPTAÇÃO – TESTE DE BATALLA)
1. O que é a diabetes para o Sr.(a)?
( ) Não sabe dizer
(
)
Sim,
é
__________________________
1. A diabetes é uma doença que o Sr.(a) terá para a vida toda?
(
) Sim
( ) Não
2. Pode-se controlar a diabetes com dieta e/ou remédios?
(
) Sim
( ) Não
3. O Sr.(a) poderia dizer dois ou mais órgãos do corpo que podem ser
afetados pelo descontrole da diabetes?
(
) Não Sabe
( ) Sim, quais? _______________
FATORES RELACIONADOS AO PACIENTE
1. O Sr.(a) acredita que os remédios são fundamentais para controlar
a sua diabetes?
( ) Não
( ) Sim
( ) Às vezes
2. O Sr.(a) acredita nos efeitos positivos do tratamento para diabetes?
( ) Não
( ) Sim
( ) Às vezes
3. O Sr.(a) se preocupa em medir sua glicose?
( ) Não
( ) Sim
( ) Às vezes
109
4. O Sr.(a) está satisfeito com o atendimento à sua saúde?
( ) Não
( ) Sim
( ) Às vezes
ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
(Conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde)
Antecipadamente agradecemos por sua atenção.
Convidamos
a(o)
Sr.(a)
___________________________________________________
(paciente) para participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DA ADESÃO À TERAPIA
MEDICAMENTOSA E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES IDOSOS
DIABÉTICOS TRATADOS NAS UNIDADES ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DO DISTRO DAGUA” de autoria das alunas Lorena Paula Mercês
Mendes do Programa de Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFPA,
Magda Vieira Cardoso e Thayná Modesto da Graduação da Faculdade de
Farmácia da Universidade Federal do Pará. O objetivo deste estudo é verificar a
adesão ao tratamento e identificar os fatores intervenientes relacionados ao não
cumprimento das orientações terapêuticas e a qualidade de vida desses idosos
diabéticos. Para isso será realizada entrevista fechada e um levantamento dos
prontuários dos pacientes idosos diagnosticas com diabetes para coleta de dados
necessários à pesquisa. A presente pesquisa implica em riscos para os
participantes, os quais podem ter danos morais e éticos, em virtude de algumas
informações requeridas no protocolo de pesquisa. A fim de impedir tal ocorrência
fica claro que as informações relatadas no protocolo serão de uso exclusivamente
científico e suas identidades serão mantidas em sigilo e não constarão no
questionário investigativo, nesse apenas contará um número aleatório para
identificação do pesquisador. Se, mesmo com essas medidas os sujeitos da
pesquisa vierem sofrer danos morais, eles serão ressarcidos pelos pesquisadores,
conforme processo jurídico, solicitado em juízo.
Portanto as informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de
forma a possibilitar sua identificação, somente serão divulgados dados diretamente
relacionados aos objetivos da pesquisa. Você receberá uma cópia deste termo
onde consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e do
CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a
qualquer momento.
Caso concorde em participar, o(a) senhor(a) e seu acompanhante (cuidador)
deverá somente assinar seu nome no final da página. Vale ressaltar que o
senhor(a) tem o direito de se negar a continuar contribuindo com suas informações
a qualquer momento, caso se recuse a participar do estudo. Informamos que isso
não trará nenhum prejuízo ao seu atendimento no hospital. Mas desde já,
esperamos contar com a sua valiosa colaboração a fim de termos sucesso em
nossa pesquisa. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Profa. Dra.
Marcieni Ataíde de Andrade, responsável pela pesquisa, na Faculdade de
Farmácia ou Farmácia (telefone: 32017202/8073-1754).
Data _____ / _____ / _______
Responsável
pela
Pesquisa:
_________________________
Marcieni
Ataíde
de
Andrade
Ass. Paciente:_____________________________________________________
110
Ass. Entrevistador:_________________________________________________
Nota: Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em duas
vias. Depois de assinadas, uma ficará com o participante e a outra com a
pesquisadora.
Caso não seja possível o contato com o paciente ou seus responsáveis, este fato
será registrado no prontuário com a tentativa de pelo menos três ligações
telefônicas e uma carta comum.
Endereço do CEP: Rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá - Belém. Faculdade de
Farmácia. Telefone: (91) 32017202.