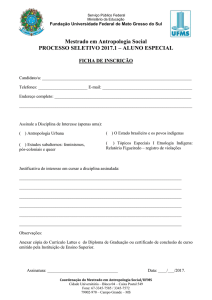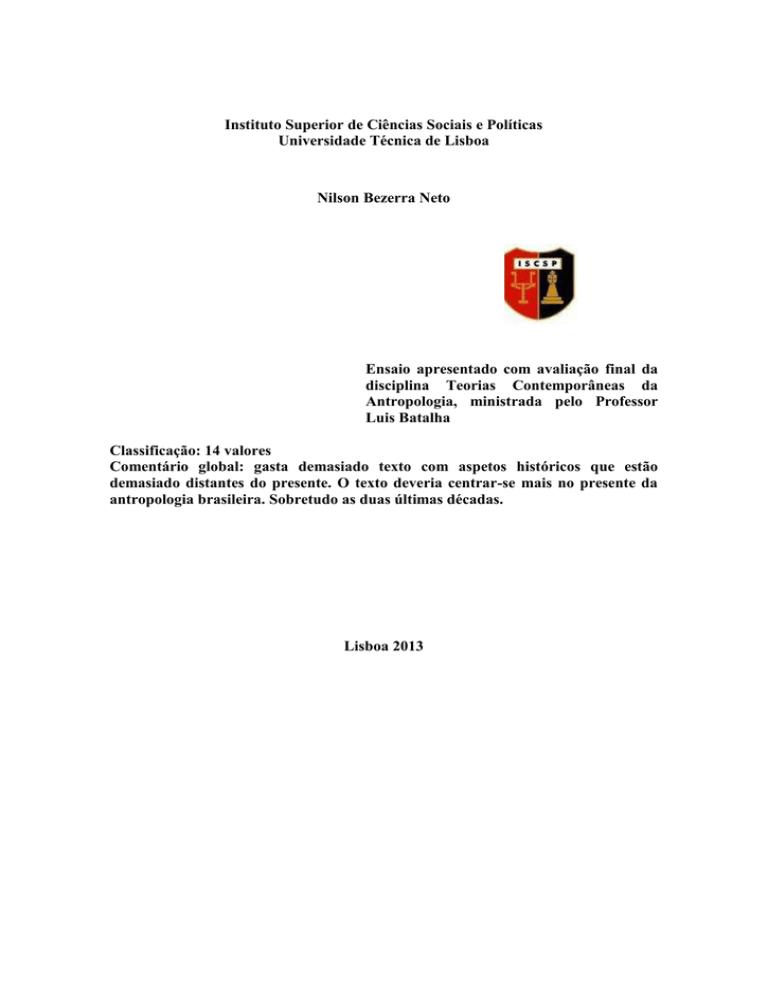
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Universidade Técnica de Lisboa
Nilson Bezerra Neto
Ensaio apresentado com avaliação final da
disciplina Teorias Contemporâneas da
Antropologia, ministrada pelo Professor
Luis Batalha
Classificação: 14 valores
Comentário global: gasta demasiado texto com aspetos históricos que estão
demasiado distantes do presente. O texto deveria centrar-se mais no presente da
antropologia brasileira. Sobretudo as duas últimas décadas.
Lisboa 2013
A antropologia Brasileira: uma trajetória rumo aos novos estudos sobre
identidades locais
Raízes de um pensamento antropológico no Brasil
Embora seja a opinião geral de que ainda não se possa falar de uma
tradição teórica genuinamente brasileira no campo da antropologia, a
diversidade de elementos étnicos e culturais que compõem a formação do
Brasil tem despertado a “curiosidade antropológica”, no sentido da busca pelo
entendimento das diferenças, desde os tempos coloniais. Um exemplo dessa
curiosidade foi o sucesso, entre a elite europeia culta, das crônicas de viagem
de marujos, como as de Hans Staden, que, no século XVI, esteve cativo entre
os índios Tupinambá durante nove meses e relatou a sua experiência em livro
(Navarro 2003). Além da riqueza na descrição de costumes, crenças dos índios
do litoral brasileiro, a obra de Staden também trazia ilustrações de animais,
plantas, costumes e rituais como a antropofagia, o que ajudou a formar o
imaginário europeu sobre o que seria a terra brasílica – inclusive no aspecto
por vezes fantasioso da descrição. Além de viajantes, “aventureiros”, agentes
da coroa portuguesa também enviavam relatórios à metrópole com a descrição
do ambiente, do clima, das populações nativas e seus costumes para melhor
subsidiar a política colonial.
No entanto, a ação mais intelectualmente orientada desse período talvez
tenha sido a dos missionários jesuítas. Para realizar o ofício de catequese dos
povos indígenas, os padres dessa ordem precisaram aprender-lhes as línguas,
os costumes e os mitos. A sólida formação intelectual dos missionários da
companhia de Jesus ajudou no sucesso dessa tarefa; algumas realizações,
como a criação da uma língua geral1, baseada no tronco-linguístico Tupi, e
estabelecimento das missões, resultariam em fatores de coesão do território e
da população colonial.
Após a independência do Brasil, em 1822, a reflexão social de fundo
antropológico era expressa por meio de uma produção ensaística que buscava
estabelecer as raízes culturais balizadoras da existência ideológica da nova
nação. Na literatura de nomes como Gonçalves Dias (1823-1864) e José de
Alencar (1829-1867), o índio passa a ser exaltado como o símbolo da
identidade nacional, o “brasileiro ancestral” (Gomes 2013: 182), elemento
chave na formação de uma nova cultura. Essa posição é contestada por
autores que veem no índio (e também no negro) um fator de atraso social e um
entrave ao projeto de estabelecer uma civilização luso-europeia nos trópicos.
Esse debate se estenderia no plano literário-filosófico até meados do século
XIX, mas produziu no imaginário brasileiro a figura dicotômica do “índio
empecilho à civilização versus índio raiz do Brasil” (Ibdem: 183).
1
Na verdade houve no Brasil duas línguas gerais baseadas no tronco-linguístico Tupi, a língua geral
paulista e a língua geral amazônica (Nheengatu). Faladas pelos jesuítas, índios e colonos, foram a língua
franca durante boa parte do período colonial. A associação dessas línguas aos jesuítas, vistos pela coroa
portuguesa como uma força nociva aos seus interesses, ocasionou a sua proibição, em 1758, pelo
Marques de Pombal. O Nheengatu teria resistido no vale amazônico até meados do século XIX, quando a
imigração de camponeses oriundos do nordeste do Brasil – para atender ao ciclo econômico da borracha –
teria apressado a sua extinção.
A partir da segunda metade do século XIX, ganha terreno entre os
intelectuais brasileiros o paradigma do darwinismo social. De acordo com essa
corrente de pensamento, determinadas características biológicas e sociais
determinariam a superioridade de certos indivíduos em relação a outros. Mais
do que a transposição da teoria evolucionista de Charles Darwin em relação às
espécies para os fenômenos sociais, essa concepção arrogava-se a
prerrogativa de legitimar cientificamente a crença corrente de que o progresso
técnico-científico das sociedades europeias era o sinal incontestável de um
estágio superior de civilização. O resultado é que as análises dos pensadores
brasileiros sobre os aspectos sociais, políticos, históricos e étnicos estiveram
pautadas por essa concepção até pelo menos a década de 30 do século XX. O
efeito disso foi um pessimismo e uma visão negativa da viabilidade do Brasil
como nação constituída em sua maior parte por negros e mestiços. Os poucos
autores que tentavam confrontar o discurso do evolucionismo social, do
positivismo e do determinismo biológico e geográfico eram rechaçados pela
elite intelectual da época. É o caso emblemático a polêmica entre Silvio
Romero, representante do stablishment do pensamento social brasileiro entre o
final do século XIX e início do século XX, e o médico Manuel Bonfim que,
contrapondo-se às ideias racistas do darwinismo social, escreve o livro América
Latina: males de origem (1903). Nesse livro, Bonfim defendia que o problema
do Brasil não estava no grande contingente de população índia, mestiça e
negra, mas nas condições que se estabeleceram, desde o passado colonial,
para o surgimento de uma elite parasitária que explorava a população em geral
e não criava condições para o seu desenvolvimento. Os ataques de Romero à
tese de Bonfim relegam-na dos debates político-culturais do começo do regime
republicano (Gomes 2013: 186).
A resposta mais representativa ao darwinismo social só viria anos mais
tarde quando da publicação, em 1933, do livro Casa Grande e Senzala, de
Gilberto Freyre. Aluno de Franz Boas, o pai da antropologia americana
moderna, Freyre reconstrói a formação da sociedade brasileira em um texto de
estilo ensaístico – baseado em fontes históricas e concepções próprias,
dissertadas em uma linguagem em certos momentos mais literária do que
científica – que integra aspectos muito diversos como a economia, a cozinha,
as religiões, ritos e comportamento social. O reconhecimento do valor de cada
uma das matrizes raciais do Brasil – indígena, portuguesa e africana – opunhase radicalmente ao discurso que até então predominava nas ciências sociais da
época, e o sucesso da obra de Freyre deu ao país uma nova autoimagem. Ao
estabelecer uma comparação entre o modo como o Brasil inter-relaciona os
seus componentes sociorraciais ao modo norte-americano, Freyre conclui pela
superioridade do modelo Brasileiro, assim forneceu a base de uma ideologia da
“democracia racial”2. Embora o trabalho de Freyre tenha uma importância
reconhecida nas ciências sociais, o caráter ideológico de algumas de suas
ideias e o distanciamento dos parâmetros acadêmicos de investigação
antropológica, que prescindiam da comprovação de pesquisas empíricas para
2
O mito de um país sem preconceito de raça sofreria críticas e mais tarde seria refutado por pesquisas e
por dados estatísticos que comprovariam o desequilíbrio na participação social e econômica de negros,
mestiços e brancos. Essa questão tem sido tratada por políticas públicas tais como o sistema de cotas
raciais para o ingresso de estudantes negros pardos e mulatos, as quais tem reacendido os debates sobre
racismo e justiça social.
validar suas hipóteses, acabam por negar-lhe o papel de fundador de uma
tradição nacional nessa área.
A antropologia Brasileira pensada na Academia
Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, os estudos
“antropológicos” eram realizados por intelectuais das mais diversas áreas do
conhecimento: médicos, advogados, historiadores e literatos produziam
ciências sociais sob as orientações teóricas as mais ecléticas imagináveis. Se
em outros lugares como Estados Unidos, Inglaterra e França, a antropologia
vinha assumindo ares de uma disciplina com corpo teórico e práticas próprias
pelo menos desde o século XIX, o início de uma orientação mais acadêmica
dos estudos brasileiros só se daria por volta da década de 30.
Reconhecidamente importante para desenvolvimento das ciências sociais em
território nacional foi a fundação da Universidade de São Paulo (USP) em
1934. No ano seguinte a sua fundação, a recém-criada USP receberia, entre os
integrantes da missão francesa contratada para dar inicio às atividades
docentes, o ainda jovem Claude Lévi-Strauss para ocupar a cadeira de
sociologia. Entre os anos de 1935 e 1939 ele realizaria trabalhos de campo
com povos indígenas do Brasil, que mais tarde resultariam no livro As
estruturas elementares de parentesco, publicado em 1949, e que inauguraria a
aplicação das concepções estruturalistas aos estudos antropológicos. No
entanto, sua influência como formador de novos pesquisadores no Brasil não
foi tão destacada quanto à de Roger Bastide, que atuou como docente e
pesquisador da USP entre os anos de 1937 a 1954. O interesse de Bastide era
entender a cultura brasileira em seus aspectos singulares, que a diferenciavam
da cultura europeia. Para formular suas hipóteses, Bastide empreendeu a
leitura de pensadores brasileiros que desde o século anterior haviam se
debruçado sobre a questão da formação do povo brasileiro – autores como
Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, entre outros. Além de valorizar o
pensamento formulado por autores brasileiros sobre a sua realidade, Bastide
procurava “não sacrificar a multiplicidade do real à estreiteza de uma só
perspectiva” (Pereira de Queiroz 1976: 48), ou seja, os dados passíveis de
interpretação e análise estariam também em fontes até então pouco
privilegiadas, como a literatura oral, a narrativa de sonhos, as artes plásticas,
entre outras. Entre os alunos de Bastide nos anos de USP, alguns viriam a se
tornar referências para os estudos sociais no Brasil, nomes como Octávio Ianni,
Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes formariam o núcleo do que
ficou conhecido como Escola Paulista de Sociologia.
As ciências sociais também ganharam impulso no Rio de Janeiro com a
criação da Faculdade Nacional de Filosofia, integrada à Universidade do Brasil,
em 1939. Mais tarde, em 1946, à estrutura da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (antiga Universidade do Brasil) foi incorporado o Museu Nacional do
Rio de Janeiro, a mais antiga instituição de pesquisa do país, fundada em
1818. O Museu Nacional abrigaria as pesquisas de um grande número de
pesquisadores americanos e franceses que mais tarde tornaram-se referências
em seus campos de estudo, a exemplo de Charles Wagley (1913-1991), que
realizou estudos com populações indígenas e ribeirinhos da Amazônia, e Alfred
Métraux (1902-1963), grande especialista em índios sul-americanos e em
reconstruções etno-históricas de religiões africanas nas Américas.
Além das pesquisas realizadas por estrangeiros, surgiam nessa época
pesquisas de escopo antropológico altamente relevantes, como O Negro
Brasileiro (1934), de Arthur Ramos (1903-1949), cujo trabalho muito contribuiu
para a compreensão de temas das religiões africanas no Brasil. Apesar de ter
despontado como um dos grandes nomes da antropologia acadêmica e de ter
alcançado grande prestígio em foros internacionais, sua morte pré-matura aos
46 anos – quando era diretor de Ciências Sociais da Unesco, em Paris –
impediu-o de continuar uma trajetória que certamente enriqueceria o referencial
dos estudos antropológicos brasileiros. Destacam-se ainda nomes como
Florestan Fernandes (1920-1975), cuja tese A Função Social da Guerra na
Sociedade Tupinambá (1951) tornar-se-ia um clássico da etnologia Brasileira, e
Eduardo Galvão (1921-1976), que obteve o título de Ph.D. em antropologia
pela Universidade de Columbia com a tese The Religion of na Amazon
Community: a study in culture change (1955), publicada em língua portuguesa
com o nome Santos e Visagens: um estudo da vida religiosa de Itá, Amazonas.
O caso de Eduardo Galvão é significativo da realidade formativa dos
antropólogos brasileiros. Orientado por Charles Wagley, Galvão tinha como
referência os estudos canônicos da antropologia social norte-americana e seu
modo de investigação das sociedades tribais e primitivas. Uma nova orientação
da antropologia Brasileira pode ser situada a partir da década de 60.
A configuração de uma antropologia Brasileira entre os anos 60-70
Até a década de 60, a antropologia brasileira vinha se desenvolvendo
como “uma costela da sociologia então hegemônica” (Peirano 2010: 219).
Embora essa década tenha sido marcada por uma mudança dramática com a
ascensão do regime militar ao poder nacional, e a consequente perseguição e
expulsão das forças intelectuais de orientação esquerdista, houve uma
expansão dos cursos de pós-graduação, sendo classificados 27 cursos em
nível de mestrado e 11 de doutorado. Nessa década são criados os primeiros
programas de pós-graduação de antropologia em Universidades Federais, o
que acaba criando condições para “a reprodução social dos antropólogos” e o
estabelecimento de tradições de saber no campo dessa disciplina (ibdem: 219).
Outro fato relevante para autores como Montero (2006) é a consolidação do
“americanismo” como fonte de reflexões teóricas para a antropologia. Isso se
dá a partir do aprofundamento dos estudos indigenistas motivado pelo aumento
de dados coletados em fontes primárias e um maior conhecimento das línguas
indígenas. Como consequência, há um enorme avanço no conhecimento que
até então se tinha sobre as sociedades indígenas pré-colombianas que viviam
na Amazônia brasileira. É característico, no caso do pesquisador brasileiro em
antropologia essa orientação para a busca do conhecimento de “um outro
interno” (Oliviera 1993: 16). Diferente do que predomina nos países de centro
dessa disciplina, como Inglaterra, Estados Unidos e França, onde o objeto de
pesquisa está quase sempre em outro continente, nos países de periferia o que
se vê é uma preocupação com o conhecimento da realidade interna, às vezes
local. Se na pesquisa levada a cabo com as etnografias de comunidades
exóticas o ponto de vista era de um sujeito cognoscente com uma visão de
mundo formada no exterior – referencial colonialista –, a pesquisa realizada por
brasileiros passa a ser a visão do sujeito constituído no interior de uma
sociedade fragmentada, constituída pelos referenciais do observador e do
observado. Ao fazer apropriação dos paradigmas (coloniais) concebidos nos
centros difusores da ciência antropológica, os antropólogos brasileiros não
podem deixar de perceber a reprodução do modo colonialista herdado pela
sociedade colonizada, agora uma nova nação. O ponto de vista colonialista
reformulado provoca o desconforto ao pesquisador que se descobre inserido
em uma sociedade fracionada em etnias, da qual a sua (pela sua inserção na
academia) é a dominante. Esse desconforto provocado pelo colonialismo
interno leva a um posicionamento político do antropólogo como intérprete e
defensor das minorias étnicas (ou populações marginalizadas). Talvez essa
seja uma das principais características da antropologia brasileira.
Novas orientações da Antropologia Brasileira
A busca da alteridade nas sociedades indígenas logo abriria as portas
para outras alteridades. Muito do crédito a essa expansão dos interesses da
antropologia Brasileira é creditado ao conceito de “fricção interétnica”,
concebido por Roberto Cardoso de Oliveira, que busca identificar o processo
pelo qual se estabelece a relação entre população indígena e outros
segmentos da sociedade brasileira, em que, ao processo de dominação,
sobrepõe-se o da interdependência entre esses agentes, com respectiva troca
de traços culturais e o estabelecimento de conflitos de identidades. Esse
conceito tem pautado os estudos sobre territorialização e inserção dos povos
indígenas na sociedade3.
As discussões mais atuais no terreno da antropologia brasileira não
deixam de levar em conta a realidade interna. Em tempos de globalização,
perda de identidades e políticas econômicas predatórias, tem-se observado a
preocupação
com
os
modelos
de
desenvolvimento
locais,
o
etnodesenvolvimento. O modelo tutelar usado pelo estado brasileiro em relação
aos índios nunca contemplou a possibilidade estimular o desenvolvimento
dessas sociedades. O que geralmente acontece é exploração maciça de
recursos e a relegação do índio, ou outras sociedades tradicionais, para um
papel à margem desse processo. O etnodesenvolvimento, no plano político,
“procura eliminar os fortes vestígios do colonialismo interno” (Little 2002: 41),
valorizando a maneira da comunidade se relacionar com o ambiente e dele
extrair os meios para a sua sobrevivência. Esse processo, porém, não pode ser
pensado sem que se leve em conta a interação dos povos nativos, com outros
agentes sociais externos a eles. É o desenvolvimento que leva em conta a
anseio legítimo de progresso e bem estar da sociedade tradicional que já
travou conhecimento com a cultura ocidental, mas que também possui o direito
de manter os traços culturais que lhe garantem identidade preservada do
processo homogeneizador das relações criadas pela economia de mercado. A
valorização dos conhecimentos tradicionais, traduzido no avanço de pesquisas
da etnobotânica, tem fornecido subsídios para que sociedades tradicionais
possam estabelecer práticas que lhes permitam uma inserção mais justa na
economia e um modelo sustentável a partir da inserção dessas sociedades nas
discussões de políticas a elas concernentes.
3
Ainda como herança dos estudos de populações indígenas, temos a teoria do “perspectivismo
ameríndio”, pensada pelo antropólogo Eduardo Viveiros de castro. Com essa teoria, Viveiros de Castro
apresenta a perspectiva do nativo diante dos fenômenos como natureza e cultura.
Referências Bibliográficas
BIBLIOTECA NACIONAL. A missão francesa na Universidade de São Paulo.
Disponível em: < http://bndigital.bn.br/francebr/intercambios.htm>
Gomes, Mercio Pereira de. 2013. Antropologia: ciência do homem, filosofia da
cultura. São Paulo: Editora Contexto.
Little, Paul E. 2002. Etnodesenvolvimento Local: autonomia cultural na era do
liberalismo global. Tellus, 2 (3) : 33-52. Campo Grande – MS
Montero, Paula. 2006. Tendências da pesquisa antropológica no Brasil. 37-57.
In: Ensino de Antropologia no Brasil: formação, práticas disciplinares e alémfronteiras. Associação Brasileira de Antropologia - ABA
Navarro, E. A. 2003. Brasil - uma História. São Paulo: Ática
Oliviera, Roberto Cardoso de. 1993. O Movimento dos Conceitos na
Antropologia. Revista de Antropologia, v.36: 13-31. Universidade de São Paulo
-USP – São Paulo
Peirano, Maria G.S. 2000. A antropologia como ciência social no Brasil.
Etnográfica, 4 (2): 219-232. Lisboa, Portugal
Queiroz, Maria Izaura Pereira de. 1976. Roger Bastide e o Brasil. Afroasia, n.
12: 47-52. Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia,
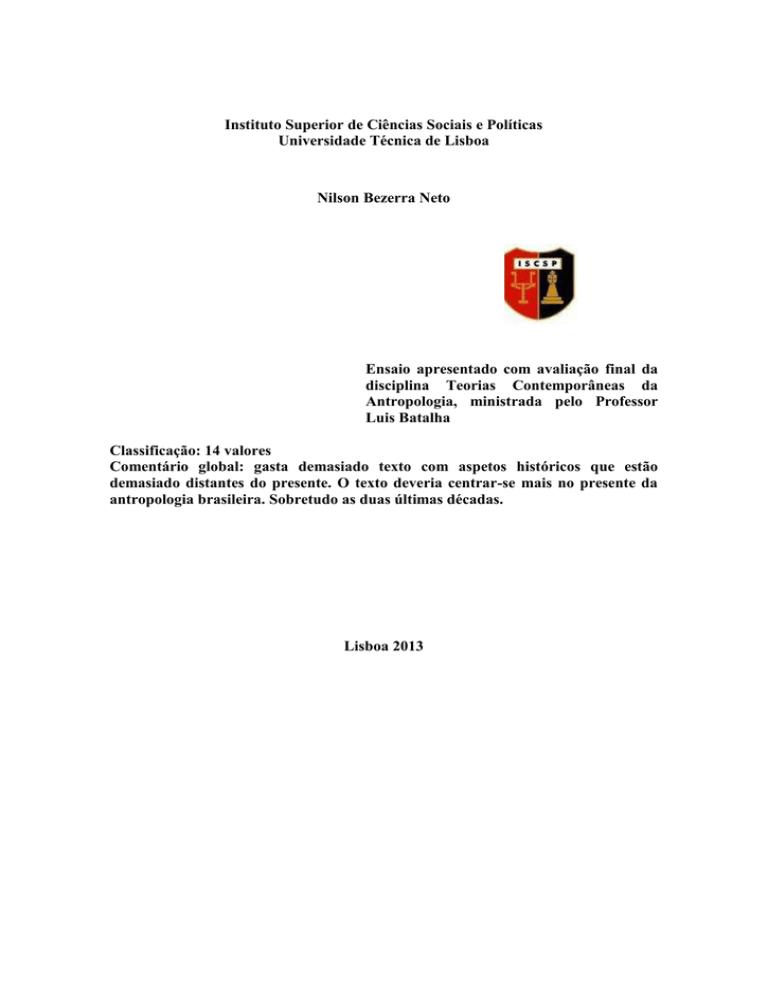
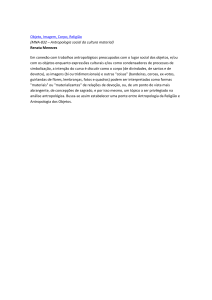
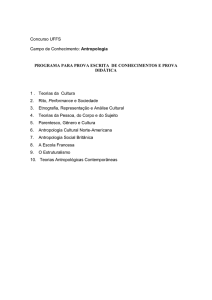

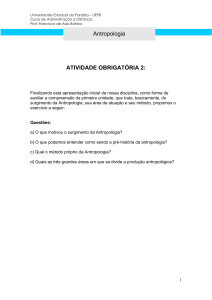
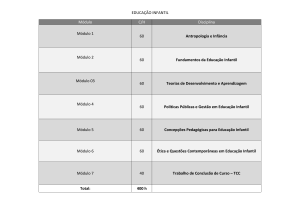


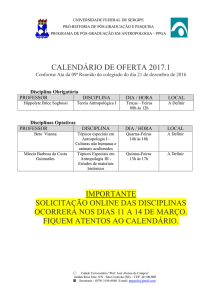
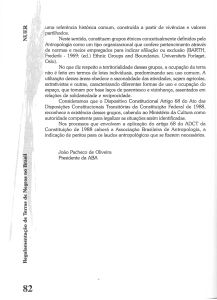
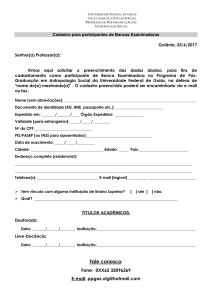
![Antropologia [Profa. Ol via]](http://s1.studylibpt.com/store/data/000329787_1-86f1de23ef4fc8c4b10e2491c0fd4e18-300x300.png)