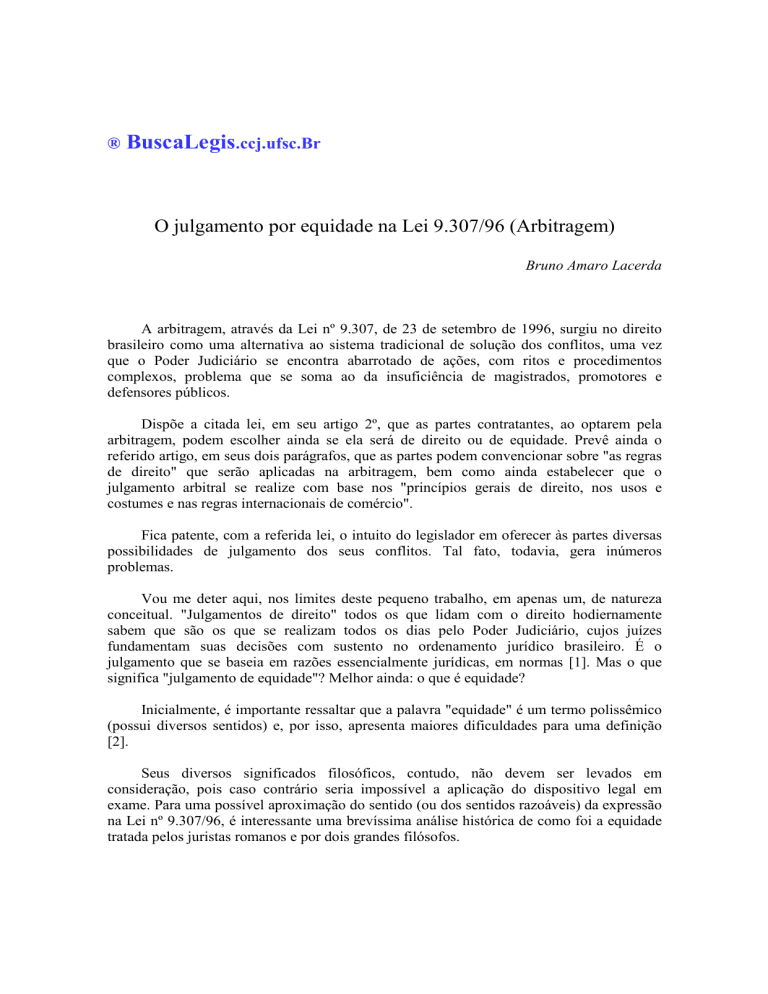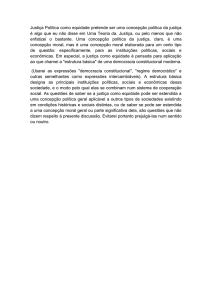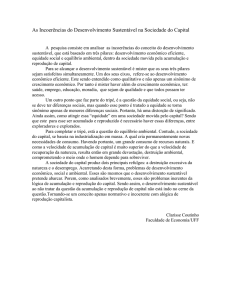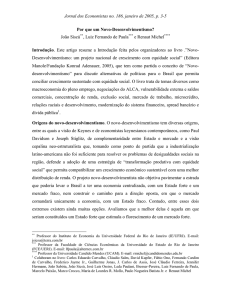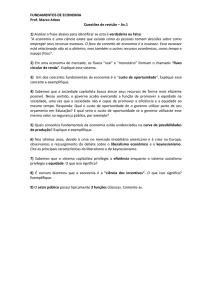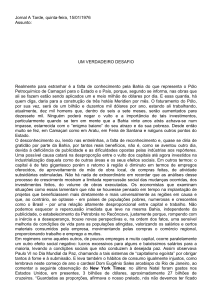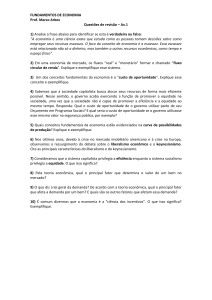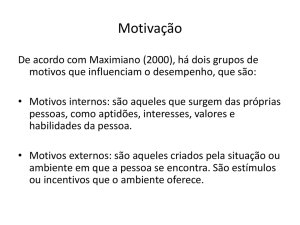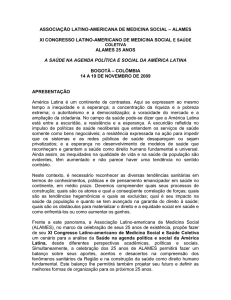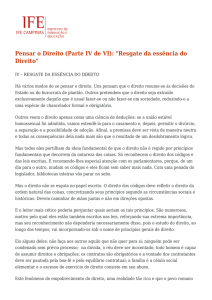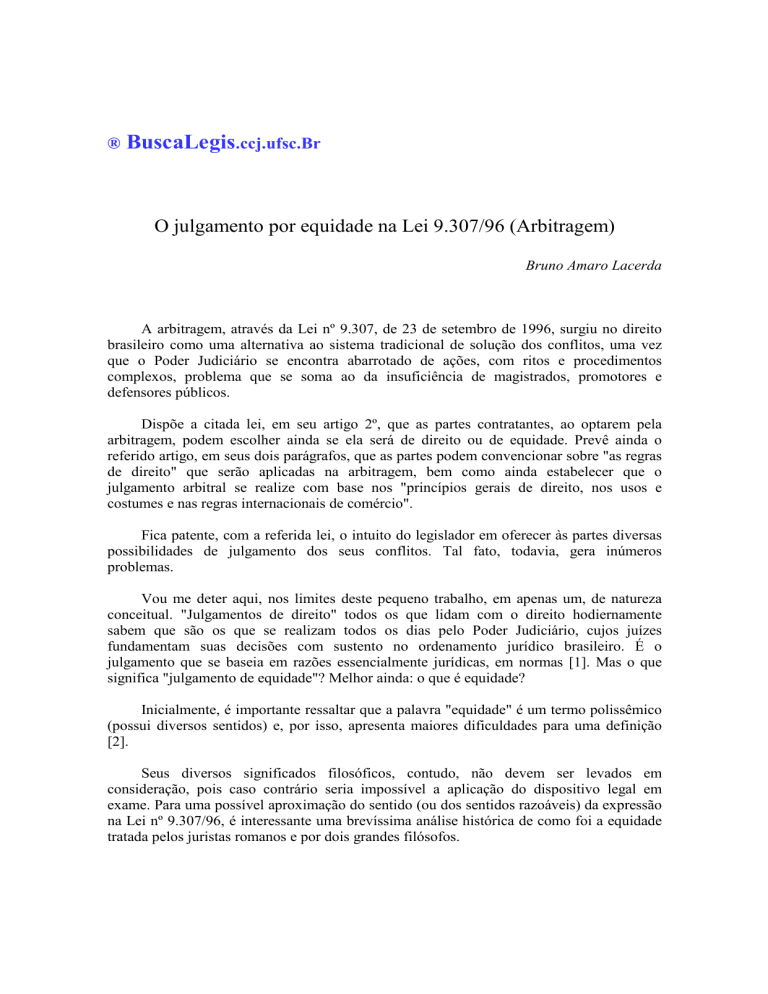
®
BuscaLegis.ccj.ufsc.Br
O julgamento por equidade na Lei 9.307/96 (Arbitragem)
Bruno Amaro Lacerda
A arbitragem, através da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, surgiu no direito
brasileiro como uma alternativa ao sistema tradicional de solução dos conflitos, uma vez
que o Poder Judiciário se encontra abarrotado de ações, com ritos e procedimentos
complexos, problema que se soma ao da insuficiência de magistrados, promotores e
defensores públicos.
Dispõe a citada lei, em seu artigo 2º, que as partes contratantes, ao optarem pela
arbitragem, podem escolher ainda se ela será de direito ou de equidade. Prevê ainda o
referido artigo, em seus dois parágrafos, que as partes podem convencionar sobre "as regras
de direito" que serão aplicadas na arbitragem, bem como ainda estabelecer que o
julgamento arbitral se realize com base nos "princípios gerais de direito, nos usos e
costumes e nas regras internacionais de comércio".
Fica patente, com a referida lei, o intuito do legislador em oferecer às partes diversas
possibilidades de julgamento dos seus conflitos. Tal fato, todavia, gera inúmeros
problemas.
Vou me deter aqui, nos limites deste pequeno trabalho, em apenas um, de natureza
conceitual. "Julgamentos de direito" todos os que lidam com o direito hodiernamente
sabem que são os que se realizam todos os dias pelo Poder Judiciário, cujos juízes
fundamentam suas decisões com sustento no ordenamento jurídico brasileiro. É o
julgamento que se baseia em razões essencialmente jurídicas, em normas [1]. Mas o que
significa "julgamento de equidade"? Melhor ainda: o que é equidade?
Inicialmente, é importante ressaltar que a palavra "equidade" é um termo polissêmico
(possui diversos sentidos) e, por isso, apresenta maiores dificuldades para uma definição
[2].
Seus diversos significados filosóficos, contudo, não devem ser levados em
consideração, pois caso contrário seria impossível a aplicação do dispositivo legal em
exame. Para uma possível aproximação do sentido (ou dos sentidos razoáveis) da expressão
na Lei nº 9.307/96, é interessante uma brevíssima análise histórica de como foi a equidade
tratada pelos juristas romanos e por dois grandes filósofos.
Aristóteles já se preocupara com o tema da equidade em uma de suas mais
importantes obras, a Ética a Nicômaco. Para o Estagirita, a equidade era uma forma melhor
de justiça, pois funcionava como uma adaptação da lei (abstrata) aos fatos reais, concretos.
Como uma das características da lei é a generalidade, ela não pode prever todas as
peculiaridades das situações cotidianas, devendo o juiz agir como o legislador agiria na
previsão de tais situações. A equidade liga-se, assim, a mais importante das virtudes
dianoéticas (da inteligência), a phrónesis, ou prudência, pois só um juiz prudente pode
sanar uma lacuna legal de forma acertada e justa. Finalizando, Aristóteles compara a
equidade a uma régua de medir pedras que conhecera quando de sua estadia na ilha de
Lesbos: a régua era flexível, adaptando-se ao tamanho das rochas, possibilitando que todas
fossem medidas. Assim também deve ser a equidade, a flexibilização da lei, que deve
adaptar-se aos fatos concretos na medida das possibilidades.
Já os romanos ligavam o conceito de equidade ao de direito natural. Distinguiam,
todavia, entre a aequitas naturalis e a aequitas civilis. A primeira definia uma forma de
justiça absoluta, enquanto que a segunda colocava-se como parte integrante do direito,
aplicada pelos pretores. Para Ráo, a "aequitas naturalis", segundo essa concepção, inspira o
direito e em direito tende a transformar-se; a aequitas civilis, incorporada ao direito
positivo, da natureza deste participa." [3]
Santo Tomás, na mesma linha de Aristóteles, afirmava:
"os atos humanos, que a lei deve regular, são particulares e contingentes, e podem
variar ao infinito. Por isso, não é possível criar qualquer lei que abranja todos os casos; os
legisladores, pois, legislam tendo em vista o que sucede com maior freqüência. Seria,
contudo, ir de encontro à igualdade e ao bem comum que a lei visa, observá-la em certos e
determinados casos. Assim, a lei dispõe que os depósitos sejam restituídos, porque isto é
justo na maioria dos casos; mas, em outros casos, pode ser nocivo. Por exemplo, se um
louco, que deu em depósito uma espada, a exige em acesso de loucura, ou se alguém exige
um depósito para lutar contra a pátria. Nesses e em outros casos semelhantes, seria um mal
observar a lei estabelecida; nem seria, ao contrário (pondo de parte as suas palavras)
observar o que reclamam a idéia de justiça e a utilidade comum. E com isso se harmoniza a
Epieiqueia, que nós chamamos de equidade." [4]
Parece, todavia, não ter o legislador seguido a tradição aristotélico-tomista. De fato, o
julgamento por equidade previsto na Lei 9.307 de 1996 não se refere à supressão de
lacunas, nem à adaptação dos rigorismos legais aos casos concretos.
Não se trata de autorizar o juiz a decidir eqüitativamente, suavizando e harmonizando
as normas jurídicas, mas sim a abandoná-las, decidindo os litígios com base apenas em sua
consciência moral.
Nenhum julgamento é puramente "de direito". Pelo fato, já explicado, das leis serem
sempre gerais, uma adaptação delas aos fatos concretos é sempre necessária. A equidade é
sempre utilizada pelo juiz na formação e na conformação da norma judicial (sentença). [5]
A proibição de se decidir por equidade no direito brasileiro [6] refere-se não à concepção
de Aristóteles e Tomás de Aquino sobre a equidade, pois a adaptação da lei sempre é
realizada, mas sim a não permitir que o juiz decida sem bases legais, sem justificar
juridicamente suas sentenças, a não ser nos casos autorizados.
Os legisladores brasileiros entendem por "julgamento de equidade" não a adaptação
do direito abstrato aos fatos concretos, mas sim o abandono completo do ordenamento
jurídico por parte do juiz para que ele então decida "por equidade", ou seja, valendo-se
apenas de sua consciência, talvez de um direito natural, ou ainda dos chamados "princípios
gerais de direito".
A confusão é, portanto, patente. O que é equidade? Decidir não juridicamente, mas
julgar valendo-se dos princípios gerais do direito? A questão complica-se ainda mais, uma
vez que modernamente entende-se os princípios jurídicos como normas, ou seja, como
pertencentes ao ordenamento jurídico [7]. O julgamento através dos princípios gerais de
direito implica então em um julgamento "de direito", e não de equidade. Mas aí sairíamos
de um problema de definição para outro talvez mais difícil, sem havermos resolvido o
primeiro. Voltemos então, à equidade.
A questão aqui problematizada, embora dificílima, pois o legislador não definiu um
conceito-chave da lei de arbitragem, parece para muitos bastante "tranqüila".
Antes de escrever esse pequeno texto, perguntei a alguns colegas o que eles
entendiam pelo tal "julgamento de equidade". A resposta, invariável, foi a seguinte:
"julgamento por bom-senso". Essa resposta, todavia, só transfere o problema. Bom-senso
(embora seja algo bastante necessário; e que parece faltar a muitos juristas em determinadas
situações) também é algo difícil de se definir. É, talvez, algo indefinível, pois sujeito a
muitas variações.
Por exemplo: o "bom-senso" de um árbitro de formação conservadora, ao julgar
determinado assunto controverso, será um tanto diferente do "bom-senso" de um árbitro
reformador. Um juiz positivista vê as coisas de forma bastante diferente de um juiz que se
inspira no realismo jurídico norte-americano, de caráter decisionista. Como, então, resolver
o impasse?
Dirão alguns que isso é algo característico da função jurisdicional, e que tanto a
decisão dos juízes quanto a dos árbitros, por mais que sejam fundamentadas juridicamente,
guardam, no fundo, um pouco de subjetividade. Mas uma coisa é guardar resquícios de
subjetividade, e outra bem diferente é abdicar (por lei!) completamente de qualquer recurso
jurídico em um julgamento que terá força jurídica (pois a sentença arbitral pode, como
título judicial, ser executada juridicamente). É, no mínimo, uma incoerência.
No fundo, a questão aqui discutida remete ao velho problema justiça versus segurança
jurídica. O legislador, ao permitir a escolha pelo "julgamento de equidade", confiava no
senso de justiça inerente às pessoas (no caso, os árbitros). Tal aposta, todavia, pode se
frustrar, em face das discordâncias verificadas cotidianamente entre as pessoas sobre todos
os assuntos onde alguma questão moral esteja implicada. Se a justiça é um valor caro ao
Direito, a certeza e a segurança também o são.
Se nos "julgamentos de direito", como se pode facilmente observar, as discordâncias
entre os juízes togados são muitas vezes radicais, embora sustentadas no mesmo
ordenamento jurídico, é de se imaginar o que não aconteceria nos julgamentos onde os
árbitros sejam expressamente autorizados a não justificarem juridicamente suas decisões.
Talvez um árbitro interprete o mesmo caso de forma totalmente diversa de um colega seu.
Não quero, com essa posição, negar valor às interpretações, nem assumir uma posição
positivista. A interpretação, no entanto, possui limites no texto interpretado. Se não há
texto, nem direito (incluído aqui o costumeiro), o que será objeto da interpretação? E, pior,
como justificar a decisão adotada? É regra do discurso decisório jurídico contemporâneo
que as decisões jurídicas devem ser fundamentadas juridicamente (são as razões
justificativas, a que se refere Manuel Atienza).
Com efeito, fica difícil a justificação de uma decisão em um "julgamento de
equidade". Tem razão Ronald Dworkin quando trata da problemática justiça versus
segurança jurídica. Embora não possamos abrir mão da justiça das decisões jurisdicionais,
também não podemos abrir mão de uma certa segurança jurídica, pois ela também é
responsável pela garantia da justiça. Daí a tarefa do juiz (e, pode-se estender aqui, também
a dos árbitros, pois se trata da mesma função, com as mesmas implicações) ser considerada
hercúlea. Não há justiça apenas com preocupações com segurança jurídica; mas também
não há justiça sem um mínimo de segurança. Sentenças com efeitos jurídicos devem
sempre se fundamentar em normas jurídicas. Discordo aqui, portanto, da opção do
legislador pelo "julgamento de equidade", incapaz de atender à proteção dos direitos (ainda
que disponíveis) das pessoas capazes de contratar. Tal escolha tende muito mais a trazer
novos problemas do que resolver os antigos, que motivaram inicialmente a publicação da
lei nº 9.307/96.
[1] Conferir Manuel Atienza, As razões do direito, 2000.
[2] Ver, a respeito, Vicente Ráo, 1999, nota 23.
[3] Ráo, 1999, p. 88.
[4] Santo Tomás, Summa Theologica, II parte, 2ª, CXX, apud Ráo, nota 25.
[5] Conferir Mônica Sette Lopes, 1993.
[6] CPC, artigo 127: "O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei"
[7] Conferir Galuppo, 1999.
Bibliografia
ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Brasília: UNB, 1985. Tradução de Mário da
Gama Kury.
ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teorias da argumentação jurídica. São
Paulo: Landy, 2000.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à lei 9.307/96.
São Paulo: Malheiros, 1998.
DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. Técnica, decisão,
dominação. São Paulo: Atlas, 1987.
FIÚZA, César. Teoria geral da arbitragem. Belo Horizonte: Del Rey, 1995.
GALUPPO, Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no estado democrático de
direito. Ensaio sobre o modo de sua aplicação. São Paulo: Revista de Informação
Legislativa, ano 36, nº 143, julho/setembro de 1999. p. 191 a 209.
LOPES, Mônica Sette. A equidade e os poderes do juiz. Belo Horizonte: Del Rey,
1993.
RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1999.
Disponível
em:
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/623/O-julgamento-porequidade-na-Lei-9307-96-Arbitragem
Acesso em: 14/04/09.