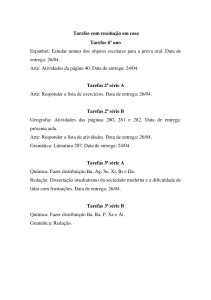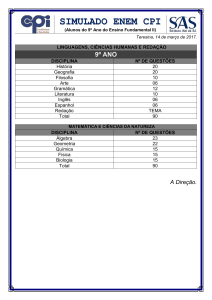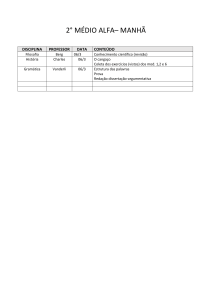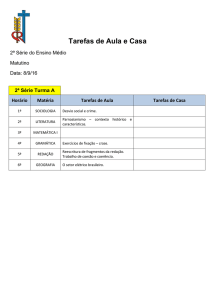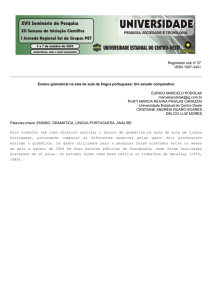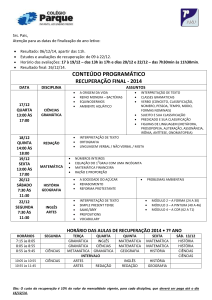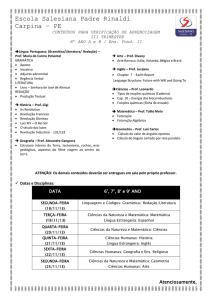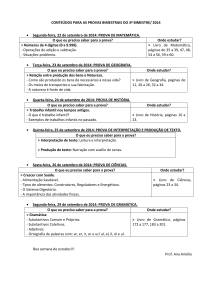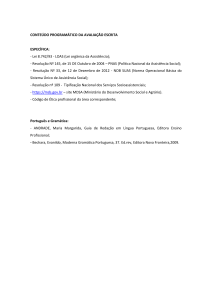AVALIAÇÃO DA GRAMÁTICA EM
REDAÇÕES ESCOLARES*
*Silvia Regina Emiliano
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo apontar problemas gramaticais mais recorrente
em textos escolares. Para isso, foram analisadas redações produzidas no Concurso Vestibular
de Verão 2002 da UEM, à luz da gramática tradicional e da planilha de avaliação da UEM, que
possui critérios próprios de avaliação. Os estudos realizados através dessas redações revelam
que um número significativo de estudantes não tem o domínio sobre tais regras. Observou-se
que é possível realizar uma avaliação cuidadosa e objetivamente balanceada nestes textos,
seguindo os critérios estabelecidos pela planilha, e ainda refletir sobre a postura do professor
em sala de aula no que diz respeito ao ensino de gramática, oferecendo-lhe, conseqüentemente,
algumas sugestões para orientá-lo na avaliação de redações.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; gramática; redação; vestibular.
ABSTRACT: This research had as objective to indicate more recurrent grammar problems in
school compositions. For this purpose compositions produced in the Summer 2002 University
Entrance Examination at UEM, taking into account traditional grammar and evaluation guidelines
of UEM, which has its own evaluation criteria. The studies carried out by means of these
writings reveal that a significant number of students do not present any control over such
rules. It was observed that it is possible to carry out careful and objectively balanced evaluation
in these texts, following the criteria established in the university guidelines, and also reflect
about the teachers’ posture in classroom concerning the teaching of grammar, providing them
with suggestions to guide them in evaluating writings.
KEY-WORDS: Evaluation; grammar; composition; university entrance examination.
Considerações iniciais
Vinculada ao projeto de pesquisa Redação em língua materna:
abordagens de avaliação, que tinham a proposta de contribuir para a
melhoria de critérios de avaliação de textos no ensino, através de critérios
que possam criar metodologias com objetivos mais coerentes nas aulas de
produção e avaliação de textos, este artigo tem como objetivos apontar os
problemas gramaticais mais recorrentes em textos escolares, oferecendo
sugestões que possam ajudar o professor a realizar uma avaliação mais justa,
e verificar se a proposta da avaliação da UEM é coerente ao avaliar as
redações. Para isso, foram analisadas as redações produzidas no Concurso
Vestibular de Verão 2002 da UEM, à luz da gramática tradicional e da planilha
de avaliação da UEM, que possui critérios próprios de avaliação.
MATHESIS - Rev. de Educação - v. 5, n. 1 - p. 149 - 176 - jan./jun. 2004
149
As concepções de gramática: gramática, estrutura ou análise
lingüística?
Sobre a concepção de gramática, Possenti (1987 e 1996) e Travaglia
(1996) apresentam três definições. Na primeira, entende-se um conjunto de
regras a serem seguidas para que se possa falar e escrever corretamente,
uma significação coerente para esse tipo de estudo que, conforme Geraldi
(1997), orienta-se à luz da concepção de linguagem como expressão do
pensamento – a que defende a logicidade do pensar vinculada a um segmento
de regras. Por isso, designa-se gramática normativa, prescritiva ou tradicional,
caracterizando-se pela preocupação em defender e manter a variedade
padrão de uma língua. Seu objetivo é fazer com que o aluno, através do
contato com as regras, seja capaz de saber aplicá-las, dominando assim a
norma padrão-culta.
Contrapondo-se à significação de gramática um conjunto de regras
que devem ser seguidas, a segunda visão apresenta-se sob a seguinte definição
dada por Possenti (1997, p. 47):
Gramática é o conjunto de regras que um cientista da língua encontra nos dados
que analisa a partir de uma certa teoria e de um certo método. Nesse caso, por
gramática se entende um conjunto de leis que regem a estruturação real de
enunciados produzidos por falantes, regras que são utilizadas.
Resumidamente, é um conjunto de regras que são seguidas por falantes
num discurso real e que procura fixar regras de usos, separando o que é
agramatical do que se convencionou como gramatical. Para Travaglia (1996,
p. 27), “Gramática será então tudo que se atende às regras de funcionamento
da língua de acordo com determinada variedade lingüística”. Diferente da
primeira concepção, que ignora características próprias da linguagem falada,
essa tem por apreciação a oralidade e frases como “Eu vi ele ontem” são
permitidas e consideradas, pois encontram-se de acordo com as regras de
funcionamento da língua, ou seja, como uma de suas variedades.
A terceira concepção de gramática surge sob uma perspectiva que a
torna diferente das duas primeiras. De acordo com Travaglia (1996), por
conceber a língua não de uma maneira única e invariável, mas como um
150
conjunto de diversidades que são usadas por uma sociedade conforme exigir
a situação de interação comunicativa em que se encontrar o falante da língua,
a gramática é então definida como o conjunto das regras as quais o usuário
aprendeu e que delas faz uso ao falar.
Sobre este conceito acrescenta Franchi (apud Travaglia 1996, p.
28): “Gramática corresponde ao saber lingüístico que o falante de uma língua
desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação
genética humana, em condições apropriadas de natureza social e
antropológica”. Este autor observa que o saber gramático não é aprendido
somente na escola ou em outros meios de aprendizagem sistematizados, ele
é resultado da utilização contínua e amadurecida da linguagem, de seus
princípios e regras. Chamada também de internalizada, essa gramática não
tem livros que a retratem porque ela é o próprio objeto da descrição.
Desse modo, esta classificação de gramática não faz distinção lingüística
entre o certo e o errado, porém alerta para a inadequação das diversificações
da fala que necessitam ser aproveitadas, levando em conta o contexto no
qual se estabelece a interação comunicativa. Considerando as normas sociais
de uso da fala, em certas situações de comunicação, não convém utilizar
recursos lingüísticos desapropriados que não contribuem para dar o sentido
desejado ou comunicar uma intenção.
Nesta visão tem-se uma noção muito mais ampla de gramática, porque
a linguagem é percebida como um reflexo de um contexto sócio-históricoideológico. Portanto, ela é empregada a partir de um modo de se ver a
sociedade e os fatos num dado momento histórico. Disso dependerá a
construção de um enunciado lingüístico dentro de uma variedade da língua e
conseqüentemente o sentido que ele poderá refletir.
A partir disso, a gramática internalizada é contemplada por ser a base
do que se chama de competência gramatical ou lingüística do usuário da
língua, por não atuar somente no nível da frase, como também fazendo uso
da língua através de textos nas diferentes situações da interação comunicativa,
os princípios que regem a conversação e outros.
Conforme Hila (1998), tornar o educando em um falante competente
é ensiná-lo a usar adequadamente a língua nas mais diversas situações de
uso, desde aquelas que tem o papel de enunciador de um discurso2 até as
151
que atua somente como um interlocutor. A partir dessa ótica, a terceira
concepção de gramática funde-se com a de linguagem que defende um
conceito interacionista de língua, em que o ato comunicativo se estabelece
através de uma ação recíproca, que parte de quem fala – o sujeito – permeado
por um discurso, atingindo diretamente um interlocutor e implicando numa
comunicação eficaz, uma vez que se preocupa não só com a mensagem,
com o informante ou informado, mas com todas as partes envolvidas neste
processo. É exatamente esse caráter dialógico do discurso que propicia a
interação entre sujeitos formados pelo próprio discurso.
Por tal razão é que na gramática internalizada prioriza-se o ensino de
texto3 porque ao se comunicar as pessoas não se utilizam somente frases,
tão pouco fazem uso do próprio discurso, elas agem e atuam umas sobre as
outras num jogo interativo com a linguagem, pois, conforme Val (1991),
quando se expressa verbalmente o sujeito o faz por meio de texto e não por
frases isoladas, pois são justamente textos que se tem a declarar e não frases.
Portanto, essa gramática não compreende o falante como emissor de
informações, o recebedor como um ouvinte e a língua como um código a ser
decifrado e, por isso, não se pauta no ensino da metalinguagem, pois explicita
Hila (1998, p. 50) que não se deve pretender que o aluno saiba a gramática,
cobrando-lhe, aleatoriamente, regras gramaticais. E, além disso, argumenta
que se a linguagem é interação, saber a língua não é ter apenas a competência
lingüística, mas também saber adequá-la às várias situações de fala.
A relação da gramática com o ensino de língua portuguesa
De acordo com Geraldi (1997), o baixo nível de desempenho
lingüístico, evidenciado pelos estudantes na utilização da língua, seja na
modalidade oral, seja na modalidade escrita, tem sido alvo de destaque quando
o assunto é a crise do sistema educacional brasileiro. Exemplos disso são as
redações de vestibulandos, o vocabulário da gíria jovem, o baixo nível de
leitura dos alunos. A falta de desenvolvimento do uso da língua se deve, em
partes, a democratização da escola que trouxe uma clientela com diferenças
dialetais, aos baixos salários dos professores e ao próprio sistema
administrativo. Outro fator contribui também para que o Geraldi denomina
de fracasso escolar ao referir-se ao ensino de língua portuguesa: a
desvalorização das demais formas de falar que não estejam articuladas como
as preceituam a norma padrão-culta.
152
Nesse contexto, como esclarece Soares (apud Geraldi, 1997), surgem
os defensores da variedade lingüística das classes populares, alegando que a
escola deve respeitá-la e preservá-la, tornando-a instrumento legítimo de
seu discurso. Por outro lado, aparecem os que argumentam ser necessário o
domínio da linguagem culta, pois é uma ferramenta indispensável para que se
supere as desigualdades sociais.
Diante disso, aponta Geraldi (1997) que o mais sensato ao professor
de língua portuguesa é ensinar ao aluno o dialeto padrão, de uma maneira
que ele possa dominá-lo sem se desconsiderar e desqualificar a variedade
lingüística própria do meio social em que vive.
Assim, acrescenta Geraldi (1997, p. 45) que:
A alteração da situação atual do ensino de língua portuguesa não passa apenas
por uma mudança nas técnicas e nos métodos empregados na sala de aula. Uma
diferente concepção de linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas
principalmente um “novo conteúdo” de ensino.
A expressão afirmativa de Geraldi leva à reflexão sobre a conduta do
professor em sala de aula, a concepção que tem referente à linguagem e aos
conteúdos de ensino escolhidos por ele para promover a interação e, ao mesmo
tempo, a aquisição de conhecimentos da língua. Em outras palavras, se o
professor é consciente do processo interativo promovido pela língua, precisa
atentar-se para a escolha do conteúdo e os métodos utilizados para alcançar o
seu objetivo que é fazer o aluno aprender. No entanto, isto não tem acontecido
nas escolas, porque durante o processo de ensino ocorre o predomínio da
exploração de metalinguagem, prevalecendo atividades de descrição gramatical,
estudos de regras, resultando em pouquíssimo trabalho com a linguagem, que,
neste caso, é vista apenas como a expressão do pensamento.
Desse modo, percebe-se um certo distanciamento do professor em
relação à realidade do aluno, pois parece não existir uma atividade concreta
e real com a linguagem usada pelos estudantes e sim uma decodificação da
metalinguagem incentivada na prática escolar devido à preocupação de se
proporcionar ao aluno a aprendizagem da norma culta.
153
Diante disso, não se pretende culpar o professor pelo mau êxito da
escola, mas é papel dele reconhecê-lo e compartilhá-lo com os alunos,
discutindo os problemas que perpassam a educação, seja em nível
administrativo, seja em nível das verbas que são escassas. É possível encontrar
nas contradições presentes na prática de sala de aula uma postura de educador
que reflita sobre essas dificuldades e procure soluções para um fazer agora. A
escola que temos transformar-se-á naquela que queremos, a partir do momento
em que o professorado meditar sobre as questões – para que ensinamos o que
ensinamos? E para que as crianças aprendem o que aprendem? As quais
implicam em uma concepção de linguagem interacionista e, conseqüentemente,
em um diferente método de ensino. Geraldi (1997, p. 41) explica que “a terceira
concepção de linguagem implicará uma postura educacional diferenciada, uma
vez que situa a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais,
onde os falantes se tornam sujeitos”.
Então o ensino da língua deve partir da linguagem em funcionamento,
porque é muito mais relevante estudar as relações que se estabelecem entre
os sujeitos quando falam do que ficar preso em exercícios de descrição
gramatical. Assim, é necessário que o professor reconsidere o que vai ensinar,
porque saber a língua não se restringe ao domínio de conceitos e
metalinguagens, além disso, abrange o conhecimento das habilidades de uso
da língua em situações concretas de interação.
Sendo assim, as atividades de ensino devem estar voltadas para a
aprendizagem da língua, envolvendo um trabalho com a leitura, produção
textual e análise lingüística, principalmente com as séries do ensino
fundamental. Os exercícios com a forma da língua precisam servir de apoio
e não como ferramenta indispensável. Tarefas desse nível são necessárias
para alcançar o objetivo final, na aquisição de conhecimento da língua em
sua variedade padrão.
Para ilustrar o que Geraldi constatou em seus estudos, apresentam-se
aqui referências a uma pesquisa realizada por Neves (1990, apud Travaglia,
1996, p. 102) com 170 professores de 1º e 2º graus no estado de São
Paulo, que serve de modelo para se ter conhecimento de como está o ensino
de gramática em nosso país.
154
Quanto ao objetivo do ensino de gramática, ao perguntar aos professores
“para que se ensina a gramática?”, Neves observou que quase 50% das
respostas são dirigidas ao bom desempenho, enfatizando o desempenho ativo
(melhor expressão, melhor comunicação, melhor compreensão), 30% referemse a questões normativas (maior correção, conhecimento de regras ou de
normas, conhecimento do padrão culto) e 20% remetem a uma finalidade teórica
(aquisição das estruturas da língua, melhor conhecimento da língua, conhecimento
sistemático da língua, apreensão dos dados da língua, sistematização do
conhecimento da língua) e menos de 1% dos professores afirmou que só ministra
aula de gramática para cumprir o programa. Para a pergunta, a maior parte
das respostas se menciona ao melhor desempenho lingüístico, ao falar e escrever
melhor, ligando-se a sucesso na vida prática. Ao mesmo tempo que se afirma
isto, também se aposta que o conhecimento da língua não é utilizável para
nada. Assim, o ensino de gramática é visto sem utilidade alguma na prática e a
finalidade de cumprir o programa se liga ao sucesso na sala de aula de apenas
acertar os exercícios. Conforme Travaglia (1996), isto mostra que para a maioria
dos professores, não há uma real necessidade para o ensino de teoria gramatical.
Então, a razão para o uso contínuo dessas atividades em sala seja, talvez, por
comodismo, desconhecimento de alternativas, exigência do currículo, dos pais,
da sociedade em seus concursos.
Além disso, referindo-se ao que é ensinado, Neves evidencia que as
áreas do programa de Língua Portuguesa que mais são trabalhadas por ordem
de freqüência são:
1. Classes de Palavras........................................39,71%
2. Sintaxe...........................................................35,85%
3. Morfologia.....................................................10,93%
4. Semântica........................................................3,37%
5. Acentuação.....................................................2,41%
6. Silabação.........................................................2,25%
7. Texto...............................................................1,44%
8. Redação..........................................................1,44%
9. Fonética e Fonologia....................................... 0,96%
10. Ortografia........................................................0,80%
11. Estilística...........................................................0,32%
12. Níveis de Linguagem....................................... 0,32%
13. Versificação......................................................0,16%
155
Vale ressaltar que os exercícios de reconhecimento e classificação
de classes de palavras e de funções sintáticas correspondem a 75,56% das
atividades de ensino de gramática, aparecendo em todos os grupos de
professores pesquisados, repetindo-se anualmente os mesmos tópicos
gramaticais, durante os onze anos que constituem o ensino de 1º e 2º graus.
Quanto ao que se deve ensinar, Soares (apud Travaglia, 1996, p.103)
mostra que ainda não há um consenso, pois existem escolas e professores
cujo programa de Língua Portuguesa é constituído apenas por uma lista de
tópicos gramaticais, outras que não ensinam gramática de forma sistematizada,
por acreditarem que o papel do professor de Português é ensinar o uso da
língua e existem aquelas ainda cujos programas contêm basicamente atividades
e alguns tópicos gramaticais. Travaglia afirma que estas diversidades provêm
das secretarias de educação e delegacias de ensino de diferentes formações
dos professores e da influência do livro didático adotado.
Para a questão como é ensinada a gramática, Neves (apud Travaglia,
1996, p.104) explicita que mais de 50% dos professores fazem uso de textos
e muitos deles utilizam os dos próprios alunos para a exercitação gramatical;
40% partem da teoria; 5% se aproveitam das lições. Na verdade, os
professores retiram dos textos unidades (frases ou exemplos) para análise e
catalogação. Vê-se também que o livro didático é o principal recurso usado
por eles, tanto para adquirirem informação quanto para buscarem apoio ao
ensinarem os conteúdos.
Contextualização do corpus
O corpus da pesquisa foi constituído a partir de redações do concurso
vestibular Verão 2002, da Universidade Estadual de Maringá. Entre as
produções feitas pelos vestibulandos, foram selecionadas doze para a
realização das análises.
O motivo dessa escolha está diretamente ligada a participação da
pesquisadora, a partir do ano 2000, no projeto Redação em língua materna:
abordagens de avaliação coordenado pelos professores Renilson Menegassi
e Marilurdes Zanini, de onde foram colhidas as redações.
156
O projeto em questão tinha como proposta contribuir para a melhoria
do ensino, através de critérios que possam criar abordagens com objetivos
mais coerentes nas aulas de produção e avaliação de textos, nos níveis de
ensino que antecedem a fase do vestibular; além disso objetivava também
diminuir as discrepâncias de notas entre os avaliadores, amenizando o processo
de avaliação na situação específica de vestibular.
Esses critérios foram desenvolvidos numa planilha para orientar uma
avaliação mais objetiva das redações e servir de subsídios para o professor
nas aulas de produção de textos (Zanini e Menegassi, 1999). Assim, durante
o desenvolvimento do projeto, são discutidas questões que envolvem o
processo ensino/aprendizagem e que estão na planilha como itens a ser
avaliados4 , sendo eles o título, o tema, a coerência, a tipologia textual, o
emprego da norma padrão-culta e a coesão. Os três primeiros itens pertencem
ao campo do Conteúdo (valor 30 pontos) e os demais ao campo da Forma
(valor 30 pontos), totalizando 60 pontos, valor da prova de Redação.
Desse modo, esses campos são subdivididos em itens, contemplando
uma gradação de valores específicos, de acordo com o desempenho dos
candidatos, para o título, o tema, a organização textual (coerência, tipologia
textual e coesão) e o emprego da norma padrão-culta.
Nesse sentido, o corpus será analisado no item modalidade
gramatical, conforme os aspectos prescritos na planilha que são apresentados
e avaliados na seguinte escala:
Fora das normas – Valor 1: Falhas distintas em todos os níveis:
palavras, frases, períodos e textuais: ortografia, pontuação, semântica, sintaxe.
Uso sofrível – Valor 2: Estruturas orais descontextualizadas; criações
lexicais improcedentes e falhas de pontuação, morfológicas, sintáticas e
semânticas. Paragrafação totalmente comprometida.
Uso regular – Valor 4: Criação de palavras absurdas. Falhas sintáticas,
semânticas e de pontuação menos graves. Paragrafação comprometida.
Uso aceitável – Valor 6: Falhas de ortografia e/ou de pontuação; deslizes
sintáticos e semânticos sem comprometimento. Paragrafação marcada.
157
Uso correto – Valor 8: Falhas de ortografia e/ou de pontuação; raros
deslizes de concordância e de regência em situações de uso não cotidiano.
Paragrafação marcada conscientemente.
Uso sofisticado – Valor 10: Sem falhas ou alguma falha que denote
“esquecimento” em quaisquer níveis. Paragrafação conscientemente marcada.
Na planilha de avaliação, o emprego da norma padrão-culta recebe
uma pontuação de 1 a 10 pontos, numa escala valorativa de 60 pontos do
total da redação, distribuídos entre os seis itens que a compõem. Assim, o
emprego da norma padrão-culta corresponde a 16,66% do total da redação
avaliada, o que, numa escala de 0 a 100 pontos, como é normalmente no
sistema escolar, também corresponderia a 16,66%.
Análise das redações
Apresentam-se, nesta seção, as análises das redações segundo a
planilha, numa ordem gradativa, conforme os itens anteriormente observados.
Emprego fora das normas
Concientisação é a solução
A fome poderia facilmente ser resolvida no pais, pois vivemos
em um pais muito grande e com terras férteis, terras estas que na
maioria das vezes estão nas mãos de grande latifundiários digo
latifundiários que as abandonam e as deixam improdutivas.
Há tabém o grande dis perdicio por parte da populacao,
indústrias e transporte dos alimentos, se somarmós todas estas
pecas teriamos um total de quase 50%, alimentos este que
poderiam. estar matando a fome de inumeras pessoas. Muita digo
grade parte da população tem comciencia deste disperdicigo e
colaboram como podem para acabar coma fome. Uma ideia usada
pelo governo do Paraná para reduzir a fome no estado foi a
invenção de um “sopão”, sopão este que e feito apartir das sobras
158
de legumes e verduras que são doados pelas centrais de
abastecimentos, esta ideia esta contribuindo para reduzir o numero
de famintos no estado e esta idéia deu tão certo que outros estados
brasileiros estão adotando esta idéia, mas só o sopão não
conciquira acabar com a fome do pais nos também temos que nós
concientizar e tentar reduzir ao maximo o desperdício não so o de
alimentos mas também o de água, energia e recursos naturais.
No primeiro parágrafo, a redação apresenta problemas de ortografia –
pais, maos, latifundiários; de pontuação – terras estas que na maioria das
vezes estão nas maos (...); de concordância nominal – grande latifundiários.
No segundo parágrafo, as falhas que se referem à ortografia persistem
– tbém, dis perdicio, população, pecas, teriamos, inumeras, grade,
comciencia, disperdicigo, apartir, ideia, esta, numero, conciquira, nos (nós),
nós (nos), concientizar, maximo, disperdicio, so (só), somarmos; ausência de
preposição – dis perdicio por parte da populacao, indústrias e transporte
dos alimentos; de concordância nominal – alimentos este que poderiam (...);
concordância verbal – grade parte da população tem comciencia deste
disperdicigo e colaboram como podem; de expressão verbal – sopão este
que e feito apartir das sobras de legumes e verduras (...) – esta ideia esta
contribuindo (...); erros de periodização – há tbém o grande dis perdicio por
parte da população, indústrias e transporte dos alimentos, se somarmos
todas estas pecas (...) quase 50%, alimentos este que poderiam estar matando
a fome de inúmeras pessoas (...) sopão este que e feito apartir das sobras de
legumes e verduras que são doados pelas centrais de abastecimentos, esta
idéia esta contribuindo para reduzir (...); de estrutura de parágrafo – grade
parte da população (...) colaboram como podem para acabar com a fome.
Uma idéia usada pelo governo do Paraná (...); de pontuação – se somarmós
todas estas percas teriamos um total – uma idéia usada pelo governo do
Paraná para reduzir a fome no estado foi a invenção de um “sopão”- mas
só o sopão não conciquira acabar com a fome do pais nos também temos
que nós concientizar e tentar reduzir ao maximo o disperdicio não so de
alimentos mas também de água, energia e recursos naturais.
159
Ao analisar a redação que se enquadra no aspecto Emprego Fora das
Normas, pôde-se observar que o valor atribuído a ela é coerente e adequado,
pois apresenta erros graves em todos os níveis. Isso prova que o texto do
candidato não demonstrou o domínio das noções gramaticais, porque, no
momento de produção específica, não conseguiu operacionalizar com as regras
de uso padrão da língua, evidenciando um desempenho lingüístico muito baixo,
aquém do que se espera de um candidato à vaga no Ensino Superior.
Emprego das normas com falhas graves
O disperdicio mata de fome
Existem milhoões de pessoas passando fome no Brasil e
todos sabem desse problema mas não são todos que tentam
resolvê-lo.
O desperdício de comida no Brasil é incrível toneladas de
alimentos são perdidos na colheita e no plantio, no transporte, no
varejo e jogado fora pela população, com esse disperdicio daria para
dar um jeito na fome porque para acabar com a fome de uma vez
teria que mudar muita coisa no pais.
Se todo brasileiro ajudasse um pouco a fome seria menor
em todo país, mas esse é mais um problema não são todos que
ajudam no combate à fome e sem uma pequena minoria entre
milhões que sabem que a fome existe e que mata e mesmo assim
não pensam em fazer nada para ajudar.
A fome não aparece em uma certa época do ano ela existe o
ano inteiro, não adianta tentar ajudar uma noite apenas e sim
todas as noites como poucas pessoas fazem, ajudam quem precisa
sem pedir nada em troco apenas um obrigado e um sorriso ja é
uma boa forma de pagamento.
Comida é o que não falta colaboração é o que falta.
160
No primeiro parágrafo, a redação apresenta falha na pontuação –
todos sabem desse problema mas não são todos que tentam resolvê-lo
O segundo parágrafo fica comprometido devido aos problemas de
periodização e pontuação – o desperdício de comida no Brasil é incrivel
toneladas de alimentos são perdidos [...] e jogado fora pela população,
com esse disperdicio daria para dar um jeito na fome porque acabar com
a fome de uma vez teria que mudar muita coisa no pais; de concordância
nominal - toneladas de alimentos são perdidos [...] e jogado fora pela
população; de ortografia pela falta de acentuação em – disperdicio, incrivel.
Os desvios às normas cometidos pela falta de pontuação ocorrem
novamente no terceiro parágrafo – se todo brasileiro ajudasse um pouco a
fome seria menor [...] mas esse é mais um problema não são todos que ajudam
[...] e sem uma pequena minoria entre milhões que sabem que a fome existe
e que mata e mesmo assim não pensam em fazer nada para ajudar.
No quarto parágrafo, há também incidência em problemas de
periodização e pontuação – a fome não aparece em uma certa época do ano
ela existe o ano inteiro, não adianta tentar ajudar uma noite apenas e sim
todas as noites como poucas pessoas fazem, ajudam quem precisa sem
pedir nada em troco apenas um obrigado e um sorriso ja é uma boa forma
de pagamento; em regência - ajudam quem precisa; em ortografia – ja.
Para o aspecto Emprego das Normas com Falhas Graves, que recebe
um valor de 2 pontos, foi possível notar, através da análise, que a pontuação
está adequada a ela, porque as falhas permeiam todos os níveis e a quantidade
de erros encontrados nesta seção é menor do que os da anterior. Observase nessa redação que o candidato faz uso da norma padrão-culta com
incertezas, não há preocupação com a elaboração da escrita de acordo com
a norma culta, evidenciando, às vezes, descuido, e outras, falta de
conhecimento das normas e de seu uso na escrita.
161
Emprego das normas com falhas
Podemos aproveitar melhor os nossos alimentos.
No Brasil, há um grande desperdicio de alimentos diariamente.
Pensando nesse desperdício, algumas isnstituições reaproveitar uma
parte destes alimentos. E com tanto desperdício muitas pessoas
deixam de estarem recebendo comida em suas casas.
A grande maioria dos alimentos jogados todos os dias vão
para o lixo, este são jogados por: restabuantes, Industrias, feiras,
acougues, mercados, e principalmente por fazendas que perdem
muito da sua produção. Estes (alimentos) poderia servir de
alimentos para cerca de dois-terços dessa população, que passa
fome. Existe cerca de 23 milhões de pessoas que se encontra na
mais completa “pobreza”, e que poderiam ter sua fome contida
com a doação destes alimentos
No entanto as empresas, não doa os alimentos, para não terem
responsabilidade sobre doenças ou infequições que este possam
causar as pessoas que engeri-los. Felismente existe instituições, não
governamentais que recolhe uma parte dos alimentos que seram
jogados e transformam-os, de maneira que possam ser distribuidos
em seguida às pessoas.
Emtretanto o governo deveria ser menos rigoroso com as
empresas, quanto a doação dos alimentos. ou criar um orgão que
ficasse responsável pelos recolhimento deste, e sua distribição as
pessoas necessitadas.
No primeiro parágrafo, a redação apresenta falhas quanto à
ortografia – desperdicio, isnstituições; flexão verbal - pessoas deixam
de estarem; concordância verbal - algumas isnstituições reaproveitar
uma parte destes alimentos.
162
No segundo parágrafo, desvios à norma em de concordância nominal
- este são jogados, Estes (alimentos) poderia servir, passa fome, Existe
cerca de 23 milhões de pessoas que se encontra; de pontuação - doisterços dessa população, que passa fome. Existe cerca de 23 milhões de
pessoas que se encontra na mais completa “pobreza”, e que poderiam
ter sua fome contida com a doação destes alimentos; de ortografia –
restabuantes, acougues, dois-terços, industrias.
Os mesmos problemas ocorrem no terceiro parágrafo: No entanto as
empresas, não doa os alimentos; doenças ou infequições que este possam
causar as pessoas que engeri-los; existe instituições, não governamentais
que recolhe; seram jogados; transformam-os, de maneira que possam
ser distribuidos em seguida às pessoas.
No último parágrafo, apresenta falhas devido a ausência de pontuação
– Emtretanto; pontuação inadequada - a doação dos alimentos. ou criar
um órgão(...), erro de concordância nominal - pelos recolhimento deste;
de regência - , quanto a doação dos alimentos. ou criar um orgão que
ficasse responsável pelos recolhimento deste, e sua distribição as pessoas
necessitadas; de ortografia – Emtretanto, orgão.
O aspecto Emprego das Normas com Falhas, de acordo com a redação
analisada, também apresenta pertinência com os problemas levantados no texto
em questão. Apesar de evidenciar muitos problemas quanto à pontuação,
ortografia, sintaxe e as frases serem simples, esta redação recebe quatro pontos
porque as falhas cometidas não é considerada muito grave, do ponto de vista
de comprometimento da “boa escrita”em relação aos itens anteriores.
Emprego aceitável das normas
Consciência precária
Existem hoje no Brasil uma imensa população faminta,
e também há uma grande concentração de alimentos, mas
ambas não estão se conciliando, o disperço está muito além
do que imaginamos.
163
O Brasil colhe alimentos para supri as nescessidades de mais
da metade dos que passam fome, mas a comida fica no meio do
caminho, e somente um mísera chega ao ponto final. O que
nescessitamos é que haja uma nova distribuição, pois assim está
tudo errado, uns tem tanto, enquanto outros não tem nada.
O alimento na sua maioria são desperdiçados indo para o
lixo, grande parte destes, são viáveis, mas infelizmente, é
preferível jogar no lixo do que distribuir, as vezes por ser mais
cômodo, inventam desculpas alegando que podem estar
estragados ou algo parecido.
Felizmente existem algumas pessoas que fazem algo para
amenizar este problema, poucos mas existem, em alguns estados
brasileiros existem frentes de conscientização em andamento,
assim como o sopão, que são alimento que estão sendo muito
bem aproveitados.
Entretanto devemos continuar o que está sendo feito de bom,
para que o problema possa ter um final desejado.
No primeiro parágrafo, essa redação apresenta problemas de
concordância nominal e verbal - Existem hoje no Brasil uma imensa
população faminta, e também há uma grande concentração de alimentos,
mas ambas não estão se conciliando; de pontuação - Existem hoje no
Brasil uma imensa população faminta, e também há; ortografia – disperço.
No segundo parágrafo, há marca de oralidade - supri as nescessidades;
pontuação - fica no meio do caminho, e somente; a concordância fica
comprometida pela falta de acentuação - uns tem tanto, enquanto outros
não tem nada; erro ortográfico – nescessidades, nescessitamos.
A concordância verbal novamente fica comprometida no terceiro
parágrafo - O alimento na sua maioria são desperdiçados; o mesmo com
a pontuação - são desperdiçados indo para o lixo, grande parte destes,
são viáveis; falha em regência - , é preferível jogar no lixo do que distribuir;
problemas quanto a organização de períodos e frases - indo para o lixo,
grande parte destes, são viáveis, mas infelizmente, é preferível jogar no
lixo do que distribuir, as vezes por ser mais cômodo, inventam desculpas
alegando que podem estar estragados ou algo parecido.
164
No quarto parágrafo, encontram-se falhas de concordância verbal
e nominal - existem algumas pessoas que fazem algo para amenizar
este problema, poucos mas existem [...] como o sopão, que são
alimento que estão sendo muito bem aproveitados; de organização
de período – , poucos mas existem, em alguns estados brasileiros
existem frentes de conscientização.
O sexto critério Emprego aceitável das normas também está adequado
à redação examinada, pois as falhas encontradas no texto são de concordância
verbal e nominal, pontuação, ortografia, organização de frases e períodos e
outras como regência, flexão verbal, preposição e marca de oralidade. Além
disso, são aceitáveis porque se leva em consideração o contexto em que
estão inseridas (escolaridade dos candidatos, situação específica de produção
etc.). São por estas razões que, mesmo apresentando algumas falhas graves,
esta redação recebe um valor de número 6 pontos.
Emprego bom das normas
O extermínio da fome
Acompanhadora da humanidade há muitos anos, a fome
não se constitui num problema moderno. João Cabral de Melo
Neto em “O galo sozinho não tece uma manhã” expressa a
importância de coletivizar as soluções para que não apenas um e
sim toda sociedade se mobilize na erradiciação do grande problen,
digo, problema.
Segundo Malthus, a população cresceria em progressão
geométrica enquanto o alimento em progressão aritmética, ou seja,
faltaria alimento para o contigente populacional. Pesquisas
invalidaram essa previsão e revelaram que o volume de alimentos
produzidos é suficiente para abastecer toda a população mundial.
Haveria um paradoxo entre essas pesquisas e a realidade?
Milhares de pessoas passam fome por não terem o que comer
ou por não atingirem a quantidade de calorias recomendada pela
Organização Mundial de Saúde. Inicialmente caracterizada pela
165
escassa produção, depois da Revolução Industrial e com o advento
do Capitalismo, a fome englobou outras causas. Ao contrário das
sociedades paleolíticas e neolíticas, que coletavam e produziam apenas
o necessário, a capitalista propõem a produção em larga escala. Junto
com esse tipo de produção, o principal aspecto do capitalismo se
instala: o consumo exacerbado. Indivíduos consomem não apenas o
necessário, mas também o supérfluo e o inutilizável. Decorrente disso,
o desperdício acaba sendo alarmante.
Diminuir esse desperdício é também diminuir a fome.
Agricultores poderiam destinar parte de suas colheitas para
instituições carentes. A vigilância sanitária atuaria no controle e
no exame dos excedentes alimentares provenientes de restaurantes
e mercados. Os bancos de alimentos distribuir- os-iam de forma
igualitária. Organizações governamentais e não governamentais
aumentariam a taxa de conversão do lixo em comida. Deixando
de lado o espírito consumista dos capitalistas e com essa ação
conjunta da sociedade, dita anteriormente por João Cabral de
Melo Neto, diminuir-se-ão os desperdícios e, conseqüentemente,
exterminar-se-á a fome mundial.
No primeiro parágrafo, existem deslizes na pontuação - expressa a
importância de coletivizar as soluções para que não apenas um e sim
toda sociedade se mobilize.
O mesmo problema ocorre no segundo parágrafo -, a população cresceria
em progressão geométrica enquanto o alimento em progressão aritmética.
O terceiro parágrafo apresenta falhas quanto à estrutura - Milhares
de pessoas passam fome por não terem o que comer(...)Inicialmente
caracterizada pela escassa produção, depois da Revolução Industrial e
com o advento do Capitalismo, a fome englobou outras causas.
No quarto parágrafo, há deslize de pontuação - Diminuir esse
desperdício é também diminuir a fome; de colocação pronominal - Os
bancos de alimentos distribuir- os-iam.
166
Após a análise da redação que está classificada no aspecto Emprego
bom das normas, verifica-se que, apesar de apresentar falhas em pontuação,
estruturação de parágrafo e outras quanto à acentuação, regência, preposição
e colocação pronominal, esta evidencia um bom emprego da norma culta.
Esses deslizes são aceitáveis porque mostram que houve, por parte do candidato,
uma preocupação maior com as informações do que com a elaboração destas.
Por isso, o valor que recebem é coerente com os deslizes apresentados.
Emprego ótimo das normas
O pão nosso de cada dia não desperdiçai hoje
Miséria e fome: duas das mais famigeradas palavras do
contexto atual, abordadas constantemente em discussões dos mais
variados cunhos e intensificadas de acordo com o momento sócioeconômico do país. São acima de tudo, palavras que remetem-nos à
reflexões intensas sobre suas razões e conseqüências, caminham juntas
e compõen um cenário tenebroso, do qual livram-se apenas, mas não
totalmente, os países desenvolvidos.
Depreende-se assim, a impressão de que fome é resultado
direto da miséria. Seria esta uma constatação totalmente verdadeira?
Dados atuais comprovam que não. A fome no Brasil abrange
aspectos mais completos, sendo de fundamental importância
destacar o enorme desperdício de alimentos. É fato que uma
quantidade imensa de comida é jogada fora diariamente. Isso não
ocorre por acaso, um dos grandes fatores que corroboram para
esta situação é cultural. Em um país no qual educação privilégios
de poucos, educação alimentar torna-se ainda mais restrita, o que
leva a grande maioria da população a adquirir uma postura
incorreta e deficiente no que tange ao aproveitamento dos alimentos.
167
Convém ressaltar ainda que a falta de informação e apoio
principalmente aos pequenos produtores contribui para que o desperdício
durante o plantio e colheita seja também bastante significativo. Além
disso, há ainda as perdas no transporte e armazenamento e na indústria,
completando assim esse quadro inaceitável e contraditório.
Entretanto a afirmação de que o desperdício é provocado
apenas pela falta de informação seria ingênua e equivocada.
Cumpre citar ainda que existem projetos espalhados por todo o
país, os quais, embora modestos, possuem bons resultados e
alcançariam êxito maior se houvesse apoio governamental eficiente.
Dessa forma, é notável que o desperdício constitui-se não em
uma barreira que conduz invariavelmente à fome. Vencê-lo e levar
esse alimento à população é possível e requer uma nova postura de
toda a sociedade. Requer consciência dos que detêm o poder, para
garantir informações ao povo e, acima de tudo, requer incentivo
não apenas aos projetos existentes, mas a todo o processo de
produção e comercialização do alimento.
No primeiro parágrafo, há deslize na pontuação – São acima de
tudo, palavras [...]. Na regência verbal – palavras que remetem-nos à
reflexões sobre suas razões e conseqüências; e na ortografia – compõen.
No segundo parágrafo, novamente há falha na pontuação – depreendese assim, a impressão de que fome é resultado direto da miséria.
Já no quarto parágrafo, há deslize pela falta de pontuação em – a
falta de informação e apoio principalmente aos pequenos produtores
contribui para que [...].
Embora essa redação apresente alguns deslizes em pontuação e até
mesmo em regência verbal, considerando o momento específico de suas
produções e a concepção de linguagem aqui assumida, ela é avaliada como um
ótimo emprego das normas, recebendo, portanto, um valor de 9 a 10 pontos.
168
Apresenta-se, agora, um quadro com o índice de ocorrências de
problemas em cada item:
Fora das N ormas
-
Expressª o verbal
Falta de acentua ª o
O rtografia
Concord ncias verbal e nominal
Pontua ª o
Periodiza ª o
Uso Sofr vel das N ormas
-
O rtografia
Concord ncias verbal e nominal
Pontua ª o
Expressª o oral
Periodiza ª o
Preposi ª o
Adjunto Adverbial
Uso Regular das N ormas
-
O rtografia
Concord ncias verbal e nominal
Pontua ª o
Periodiza ª o
RegŒ
ncia
Uso AceitÆ
vel das N ormas
-
O rtografia
Concord ncias verbal e nominal
RegŒ
ncia
Preposi ª o
O rganiza ª o de per odos e frases
Pontua ª o
Expressª o verbal
Flexª o verbal
Marca de oralidade
Uso Correto das N ormas
-
O rtografia
RegŒ
ncia
Pontua ª o
Preposi ª o
Concord ncia
Estrutura de parÆ
grafo
Uso Sofisticado das N ormas
-
Marca de O ralidade
Pontua ª o
RegŒ
ncia
O rtografia
169
Comparando esses dados aos propostos pela planilha, para o item 2
não foram encontradas nas redações seqüências orais descontextualizadas.
Os demais problemas levantados, nas redações, se encaixam adequadamente
nos aspectos selecionados e previstos pela mesma.
Discussão dos dados
Pensar na avaliação da gramática em redações escolares, segundo a
planilha da Universidade Estadual de Maringá, conforme as análises
apresentadas, é vê-la numa concepção distinta de linguagem, de gramática e
do próprio ensino de língua portuguesa.
Ora, sobre essas abordagens as avaliações das redações evidenciam
que a linguagem é, aqui, assumida na perspectiva da terceira concepção, uma
vez que se espera dos candidatos uma demonstração de habilidade em leitura
e de seus conhecimentos lingüísticos por considerar o Concurso Vestibular
como um ato comunicativo em um momento específico de produção.
Essa postura vem ao encontro do que se supõe Travaglia (1996, p. 23)
quando afirma ser “a linguagem um lugar de interação humana, de interação
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma
dada situação de comunicação em um contexto sócio-histórico e ideológico”.
É justamente esta expectativa que se tem com relação às redações
feitas no vestibular. Por ser um momento especial de produção, o avaliador
e o candidato são colocados numa relação de interlocução. Por isso notase, através dos textos analisados, uma valorização maior ao conteúdo, as
idéias em detrimento de erros gramaticais que, em muitos casos, não são tão
significativos. Isto porque mesmo que se pretenda verificar a capacidade do
candidato em usar as regras da norma padrão-culta e operacionalizar com
elas, levam-se em consideração as variedades lingüísticas, o que interfere na
avaliação dos textos, pois, neste momento, busca-se um ponto de equilíbrio
entre o emprego adequado das normas, as formas orais trazidas ao texto
escrito e os conhecimentos gramaticais internalizados que o usuário da língua
possui e que são colocados em prática quando produzem as redações.
170
Isso mostra que a concepção de gramática considerada pela
Universidade Estadual de Maringá na prova de redação é aquela que
ultrapassa as perspectivas esperadas no ensino de caráter tradicionalista,
adotando o que Franchi (apud Travaglia, 1996, p. 28) define como “o
saber lingüístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos
limites impostos pela sua dotação genética humana, em condições
apropriadas de natureza social e antropológica”.
Nesse sentido, é possível observar, através das verificações das
redações, que existe uma preocupação por parte da planilha não só com
os aspectos gramaticais ao ter como fundamento a terceira concepção de
gramática, como também com os aspectos textuais e discursivos,
apresentados por falantes que tenham a competência comunicativa.
Por outro lado, ao mesmo tempo que essas análises revelam a
eficiência da planilha para avaliar o uso da norma padrão-culta, declaram
também, ainda que seja de forma delimitada, que, quando se trata da
gramática e a sua relação com a prática de língua portuguesa, boa parte
dos estudantes não têm o domínio sobre as regras gramaticais.
Às vezes, encontram-se redações ricas em idéias, porém
comprometidas pelos aspectos formais por apresentarem uma seqüência
linear das frases, períodos, parágrafos, grafia das palavras, sem estabelecer
concordância e emprego de regência, empobrecendo, assim, o nível
gramatical do texto.
Na pesquisa realizada por Neves (apud Travaglia, 1996) com
professores de 1o e 2o graus no estado de São Paulo, evidencia-se que as
áreas de programa de língua portuguesa que mais são trabalhadas por
ordem de freqüência pertencem aos exercícios de reconhecimento e
classificação de classes de palavras e de funções sintáticas que
correspondem a 75,56% das atividades ensinadas. Por conseguinte, são
nesses aspectos que os alunos mais têm falhado, estando impossibilitados
de operacionalizar com a língua.
171
Assim, a tabela abaixo mostra a margem de erros encontrada nos
textos analisados nesta pesquisa.
Esses resultados afirmam o caráter prescritivo do ensino não só para o
estado de São Paulo como mostra a pesquisa feita por Neves (apud Travaglia,
1996), mas também para a região Noroeste do Paraná, a qual a UEM abrange.
Ao realizar seus estudos, Neves constatou que as atividades relacionadas a redação
e texto representam em ordem de freqüência apenas 2,88% das atividades
ensinadas. Então, pode-se observar que a ausência de tarefas de produção e
compreensão de textos deve ser um dos fatores que têm contribuído para a não
formação da competência comunicativa nesses alunos.
Travaglia (1996, p. 107) explica uma proposta para o ensino de
gramática que
aprender a língua, seja de forma natural no convívio social, seja de forma
sistemática em sala de aula, implica sempre reflexão sobre a linguagem,
formulação de hipóteses e verificação do acerto ou não dessas hipóteses sobre
a constituição e funcionamento da língua [...] impossível, pois usar a língua e
aprender a língua sem reflexão sobre ela.
172
Diante disso, o professor que admitir o ensino da linguagem na direção
do interacionismo terá uma postura diferente quanto à transmissão de seus
conhecimentos lingüísticos aos seus alunos. Então, na condição de instrutor
de língua, ele necessita pensar adequadamente sobre o papel da linguagem
que o orientará em toda a sua prática, refletindo conseqüentemente na
metodologia empregada, nos conteúdos ensinados e modos de avaliar e,
além disso, estará contribuindo não só para a aquisição do domínio gramatical,
mas também e de forma natural para a formação de pessoas que reflitam
sobre a própria língua, desde os aspectos que a estrutura àqueles que a
constitui como um fenômeno social.
A este respeito, Geraldi (1997, p. 45) explica que “uma diferente
concepção de linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas
principalmente um “novo conteúdo ‘de ensino”.
Sabendo das condições que perpassam o ensino, principalmente, o
da instituição pública, é certo que não se pode responsabilizar o professor
pelo fracasso dos alunos, no entanto, não é permitido esquecer que é ele o
mediador dos conhecimentos, o que significa admiti-lo, possivelmente, não
só como um instrutor consciente de seu papel como também um motivador
capaz de driblar as dificuldades reais encontradas e criar um cenário próprio
de aprendizagem. Franchi (1984) no seu livro E as crianças eram difíceis,
é um bom exemplo disso.
Isso implica em valorizar-se profissionalmente e conseqüentemente em
ver com olhos diferentes os próprios educandos. Em pleno século XXI,
dificilmente se conseguirá ter uma escola cor-de-rosa. Monteiro Lobato mostrou
muito bem em Reinações de Narizinho que isto só era possível nas histórias
da dona Carochinha. Hoje, as circunstâncias são outras e os cenários reais.
Embora o motivo para essas transformações seja melhorar o processo
educativo, elas denunciam, através das redações analisadas, principalmente
as que estão classificadas nos itens Emprego fora das normas e Emprego
das normas com falhas graves, que essas condições preparadas para a
aquisição de aprendizagem devem ser revistas e repensadas, pois os alunos
passam oito anos no ensino fundamental, três no ensino médio e quando é
lhes solicitado a eles escrever uma redação em que se tenha clareza em
idéias e objetividade em opinião, boa parte dos resultados é alarmante.
173
Contra a idéia de que se condena o estudo da gramática nas escolas,
prevalece a noção de que são os métodos ineficazes empregados e os
conteúdos arrolados que contribuem para a não formação discursiva
competente dos usuários da língua e que, enquanto esses não mudarem, não
há solução, os alunos continuarão a escrever com problemas, mesmo que se
surjam novas teorias ou novas concepções de ensino.
Considerando que o ensino no Brasil é de caráter prescritivo, os resultados
obtidos são referenciais e apesar de não serem muito animadores, mostram que
está havendo uma tentativa de mudança. A planilha de avaliação de redação do
concurso vestibular da UEM é um exemplo disso. Muitos professores conscientes
de seu papel já mudaram seus métodos e conteúdos de ensino e têm conseguido
alcançar resultados positivos em suas práticas docentes. Isso é um ótimo sinal de
que, mesmo que seja de um modo lento, estão ocorrendo transformações no
processo educativo, embora ainda se encontrem contradições no interior da sala
de aula e no próprio sistema que rege o ensino.
Considerações finais
A partir da análise, pode-se observar que as falhas gramaticais mais
recorrentes são as de pontuação, ortografia, regência e que é possível fazer
uma avaliação equilibrada e objetiva destes textos não restringindo esse
momento à correção de falhas, apenas, mas vê-los como unidade de efeito
e sentido. Um modo prático e eficiente para se realizar isso, é seguir os
critérios da planilha que leva em consideração no momento da avaliação não
só os elementos internos da língua, mas também os contextuais.
Notas
1
Pesquisa orientada pelo prof. Dr. Renilson José Menegassi-UEM.
Lingüística do discurso: Koch a defini como uma lingüística que se ocupa das manifestações lingüísticas produzidas por indivíduos concretos em situações concretas,
sobre determinadas condições de produção. Afirma que estas atividades podem consistir de uma só palavra, de uma seqüência de duas ou mais palavras ou de uma frase
mais ou menos longa, no entanto, alerta que, geralmente, tratam-se de seqüências
lingüísticas maiores que a frase. Isto leva a entender que é necessário ultrapassar o
nível da descrição frasal para tomar como objeto de estudo combinações de frases,
seqüências textuais ou textos inteiros (1997, p. 11-12).
2
174
3
Texto: Val define texto ou discurso como uma ocorrência lingüística falada ou escrita
de qualquer extensão, dotado de unidade sócio-comunicativa, semântica e formal. Nele
estão presentes as intenções do produtor. O contexto em que é dirigido vai dar-lhe um
sentido. Constitui-se de uma parte semântica que trata do conteúdo descrito, e de
outra, a forma, que interliga seus componentes lingüísticos, formando um todo coeso.
Estes elementos unidos denominam-se textualidade, um conjunto de enunciações significativas que faz um todo ser texto e não frases (Val, 1991, p.3-4).
4
A correção é uma prática empregada em sala de aula, mas não em situação de redação
de vestibular, na UEM. Avaliar e corrigir são atividades diferentes, cada uma desenvolvendo uma função distinta. Corrigir significa fazer apontamentos no texto produzido,
enquanto avaliar é atribuir um valor específico ao texto. Assim, acredita-se que se
fossem corrigidas, a correção de um primeiro avaliador poderia influenciar o segundo.
O que se tem como objetivo quando se avalia é mensurar conhecimentos sobre a
produção de redação, de atribuir valores, numa escala gradativa dentro de campos
específicos, aos elementos constituintes do texto (Zanini e Menegassi, 1996).
Referências bibliográficas
FRANCHI, E. (1984) E as crianças eram difíceis. A redação na escola.
São Paulo: Martins Fontes.
GERALDI, J. W. (org.) (1997) O texto na sala de aula. São Paulo: Ática.
HILA, C. V. D. (1998) Concepção de gramática nas tarefas de casa: um
novo discurso em uma velha prática. Acta Scientiarum, Maringá, 20(1),
p. 47-53.
KOCH, I. G. V. (1997) A interação pela linguagem. 3. ed. São Paulo:
Contexto.
MENEGASSI, R. J.; ZANINI, N. (1999) Como avaliar redações escolares.
In: SEMANA DE LETRAS (11).Anais..., Maringá: Universidade Estadual
de Maringá.
POSSENTI, S. (1996) Por que (não) Ensinar Gramática na Escola.
Campinas, SP: ALB: Mercado das Letras.
________. (1997) Gramática e Política. In: GERALDI J. W. (org.) O texto
na sala de aula. São Paulo: Ática, p. 47-49.
175
________. (1987) Ensino e Língua e Gramática: Alterar a imagem do professor? In: KIRST, M. (org.). Lingüística Aplicada ao ensino de Português. Porto Alegre: Mercado Aberto.
TRAVAGLIA, L. C. (1996) Gramática e interação: uma proposta para
o ensino de gramática no 1o e 2o graus. São Paulo: Cortez.
VAL, G. C. (1991) Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes.
ZANINI, M. e MENEGASSI, R. J.(1999) Avaliação de Redação: Proposta de uma Planilha. In: SEMANA DE LETRAS (11).Anais...,
Maringá: Universidade Estadual de Maringá. p. .
* Orientador: Renilson José Menegassi - UEM
**Aluna não-regular do Programa de Pós-Graduação em Letras (UEM)
[email protected]
176