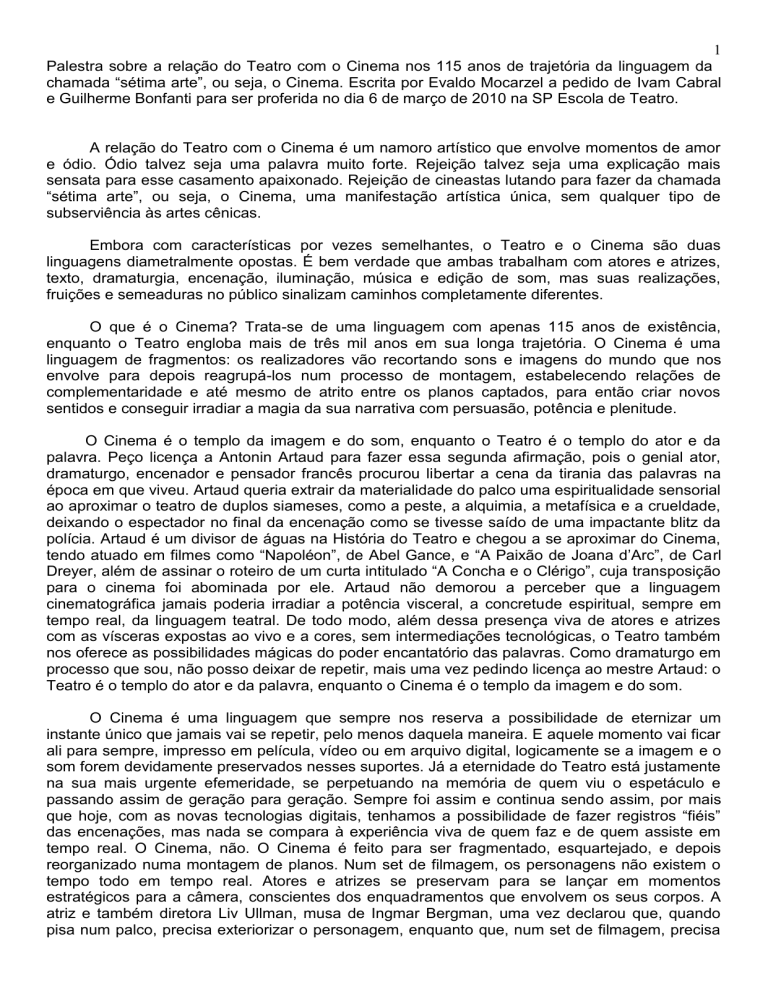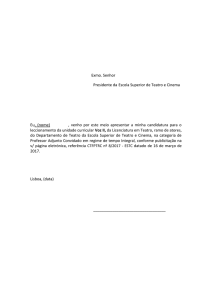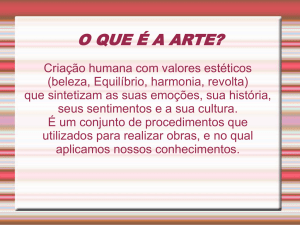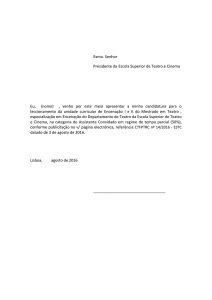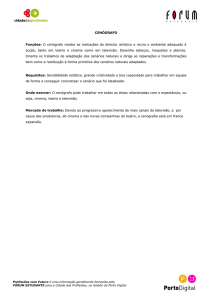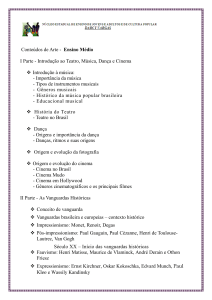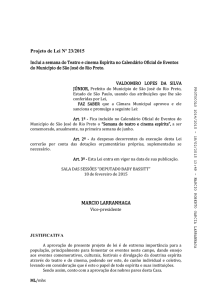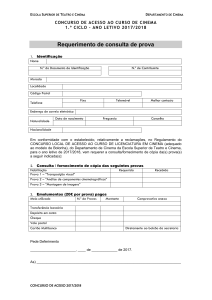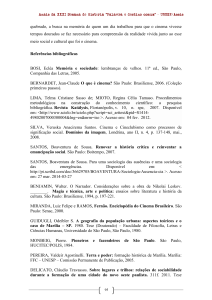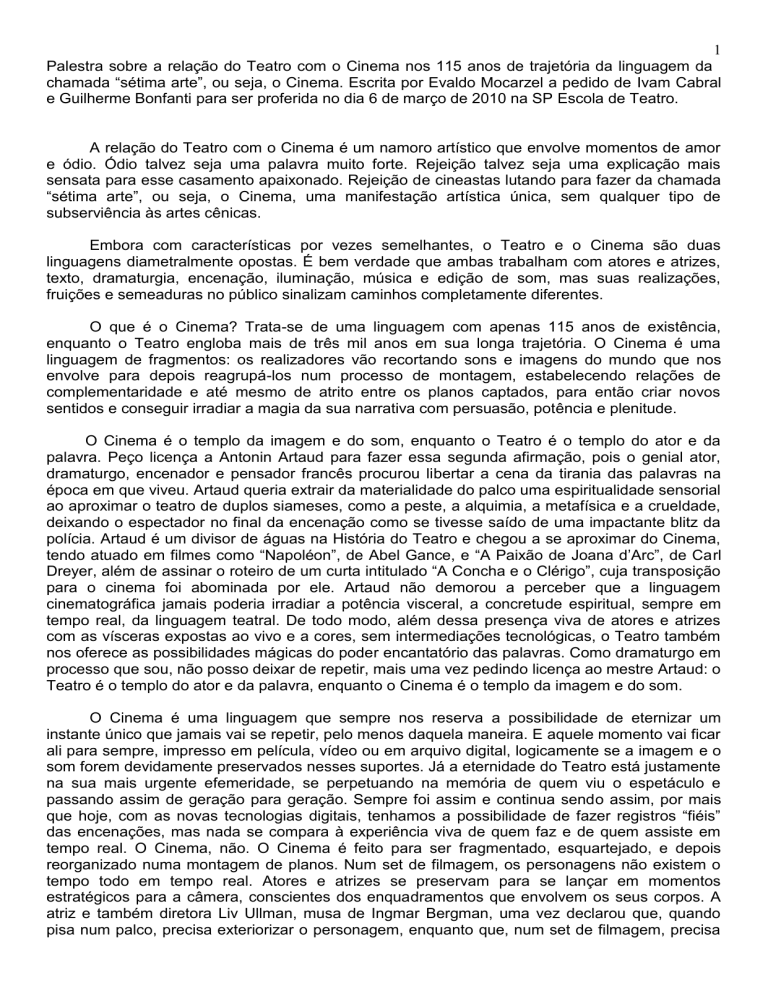
1
Palestra sobre a relação do Teatro com o Cinema nos 115 anos de trajetória da linguagem da
chamada “sétima arte”, ou seja, o Cinema. Escrita por Evaldo Mocarzel a pedido de Ivam Cabral
e Guilherme Bonfanti para ser proferida no dia 6 de março de 2010 na SP Escola de Teatro.
A relação do Teatro com o Cinema é um namoro artístico que envolve momentos de amor
e ódio. Ódio talvez seja uma palavra muito forte. Rejeição talvez seja uma explicação mais
sensata para esse casamento apaixonado. Rejeição de cineastas lutando para fazer da chamada
“sétima arte”, ou seja, o Cinema, uma manifestação artística única, sem qualquer tipo de
subserviência às artes cênicas.
Embora com características por vezes semelhantes, o Teatro e o Cinema são duas
linguagens diametralmente opostas. É bem verdade que ambas trabalham com atores e atrizes,
texto, dramaturgia, encenação, iluminação, música e edição de som, mas suas realizações,
fruições e semeaduras no público sinalizam caminhos completamente diferentes.
O que é o Cinema? Trata-se de uma linguagem com apenas 115 anos de existência,
enquanto o Teatro engloba mais de três mil anos em sua longa trajetória. O Cinema é uma
linguagem de fragmentos: os realizadores vão recortando sons e imagens do mundo que nos
envolve para depois reagrupá-los num processo de montagem, estabelecendo relações de
complementaridade e até mesmo de atrito entre os planos captados, para então criar novos
sentidos e conseguir irradiar a magia da sua narrativa com persuasão, potência e plenitude.
O Cinema é o templo da imagem e do som, enquanto o Teatro é o templo do ator e da
palavra. Peço licença a Antonin Artaud para fazer essa segunda afirmação, pois o genial ator,
dramaturgo, encenador e pensador francês procurou libertar a cena da tirania das palavras na
época em que viveu. Artaud queria extrair da materialidade do palco uma espiritualidade sensorial
ao aproximar o teatro de duplos siameses, como a peste, a alquimia, a metafísica e a crueldade,
deixando o espectador no final da encenação como se tivesse saído de uma impactante blitz da
polícia. Artaud é um divisor de águas na História do Teatro e chegou a se aproximar do Cinema,
tendo atuado em filmes como “Napoléon”, de Abel Gance, e “A Paixão de Joana d’Arc”, de Carl
Dreyer, além de assinar o roteiro de um curta intitulado “A Concha e o Clérigo”, cuja transposição
para o cinema foi abominada por ele. Artaud não demorou a perceber que a linguagem
cinematográfica jamais poderia irradiar a potência visceral, a concretude espiritual, sempre em
tempo real, da linguagem teatral. De todo modo, além dessa presença viva de atores e atrizes
com as vísceras expostas ao vivo e a cores, sem intermediações tecnológicas, o Teatro também
nos oferece as possibilidades mágicas do poder encantatório das palavras. Como dramaturgo em
processo que sou, não posso deixar de repetir, mais uma vez pedindo licença ao mestre Artaud: o
Teatro é o templo do ator e da palavra, enquanto o Cinema é o templo da imagem e do som.
O Cinema é uma linguagem que sempre nos reserva a possibilidade de eternizar um
instante único que jamais vai se repetir, pelo menos daquela maneira. E aquele momento vai ficar
ali para sempre, impresso em película, vídeo ou em arquivo digital, logicamente se a imagem e o
som forem devidamente preservados nesses suportes. Já a eternidade do Teatro está justamente
na sua mais urgente efemeridade, se perpetuando na memória de quem viu o espetáculo e
passando assim de geração para geração. Sempre foi assim e continua sendo assim, por mais
que hoje, com as novas tecnologias digitais, tenhamos a possibilidade de fazer registros “fiéis”
das encenações, mas nada se compara à experiência viva de quem faz e de quem assiste em
tempo real. O Cinema, não. O Cinema é feito para ser fragmentado, esquartejado, e depois
reorganizado numa montagem de planos. Num set de filmagem, os personagens não existem o
tempo todo em tempo real. Atores e atrizes se preservam para se lançar em momentos
estratégicos para a câmera, conscientes dos enquadramentos que envolvem os seus corpos. A
atriz e também diretora Liv Ullman, musa de Ingmar Bergman, uma vez declarou que, quando
pisa num palco, precisa exteriorizar o personagem, enquanto que, num set de filmagem, precisa
2
introjetá-lo, até mesmo escondê-lo, para destilá-lo vagarosamente em planos específicos. Há
algum tempo, fui ao teatro em Paris assistir ao espetáculo “A Dança da Morte”, de Strindberg,
com Charlotte Rampling, uma grande atriz de cinema, como sabemos, à frente do elenco.
Durante o espetáculo, Charlotte Rampling não parecia encarnar o personagem o tempo todo.
Parecia se resguardar para momentos estratégicos da peça e, subitamente, um hipnótico e
visceral mergulho no personagem, como se estivesse se lançando para um determinado plano
num set de filmagem. Como se o olhar do público no teatro fosse uma câmera, com lentes, com
diferentes modalidades de aproximação do olhar.
O Teatro talvez seja a arte que mais se assemelha à própria vida: a presença viva do
elenco, o desenrolar da ação em tempo real, a troca inter-pessoal dos atores e das atrizes com
cada espectador, a atmosfera completamente sensorializada sem a necessidade de nenhum tipo
de intermediação tecnológica, a magia irrompendo com um simples estalar de dedo e a
efemeridade da encenação como um sopro existencial, tão próxima à fragilidade da vida de todos
nós.
Embora mágico e encantatório, o Teatro é uma linguagem antiilusionista por excelência, em
que vemos todos os artifícios expostos e acabamos optando por entrar naquele jogo cênico,
guiados por uma chama no olhar de um ator ou de uma atriz em foco total com o seu
personagem, pela potência de uma trama bem urdida, por uma luz hipnótica e dramaticamente
plástica, pela poesia trágica ou hilariante de uma carpintaria dramatúrgica que nos conduz a
imensidões antes nunca imaginadas.
Já o Cinema é uma linguagem ilusionista por excelência, em que os espectadores ficam
num estado pré-hipnótico, contemplando imagens em movimento na tela grande por causa de um
defeito nas retinas. No Teatro, não. Como já foi dito, o artifício é explícito, assim como a presença
viva do ator e toda a arquitetura da carpintaria cênica que envolve o espetáculo. A imagem no
Cinema é bidimensional, com uma ilusão de tridimensionalidade, mesmo na mais sofisticada
projeção em 3D. Já a imagem no Teatro é uma imagem viva, esculpida pela luz em tempo real.
Na imagem cênica, cabem incontáveis camadas matizadas de luzes e sombras, texturas de cor,
em que seres humanos transitam como se estivessem cruzando em tempo real os mistérios da
vida e da morte.
Há quem diga que o Cinema é uma espécie de “claraboia do universo”. Para um cineasta
radical e experimental como Dziga Vertov, um dos expoentes da chamada Escola Soviética, que
teve o seu apogeu nos anos 20, o Cinema é a própria Teoria da Relatividade em todos aqueles
corpos, carros, trens e paisagens sendo projetados numa tela grande. Energia é igual à massa na
velocidade da luz, é a equação mais abrangente da Teoria da Relatividade criada por Einstein.
Para um dos cineastas brasileiros mais importantes de todos os tempos, Glauber Rocha, o
Cinema é em si mesmo uma ontologia, ou seja, um espaço de imensidão em que podemos
vislumbrar a essência do Ser de todas as coisas. Glauber viveu intensamente o conflito
apaixonado da política com a poesia, como o personagem de Jardel Filho em “Terra em Transe”,
e para ele o Cinema era também a urgência do momento histórico que viveu tão intensamente.
Para o escritor e também cineasta Edgard Morin, o Cinema é uma placenta de obscuridade em
que ampliamos coletivamente a nossa subjetividade mais profunda. Para Jean-Luc Godard, o
Cinema é a verdade a vinte e quatro quadros por segundo, disse ele há décadas referindo-se ao
tempo de projeção dos filmes captados em película. Hoje, o Cinema não é nem mais a verdade a
30 quadros por segundo, ou 60 fields, que é o tempo do desenrolar de uma imagem captada em
vídeo. Nos dias de hoje, o Cinema é uma verdade com a velocidade extrema dos chamados
pixels, os diminutos quadradinhos que formam as imagens dos novos suportes digitais, que estão
promovendo uma verdadeira revolução na História do Cinema.
O Teatro nasce das trevas, assim com o Cinema, mas o halo de possibilidades da
linguagem cênica jamais poderia caber na amplitude da linguagem cinematográfica, cuja
3
abrangência nos revela o inconsciente, a mente humana, a psicanálise, ainda a gênese de todo
esse mundo cibernético e imagético que nos envolve. Já os três mil anos de trajetória artística do
Teatro nos revelam mitos, uma espécie de cenário originário da condição humana, além da
tragédia grega, o teatro elisabetano, Shakespeare, Molière, Racine, Ibsen, Strindberg, Beckett,
Brecht, Jean Genet, Koltès, Nelson Rodrigues e Jorge Andrade, entre tantos grandes artistas que
nos convidam a passear por tantos séculos de trajetória da Humanidade.
Já na gênese primeira da História do Cinema, podemos observar uma forte influência do
Teatro sobre a embrionária sétima arte. Os filmes fotografados ou produzidos pelos irmãos
Lumière, com pouco mais de 50 segundos, são belíssimos documentários com rigorosa
arquitetura de quadro, muitos com exuberante perspectiva em diagonal. Mesmo nesses primeiros
filmes documentários da História do Cinema, podemos observar uma mise-en-scène muito bem
engendrada. O Cinema nasce como uma curiosidade em feiras de variedades e os próprios
irmãos Lumière, que criaram o cinematógrafo, uma engenhoca capaz de captar imagens e de
projetá-las numa tela grande, acreditavam que essa invenção não sobreviveria por muito tempo,
preferindo apostar numa outra invenção: a fotografia colorida com pigmentação com fécula de
batata.
O Cinema nasce como uma arte proletária, exibindo operários saindo de uma fábrica em
Lyon, na França. Logo em seguida, o ilusionista Georges Méliès levou incontáveis efeitos cênicos
e fotográficos para a linguagem do Cinema e criou um universo absolutamente maravilhoso em
mais de 500 títulos, entre eles, o antológico “Viagem à Lua”, de 1902, a primeira ficção científica
da sétima arte. Méliès esteve presente na segunda projeção pública da História do Cinema, no
dia 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, e ficou maravilhado com o cinematógrafo.
Antes, havia o cinetoscópio, inventado por Thomas Edison em 1891, mas as imagens não podiam
ser projetadas em tela grande e eram assistidas dentro de uma espécie de caixa mágica. É
interessante comentar que a primeira exibição pública do cinematógrafo foi no dia 28 de setembro
de 1895, com entrada franca, em La Ciotat, no sudeste da França.
Mas, digressões à parte, fascinado pela criação dos irmãos Lumière, Méliès fez um
comentário histórico ao ver um plano em que um dos inventores, com a mulher, dava de comer a
um dos filhos: “Les feuilles bougent”, ou melhor, as folhas se movem, ao destacar no canto direito
do quadro a copa de uma árvore sendo balançada pelo vento. O ilusionista Georges Méliès, um
mestre da encenação e considerado o pai dos efeitos especiais, destacava com essa observação
a essência da linguagem cinematográfica, que não é apenas a encenação do que será recriado
dentro do quadro, mas ainda esse elemento imponderável de dialogar com o acaso, com o
inesperado. Como já foi dito, o Teatro se eterniza na repetição, no cotidiano de uma temporada
de um espetáculo, enquanto o Cinema, por mais que também utilize ensaios e repetições num set
de filmagem, consegue vislumbrar fagulhas de eternidade em situações aparentemente banais do
cotidiano, que ficam impressas para sempre nas imagens bem preservadas.
Na antes mencionada Escola Soviética, que teve o seu apogeu nos anos 20 e expoentes
como Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, entre outros, a relação com o Teatro foi um pouco
ambígua. Enquanto Eisenstein fez pesquisas em criações do teatro oriental, vislumbrando a
essência e a lógica da montagem cinematográfica em ideogramas, Vertov pregava um Cinema
liberto de todo tipo de texto e, principalmente, de qualquer tipo de encenação, apenas com
fragmentos da vida captados em seu dia-a-dia. A Escola Soviética descortinou para o mundo as
possibilidades da montagem e seus principais criadores rejeitaram inicialmente a chegada do
som, sobretudo a possibilidade do som sincronizado, porque acabaria atrapalhando os seus
geniais e radicais experimentos com o encadeamento de imagens com música no processo de
montagem.
O Teatro e o Cinema conviveram de maneira mais cúmplice na produção de filmes do
chamado “expressionismo alemão”. O expressionismo, de maneira geral, foi um movimento muito
4
mais marcante e abrangente no universo do Teatro do que no mundo do Cinema, é interessante
ressaltar. Trata-se de uma corrente artística que exacerbou o romantismo e procurou vislumbrar o
lado obscuro da alma humana. Para alguns críticos mais radicais, “O Gabinete do Doutor
Caligari”, de Robert Wiene, de 1919, é o filme mais expressionista da História do Cinema. É, na
verdade, a obra inaugural do movimento na linguagem do Cinema. Sua cenografia é fortemente
influenciada pelo Teatro e parece toda grafitada de carvão. Assinados por três pintores
expressionistas, os cenários são pontiagudos e angulosos; tudo meio deformado,
geometricamente distorcido em triângulos e losangos estranhos, sugerindo um mundo todo
construído subjetivamente, com uma atmosfera de inquietação constante, locações em transe
distorcidas por sombras, uma recusa explícita a qualquer tipo de naturalismo.
A História do Cinema é pontuada por momentos de atração e de afastamento da sétima
arte com o Teatro. Ao longo das décadas, até os dias de hoje, Hollywood levou às telas
incontáveis histórias que, inicialmente, foram levados aos palcos da Broadway. Sem desmerecer
as marcantes adaptações de peças de Shakespeare feitas por nomes como Laurence Olivier e
Orson Welles, a comunhão máxima do Cinema com o Teatro foi conduzida principalmente por
dois cineastas inesquecíveis, que também atuaram como grandes encenadores: Luchino Visconti
e Ingmar Bergman. Visconti e Bergman trabalharam com a mesma paixão nas duas artes e
conseguiram criar um híbrido linguístico que gerou mise-en-scènes complexas e suntuosas, sem
que houvesse qualquer tipo de subordinação do Cinema com relação ao Teatro, ou vice-versa.
Filmes como “O Leopardo”, de Visconti, e “Fanny e Alexander”, de Bergman, são exemplos de
esplendorosas encenações cinematográficas colocadas em prática por dois grandes artistas que
conheciam profundamente as possibilidades das artes cênicas. Jean Cocteau, Elia Kazan, Louis
Malle, Fassbinder e Woody Allen são outros exemplos de criadores que transitaram com bastante
desenvoltura entre as linguagens do Cinema e do Teatro com resultados ora irregulares ora
notáveis, como a adaptação cinematográfica para a peça “Um Bonde Chamado Desejo”, de
Tennessee Williams, com Vivian Leigh e Marlon Brando encabeçando o elenco e direção de Elia
Kazan, que, além de cineasta, também foi um atuante encenador na Broadway.
Já Robert Bresson, um dos maiores nomes da História do Cinema, guru de realizadores de
várias gerações, como Jean-Luc Godard e Abbas Kiarostami, entre muitos outros, criou uma nova
sintaxe para a linguagem cinematográfica justamente negando a imensa influência do Teatro
sobre a produção de filmes na França nos anos 50. Bresson chegou a se recusar a utilizar a
palavra “Cinema”, preferindo “cinematógrafo”, a invenção dos irmãos Lumière, quando queria se
referir à arte cinematográfica. Para ele, “Cinema” era sinônimo de “teatro filmado” e a misteriosa
linguagem cinematográfica, sendo uma arte nova, não poderia ser subserviente a nenhuma outra
manifestação artística, principalmente ao Teatro. Bresson era católico e acreditava que, através
do Cinema, com esse seu permanente diálogo com a imponderabilidade do acaso, poderia
flagrar, vislumbrar fagulhas de epifania, de manifestação divina, em situações aparentemente
banais do cotidiano.
Nos anos 60, os jovens e radicais diretores da chamada Nouvelle Vague, entre eles,
François Truffaut e Jean-Luc Godard, desprezaram sem piedade os filmes que eram feitos na
França na época, tediosamente teatrais, e levaram a arte cinematográfica para as ruas de Paris,
mas pouparam Robert Bresson, por quem tinham respeito e admiração, sobretudo Godard.
Divisor de águas na História do Cinema, o enfant terrible Godard é uma espécie de poeta,
um pensador apaixonado pelas possibilidades da linguagem cinematográfica. Influenciado por
Brecht, ele lutou durante muitos anos para boicotar o ilusionismo do Cinema, tentando fazer da
fruição de um filme uma experiência reflexiva, antiilusionista. Godard fez uma série de
“espetáculos interrompidos”, pedindo emprestada a expressão criada pelo teórico Robert Stam,
em que parodiava de maneira brechtiana os principais gêneros hollywoodianos. Godard criou
anti-modelos reflexivos e são muitos exemplos: “Acossado” é uma espécie de anti-filme-de-
5
gângster, assim como “Uma Mulher é Uma Mulher” é um anti-musical e “Les Carabiniers” é um
anti-filme-de-guerra.
Como sabemos, Bertolt Brecht é um criador seminal na História da Arte e suas ideias até
hoje contaminam a trajetória do Cinema, de Godard a Lars Von Trier, passando por Dusan
Makavejej, o diretor sérvio de “Sweet Movie”, para mim o filme mais brechtiano de toda a História
do Cinema, ao lado de “WR – Mistérios do Organismo”, do mesmo cineasta, e ainda “Dogville”, do
dinamarquês Von Trier. O que fez Brecht de tão genial? O dramaturgo alemão reescreveu a
lógica da tragédia grega e, no paroxismo da combustão dramática, justamente o momento em
que o espectador iria purgar a própria emoção e contradições, iniciando assim um processo de
catarse, que, na Grécia Antiga, era sinônimo de “sangramento”, Brecht boicotou essa purgação,
essa catarse, criando estratégias de estranhamento, de distanciamento, como, por exemplo, fazer
um personagem narrar diretamente para o público num auge de um momento de muita
combustão dramática, rompendo a chamada “quarta parede” da linguagem cênica e estimulando
a reflexão em cada espectador. Godard bebeu muito nessa fonte ao boicotar a
bidimensionalidade da imagem numa sala de projeção, criando estranhamentos e rupturas na
narrativa dos filmes, tentando assim fazer dessa arte essencialmente ilusionista que é o Cinema
um espaço político e, principalmente, de reflexão, não apenas de evasão, uma crença
hegemônica em Hollywood.
Numa arte primitiva e essencialista como o Teatro, podemos prescindir de todo tipo de
artifício e mesmo assim construir um espetáculo mágico, maravilhoso, calcado na presença física
e em tempo real de um ator ou de uma atriz que, com apenas um gesto, uma palavra e um facho
de luz minimalista, podem inflamar a imaginação de cada espectador. Com a sua concretude
presencial, o Teatro é capaz de promover uma inter-comunicação única entre elenco e público,
uma comunhão não apenas visual e auditiva, como no Cinema, mas amplamente sensorial,
sinestésica, em que, no decorrer do espetáculo, vai sendo descortinada uma espécie de
imaginário coletivo. Como a Literatura, o Teatro não precisa de nenhum tipo de intermediação
tecnológica para que possamos vislumbrar os labirintos inebriantes da nossa própria imaginação
e frequentar assim os mistérios da vida e da morte sem nenhum tipo de virtualidade.
Já numa arte industrial como o Cinema, outro espaço de imensidão em que também
podemos frequentar os mistérios da transcendência e da existência humana, toda revolução
estética, artística, não pode prescindir de uma revolução tecnológica que lhe dê respaldo.
Inicialmente, a chegada do som ao mundo do Cinema emperrou um pouco as experimentações
com a imagem, mas logo depois abriu novos caminhos para a linguagem da sétima arte. A leveza
das câmeras Arriflex e os gravadores Nagra trouxeram novas possibilidades narrativas, criando
condições para as revoluções empreendidas por movimentos artísticos como a Nouvelle Vague e
os nossos Cinema Novo e o chamado Cinema Marginal.
Nos dias de hoje, como já foi dito, as tecnologias digitais estão promovendo uma nova
revolução na História do Cinema e trouxeram muitas possibilidades de se filmar o Teatro. A
extrema leveza e o minimalismo progressivo das novas câmeras digitais descortinaram mundos
antes nunca explorados no espaço cênico, muito além daquela tediosa sensação de “teatro
filmado” que sentimos quando assistimos a uma filmagem de uma peça. O digital trouxe a
possibilidade de levarmos essas câmeras diminutas para o corpo do ator, fragmentando o espaço
cênico de uma maneira que jamais poderia ser visto por nenhum tipo de espectador de teatro,
perspectivando gestos, ampliando olhares, logicamente sem enveredar por essa perfumaria
audiovisual com que alguns encenadores gostam de maquiar os seus espetáculos para que
tenham uma aparência, digamos, “moderna”. Mas é importante ressaltar que, para se filmar uma
peça de teatro, não podemos jamais abrir mão da presença do público, que, com sua expectativa,
emoção e reflexão, é o estopim da fosforescência que inflama as pupilas e o corpo inteiro de cada
ator e de cada atriz num palco.
6
Mas, digressões à parte, nos dias de hoje, mesmo o mais abastado blockbuster
hollywoodiano, sobretudo por causa da sua profusão de efeitos especiais, não pode prescindir
das novas tecnologias digitais no processo de finalização. Na minha opinião, um dos filmes mais
marcantes dos últimos tempos é “Arca Russa”, de Aleksandr Sokúrov, um plano-sequência de 95
minutos que é a maior mise-en-scène de toda História do Cinema. Hitchcock bem que tentou
fazer um filme praticamente sem cortes em “Festim Diabólico”, baseando-se numa peça de
Teatro, mas os planos-sequência tinham de ser interrompidos quando acabavam as latas de
negativos. Em “Arca Russa”, Sokúrov teve de mandar criar um hard-disc com memória suficiente
para armazenar um plano-sequência de 95 minutos. Todo rodado com steady-cam, “Arca Russa”
constrói uma complexa narrativa que percorre três séculos de História da Rússia, terminando
justamente no último baile da dinastia dos Romanovs antes da chegada ao poder dos
bolcheviques. Sokúrov é tão monarquista que, ao criar esse imenso plano-sequência, parece ter
desprezado um dos momentos mais marcantes da História do Cinema, a antes mencionada
Escola Soviética com seus geniais experimentos voltados para a montagem cinematográfica. E o
não menos genial Sokúrov conseguiu fazer um filme sem cortes ou dissimulações de cortes.
“Arca Russa” é uma obra-prima do Cinema contemporâneo e que é, ao mesmo tempo,
extremamente “teatral”, no bom sentido. Além da ausência de cortes, Sokúrov é um grande
diretor de ator e a produção milionária contou com duas orquestras sinfônicas, o corpo de baile do
Kirov e milhares de figurantes, com todas as ações se desenrolando no tempo real do processo
de filmagem, sem direito a take 2. Há quem diga que Sokúrov começou a rodar e, depois de dez
minutos, não ficou satisfeito com a atuação do elenco, interrompeu tudo e só voltou a filmar seis
meses depois, mergulhando num rigoroso processo de ensaios.
As novas tecnologias digitais também vêm promovendo uma verdadeira revolução na
linguagem do documentário, tirando das mãos da classe média o poder sobre o discurso
cinematográfico e criando a possibilidade dos personagens sociais dos filmes documentários
construírem a própria imagem nos mais diferentes tipos de projeto, uma espécie de autoetnografia contemporânea. A relação do Teatro com o documentário tem se revelado um
intercâmbio frequente e muito interessante sob o ponto de vista da experimentação
cinematográfica, que vai desde a criação de docudramas a propostas mais radicais como “Jogo
de Cena”, de Eduardo Coutinho.
Inicialmente, vamos contextualizar um pouco o chamado “método” de Eduardo Coutinho
até chegarmos ao seminal “Jogo de Cena”. Calcado na palavra, o que faz a magia e a
complexidade do cinema dos filmes do mestre Coutinho? Ciente de que a linguagem audiovisual
tem a possibilidade de flagrar um momento único que jamais vai se repetir, o cineasta contrata
uma equipe de pesquisadores que sai em busca de bons personagens, pessoas que sejam bons
fabuladores e tenham coisas a dizer sobre os mistérios da vida e da morte. Coutinho absorve
todo esse conhecimento prévio sobre o personagem e finalmente vai entrevistá-lo, preservando
ao máximo esse primeiro encontro, justamente o momento único, que jamais vai voltar a se
repetir e que é flagrado e eternizado pela câmera. Nesse encontro, Coutinho estimula o
entrevistado a se ficcionalizar diante da câmera utilizando o próprio imaginário, o que quase
sempre gera uma “verdade” documental. Um dos exemplos mais emblemáticos do seu método é
a jovem prostituta de “Edifício Master” que diz mais ou menos assim: “Eu estou falando um monte
de mentiras, mas há uma verdade no fundo de todas essas mentiras”. São as verdades e
mentiras que rodam a realização de qualquer filme documentário.
Coutinho depois boicotou o próprio método em “O Fim e o Princípio”, realizando um filme
totalmente sem pesquisa, tendo como ponto de partida apenas uma região que havia percorrido
durante as filmagens de “Cabra Marcado para Morrer”, mas sempre em busca de personagens e
histórias de vida com um olhar generoso e muito “dramatúrgico”.
O cineasta deu um passo além ao realizar “Jogo de cena”, misturando atrizes e
personagens, digamos, “reais”, todas mulheres, para focalizar um tema genial: a auto-mise-en-
7
scène das pessoas diante da câmera. Quem faz ou gosta de filmes documentários, sabe que
nada é espontâneo num set de filmagem. Tudo acaba sendo encenado e não é à toa que o
cinema, de quando em quando, vai buscar inspiração nesse celeiro das qualidades e das
perversões da condição humana, nessa arte voltada para as relações humanas que é o Teatro.
Num palco, podemos desnudar a teatralidade da própria vida, seus ritos, convenções, seus
cerimoniais mais pomposos e absurdos.
Ainda com mais audácia autoral, Coutinho deu outro passo radical em “Moscou”,
encenando para o filme a peça “As Três Irmãs”, de Tchecov, com o grupo Galpão sendo dirigido
por Enrique Diaz. O resultado decepciona, pois, embora o cineasta tenha tido a coragem de ir
além de “Jogo de Cena”, a atmosfera de “Moscou” parece um jogral completamente sem páthos,
sem paixão, sem drama. A intenção era hibridizar as vivências dos atores e das atrizes com as
pulsões dos personagens de Tchecov, mas o filme simplesmente não acontece, talvez porque o
produtor João Moreira Salles tenha sugerido diminuir drasticamente a participação do encenador
Enrique Diaz no filme, que simplesmente desaparece. No início de “Moscou”, temos um belo
momento em que Enrique Diaz trabalha com a memória afetiva do elenco, que poderia ter caído
como uma luva nessa proposta de hibridizar o “real” e o “ficcional”.
No cinema contemporâneo, vejo duas tendências muito marcantes: enquanto o filme
documentário se ficcionaliza, lançando mão de estratégias de linguagem que vão desde a
videoarte a encenações, a ficção propriamente dita parece se documentarizar, ou melhor, parece
precisar de um pano de fundo documental para legitimar a “veracidade” das imagens ficcionais
que estão sendo criadas. Há uma espécie de revival do neo-realismo italiano, com farta utilização
de atores não profissionais. Por vezes, isso me parece até mesmo um modismo: talvez por estar
enfrentando algum tipo de crise, a ficção propriamente dita parece precisar de muletas
documentais, de histórias baseadas em fatos “reais”, para poder convencer e emocionar o
público. O mercado editorial vive já há bastante tempo lançando biografias que são best-sellers e
Hollywood não para de produzir uma cinebiografia atrás da outra. O interesse pela vida alheia é
uma indubitável constatação contemporânea. Basta ver a proliferação dessa cultura “big-brother”
que está infestando o planeta.
Nesse contexto que parece querer nos impor um pano de fundo documental para legitimar
as ficções dos nossos dias, acho que o Teatro é um espaço de resistência importantíssimo, não
só por ser uma linguagem tão primitiva e ao mesmo tão contemporânea, mas sobretudo por ter
essa aparência antiilusionista, com todos os seus artifícios expostos, e subitamente deflagrar a
potência de uma magia inebriante que está no fundo de nós mesmos. Além da simplicidade, da
não-intermediação tecnológica, da possibilidade de ficção iminente construída apenas com um
ator carismático, uma dramaturgia bem urdida, uma luz dramaticamente plástica, enfim, poucos
elementos necessários ao seu encantatório poder milenar. Acredito piamente que, se um não-ator
pode, um ator profissional pode muito mais. O Teatro é um espaço de imensidão, de
atemporalidade, que, com um mínimo de recursos, nos reserva permanentemente a possibilidade
de frequentarmos os mistérios do universo, da genética, da nossa contemporaneidade mais
emergencial, e por isso mesmo mais atemporal. Passado, presente e futuro fluindo juntos nesse
oceano de mitos, tragédias, fábulas, épicos, dramas e comédias.
Acho que, sem enveredar por nenhum tipo de afetação maneirista, o Teatro pode ajudar a
libertar o Cinema desse seu naturalismo pretensamente mimético, agora exacerbado por essa
tendência neo-realista contemporânea. Não há limites para a criação artística. Se a empatia do
público por vezes vê com simpatia uma espécie de “realismo” aparente, a verossimilhança é no
fundo uma coerência com que construímos a dramaturgia de nossas obras, seja numa peça de
teatro, num filme de ficção ou mesmo num documentário. Tudo é “ficção”, exercício de linguagem,
e o Teatro é uma eterna fonte de inspiração, com seus três mil anos de trajetória, seus abismos,
altitudes e imensidões, além dessa misteriosa e estimulante dualidade ilusionismoantiilusionismo, irradiando o jogo lúdico da nossa própria imaginação.