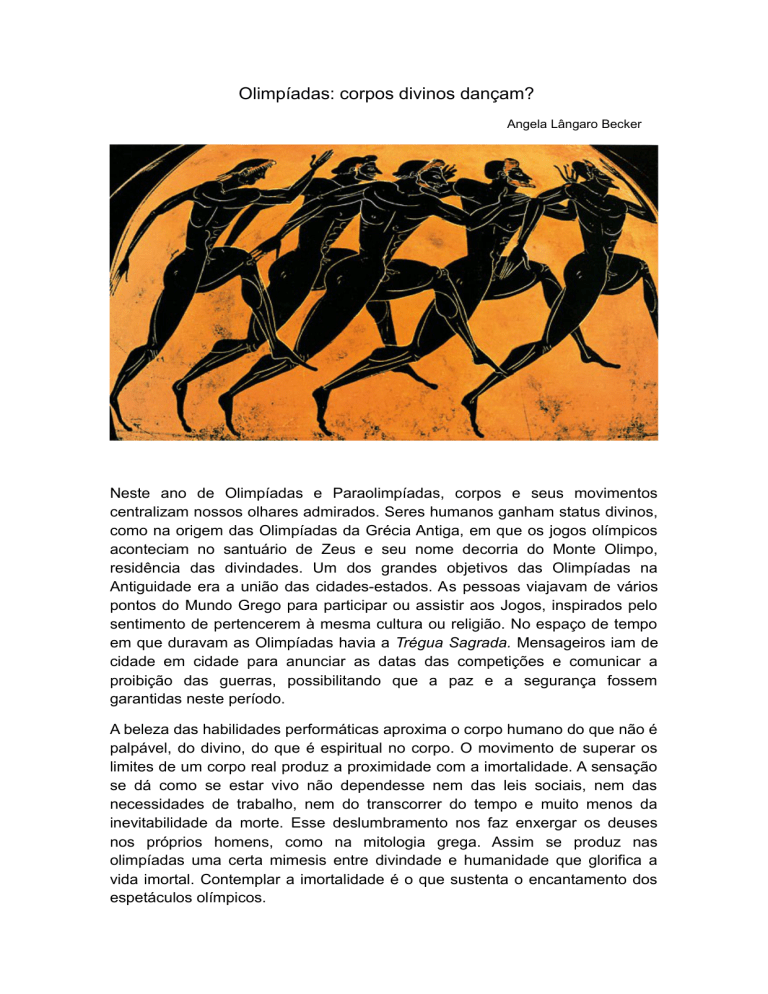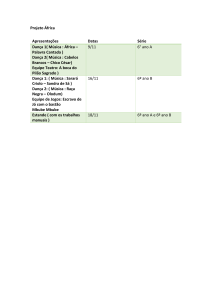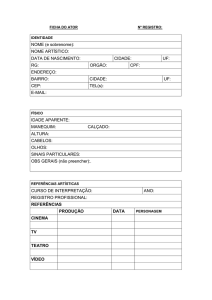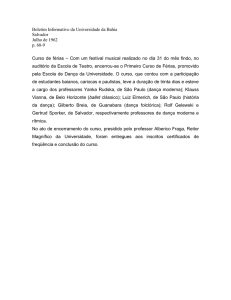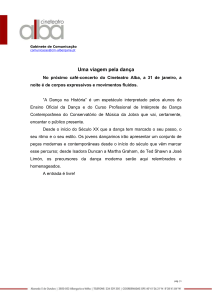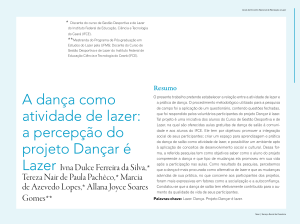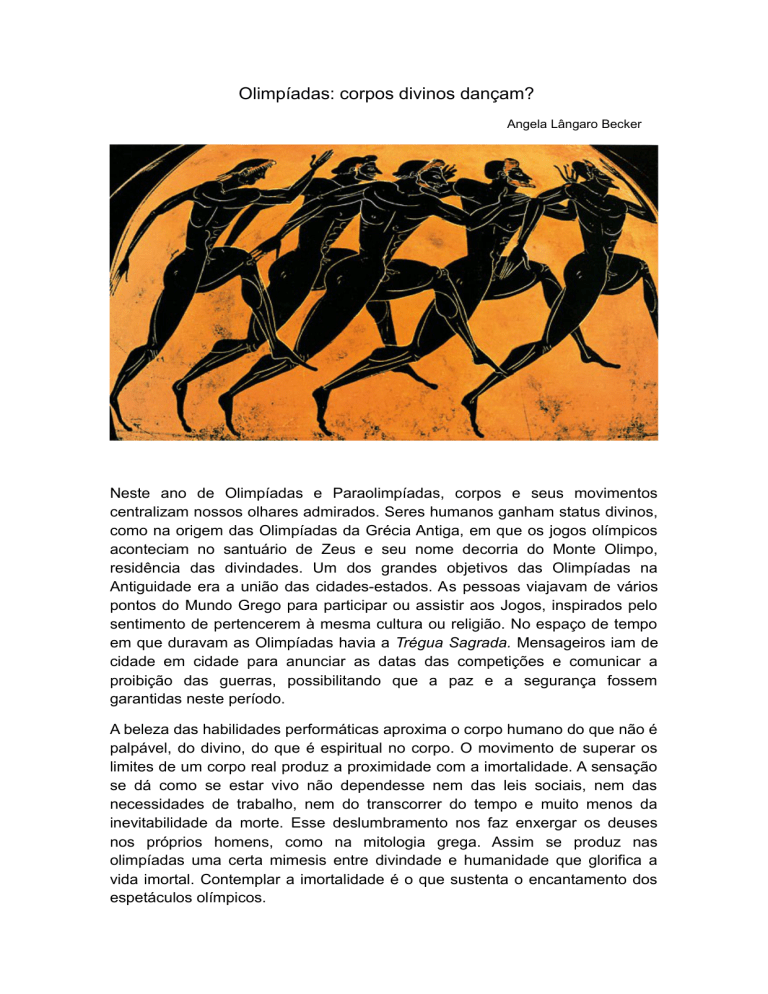
Olimpíadas: corpos divinos dançam?
Angela Lângaro Becker
Neste ano de Olimpíadas e Paraolimpíadas, corpos e seus movimentos
centralizam nossos olhares admirados. Seres humanos ganham status divinos,
como na origem das Olimpíadas da Grécia Antiga, em que os jogos olímpicos
aconteciam no santuário de Zeus e seu nome decorria do Monte Olimpo,
residência das divindades. Um dos grandes objetivos das Olimpíadas na
Antiguidade era a união das cidades-estados. As pessoas viajavam de vários
pontos do Mundo Grego para participar ou assistir aos Jogos, inspirados pelo
sentimento de pertencerem à mesma cultura ou religião. No espaço de tempo
em que duravam as Olimpíadas havia a Trégua Sagrada. Mensageiros iam de
cidade em cidade para anunciar as datas das competições e comunicar a
proibição das guerras, possibilitando que a paz e a segurança fossem
garantidas neste período.
A beleza das habilidades performáticas aproxima o corpo humano do que não é
palpável, do divino, do que é espiritual no corpo. O movimento de superar os
limites de um corpo real produz a proximidade com a imortalidade. A sensação
se dá como se estar vivo não dependesse nem das leis sociais, nem das
necessidades de trabalho, nem do transcorrer do tempo e muito menos da
inevitabilidade da morte. Esse deslumbramento nos faz enxergar os deuses
nos próprios homens, como na mitologia grega. Assim se produz nas
olimpíadas uma certa mimesis entre divindade e humanidade que glorifica a
vida imortal. Contemplar a imortalidade é o que sustenta o encantamento dos
espetáculos olímpicos.
Apolo é o inspirador dos Jogos Olimpicos, exaltando a disciplina do corpo de
uma forma hegemônica, buscando nele a exatidão, a perfeição e a beleza.
Para isso, é preciso quantificar de forma padronizada com medidas e pesos
supostamente proporcionais e simétricos, desempenhos individuais de
diferentes atletas, advindos de diferentes culturas. É uma aposta idealizada na
educação disciplinar do corpo, na direção de um modelo único de juventude,
força e forma.
Mas o que agrada Apolo, deus da perfeição e da razão, não agradaria a
Dionísio, deus do imprevisível e do irracional. Dionísio promove os festivais de
dança, cujas coreografias revelam o modo de ser de cada povo a partir de seu
contexto histórico e cultural. O dançar de cada cultura revela a intensidade de
suas diferentes interpretações do mundo, suas vivências, seus sentimentos. É
no dançar que podem ser reconhecidas as diversidades subjetivas.
Na beleza das Olimpíadas, se pode compartilhar o encantamento dos corpos
divinos padronizados e ainda usufruir de uma espécie de “Trégua Sagrada”,
período em que deixamos de lado pensamentos bélicos em relação a nossos
problemas sociais. Mas, junto com Dionísio, na defesa do irracional do corpo,
ressalto aqui a importância do dançar.
O filósofo e crítico de arte Georges Didi-Hubermann afirma que se conhece um
povo, pela sua maneira de dançar, pois a dança e a musica não são isoladas
das circunstancias antropológicas. Ele nos diz que a palavra falada é a pátria
da razão, enquanto o gesto e a dança são a pátria do sentimento. Por isso
dançar não é isolável de nenhum momento humano. Mesmo a morte se dança
na coreografia do lamento dos vivos, como nos desenhos de movimentos
encontrados nas paredes dos sarcófagos.
Porque a gente dança? Quase sempre para estar junto, para sentir junto.
Somos vários e diferentes, mas juntos. Festas rituais, satisfações esperadas,
procissões fúnebres, orações dançadas, seja qual for o ritual de passagem, o
importante é fazer massa e comemorar num passo comum. Na dança, a
estética não é racional, é sensorial. Sua forma não é dada por um modelo de
corpo perfeito, ao contrário, a dança repensa e reinventa o corpo.
A dança é povoada de sonhos, de imagens, de fantasmas, de memória. Talvez
por isso os estados não se ocupem em promovê-las como fazem com as
olimpíadas. Estas não revelam histórias, são impessoais, apesar das histórias
reais escondidas no esforço de cada atleta que dá sua vida para alcançar o
modelo ideal, sempre inatingível. Para humanizar o corpo, é preciso ver algo de
divino nele, mas se o mimetizamos com os deuses, padecem com o silêncio.
Somente o corpo humano com seus enigmas pode falar de si, mesmo que esta
linguagem não use palavras. É o acontecimento narrado pela dança que faz o
movimento do bailarino. Seu corpo é suporte para os fantasmas daquela
história.
Foi dentro deste espírito dionisíaco que pude debater a respeito do filme Tango
de Carlos Saura(1988), no ultimo seminário “O Divã e a Tela” a convite de
Robson Pereira e Enéas de Souza. “O tango é um pensamento triste que se
pode dançar” diz Jorge Luis Borges num poema intitulado “Dança Canalha”.
Suas origens remetem a prostíbulos, velhos estábulos, arenas de galos de
rinha, partidas de “jogo do osso”, pátios de terra batida e bailes de domingo.
Dançado em duplas masculinas, ficou marcado por uma coreografia combativa
e desafiadora. Também sensual quando retratava o espírito dos bordéis, suas
ousadias eróticas.
Só mais tarde, a música tocada por violão, flauta e violino agregou o
bandoneón, através dos imigrantes alemães e italianos. Suas primeiras letras
faziam jus ao seu local de origem, descrevendo situações libidinosas sobre os
prostíbulos e as meretrizes. As pessoas de boa índole tinham aversão ao
tango, até este ser levado pelos imigrantes a Paris. Desde então, ganhou
estilos de dança de salão, mas dizem que sempre conservou nas coreografias
certa canalhice trivial, certo gosto de infâmia.Tempos depois veio a ser
considerado uma expressão típica artística de todos argentinos. E nas palavras
de Borges, ouvimos a tristeza nostálgica das lembranças vividas com
intensidade nos tempos em que surgiu:
“Pareceria que sem o crepúsculo e as noites de Buenos Aires seja impossível
fazer um tango e que para nós Argentinos, no céu nos espera a ideia platônica
do tango, sua forma universal. Que este gênero afortunado tenha, mesmo que
seja modesto, seu lugar no universo.”