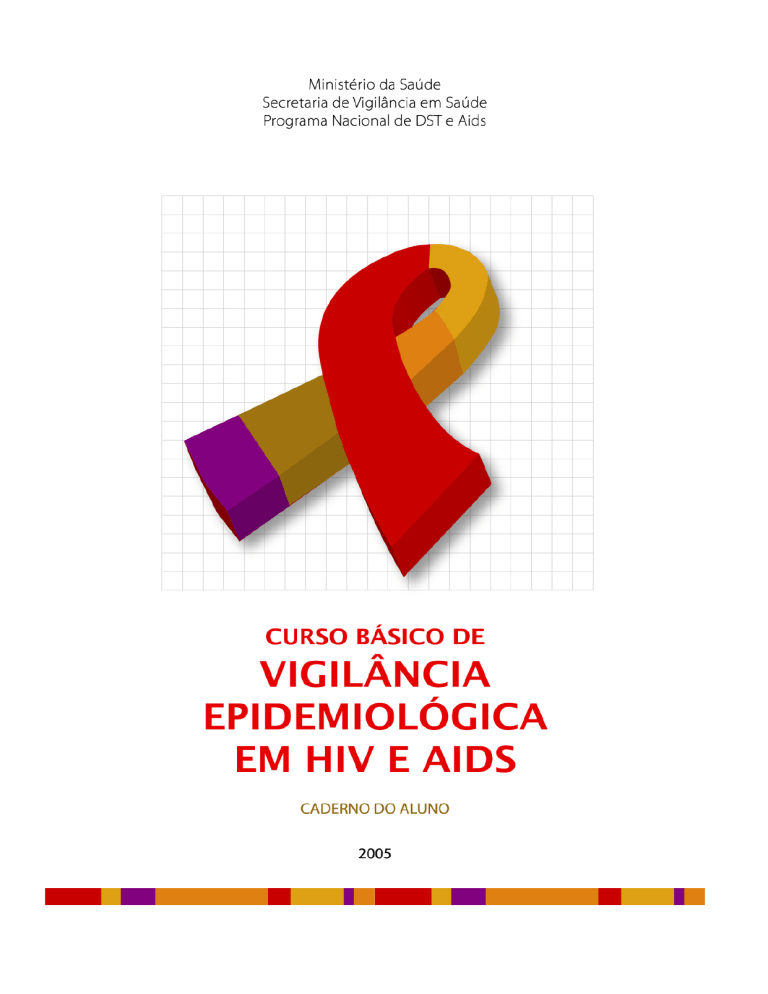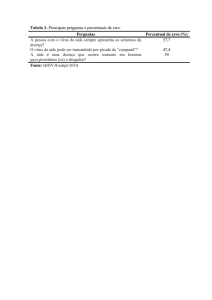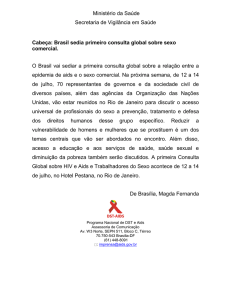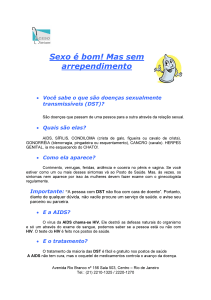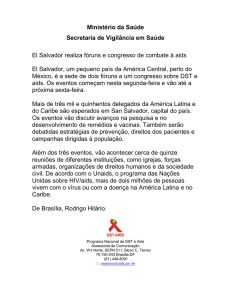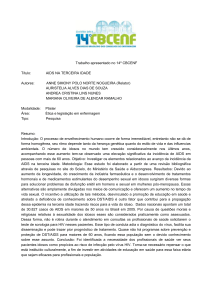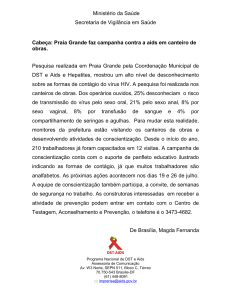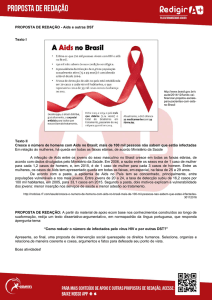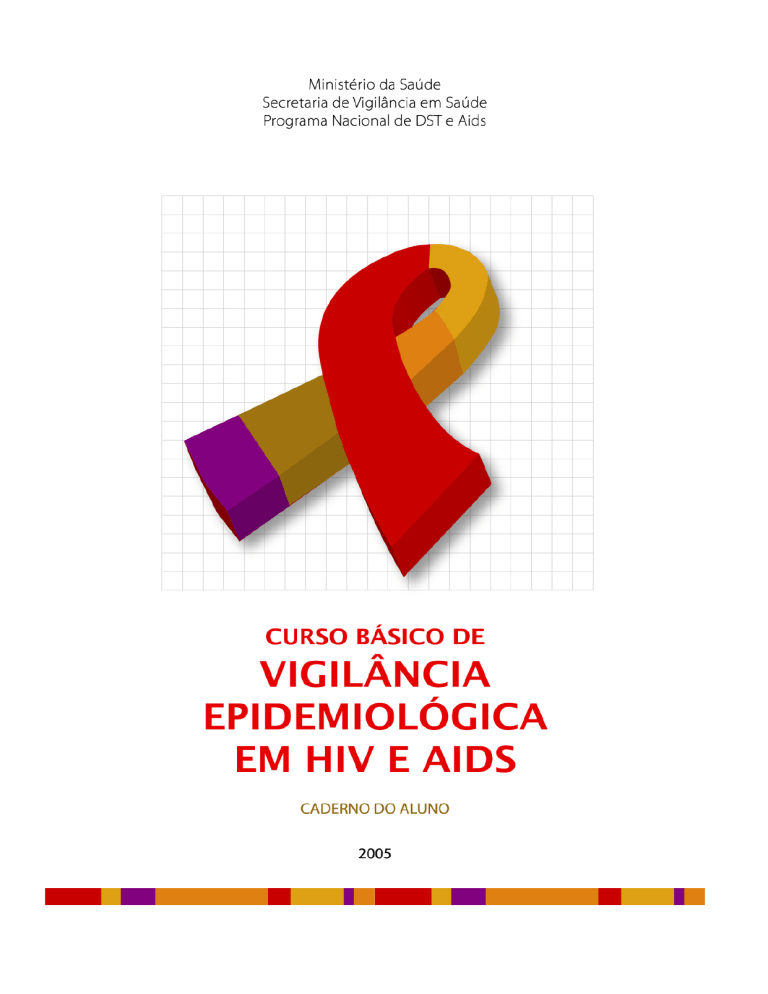
1
AUTORES DA 1a EDIÇÃO (2001)
Carmen de Barros Correia Dhalia
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Cristina Alvim Castello Branco
Unidade de Treinamento - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Denise Gandolfi
Unidade de Prevenção - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Guida Silva
Unidade de Diagnóstico, Assistência e Tratamento - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Katia Regina de Barros Sanches
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Luiza de Paiva Silva
Assessoria de Cooperação Externa - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Marcelo Felga de Carvalho
Unidade de Epidemiologia – PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Márcia Benedita de Oliveira
Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” – SES/SP
Maria Virgínia Meirelles Ventura
Universidade Federal de Mato Grosso
Marly Marques da Cruz
Programa Municipal DST/Aids do Rio de Janeiro
Naila Janilde Seabra Santos
Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de DST/Aids de SP
Sirlene Caminada
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
COLABORADORES DA 1a EDIÇÃO (2001)
Aristides Barbosa Jr
Unidade de Epidemiologia – PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Eduardo Campos Oliveira
Unidade de Diagnóstico, Assistência e Tratamento – PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Ermenegildo Munhoz
SCDH – PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Josué Laguardia
Coordenação de Pneumologia Sanitária – MS
Lilia Rossi
Unidade de Prevenção – PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Mario Angelo Silva
Unidade de Treinamento – PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Vera Lúcia Gattás
Centro Nacional de Epidemiologia
Waleska Teixeira Caiaffa
Universidade Federal de Minas Gerais
AGRADECIMENTO ÀS SUGESTÕES DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE VALIDAÇÃO DA 1a EDIÇÃO DO CURSO BÁSICO
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV/AIDS REALIZADA EM MAIO DE 2001
Alberto Enildo de Oliveira Marques da Silva
Secretaria de Saúde do Recife/PE
Alberto Novaes Ramos Jr.
Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva/UFRJ
Ana Maria Henrique Martins Costa
14ª Regional da Saúde / SES – Tubarão/SC
Celeste de Souza Rodrigues
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/MG
Denise Siqueira de Carvalho
Universidade Federal do Paraná
Djair Pereira de Sena
Secretaria de Saúde de Jaboatão/PE
Eliana de Paula Santos
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública – Salvador/BA
Hugo Carlos Pedroso
Secretaria Municipal de Saúde/PM – Curitiba/PR
Ivanete Laura Fortunato
Fundação de Saúde de Cuiabá/MT
Kátia Regina Valente de Lemos
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
Márcia Cristina Polon
Secretaria de Saúde de São Paulo/SP
Maria Angélica Lima Motta Vieira
Instituto de Saúde do Paraná/Secretaria de Saúde do Paraná
Marlúcia da Silva Garrido
Coordenação Estadual de DST/Aids do Amazonas
Marta Araújo Souto
Secretaria Estadual de Saúde – Cuiabá/MT
Marta de Oliveira Ramalho
CRT–DST/AIDS – São Paulo/SP
Marta Musa Cavallari
CRT–DST/AIDS – São Paulo/SP
Miriam Estela de Souza Freire
Secretaria Estadual de Saúde – Cuiabá/MT
Nadmari Celi Grimes
Gerência de Controle das DST/Aids – Florianópolis/SC
Norma Iracema Santiago de Aquino
Secretaria Municipal de Saúde – Manaus/AM
Raquel Leal Ferreira
Prefeitura Municipal de São José/SC
Rozidaili dos Santos Santana
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
AUTORES/REVISORES DA 2a EDIÇÃO (2003)
Alberto Enildo de Oliveira Marques da Silva
Secretaria de Saúde do Recife/PE
Alberto Novaes Ramos Jr.
Departamento de Saúde Comunitária/Universidade Federal do Ceará
Carmen de Barros Correia Dhalia
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Gilvam de Almeida Silva
Unidade de Desenvolvimento Humano e Institucional - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Helena Brígido
Unidade de Prevenção - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Leidijany Costa Paz
Luiza de Paiva Silva
Marcelo Felga
Assessoria de Cooperação Externa - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Maria Virgínia Meirelles Ventura
Universidade Federal de Mato Grosso
Marly Marques da Cruz
Programa Municipal DST/Aids do Rio de Janeiro
Rozidaili dos Santos Santana
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Antônio José Costa Cardoso
COLABORADORES DA 2a EDIÇÃO (2003)
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
Draurio Barreira
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
REVISORES DA 2a EDIÇÃO – VERSÃO FINAL (2005)
Alberto Novaes Ramos Jr.
Departamento de Saúde Comunitária/UFC
Carmen de Barros Correia Dhalia
Unidade de Epidemiologia - PN - DST/AIDS - Ministério da Saúde
2
APRESENTAÇÃO
À primeira vista, pode parecer mais um manual didático próprio para instruir os profissionais de saúde que
atuam nos serviços básicos, no entanto, este trabalho deriva da necessidade de atualizar, adquirir
conhecimento indispensável ao desempenho das ações de trabalho.
Foi expressiva a repercussão da primeira edição utilizada nas oficinas de capacitação macrorregionais
realizadas pela então CN-DST/Aids/SVS/MS em 2002. A partir dos resultados obtidos, nos demos conta
de que tínhamos atingido uma das metas propostas na área de vigilância epidemiológica do HIV/aids:
melhorar os indicadores de notificação de casos de HIV/aids no Brasil.
Esta segunda edição, revisada e atualizada, está ainda melhor. Ganhamos tempo para fazer as adequações,
melhorar o conteúdo de um instrumento de trabalho que tem como objetivo auxiliar o(a) profissional que
atua na Vigilância Epidemiológica (VE) da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) a repensar o seu trabalho, a sua atuação como
protagonista no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Por que reeditar o manual? Há muitas razões para explicar esta necessidade. Entre elas, talvez a mais
importante seja “mobilização”. Dados recentes indicam que há serviços trabalhando ativamente em prol
da capacitação dos seus profissionais de saúde e muitas delas sem condições de adquirir, produzir
materiais que atendam a demanda e necessidades existentes.
Se somarmos tudo o que está acontecendo no setor saúde, as mudanças no conjunto de formas de atuação
dos profissionais e gestores, avanços e modernização das práticas etc, espera-se que este manual seja uma
fonte de esclarecimento, útil para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde praticados no país.
3
RELAÇÃO DE ABREVIATURAS
3TC
Deoxi-tiacitidina
ABC
Abacavir
ACTG
Aids Clinical Trial Group
ADT
Assistência Domiciliar Terapêutica
AIDS
Acquired Immunodeficiency Syndrome
ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ARC
Aids Related Complex - Complexo Relacionado à Aids
ARV
Anti-retrovirais
AZT
Azido-tiacitidina
BAAR
Bacilo Álcool Ácido Resistente
BCG
Bacilo de Calmette-Guérin
BDNA
branched-chain DNA (Amplificação de DNA em Cadeia Ramificada)
CAT
Comunicação de Acidente de Trabalho
CBVE
Curso Básico de Vigilância Epidemiológica
CDC
Centers for Disease Control and Prevention
CFM
Conselho Federal de Medicina
CN
Coordenação Nacional
CNS
Conselho Nacional de Saúde
COAS
Centro de Orientação e Apoio Sorológico
CONEP
Comissão Nacional de Ética e Pesquisa
CRIE
Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais
CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento
CV
Carga Viral
d4T
Dideidro-deoxitimidina
ddC
Zalcitabina
DNA
Ácido Desoxirribonucléico (ADN)
DO
Diário Oficial
DOS
Disk Operational System
DPT
Difteria, Pertussis (Coqueluche) e Tétano
DST
Doença Sexualmente Transmissível
dT
Difteria e Tétano tipo adulto
DT
Difteria e Tétano tipo infantil
EIA
Enzyme Immuno Assay
ELISA
Enzyme Linked Immunosorbent Assay
EPC
Equipamento de Proteção Coletiva
EPI
Equipamento de Proteção Individual
EUA/USA
Estados Unidos da América/United States of America
FIE
Ficha de Investigação Epidemiológica
FIV/VIF
Feline Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência Felina)
FUNASA
Fundação Nacional de Saúde
HAART/TARV
Highly Active Antiretroviral Therapy (Terapia Anti-Retroviral de Alta Eficácia)
HBV
Vírus da Hepatite B
4
HCV
Vírus da Hepatite C
Hib
Haemophilus influenzae tipo B
HIV/VIH
Human Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência Humana)
HSH
Homens que fazem Sexo com Homens
HTLV
Human T-Lymphotropic Virus (Vírus T-Linfotrópicos Humanos)
IBGE
[Fundação] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC
Informação, Educação e Comunicação
IFI
Imunofluorescência Indireta
IPV/SALK
Vacina Inativada contra Poliomielite tipo Salk
MEIA
Microparticle Enzyme Immuno Assay
MMR
Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)
MMWR
Morbidity and Mortality Weekly Report
MONITORAIDS
Sistema de Monitoramento de Indicadores do Programa Nacional de DST e Aids
MS
Ministério da Saúde
NASBA
Nucleic Acid Sequence Based Amplification
NOAS
Norma Operacional de Assistência à Saúde
OMS
Organização Mundial de Saúde
ONG
Organização Não-Governamental
OPAS
Organização Pan-Americana de Saúde
OPV/SABIN
Vacina Oral contra Poliomielite tipo Sabin
PACS
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
PAM
Plano de Ações e Metas
PCP/PPC
Pneumonia por Pneumocystis carinii
PCR
Polimerase Chain Reaction (Reação em Cadeia de Polimerase)
PNI
Programa Nacional de Imunização
POA
Plano Operativo Anual
PPD
Derivado Protéico Purificado
PPI
Programação Pactuada Integrada
PRD
Programa de Redução de Danos
PSF
Programa de Saúde da Família
RDC
Resolução da Diretoria Colegiada
RENAGENO
Rede Nacional de Genotipagem
REVIRE
Rede de Vigilância de Resistência
RNA
Ácido Ribonucléico (ARN)
SAE
Serviço de Assistência Especializada
SES
Secretaria Estadual de Saúde
SI-CTA
Sistema de Informação dos Centros de Testagem e Aconselhamento em DST/Aids
SIH/SUS
Sistema de Informações Hospitalares – Sistema Único de Saúde
SIM
Sistema de Informação de Mortalidade
SINAN
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SISCEL
Sistema de Controle de Exames Laboratoriais
SIV/VIS
Simian Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência em Símios)
SK
Sarcoma de Kaposi
5
SMS
Secretaria Municipal de Saúde
SUS
Sistema Único de Saúde
SVS
Secretaria de Vigilância em Saúde
TB
Tuberculose
TV
Transmissão Vertical
UDI
Usuário de Droga Injetável
UNAIDS
United Nations Programme on HIV/Aids
VE
Vigilância Epidemiológica
6
I
UNIDADE
EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA DE AIDS
NO MUNDO E NO BRASIL
7
COMPETÊNCIA
Capacidade para a construção do histórico da epidemia com ênfase na Vigilância Epidemiológica
(VE) da infecção pelo HIV e da aids, a partir da identificação dos avanços científicos, dos
movimentos sociais e da organização de serviços.
HABILIDADES
• Compreensão da história da aids como um conjunto de fatores biopsicossociais e políticos
que norteiam o curso da epidemia e provocam mudanças constantes na prática do profissional de
saúde.
• Identificação do papel da VE, no contexto da história da aids, como um instrumento
importante para nortear ações integradas de prevenção, controle e assistência à infecção.
CONHECIMENTOS
• Fatos da história da epidemia em geral, tendo a VE da infecção pelo HIV e da aids como
pano de fundo.
• Fases da epidemia da aids no Brasil relacionando-as tanto às ações governamentais como às
ações da sociedade civil organizada.
8
Introdução
Cada cultura constrói a sua aids própria e específica. Bem como as respostas a ela.
Herbert Daniel
No início da década de 80, a eclosão de uma nova doença – que inicialmente foi identificada
como uma síndrome, conhecida mundialmente pela sigla AIDS (Acquired Imunodeficiency Syndrome),
sendo posteriormente reconhecida como entidade clínica de etiologia viral e denominada AIDS –
foi responsável por mudanças significativas em campos que não somente o da saúde,
principalmente por combinar comportamento sexual e doença. A aids acarretou desafios para a
área científica, trouxe novos atores para os movimentos sociais e, sobretudo, conferiu maior
visibilidade a questões relacionadas à sexualidade. Agora, no início do século XXI, a aids ainda é
um dos mais fortes exemplos da inter-relação dos campos acima mencionados. Igualmente
importantes são os mecanismos locais, nacionais e globais de elaboração, apropriação e
disseminação de conhecimentos relacionados à aids, facilitados – principalmente, mas não só –
pelas conquistas tecnológicas.
As diferentes dimensões da epidemia da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(Human Immunodeficiency Virus - HIV) e da aids – cultural, social, política, médica e econômica –
não podem ser tomadas de forma isolada ou definitiva. Uma das marcas da aids é, além da inter e
multidisciplinaridade, a transitoriedade que, de uma maneira geral, marca as certezas e verdades
sobre o HIV, e que, aliada à complexidade e fragmentação das respostas frente à epidemia , torna,
cada vez mais, qualquer análise sobre as diferentes dimensões da aids uma tarefa difícil de ser
realizada de forma abrangente e, de alguma maneira, inovadora.
A presente unidade do Curso Básico de Vigilância Epidemiológica da Infecção pelo HIV e aids
(CBVE/HIV-aids), que se propõe a apresentar a evolução da epidemia de aids no mundo e no
Brasil, será dividida em cinco partes, que caracterizam os seguintes períodos:
1980-1985: o surgimento da epidemia, seu impacto e significados no mundo e os reflexos iniciais
no Brasil.
1986-1990: inicia-se o aprimoramento das definições técnicas, das medidas de controle e
assistência, da vigilância epidemiológica e da atuação dos grupos organizados na sociedade.
1991-1995: é uma fase de clímax da epidemia, aprimoram-se os esquemas terapêuticos. No Brasil
organizam-se serviços, leis, estruturam-se Organizações Não-Governamentais (ONG); assina-se
o acordo de empréstimo com o Banco Mundial.
1996-2000: no mundo aumentam as possibilidades terapêuticas e a epidemia avança,
principalmente, nos países africanos. No Brasil, são disponibilizados os medicamentos antiretrovirais em todo o País, com redução da morbimortalidade por aids; a epidemia entra em uma
tendência de estabilidade relativa (apesar das diferentes expressões regionais); consolidam-se os
movimentos sociais.
2001-2004: continua chamando a atenção o aumento da epidemia de aids, principalmente nos
países africanos e asiáticos. Cria-se o Fundo Global para Combate à Aids, Tuberculose e Malária.
O Brasil assume posição de liderança na luta contra os preços elevados dos medicamentos antiretrovirais.
9
PERÍODO 1980-1985
No Mundo
Os primeiros casos conhecidos de aids ocorreram nos Estados Unidos da América, Haiti e África
Central. Naquela ocasião, os segmentos da população atingidos se concentravam nos grandes
centros urbanos e eram constituídos principalmente de homossexuais. Nesse período a mídia era
a única fonte de informação para o que foi chamado de “Câncer Gay” ou “Peste Gay”.
Gradativamente a população afetada pela doença foi se ampliando: usuários de drogas injetáveis e
indivíduos expostos a sangue e hemoderivados contaminados com o HIV, mulheres, crianças.
Em 1982, no Centers for Diseases Control and Prevention - Centros de Controle de Doenças (CDC),
dos EUA a nova doença é batizada como Aids (Aquired Immune Deficiency Syndrome), ou Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida.
Nos anos seguintes da década de 80, a identificação do agente etiológico, a disponibilidade de
testes diagnósticos e outros avanços tecnológicos levaram a sucessivas modificações na definição
de caso de aids. As pesquisas clínicas e os dados epidemiológicos tiveram um papel fundamental
na formação do consenso em torno do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, como foi
chamado o agente causal da aids.
Com a visão da doença restrita ao então chamado Grupo dos 5 H - homossexuais, haitianos,
heroinômanos, hemofílicos e hookers (profissionais do sexo) a adoção de medidas preventivas por
parte dos organismos governamentais só começa a ocorrer quando a aids é definida como uma
epidemia.
Desde os anos iniciais, observou-se existir semelhança epidemiológica com o vírus da hepatite B,
o que reforçou a hipótese de etiologia viral. Pela biologia celular verificou-se a caracterização de
um retrovírus.
Em 1984 é feita a caracterização dos chamados “comportamentos de risco” e se define a aids de
forma mais clara, em termos clínicos e epidemiológicos. A primeira definição da doença elaborada nos CDC - e por isso denominada CDC, enfatiza a sua letalidade, incluindo doenças
indicativas de aids com diagnóstico definitivo, pois ainda não se conhecia a etiologia da doença.
Eis a definição preliminar de um caso de aids: “...doença, pelo menos moderadamente
preditiva de defeito da imunidade celular, ocorrendo em pessoa sem causa conhecida
para uma resistência diminuída a essa doença”. Essas doenças eram o sarcoma de Kaposi
(SK) e a pneumocistose (Pneumocystis carinii pneumonia - PCP). Na mesma definição já aparece o
termo “grupo de risco”, incluindo os 5H.
Nesse mesmo ano, ocorre uma disputa entre grupo de pesquisadores americano e francês na
tentativa de isolar em primeiro lugar o vírus (respectivamente, Robert Gallo – Science, 1983:
Human T-Leukemia Virus - HTLV-III e Luc Montagner – Science, 1984: Limphadenopathy Associated
Virus – LAV), até que em 1985 se conclui que a aids é a fase final da doença causada por um
retrovírus e que o LAV e o HTLV III são o mesmo vírus, que passou a ser chamado de HIV.
Nos últimos anos desse período, discute-se a utilização da sorologia como rastreamento (screening)
para doações de sangue e o impacto dessa medida. Em 1985 começa a ser oferecido o teste antiHIV (ELISA) e surge uma nova definição CDC de caso para a aids, aumentando a sua
sensibilidade.
10
Ocorre em 1985 a I Conferência Internacional de aids, em Atlanta nos Estados Unidos da
América.
No Brasil
As notícias sobre a aids chegaram ao Brasil antes que os primeiros casos fossem identificados, o
que levou a chamarem a aids brasileira do início da década de 80 como um “mal de folhetim”.
No caso brasileiro, a epidemia de HIV/aids acontece num momento especial na vida do País: a
passagem do governo militar para o democrático – um período de abertura política, com eleição
de forças progressistas, assim como são marcantes os momentos políticos em outros Países
também, por exemplo, as “eras” dos governos Reagan e Tatcher, nos EUA e Grã-Bretanha,
respectivamente.
Nesse período há a notificação dos primeiros casos de aids e a criação do Programa de aids do
Estado de São Paulo (1983).
No início da epidemia, a transmissão do HIV pelo sangue e hemoderivados torna os seus
receptores, especialmente os hemofílicos, um segmento populacional duramente atingido. Em
1984, nada menos que 62% dos pacientes haviam sido expostos a sangue contaminado.
Em 1985, há a fundação da primeira ONG com atividade em HIV/aids no País, em São Paulo, o
Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS (GAPA) e em 10 estados criam-se programas estaduais de
DST/aids.
Também nesse ano, as primeiras medidas governamentais ligadas à vigilância epidemiológica são
adotadas: foi publicada a Portaria nº 236/MS de 2/5/1985 definindo “grupos de risco”
(homossexuais masculinos, bissexuais masculinos, hemofílicos e politransfundidos), caso suspeito
e caso confirmado de aids (Galvão, 2000).
De forma geral, considera-se que esse foi um período de omissão das autoridades governamentais
e houve uma onda de pânico e preconceito.
11
PERÍODO DE 1986-1990
No Mundo
Em 1986, ocorre a II Conferência Internacional de aids, em Paris e cria-se o Programa Especial
de aids da Organização Mundial da Saúde (OMS), transformado no ano seguinte, no Programa
Global de aids – que teve Jonatham Mann como seu primeiro diretor.
Nesse período, começa a aumentar o conhecimento sobre a doença (melhoram a notificação e
vigilância e a produção de estudos epidemiológicos), iniciam-se atividades de prevenção e
controle, bem como políticas de planejamento. Também surgem questionamentos sobre a
definição de comportamentos sexuais tidos como “anormais”.
No aspecto laboratorial, a partir de 1987, discutem-se as repercussões do uso de técnicas de
detecção de anticorpos anti-HIV (Ensaio Imunoenzimático - ELISA e Western-blot) no
diagnóstico, com reflexões sobre soropositividade e aids: “estar ou não com aids”.
Nesse período também são realizados os primeiros testes com vacinas.
No que se refere à definição de caso, são elaborados os primeiros sistemas classificatórios
incorporando dados laboratoriais (sorologia anti-HIV e contagem de linfócitos T CD4+) e
clínicos, com objetivos relacionados à saúde pública: critério Walter-Reed e CDC.
Logo surge nova definição de caso de aids/CDC, para indivíduos com 15 anos e mais, visando
acompanhar melhor a doença, simplificar a notificação e aumentar a sensibilidade e a
especificidade. Novos critérios clínicos são adicionados.
Em 1987 é criado nos Estados Unidos o Act-Up (Aids Coalition to Unleash Power), uma das maiores
organizações mundiais de informação e ajuda aos portadores do vírus.
Em 1988 é instituído pela OMS o dia 1º de dezembro como o “Dia Mundial de Luta contra a
aids”. Nesse ano, surge a zidovudina (AZT) no cenário internacional para o tratamento da
infecção pelo HIV, bem como passa a ser indicado o uso do antibiótico sulfametoxazoltrimetoprim para a profilaxia primária da pneumocistose.
No Brasil
O período de 1986 a 1990 se caracteriza pela gradual redemocratização da sociedade brasileira.
Em 1986, começa a estruturar-se a resposta à aids em nível federal: cria-se a Comissão Nacional
de AIDS. No mesmo ano a aids foi incluída na relação de doenças de notificação compulsória no
País, pela Portaria nº 1.100 de 24 de Maio de 1986.
Passa a haver uma abordagem mais pragmática da epidemia, aumenta o apoio e a cooperação
internacional, começam a haver ONG com atividades de prevenção ao HIV/aids, há maior
mobilização das pessoas soropositivas: criam-se a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
(ABIA) em 1986, o Grupo Pela Vidda (Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS)
com participantes não exclusivamente soropositivos, em 1989 e o grupo composto só por
ativistas soropositivos, o Grupo de Incentivo à Vida (GIV) em 1990.
12
A vigilância epidemiológica da aids foi constituída, inicialmente, baseando-se na notificação dos
indivíduos que já atendiam aos critérios de definição de caso de aids, na fase mais avançada da
infecção pelo HIV.
O primeiro boletim epidemiológico de aids editado em 1987 aponta um total de 1.906 casos de
1982 a 1987. Entretanto, como o número de casos vai sendo alterado por análises retroativas,
considerando mudanças no critério de classificação de casos e atualizações variadas, por exemplo,
incluindo o critério óbito, informações da Unidade de Informação e Vigilância do Programa
Nacional de DST/Aids indicam para o período de 1982 a 1987 a notificação de um total de 3.386
casos, sendo que um caso é identificado como de 1980. Logo, nesses anos iniciais não havia
informações sobre o real número de casos que estavam ocorrendo e as notícias ficavam por conta
de uma mídia, na maioria das vezes, preconceituosa e sensacionalista.
Em 1987, o teste Elisa chega ao Brasil e, logo depois, são criados em São Paulo e no Rio Grande
do Sul os primeiros Centros de Orientação e Apoio Sorológico (COAS). Nos anos seguintes é
estimulada a implantação desses serviços no País.
O ano de 1988 é um ano marcante para a saúde no País, pela promulgação da Constituição, e a
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Consolida-se o Programa Nacional de DST/aids e
inicia-se o fornecimento de medicamentos para profilaxia e tratamento das infecções
oportunistas.
Nesse ano também é aprovada Portaria dos Ministérios do Trabalho e da Saúde que concede
benefícios aos portadores da doença, tais como pensão especial, auxílio-doença, aposentadoria e
retirada integral do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).
Em 1989 é elaborado outro critério de definição de caso de aids, validado no Rio de Janeiro e
recomendado em reunião ocorrida em Caracas (Venezuela), organizada pela OPAS. Diferente da
definição anterior de caso de aids dirigida a indivíduos maiores de 15 anos de idade, essa passa a
considerar indivíduos de 13 anos ou mais e só é publicada em 1992, com o nome “Rio de
Janeiro/Caracas”.
No que se refere a aspectos comportamentais da população no Brasil, estudo da Sociedade Civil
de Bem Estar Familiar (BENFAM), realizado em 1986, mostrou que o preservativo era usado
por apenas 5% da população sexualmente ativa.
Devido à gravidade da situação relacionada à transmissão do HIV por via sanguínea, surgem
pressões políticas amplas da sociedade civil organizada, tendo à frente o sociólogo Herbert de
Souza – o Betinho, que era portador de hemofilia – as quais terminaram por determinar resposta
governamental.
São Paulo é o primeiro estado a tornar obrigatória a realização do teste para a detecção do HIV
nos doadores de sangue em hospitais, maternidades, centros hemoterápicos e bancos de sangue.
No Brasil, desde 1986, por lei Federal, estabeleceu-se a obrigatoriedade do teste anti-HIV em
bancos de sangue.
Depois surge lei normalizadora dos padrões técnicos adotados pelos bancos de sangue (Portaria
nº 721/GM de 1989, alterada pela Portaria nº 1376 de 1993) que se refere a normas técnicas para
coleta, processamento e transfusão de sangue, componentes e derivados e exige a obrigatoriedade
da testagem do sangue para a detecção de anticorpos anti-HIV.
13
PERÍODO DE 1991-1995
No Mundo
Em 1991, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulga relatório informando que pelo menos
10 milhões de pessoas no mundo têm o vírus da Aids.
Nesse período ocorrem avanços nos recursos diagnósticos clínicos e laboratoriais que influem
nas definições de caso. Em 1992 divulga-se a classificação da infecção pelo HIV – categorias
clínicas/CDC. No ano seguinte é feita a revisão dos critérios para definição de casos de aids para
adolescentes e adultos do CDC – com inclusão de condições clínicas e da contagem de linfócitos
T CD4+ < 200 células/mm3.
Em 1994, são publicados os resultados do protocolo Aids Clinical Trial Group 076 (ACTG076)
que comprovam a eficácia das medidas de intervenção para a prevenção da transmissão vertical.
Em 1995, já existem algumas opções consolidadas para o tratamento anti-retroviral: AZT,
didanosina (ddI) e zalcitabina (ddC). Aparecem os primeiros anti-retrovirais inibidores de
protease, que reduzem drasticamente o número de vírus no organismo do paciente,
representando uma nova classe de medicamentos aprovada nos EUA. A combinação do
tratamento com estes remédios, mais o AZT, foi batizada de “coquetel”, e foi colocado em
prática, pela primeira vez, pelo virologista americano David Ho.
No mesmo ano, o Programa Global de aids da OMS, que até então vinha sendo responsável pela
implementação de uma estratégia global de enfrentamento da epidemia, passa a ser UNAIDS (ou
ONUSIDA) ao incluir e englobar a ação de outras agências do Sistema das Nações Unidas, além
da OMS.
Segundo dados da OMS, em 1995 foi registrado um aumento de 26% no número de casos em
todo o mundo.
No Brasil
O período de 1991 a 1995 se caracteriza politicamente no País por ser a época do governo Collor.
Nessa fase, verifica-se um antagonismo crescente entre o programa e os demais setores
envolvidos na formulação de respostas frente à epidemia. Há um aumento acentuado do número
de casos notificados nos anos de 1990 e 1991: mais de 100% em relação à década de 80. Há
maior participação de movimentos sociais como os de mulheres, de profissionais do sexo e de
outros setores. Adoecem e morrem muitos ativistas que se destacaram nos anos iniciais da
epidemia.
Em 1991, o governo inicia a aquisição e a distribuição gratuita de zidovudina (AZT) para os
milhares de portadores do HIV/aids no Brasil.
A partir de 1992, com o “impeachment” do governo Collor, ocorrem mudanças na condução das
políticas públicas em aids que geram uma maior disposição da sociedade civil para trabalhar com
o Estado. A partir desse período os poderes públicos intervêm para coordenar e controlar as
diferentes iniciativas relacionadas às políticas de controle à aids.
14
Na área de prevenção, nesse mesmo ano, é publicada a Portaria Interministerial nº 796 entre o
Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação e Cultura (MEC), que visa combater a
discriminação nas escolas públicas e privadas e institui a implantação de programas de prevenção
às DST/HIV/aids nas escolas.
Na área da assistência, o MS inclui procedimentos para o tratamento da aids na tabela do SUS e
inicia o credenciamento de hospitais para o tratamento de pacientes com aids.
Na área da vigilância, adota-se como definição de caso de aids, dois critérios não excludentes para
adultos e adolescentes (indivíduos com 13 anos de idade ou mais): critério CDC Modificado,
baseado na lista de doenças oportunistas do CDC, modificada e Critério “Rio de
Janeiro/Caracas”, considerando pontuação para sinais e sintomas característicos da doença.
Ainda em 1992, começa a ser negociado o primeiro acordo de empréstimo com o Banco
Mundial. Estudo internacional faz projeção dos dados existentes e estima que no ano 2000 cerca
de 1,2 milhão de pessoas estariam infectadas com o HIV no Brasil (mas essa previsão não se
concretizou, posteriormente). Nessa época os projetos desenvolvidos com a sociedade civil e
apoiados pelo Programa Nacional de Aids eram muito escassos, por falta de recursos.
A vigilância do HIV foi estruturada como vigilância sentinela do HIV e chamada de “Projeto
Sentinela”. Tendo sido implantada a partir de 1992, teve como objetivo monitorar a infecção pelo
HIV em determinadas populações e locais. Nos anos iniciais a adesão dos sítios-sentinela era feita
de forma voluntária, não havendo um plano nacional com representação de todas as macroregiões e os períodos de realização dos cortes (com coletas sorológicas) variavam de local para
local.
Em 1993, é criada a primeira modalidade de alternativa assistencial: os Serviços Ambulatoriais
Especializados (SAE), com custos econômicos e sociais menores que o atendimento hospitalar
convencional. Essa e outras alternativas vão se ampliar nos anos seguintes.
Nesse ano o AZT começa a ser produzido no Brasil.
Na vigilância epidemiológica, inicia-se a implantação do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN-ambiente DOS) no País, pelo Centro Nacional de Epidemiologia
(CENEPI)/Fundação Nacional da Saúde (FUNASA)/MS. A partir do ano seguinte, esse sistema
passa a ser utilizado para notificar casos de aids (SINAN-AIDS).
Além disso, decide-se pela inclusão do critério óbito para definição dos casos de aids, visando
diminuir e corrigir a subnotificação de casos existente.
Em 1994, é elaborada a primeira recomendação técnica para terapia anti-retroviral no País (que a
partir de 1996 chama-se “Consenso Terapêutico”) e a definição brasileira de casos de aids em
crianças (com menos de 13 anos de idade).
O Ministério da Saúde assina acordo de empréstimo de 250 milhões de dólares com o Banco
Mundial, o que dá maior impulso às ações previstas pelo Programa Nacional de DST/aids. Além
disso, compra e distribui medicamentos anti-retrovirais na rede pública de saúde, o que começa a
dar visibilidade internacional ao programa. Não obstante isso, até 1995 a assistência
medicamentosa no Brasil ainda era bastante precária.
15
PERÍODO DE 1996-2000
No Mundo
Em 1996, a OMS revela que 22,6 milhões de pessoas estão infectadas no mundo (6,4 milhões de
mortes).
Na Conferência Internacional de aids em Vancouver (Canadá), nesse ano, são anunciados os
benefícios da terapia combinada de anti-retrovirais, representando um grande avanço tanto pelo
aumento da sobrevida dos portadores como pela melhora da sua qualidade de vida.
Em 1998 já havia disponibilidade comercial de 11 medicamentos anti-retrovirais de diferentes
classes. Frente à complexidade da terapia, começam a ser discutidas muitas questões sobre
aderência/resistência viral – genotipagem e fenotipagem e começa o desenvolvimento de fases
iniciais de vacinas em vários locais do mundo.
Também nesse ano, estudos detectam que o número de infectados saltou de 20 milhões para 30
milhões. Na Ásia, a taxa dobrou em praticamente todos os países. Na Europa Oriental, cresceu
seis vezes em vários países. Em Botswana e no Zimbábue (África), 25% da população adulta está
infectada. Na África do Sul, são 3 milhões de pessoas. Na Índia, esse número chega a 4 milhões.
A América Latina torna-se a terceira região do mundo com maior número de casos.
A aids se converteu na doença infecciosa mais letal do mundo, superando a tuberculose, e
subindo para o quarto lugar entre todas as causas de mortalidade, segundo a OMS. O vírus da
aids causou mais de 2,28 milhões de mortes em todo o mundo.
Em 2000, com a Conferência Internacional de Aids em Durban, na África do Sul, o mundo volta
a atenção para o avanço da epidemia na África Sub-saariana, onde se estima que, em alguns
países, mais de um terço da população seja soropositiva: dezessete milhões de pessoas já
morreram de aids no continente - 3,7 milhões são crianças e 8,8% dos adultos estão infectados.
No Brasil
Em termos de prevenção e ativismo, nesse período ações articuladas com as organizações da
sociedade civil garantem a capilaridade do Programa Nacional de Aids. Em 1996 existem 18
GAPA distribuídos em todo o Brasil e oito grupos Pela Vidda. Entre 1998 e 2001 foram
financiados 1.681 projetos envolvendo 686 Organizações da Sociedade Civil (OSC) em todo o
País.
Cria-se também uma rede de atores envolvendo universidades, instituições de fomento a estudos
e pesquisas, sindicatos, igrejas, empresas privadas e organismos internacionais, entre outros. As
reivindicações das pessoas vivendo com HIV/aids e dos profissionais de saúde inovam a
interpretação das leis já existentes e têm gerado um grande número de novas leis mais adequadas
a uma política antidiscriminatória.
Também há um aumento gradativo das ações dirigidas aos grupos chamados mais vulneráveis à
epidemia. Nesses grupos, incluem-se homens que fazem sexo com homens – HSH, profissionais
do sexo, população carcerária (estima-se que 20% dessa população sejam infectadas pelo HIV) e
16
alguns outros, envolvendo ampliação da cobertura, mobilização social, direitos humanos,
controle social e acesso universal aos insumos básicos de prevenção.
Quanto a aspectos de gestão e políticas de saúde, em 1996 promulga-se a lei que determina o
direito ao recebimento de medicação gratuita no setor público.
Em 1997, morre vítima de hepatite C o sociólogo Herbert José de Souza, o Betinho, símbolo da
luta contra a fome e contra a aids no Brasil.
Em 1998, é assinado o segundo acordo de empréstimo com o Banco Mundial, chamado “Aids II:
desafios e propostas”. Nesse ano redefine-se também a responsabilidade pelo financiamento dos
gastos no País em relação à aids. Esse passa a ser diferenciado nos três níveis de governo: a União
se incumbe do financiamento e aquisição dos anti-retrovirais, enquanto Estados e Municípios
assumem o tratamento das manifestações associadas à aids (infecções oportunistas).
Cria-se lei que define como obrigatória a cobertura pelos seguros-saúde privados de despesas
hospitalares com aids (não assegura tratamento anti-retroviral).
Em termos de assistência, em 1996, passa a haver disponibilidade de AZT venoso na rede
pública. O programa começa a distribuir os novos medicamentos anti-retrovirais – os inibidores
de protease (o uso de terapia combinada é determinado pela Portaria no 9313 de 1996). Nesse
ano, o custo médio ponderado da terapia anti-retroviral por paciente por ano fica em torno de
US$ 3.810,00.
Em 1996 é elaborado o primeiro consenso terapêutico de terapia anti-retroviral do País que desde
então vem sendo revisado periodicamente por Comitês Assessores, baseando-se em estudos
nacionais e internacionais para terapia em adultos e adolescentes, crianças e gestantes.
A partir de 1997, aumenta o número de portadores que se beneficiam da disponibilização gratuita
de medicamentos anti-retrovirais. Há uma expressiva queda da mortalidade pela doença e uma
acentuada redução (superior a 80%) na quantidade e gravidade das hospitalizações dos portadores
do HIV/aids no SUS. Houve diminuição de 60 a 80% das demandas de tratamento das doenças
oportunistas.
Nos cinco anos seguintes, são evitadas mais de 350.000 internações, gerando uma economia de
aproximadamente um bilhão de reais. Há um grande aumento da procura de tratamento
ambulatorial dos pacientes.
Em relação ao financiamento, em 1997, com o início do uso dos inibidores de protease, o custo
médio anual da terapia anti-retroviral subiu para US$ 4.860,00, caindo acentuadamente nos anos
seguintes.
Implanta-se a Rede Nacional de Laboratórios para a realização da carga viral e contagem de
linfócitos T CD4+, que começa a funcionar em 1998.
Nesse período, continua a implantação da rede de alternativas assistenciais em todas as regiões do
País: Serviços Ambulatoriais Especializados (SAE), Hospitais-dia (HD) e Serviços de Assistência
Domiciliar Terapêutica (ADT), além dos hospitais convencionais. Várias ONG criam também
casas de apoio, casas de passagem e grupos de convivência, onde são desenvolvidas atividades de
forma complementar às assistenciais oficiais.
17
No aspecto da vigilância epidemiológica nesses anos ocorrem vários avanços: desde 1996 vem
sendo realizado anualmente um estudo em conscritos do exército brasileiro que representa um
exemplo de vigilância de segunda geração, efetuando-se vigilância biológica (coleta de sangue) e
comportamental (levantamento de informações socioeconômicas, sobre práticas sexuais, DST,
uso de drogas...).
Em relação à definição de caso de aids, para lidar com a subnotificação existente, são
acrescentados os critérios excepcionais de óbito - declaração de óbito e ARC + óbito
Surgem os primeiros resultados de ações de vigilância ativa. O projeto de vigilância-sentinela da
infecção pelo HIV foi implementado com ampliação do número de sítios nas diversas
macrorregiões; padronização do número de amostras a serem coletadas nos locais e do período
de realização da testagem.
A metodologia desses estudos veio sendo revisada várias vezes ao longo dos últimos anos. Desde
1998, a partir de dados sorológicos de parturientes desse projeto, são feitos estudos para se
estimar o número de infectados pelo HIV no País e concluiu-se que o número de indivíduos
infectados pelo HIV existentes no Brasil em 2000 era de 597 mil pessoas, o que contrariou
totalmente as estimativas internacionais elaboradas em 1992, que previam para este ano 1,2
milhão de brasileiros infectados, como já citado.
Em 1998 há revisão da definição nacional de casos de aids em indivíduos com 13 anos ou mais.
No ano seguinte é feita a revisão dos critérios de definição de caso de aids em crianças,
implementada em 2000, quando foi elaborada nova ficha de notificação. Implanta-se a
notificação universal e obrigatória das gestantes soropositivas e crianças expostas ao HIV com
inclusão desses agravos entre as doenças de notificação compulsória do País (Portaria no 993 de
2000), com elaboração da ficha de notificação gestante HIV+e criança exposta.
Em 1999 implanta-se a Rede Nacional de Estudos da Resistência do HIV aos anti-retrovirais,
uma rede de laboratórios que realiza testes de seqüenciamento de RNA viral para fazer a
vigilância de circulação de cepas de HIV resistentes aos anti-retrovirais.
Nesse mesmo ano, pesquisa nacional sobre a sexualidade da população brasileira mostra
mudanças de práticas em relação ao uso de preservativos (comparado com os dados de 1986):
48% das pessoas usaram preservativo na primeira relação sexual, sendo que essa taxa sobe para
71% entre a população de maior escolaridade, alcançando valores equivalentes ou maiores do que
aqueles encontrados em estudos realizados na Europa e Estados Unidos. A partir do ano 2000, o
Brasil vem aumentando o consumo de preservativos femininos, mas o preço ainda é elevado,
tanto para compra pelo Estado em grandes quantidades, quanto para aquisição individual, no
setor privado.
18
Período 2001- 2004
No Mundo
Organizações médicas e ativistas denunciam o alto preço dos remédios contra Aids. Muitos
laboratórios são obrigados a baixar o preço das drogas nos países do Terceiro Mundo, criando-se
o Fundo Internacional de Medicamentos. O Fundo Global para o Combate a Aids, Tuberculose
e Malária, uma nova instituição criada pelas Nações Unidas, é criado para lutar contra as três
doenças infecciosas que mais matam no mundo. Relatório realizado pela UNAIDS, programa de
combate à Aids das Nações Unidas, afirma que a aids vai matar 70 milhões de pessoas nos
próximos 20 anos, a maior parte na África, a não ser que as nações ricas aumentem seus esforços
para conter a doença.
Em 2002, foi realizada a 14ª Conferência Internacional de Aids em Barcelona.
O HIV Vaccine Trials Network (HVTN) programa testes com vacinas em vários países, entre eles o
Brasil.
No Brasil
A partir de 2001, o Programa Nacional de DST/Aids vem recebendo maior reconhecimento
internacional pelo seu trabalho, defendendo a indivisibilidade do tripé prevenção-assistênciadireitos humanos; o acesso a medicamentos anti-retrovirais de qualidade e baixo custo; a
implantação de política mundial de preços diferenciados de medicamentos e a flexibilização do
acordo de propriedade intelectual (patentes de medicamentos) da Organização Mundial de
Comércio (OMC) na ONU e em outros locais.
Nesse ano, também o custo médio da terapia anti-retroviral por paciente/ano atinge os valores de
US$ 2.530,00, tanto devido à produção de vários medicamentos no Brasil como pelo sucesso ao
conseguir a redução dos preços das outras drogas não produzidas nacionalmente, que atingiram
níveis de até 60 a 80% - como resultado de uma intensa política de negociação dos preços com os
laboratórios estrangeiros detentores das patentes. Em 2002, foram distribuídos 15 tipos de
medicações anti-retrovirais para cerca de 115 mil pessoas com aids em todo o País.
Ainda em 2001, implanta-se a Rede Nacional de Genotipagem, que passa a possibilitar a escolha
do melhor esquema terapêutico para os pacientes que apresentam falha no tratamento. Já há 12
laboratórios integrando a rede de genotipagem, que conta com o apoio de 60 médicos
especializados na interpretação clínica da genotipagem. Frente à importância e potencialidades
desta avaliação, essa rede continua em expansão em todo o país.
Nesse ano, levantamento mostra que, a partir do início do funcionamento da Rede Nacional de
Laboratórios de Contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral, em 1998, foram realizados
600.000 testes, em 73 laboratórios de contagem linfocitária e 65 laboratórios de quantificação de
RNA do HIV.
Em relação à transmissão vertical do HIV, até o ano de 2001 só 40% das 17.000 gestantes
infectadas pelo HIV estimadas no Brasil foram detectadas e tiveram seu tratamento garantido, e
ainda de forma muito heterogênea nas várias regiões. Considerando-se que o maior obstáculo
para ampliar essa cobertura tem sido a dificuldade de acesso a um pré-natal de qualidade e a falta
19
de infra-estrutura de saúde local, iniciou-se o planejamento de atividades emergenciais. Como
conseqüência, ainda em 2002, implanta-se o Projeto Nascer-Maternidades como uma das
estratégias para reduzir a transmissão vertical testando parturientes em maternidades dos 166
municípios brasileiros onde é maior essa prevalência.
Nesse ano, implanta-se, por adesão, a vigilância epidemiológica do HIV entre usuários dos
Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) em DST/aids e também o Sistema de
Informação dos CTA (SI-CTA).
Agora enfocando ações de prevenção, levantamento mostrou que em 2001 havia 2.486
municípios brasileiros que incorporaram temas sobre DST/aids e drogas no currículo escolar, o
que representou um total de 45% dos municípios brasileiros.
A partir de 2002 as vendas de preservativos indicam um consumo de 600 milhões de unidades
por ano, sendo 250 milhões distribuídos gratuitamente e 350 milhões vendidos em farmácias,
supermercados ou distribuídos por ONG a preços reduzidos. Para aumentar ainda mais o uso é
necessário baratear ainda mais os custos, diversificar os pontos de venda e aumentar a divulgação
nos meio de comunicação. Nesse ano o Programa Nacional adquiriu 4 milhões de preservativos
femininos.
No ano de 2003, são realizadas as revisões dos critérios de definição de casos de aids em adultos
e crianças, dos critérios de definição de casos de sífilis congênita e do fluxograma para definição
da infecção pelo HIV em adultos e crianças. As novas definições tornaram-se vigentes a partir de
Janeiro de 2004.
Há dois anos foi desenvolvido e validado o Curso Básico de Vigilância Epidemiológica da
Infecção pelo HIV e da aids, que em 2005 encontra-se em sua segunda versão.
20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS, 2002. Conjugalidade e AIDS: A
Questão da Sorodiscordância e os Serviços de Saúde. (MAKSUD, I.; TERTO JR., V.; PIMENTA, M.C.;
PARKER, R., Orgs.). Rio de Janeiro: ABIA.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CN–DST/AIDS. Ativismo e Liderança – uma
metodologia na luta contra a aids. Colaboradores Altamir de Souza Macedo... [et al.]. Brasília:
2000.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CN–DST/AIDS. Sexualidade, prevenção das DST e Aids
e Uso Indevido de Drogas: Diretrizes para o trabalho com crianças e adolescentes – Diretrizes.
Brasília: 1998.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002. Vigilância do HIV no Brasil: Novas Diretrizes. Brasília:
Coordenação Nacional de DST e Aids.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004. A Resposta Brasileira ao HIV/Aids. Brasília:
Programa Nacional de DST/Aids.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004. Critérios de definição de casos de aids em adultos e crianças
– 2004. Brasília: Programa Nacional de DST e Aids.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004. Manual Técnico para a Investigação da Transmissão de
Doenças pelo Sangue. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico – AIDST I no 01 – 01 a a 26a Semana
Epidemiológica de 2004 – Janeiro a Junho de 2004. Brasília: Programa Nacional de DST e AIDS, 2004.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. MonitorAIDS: Sistema de Monitoramento de Indicadores do
Programa Nacional de DST e Aids (Versão 1.0). Brasília: Programa Nacional de DST e AIDS, 2004.
CAMARGO, Jr.; Kenneth Rochel. As Ciências da Aids e a Aids das Ciências – O discurso
médico e a construção da aids. Rio de Janeiro: Relume Dumará: ABIA: IMS, UERJ, 1994.
GALVÃO, Jane. AIDS no Brasil: A agenda de construção de uma epidemia. Rio de Janeiro:
ABIA; São Paulo: Ed. 34, 2000.
PARKER, Richard; GALVÃO, Jane; BESSA, Marcelo (organizadores). Saúde, Desenvolvimento
e Política – respostas frente à Aids no Brasil. Rio de janeiro, ABIA; São Paulo: Ed. 34, 1999.
PINEL, Arlete; INGLESI, Elisabete. O Que é Aids. Coleção Primeiros Passos 1996. Editora
Brasiliense, SP.
PINTO, Teresinha; TELLES, Izabel (org). Aids e a Escola: reflexões e propostas do
EDUCAIDS. São Paulo: Cortez; Pernambuco: UNICEF, 2000.
21
RELAÇÃO DE FILMES SUGERIDOS
Amor não ordinário
Antes do Anoitecer
As Horas
Boys Don’t Cry
Clube dos corações partidos
E a Vida Continua (REFERÊNCIA)
Desejos
Filadélfia
Fogo e desejo
Morango e Chocolate
My Beautiful Laundry
Noites Felinas
Paciente Zero
Parceiros da Noite
Priscila
Sem regras para amar
Servindo em Silêncio
Tudo sobre minha Mãe
Uma Relação Delicada
Um amor quase perfeito
MAIORES INFORMAÇÕES
Sites Nacionais
http://www.saude.gov.br
http://www.aids.gov.br
http://www.aids.gov.br/monitoraids/
http://www.funasa.gov.br
http://www.riscobiologico.org.br
http://www.vivacazuza.org.br
http://www.abiaids.org.br
http://www.pelavidda.org.br
http://www.gapabahia.org.br
Sites Internacionais
http://www.unaids.org
http://www.who.int
http://www.cdc.gov
http://www.fda.gov
http://www.aidsinfo.nih.gov
http://www.johnshopkins.org
http://www.hopkins-aids.edu
http://www.eurohiv.org
http://www.paho.org
http://www.unesco.org
http://www.aidsmap.com
22
ANEXOS
23
25
Vigilância Epidemiológica do HIV/Aids
e Sistemas de Informação
Nascimento
SINAN
gestante e
criança
exposta
Teste
Anti -HIV
Notificação do
HIV
Estudos de incidência
(onde a epidemia
está indo)
CD4 e CV
SISCEL
Uso de
ARV
Caso de
aids
Morte
SICLOM
SINAN
SIM
Vigilância do HIV
(onde a epidemia está)
Vigilância da aids
(onde a epidemia esteve)
Vigilância comportamental
para onde a epidemia pode ir
26
26
27
27