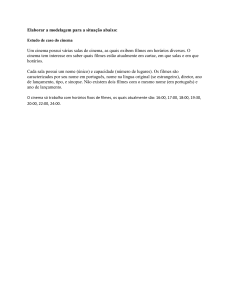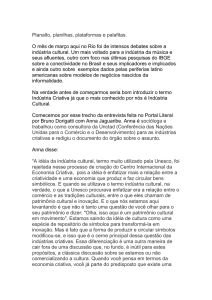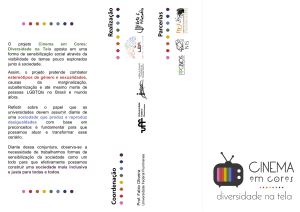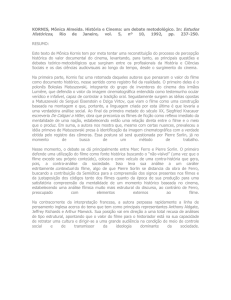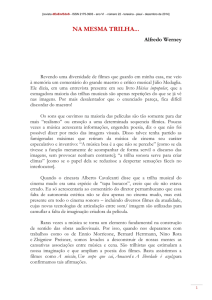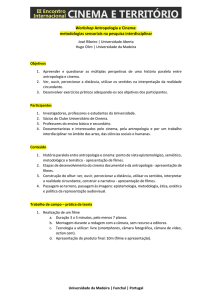DANIEL ROCHA ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO Nº 8117 DO PÚBLICO, E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
Sexta-feira | 29 Junho 2012 | ipsilon.publico.pt
O olhar
proibido
sobre a
guerra
e as
colónias
Os
negativos
da nossa
História
Carlos Ruiz Zafón
O escritor que
reinventa Barcelona
David Foster Wallace
a sua piada de mil
páginas dá trabalho
Centro de Estudos Sociais Coimbra
DANIEL ROCHA
6 | ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012
O nosso
Apocalypse
Now
Primeiro esquecidas
pelo mundo e depois
registadas em meiadúzia de documentários
estrangeiros, as guerras
de libertação das excolónias portuguesas
sobrevivem até hoje
nos arquivos. Filmes
que completam a visão
parcial que tínhamos da
guerra colonial imposta
pela propaganda do
regime, são como uma
visita descida guiada
aos infernos de um
império terminal. Não
são propriedade nossa.
Mas são parte do nosso
património.
Ana Dias Cordeiro
A guerra em directo
S
ão filmes pouco conhecidos dos portugueses. Proibidos até ao 25 de Abril de
1974, fizeram o seu caminho apesar da censura, e
também por causa dela.
Com eles se desafiaram Salazar e
Marcello Caetano. Com eles se mostrou o lado da guerra colonial que o
regime queria ocultar: o sofrimento,
as atrocidades, o absurdo do conflito e as razões da luta. São documentários ou longas reportagens, filmados por televisões dos EUA, Reino
Unido, França ou Suécia entre 1961
e 1971. Impuseram-se e talvez tenham ajudado a despertar consciências nos bastidores da ONU.
Raramente estes filmes foram exibidos em Portugal, e nunca pela televisão pública, mas são parte do
nosso património de imagens. Hoje
estão guardados em armários ou em
cofres nos arquivos da Cinemateca
Portuguesa, do Centro de Audiovisuais do Exército e da RTP. Completam a visão parcial gravada na memória daqueles que apenas viram
os filmes do Exército, obedientes à
censura do olhar imposta pela propaganda do regime. Contam uma
parte da nossa História e por isso
são importantes. Mas de que forma
entraram no nosso imaginário?
Angola, ano zero
Angola – A Journey to War (Angola
— Jornada para a Guerra), produzido
e exibido pela televisão norte-americana NBC, foi o primeiro. Filmado
na aurora da luta de libertação em
Angola, em 1961, ano zero da guerra
portuguesa no Ultramar.
O país está em guerra e fechado a
jornalistas estrangeiros. Robert
Young e Charles Dorkins entram pelo Congo com a União das Populações de Angola (UPA), ex-Frente
Nacional de Libertação de Angola
(FNLA) de Holden Roberto. Percorrem centenas de quilómetros de
mato. Filmam “uma longa e única
caminhada” às profundezas de “um
dos lugares mais dramáticos e ignorados do mundo”.
Mostram em silêncio os corpos
deixados pelos massacres da UPA,
no Norte de Angola, de populações
brancas e dos seus trabalhadores
negros. (São imagens de indizível
violência — entre as vítimas estão
crianças). Exibem também o rasto
de destruição deixado por bombas
napalm lançadas por aviões da Força Aérea portuguesa. Penetram no
“reino do silêncio” dos revoltosos.
“Para um repórter, a grande emoção
é ver o que mais ninguém viu”, dirá
o apresentador do programa.
Este, como os outros documentários estrangeiros sobre o papel de
Portugal na guerra, mostra o que
ninguém tinha visto. Desconstrói o
discurso oficial do regime de Salazar
de que as colónias eram Portugal e
de que todos os habitantes queriam
permanecer portugueses.
A imagem de uma livre convivência entre brancos e negros, diz o
narrador de Angola – A Journey to
War, oculta uma realidade desconhecida: menos de um por cento
dos nativos conseguiu a cidadania
e o analfabetismo é muito elevado.
Por trás disto, continua, “existe um
sistema que só pode ser descrito por
estas palavras: trabalho forçado”.
Pelos trilhos da caminhada que
Filmes como A Group of
Terrorits Attacked...
destapavam a sombria
realidade das muitas mortes
de soldados portugueses numa
guerra perdida por Portugal.
Enquanto nos documentários da
propaganda, as cenas de guerra
são encenadas, filmes como
este captam o conflito em
tempo real e propõem oferecer
a “verdade mais pura”
os repórteres iniciam ao lado dos
rebeldes, há marcas de uma revolta
de trabalhadores contratados, numa
plantação de café com três portugueses mortos. É como a visita guiada de uma descida aos infernos.
Na escola da aldeia de Buela, na
sala de aula, escrito a giz no quadro:
“15 de Março de 1961: Independência de Angola”. Data dos massacres
da UPA. Nessa aldeia, agora vazia e
em ruínas, o administrador do posto e a mulher, portugueses, foram
assassinados; a população fugiu;
quando as tropas coloniais entraram, foi para se vingarem.
Quando por ali passa a câmara de
Robert Young e Charles Dorkins, das
150 casas apenas restam ruínas. A
haver uma frase capaz de derrubar
a imagem composta pelo regime de
uma convivência sã entre colonos e
colonizados, seria esta, em voz-off:
“Parecia que os portugueses tinham
reagido como se todos os africanos
fossem contra eles”.
Mais à frente, mais vestígios de
bombas incendiárias lançadas por
aviões militares portugueses. O
ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012 | 7
napalm vem da NATO, de que Portugal é membro; as munições espalhadas no rasto dos revoltosos trazem a marca da Checoslováquia ou
da Alemanha de Leste, de Cuba, da
Coreia do Norte, da China comunista.
Pelo caminho, outra aldeia. Todas
as casas destruídas. Mais mortos. E
caveiras. Em Cokilenga, 17 homens
foram levados para o mato e executados. Um rapaz não chegou a ser
abatido. Caiu como se estivesse morto. Mas apenas desmaiou. Sobreviveu para contar a história: “Este
rapaz perdeu o pai, este homem um
irmão, esta criança o pai.”
Um país em negação
Esta mãe perdeu um filho. Este homem está de luto pelo irmão. Sentada, está uma senhora que agora
ficou viúva. Não há voz-off mas adivinha-se por que estão estas pessoas nas celebrações do 10 de Junho
de 1963, filmadas pelo Ministério do
Exército.
“Os heróis não morrem efectivamente, elevam-se acima dos outros
homens”, diz o narrador do filme
Aqueles que por obras valerosas, numa evocação de Camões.
Imaginam-se os soldados que
tombaram aqui — encarnados pelos
familiares, vestidos de preto, recebendo humildemente condecorações póstumas. Como tristes espectros no meio de um imponente desfile militar no Terreiro do Paço, em
Lisboa, em que tudo converge para
enaltecer o sentido patriótico de um
país em negação. Uma parte importante destes filmes, como de outros
registos da propaganda do regime
na guerra, foi realizada por equipas
de audiovisuais do Exército em trabalho nas províncias ultramarinas.
Em 1967, “Por quem combatemos”,
também realizado pelo Exército,
mostra a pompa das paradas e das
festividades frente ao palácio do governador em Bissau, num ritual repetido todos os domingos, “como
símbolo para as gerações futuras de
coragem, fé e certeza no dia de amanhã”. Homenageia os soldados brancos e negros, “chamados a defender
um património sagrado” num combate “pela grandeza da nação”. E
faz um louvor ao general Schultz,
governador da Guiné entre 1964 e
1968, “o homem, o governante, o
amigo, a certeza de que Portugal
está e continuará a estar na Guiné”,
a prova da convicção de que “a luta
só terminará pela derrota do invasor”.
Filmes estrangeiros como A group
of terrorists attacked… (1968), do
britânico John Sheppard, para o programa World in Action, e Nô Pintcha
(Em Frente, 1970), do trio francês
Tobias Engel, René Lefort e Gilbert
Igel, desconstroem esses mitos.
Abrem portas para uma sombria
realidade: as muitas mortes entre
soldados portugueses e a dificuldade do regime em sustentar a guerra
e em ganhá-la, apesar de quase metade do orçamento do Estado ser
destinada a despesas militares.
Enquanto nos filmes da propaganda, as cenas de guerra são encenadas, os documentários estrangeiros
8 | ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012
A imagem
fabricada
de uma
“grande
N
nação”
PEDRO CUNHA
PEDRO CUNHA
Os investigadores Maria
do Carmo Piçarra e
José de Matos-Cruz
O chefe da propaganda de Salazar,
admirador de Mussolini, antecipou
o sucesso da estética de Leni Riefenstahl,
a cineasta que filmou a ascensão de Hitler.
Através do cinema, António Ferro criou
uma imagem idealizada do Estado Novo.
Nenhum olhar pessoal — e alternativo
— era tolerado. Ana Dias Cordeiro
CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA
as várias camadas de um
filme, há o que não se vê
mas se adivinha. Planos e
formatos impostos,
legendas que enaltecem
a política do Governo,
cenas revistas, diálogos alterados
por ordens ou recomendações
subtis. São os retoques para
chegar à imagem idealizada e
projectada pelo Governo de
Salazar (de si próprio).
Quando se preparava para
filmar A Revolução de Maio (1937),
António Lopes Ribeiro, cineasta
do regime, expõe num documento
de 1936 os “pontos cardeais” da
obra: servir o cinema português, o
público português, a propaganda
do regime, a política de Salazar.
Num só: servir Salazar.
António de Oliveira Salazar não
era cinéfilo, no sentido de dedicar
muito tempo à sétima arte. Mas
era sensível à força das imagens e
escolheu, para dirigir a
propaganda do regime, um
homem que admirava Mussolini e
que olhava para o cinema (e para a
arte) como uma forma de servir o
poder.
“António Ferro era o nosso
Goebbels”, diz Maria do Carmo
Piçarra, investigadora que estuda
a memória cinematográfica do
colonialismo durante o Estado
Novo e autora de Salazar vai ao
Cinema — ‘O Jornal Português’ de
Actualidades Filmadas (2006) e
Salazar vai ao Cinema II — A
‘Política do Espírito’ no ‘Jornal
Português’ (2011). A especialista
conta que, nos anos 1930, para A
Revolução de Maio, Ferro e Lopes
Ribeiro tentaram contratar, sem
êxito, um director de fotografia
que mais tarde trabalhou com
Leni Riefenstahl nos filmes de
propaganda do regime nazi.
“Durante o período António
Ferro, há efectivamente uma
vontade de instrumentalizar o
cinema e uma crença nas suas
possibilidades”, aponta. Começa
por haver dinheiro para a
Um dos dois mais importantes
filmes de propaganda nacional
- o outro é, Revolução de Maio,
também de Lopes Ribeiro
“como meio indispensável da sua
acção”. E garantir que as legendas
alusivas ao Estado Novo são
obrigatoriamente incluídas nos
filmes. Quando sai do Secretariado
Nacional da Informação (SNI), que
entretanto substituira o SPN, em
1949, Ferro deixa como herança a
Política do Espírito, apoiada na
noção de que era possível, por via
da cultura, construir uma ideia de
nação.
Mais tarde, com o advento da
televisão, em 1957, o poder das
imagens transfere-se, em parte,
para o pequeno ecrã. “Mais
importante do que a película, para
a influência sobre a população,
era a produção televisiva da
época, em séries, reportagens e
nas próprias mensagens de Natal e
Ano Novo com os soldados a
combater nas colónias”, diz o
investigador José de Matos-Cruz.
“O contexto emocional, de
coacção psicológica, era aí muito
mais forte.”
Essa estética de poder é fruto da
propaganda; e da censura. Da
Inspecção-Geral dos Espectáculos,
espera-se que cumpra a “rigorosa
interdição”, instituída pela
censura em 1927, de exibir “fitas
perniciosas para a educação do
povo, do incitamento ao crime,
atentatórias da moral e do regime
A Política do Espírito
É de Ferro a ideia de criar o
Cinema Popular Ambulante e as
suas sessões de propaganda, em
1935. Duas carrinhas — o Cinema A
e o Cinema B — percorrem o país e
chegam a lugares recônditos para
mostrar filmes com um pendor
nacionalista ou militarista, vindos
dos EUA ou da Alemanha, e
produções nacionais de
propaganda explícita, de
actualidades ou ficção, como A
Revolução de Maio, “usadíssimo
nessas sessões”, diz Carmo
Piçarra.
Este é o primeiro dos dois mais
importantes filmes (o segundo é O
Feitiço do Império, também
realizado por António Lopes
Ribeiro, em 1940) da propaganda
explícita do Estado Novo. Em
ambos, o protagonista tem um
momento de revelação a partir do
qual se deslumbra com o Governo:
no primeiro caso, quando ouve
um discurso de Salazar; no
segundo, quando viaja para África
e fica rendido à obra do regime
nas colónias.
Oficialmente, como
especificado num decreto-lei,
compete ao Secretariado da
Propaganda Nacional (SPN) de
António Ferro utilizar o cinema
“Mais importante
do que a película,
para a influência
sobre a população,
era a produção
televisiva da
época, em séries,
reportagens
e nas próprias
mensagens de
Natal e Ano Novo
com os soldados
a combater
nas colónias”
José de
Matos-Cruz
político e social vigorante.”
O Ministério do Interior, o
Ministério do Ultramar e a Agência
Geral do Ultramar também
interferem — estes dois últimos
depois de 1961, com o início da
guerra colonial.
Os cortes na película eram
entregues pelo realizador aos
censores — e destruídos. Mas
ainda se encontram, nos arquivos
da Cinemateca Portuguesa, latões
com alguns cortes, recuperados
dos gabinetes dos censores no
Palácio Foz, depois do 25 de Abril,
diz Joana Pimentel.
Um cinema estropiado
Na maioria dos casos, porém, é
um material que desaparece “para
sempre”, frisa Carmo Piçarra.
“Em relação à produção
portuguesa, houve muitas vezes
necessidade de restaurar os filmes
fragmentados, estropiados”,
considera José de Matos-Cruz. “A
versão final que chegou ao público
acabou por ser uma versão
incompleta. Muitas vezes era
completamente impossível
restaurar o olhar ou a expectativa
dos cineastas que os produziram
ou realizaram”, acrescenta o autor
de dezenas de obras sobre
cinema, entre as quais O Cais do
Olhar, Prontuário do Cinema
Português ou 30 Anos com o
Cinema Português. Para ele, isso é
“trágico”.
O realizador Fernando Matos
Silva não viu o seu primeiro filme
cortado — viu-o proibido. Hoje
recorda uma noite, no princípio
de 1974, em que conseguiu, com o
distribuidor, organizar uma sessão
clandestina de O Mal-Amado na
antiga sala do Cinema Roma, em
Lisboa. “No passe-a-palavra, a sala
quase encheu”, diz ao Ípsilon.
Como o seu O Mal-Amado,
também Sofia e a Educação Sexual,
de Eduardo Geada, Nojo aos Cães,
de António de Macedo, Índia, de
António Faria, e outros só
puderam ser exibidos depois da
queda do Estado Novo.
O olhar crítico sobre a guerra
colonial, a repressão sobre os
estudantes, a questão familiar —
com a libertação que o
protagonista João ( João Mota)
propõe às irmãs, a cena em que a
mãe (Helena Félix) questiona as
amarras que a prendem a um
papel imposto, pela moral, à
mulher na sociedade, e o sexo
quase explícito entre Inês (Maria
do Céu Guerra) e João — faziam de
O Mal-Amado um filme
previsivelmente proscrito. O guião
não foi enviado ao exame prévio
como era obrigatório e o
realizador não se autocensurou.
Filmou e concluiu a longametragem — “um objecto cultural
com uma posição clara de
denúncia” — como se vivesse num
país livre. E, como se adivinhasse
que um 25 de Abril se preparava,
esperou tranquilamente até poder
exibi-la. O Mal Amado foi o último
filme a ser proibido pela censura e
o primeiro a ser estreado depois
de Abril de 1974.
teatro
© Anders Nilsson
projecção de filmes estrangeiros,
depois para a produção de
actualidades cinematográficas e
finalmente o investimento foca-se
na ficção e em filmes como A
Revolução de Maio e O Feitiço do
Império. Mais tarde é criado um
Fundo do Cinema Nacional que
apoia filmes se forem
nacionalistas — casos de Camões,
de Leitão Barros, ou Chaimite, de
Jorge Brum do Canto.
Por fim, são concedidas bolsas a
jovens para estudarem cinema no
estrangeiro. Sem saber, a
propaganda estava a alimentar um
cinema de ruptura; é quando
surgem realizadores como Manuel
Faria de Almeida ou Joaquim
Lopes Barbosa, que oferecem um
olhar alternativo sobre as colónias
mas não o podem mostrar.
Catembe e Deixem-me ao menos
subir às palmeiras de um e de
outro, respectivamente, são
proibidos. Com 103 cortes,
Catembe foi o filme mais
censurado de sempre. Mesmo
depois dos cortes, não foi
autorizada a sua exibição. Como
aconteceu a António de Sousa
com O Esplendor Selvagem e a
António Campos com A Invenção
do Amor, parábola sobre o país
totalitário inspirada num poema
de Daniel Filipe que circulava na
oposição.
O que distingue estes quatro
filmes — cada um com o seu
registo distinto — da lista de
censurados (como Maria Papoila,
Os Verdes Anos e outros) foi o
impasse em que colocaram os
seus autores. Não reviveram com
o 25 de Abril. Não tiveram estreia
comercial. Ficaram restritos a
pequenos círculos, ou foram
esquecidos.
tg STAN
Nora
de Henrik Ibsen
Inserido no 29.º Festival Internacional
de Teatro de Almada
6 a 9 julho 21h30
15€ / Com desconto 7,50€ | M/12
Em inglês com legendagem
Um projeto HOUSE on FIRE financiado com o apoio do Programa Cultura da União Europeia
Dia do Manifesto
crianças & jovens
aoarlivre
Manifestos ao ouvido
Sopa Fresca
música
Tiago Sousa Coro das Vontades
Celebramos o último dia da temporada com um programa
dentro e fora de portas dedicado ao tema Manifesto
sábado 14 julho 16h00 às 20h30 Entrada Livre
www.teatromariamatos.pt
tel. 218 438 801
ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012 | 9
CARLA ROSADO
Manuel Faria de Almeida
Um olhar livre condenado
pela censura
Catembe , sobre a vida em Lourenço
Marques nos anos 60, não desafiava
a censura, fazia como se ela não existisse
A
lembrança desse dia
quase se apagou da
memória de Manuel Faria
de Almeida. “Mil
parabéns. Ganhámos
Catembe”, dizia o
telegrama do produtor António da
Cunha Telles, em 1964. Tinha 30
anos. Hoje, o realizador não sabe
se há de olhar para trás ou
esquecer que Catembe (1965)
existiu.
O filme foi uma conquista. E
uma perda. Um olhar livre, logo
condenado à nascença, sobre a
vida em Lourenço Marques, nos
sete dias da semana, organizado
como o Cléo de 5 à 7 de Varda. Um
filme que não desafiava a censura,
fazia como se ela não existisse. Um
filme raro no panorama de outros
filmes apoiados pelo Fundo do
Cinema Nacional e formatado pela
vontade da propaganda. E no
entanto, também ele foi
subsidiado. Mesmo antes da
rodagem, já havia alertas da PIDE.
Catembe teve depois 103 cortes da
censura tornando-se o filme mais
censurado de sempre, com
menção no Guiness. Os 87 minutos
do original foram cortados para 48
minutos pela Agência Geral do
Ultramar. Faria de Almeida
remontou o filme, para lhe dar
sentido com o que lhe restava.
Mesmo assim, a Inspecção-Geral
dos Espectáculos proibiu o filme.
Faria de Almeida desistiu. Não
queria fazer mais cortes.
A censura deixou-lhe marcas.
10 | ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012
“Na altura sim. Senti-me atacado
na minha criatividade. Fiquei sem
saber o que fazer.” Decidiu: “Não
faço mais filmes de fundo. Vou
dedicar-me ao documentário.”
Virou a página. Mais tarde, ganhou
prémios como documentarista.
Foi presidente da Tobis e do
Instituto Português de Cinema. Na
RTP, foi responsável de produçãorealização e de formação.
Em nenhum momento pensou
em não pôr no filme o seu olhar
poético e a visão realista que tinha
das colónias. O seu
cosmopolitismo abre-lhe
horizontes. Dá à obra esse “olhar
de subtileza crítica”, nas palavras
do investigador José de MatosCruz, e traz-lhe novidades sobre o
que era Moçambique nos anos 60.
Depois de concluir o curso em
Londres, de vencer o 1º prémio do
Festival Cinestud de Amesterdão
com a curta Streets of Early Sorrow
e de estagiar na cinemateca
francesa, Faria de Almeida estava
cheio daquela ideia do cinema
“Senti-me
atacado na minha
criatividade.
Fiquei sem saber
o que fazer”
captam o conflito em tempo real,
propõem “a verdade mais pura”,
como A Group of Terrorists Attacked… quando mostra o ataque do
Partido Africano da Independência
da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) ao
quartel de Buba: 12 minutos de película, 12 minutos de trincheiras.
O ataque podia ter corrido mal
para os guerrilheiros do PAIGC, mas
o movimento entrara numa fase da
luta em que não duvidava da vitória.
E em que se concentrara no desenvolvimento de escolas e hospitais
— alvos prioritários dos bombardeamentos — nas zonas libertadas.
De metralhadora em punho, elementos da Milícia Popular Armada
acompanham um grupo de crianças
a uma escola improvisada sob um
telhado de palha. A câmara do realizador de Nô Pintcha segue-os. Filma o momento em que o grupo fica
debaixo de um intenso bombardeamento e foge. Os ataques surgem
a qualquer momento. “A alfabetização é um dos grandes medos dos
colonialistas portugueses”, diz o
narrador. As imagens alternam com
as palavras de Amílcar Cabral: “Lutamos para que o nosso povo seja
livre, independente e soberano.”
Longe das posições da tropa portuguesa, a câmara filma fotografias de
soldados brancos com crânios de
negros mortos, como troféus.
Um “mini-Vietname”
A censura deixou marcas em
Faria de Almeida
directo, muito montado,
sincopado, que vira em Londres.
Era admirado de Varda, Chris
Marker, Resnais.
“Quando decide fazer um filme,
Faria de Almeida está muito mais
próximo daquilo que se passa no
mundo e num regime mental
muito mais aberto do que alguns
realizadores a filmar em Portugal
que conheciam os limites e sabiam
até onde podiam ir”, diz Maria do
Carmo Piçarra, investigadora.
Catembe não sabia ser outra
coisas que não ela própria: a outra
margem de Lourenço Marques,
vila de pescadores de andrajos e
olhar intenso, cuja imensa
pobreza contrasta com o bemestar dos colonos em Lourenço
Marques, ou a personagem
imaginada por Faria de Almeida,
com o mesmo nome. “Fiz
Catembe por gostar muito de
mostrar o que achava que não
estava bem.”
O filme estava pronto em 1965
mas nunca teve estreia. Foi visto
depois do 25 de Abril na
Cinemateca e numa sessão no
Nimas. Em Setembro, vai ser
exibido no Department of Arts, do
Goldsmiths College, na
Universidade de Londres. A.D.C.
O que diria Francis Ford Coppola
destas guerras? Num dos primeiros
planos de A group of terrorists attacked…, e depois de um breve retrato do país e da apresentação de alguns comandantes da guerrilha do
PAIGC, a voz-off do narrador marca
o tom: “Estas pessoas não querem
ser portuguesas; a sua guerra é um
mini-Vietname, com a diferença de
que não enchem as primeiras páginas de jornais; a inspiração destes
combatentes vem do Vietname do
Norte; chamam-se a si nacionalistas,
mas são tratados por comunistas”.
O filme de Tobias Engel retrata um
Exército português em desvantagem, recolhido nos aquartelamentos, e uma presença portuguesa
“paralisada” nas cidades — “o mato
estava interdito ao general Spínola”,
então governador —, enquanto os
filmes da propaganda apresentam
o cenário exactamente oposto.
“Sejamos dignos deles e não vacilemos da decisão”, diz Marcello Caetano sobre imagens de negros e
brancos, juntos sob a bandeira portuguesa, no filme Angola na Guerra
e no Progresso — neste filme, também de 1971, os movimentos rebeldes são descritos como “bandos
embriagados pela droga” que “destruíam tudo o que encontravam sem
qualquer finalidade”.
A propaganda apostava também
nas actualidades cinematográficas,
nos filmes de acção psicológica, feitos pelo Exército, ou nas mensagens
de Natal e Ano Novo exibidas, em
projectores portáteis, para os soldados portugueses no mato.
“Desde o princípio dos anos 1920,
as Forças Armadas tiveram núcleos
de audiovisuais. Esse sentido de propaganda era muito importante para
Joaquim Lopes Barbosa
Criador de metáforas
políticas do
Moçambique rural
Deixem-se ao menos subir às palmeiras
foi o primeiro rodado no Ultramar
por ultramarinos, olhar crítico
e alegórico sobre o colonialismo
A
o telefone, começam por
se ouvir interferências,
mas Joaquim Lopes
Barbosa capta o
essencial. O pedido de
entrevista a partir de
Lisboa é para que fale sobre
Deixem-me ao menos subir às
palmeiras... (1972) a partir de
Maputo. “É um filme histórico”,
diz. A linha melhora e a conversa
flui: “É um dos raros filmes
anticoloniais feitos na
clandestinidade e com grandes
dificuldades em Moçambique.
Vencemos as batalhas todas”. Não
foi vencida a última: a da censura.
Lopes Barbosa já contava com
isso. “O filme era muito violento
para a época, era um tabu falar
dos moçambicanos negros na era
colonial. Essa realidade não era
mostrada, falada, filmada.”
Como Catembe, Deixem-se ao menos subir às palmeiras ficou na sombra; quase desconhecido. Ganhou
notoriedade mais pelo simbolismo
e não tanto por ser exibido. Raramente o foi, nunca teve estreia comercial.
Fez história e não só do ponto de
vista do realizador: “Foi o primeiro
rodado no Ultramar por ultramarinos”, escreveu Luís de Pina, antigo
director da Cinemateca, em História
do Cinema Português que o refere
como “uma obra de ficção exemplar
sobre o colonialismo, numa perspectiva crítica e alegórica”.
Enquanto Faria de Almeida tem
“um olhar mais urbano e de testemunho social”, Lopes Barbosa “quer
criar uma metáfora política sobre a
situação que se vivia”, diz ao Ípsilon o investigador de cinema José
de Matos-Cruz.
Realizador marxista e inspirado
pelo cinema soviético, é também o
primeiro em Moçambique a fazer
a apologia da libertação. Inspira-se
do conto Dina do moçambicano Luís
Bernardo Honwana. E retrata, através
da história de Madala, Maria, Djimo e
o capataz do fazendeiro, a exploração de trabalhadores nas fazendas de
proprietários brancos, a humilhação
e a violência. Malangatana Valente,
na altura ainda não conhecido como
pintor, também entra no filme.
No vazio da existência, no ciclo de
escravatura, de que era difícil sair,
Djimo encarna a esperança. Vestido
de fato e camisa, de mala na mão,
nega o trabalho escravo e parte da
aldeia. “É uma forma de se libertar.
“É um dos
raros filmes
anticoloniais
feitos na
clandestinidade
em Moçambique”
Realizador marxista e inspirado
pelo cinema soviético, é o
primeiro em Moçambique a
fazer a apologia da libertação
Vai à procura de soluções e uma delas é a guerrilha, a luta de libertação”, diz Lopes Barbosa.
Mesmo tentando criar ilusões aos
censores – de que este não era um
filme sobre Moçambique – com a escolha de um negro para capataz do
fazendeiro branco e este último a
falar inglês e não português, o filme
foi proibido.
Como Faria de Almeida, também
Lopes Barbosa estava envolvido no
movimento do Cinema Novo. Como
ele, perdeu o que podia vir depois
– uma carreira promissora no cinema de ficção. Mas ganhou, pela
liberdade.
“Na altura, estive 100 por cento livre”, longe do “cinema falso do Estado Novo”. Quando descobriu a literatura angolana, de Viriato da Cruz
ou António Jacinto, viu que ela fazia
“o retrato autêntico do homem”. E
pensou: “É isso que eu vou fazer.”
Juntou as influências do neo-realismo italiano, da Nova Vaga de cinema
francês, do Cinema Novo brasileiro
e do cinema soviético mudo.
O filme teve projecções independentes e pontuais em Moçambique
ou Portugal. Foi recentemente exibido pela Cinemateca, onde o produtor Courinha Ramos, ao fim de
muitos anos, depositou o negativo
e a cópia de 35 mm. A.D.C.
ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012 | 11
CENTRO DE AUDIOVISUAIS DO EXÉRCITO
À luz do Exército
CENTRO DE AUDIOVISUAIS DO EXÉRCITO
Como noutros filmes da
propaganda, Angola - Decisão
de continuar apresenta a
mobilização militar como
forma de unir os portugueses
contra os massacres
as instituições militares portuguesas”,
diz José de Matos-Cruz, investigador
de cinema, na Cinemateca até 2008.
Além de Angola na Guerra e no
Progresso, o tenente-coronel Quirino Simões realizou também Moçambique, Missão de Combate (1968) e
Guiné, a Caminho do Futuro (1971).
Neles se acreditava num Portugal
vítima de uma guerra imposta por
movimentos terroristas, motivada
por uma conspiração comunista,
mas determinado a progredir e a
defender a grandiosidade do seu
invencível império.
Este é um sonho a desmoronar-se
em Portugal – A Dream of Empire
(1971), da britânica Yorkshire TV,
que põe claramente em dúvida a
capacidade de Portugal fazer a guerra. Como esse, os outros documentários estrangeiros dizem muito do
que foi a obstinação de Portugal em
manter as colónias quando os líderes africanos já as viam como nações
independentes. Hoje, podem ser
lidos como um prenúncio do que
viria a acontecer. São eles próprios
gestos de libertação.
Nascimento
de uma nação
Alguns incluem imagens de arquivo
feitas por africanos que lutavam
pela independência. Um deles: Flora Gomes, conhecido realizador da
Guiné-Bissau.
NAMING SPONSORS
SPONSORS
APOIOS
MEDIA PARTNERS
12 | ípsilon | Sexta-feira 29 Junho 2012
ORGANIZAÇÃO
Os documentários
estrangeiros
dizem muito
da obstinação
de Portugal em
manter as
colónias. Podem
ser lidos como
prenúncio do que
viria a acontecer
Quando começa a luta de libertação
no seu país, em 1963, depois de Angola (1961) e antes de Moçambique
(1964), Flora Gomes tem 14 anos. A
mãe manda-o do arquipélago dos
Bijagós, onde nasceu, para junto de
Amílcar Cabral. Queria que entrasse
na luta para seguir os estudos. Uma
coisa estava ligada à outra.
E a decisão partiu de Amílcar:
“Vais estudar, mas não Medicina ou
Engenharia. Vais estudar cinema,
porque a nossa guerra tem de ser
documentada.” Flora Gomes parte
então para Cuba, como muitos jovens que se juntaram à guerrilha.
Mais tarde, as imagens únicas que
filma da guerra de libertação são
utilizadas no filme The Birth of a Nation (1973), no qual os suecos Robert
Malmer e Ingela Romare registam a
declaração unilateral da independência pelo PAIGC, um ano antes
do 25 de Abril, na Madina do Boé.
A dupla sueca já antes tinha filmado In Our Country the Bullets Begin
to Flower (1971), sobre o papel da
poesia dos fundadores do movimento de libertação em Moçambique
— como Marcelino dos Santos, Sérgio Vieira ou Jorge Rebelo — na mobilização para a luta.
Icónico, Amílcar Cabral, também
poeta, surge nos filmes que acompanham a guerrilha do PAIGC com
o carisma e a mensagem que fizeram
dele um líder respeitado mundialmente, até ser assassinado em Janeiro de 1973, poucos meses depois de
ter anunciado, num discurso na
Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, que a GuinéBissau se preparava para declarar a
independência de Portugal, nas zonas libertadas pelo seu movimento
— mais de dois terços do território.
Mais do que uma vez, diz, em entrevista filmada, que o objectivo do
PAIGC não era lutar contra Portugal
ou os portugueses mas contra o domínio colonial.
Pontualmente, estes retratos “por
dentro” dos movimentos de libertação são vistos em secções temáticas
de festivais que focam a guerra colonial. Mas foi logo a seguir ao 25 de
Abril, que o seu visionamento em
sessões restritas abriu uma janela
para o outro lado da guerra, cuja
realidade ainda estava presente.
Nos anos da censura em Portugal,
eram a PIDE e o Exército a saber
primeiro da existência destes filmes,
diz Joana Pimentel, responsável de
aquisições de depósitos da Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema. Antes de a maioria destes documentários chegar ao Arquivo Nacional das Imagens em Movimentos
(ANIM), departamento da Cinemateca, já estavam no Exército. Eram
adquiridos e vistos pelos militares
como filmes de instrução. Também
o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através das embaixadas, tentava adquirir toda a produção de
televisões estrangeiras sobre Portugal, as colónias e a guerra colonial,
ainda durante o Estado Novo.
Nalguns círculos em Portugal ligados a pessoas no exílio, sabia-se
da sua existência. Mas cá só puderam ser vistos depois do 25 de Abril,
na Casa de Angola ou no CIDAC –
Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral.
O preço a pagar
Quem viu os documentários estrangeiros “ganhou um sentido mais
humano e mais concreto do que se
passava no outro lado” da guerra,
diz José de Matos-Cruz. “Eram fortes elementos de informação, mais
do que os relatórios políticos escritos e que transitavam pelos bastidores de assembleias internacionais.”
Os documentários podiam ter
também a sua carga política e, nalguns casos, até um pendor propagandístico pela independência.
Presente neles, um olhar político
e humano sobre a realidade, sem
distância e com o absurdo da guerra à flor da pele. Quando se fecha a
cortina de Angola – A Journey to War,
resta o testemunho do repórter.
“Olho para trás e penso nas crianças
e nos velhos e pergunto-me se sobreviveram, penso nas salas vazias
e silenciosas das herdades portuguesas, nas coisas terríveis que se passaram neste país, penso nos jovens,
nos soldados portugueses que não
compreendem porque estão aqui,
todos apanhados numa confusão,
nenhum querendo que as coisas se
passassem assim. Que horrível preço a pagar pela liberdade.”