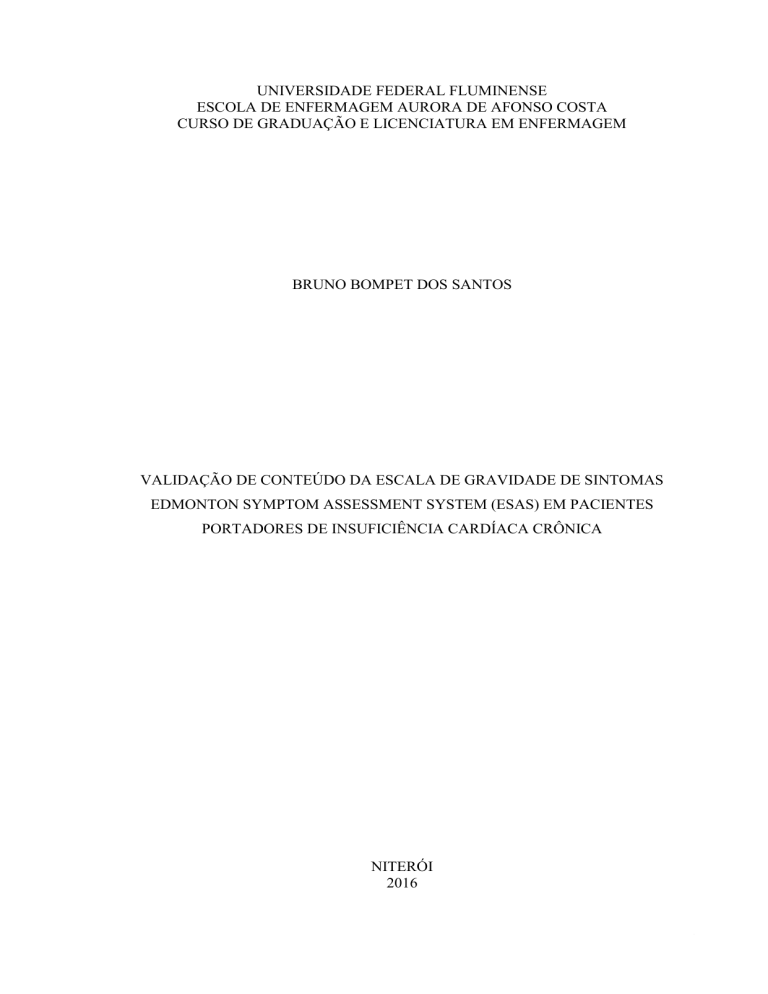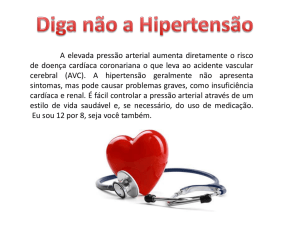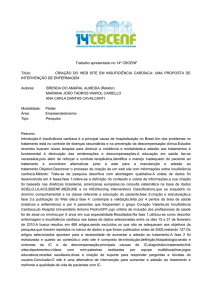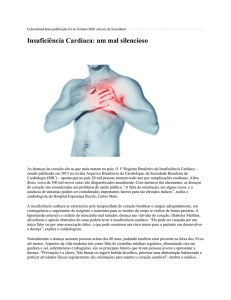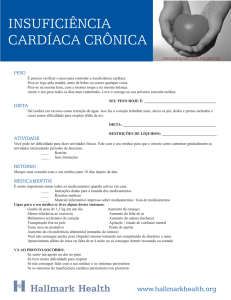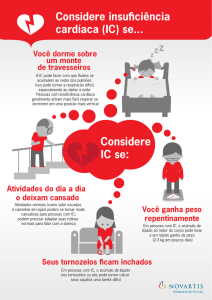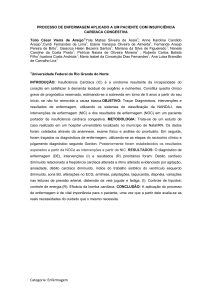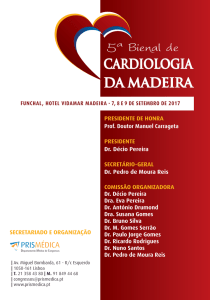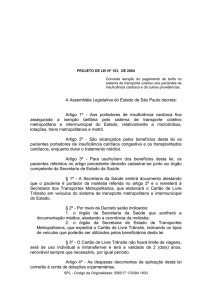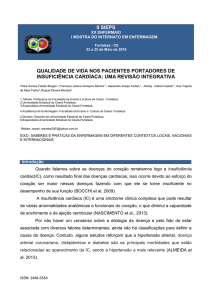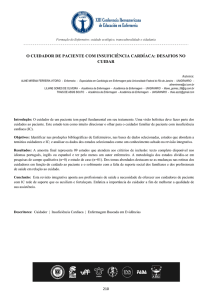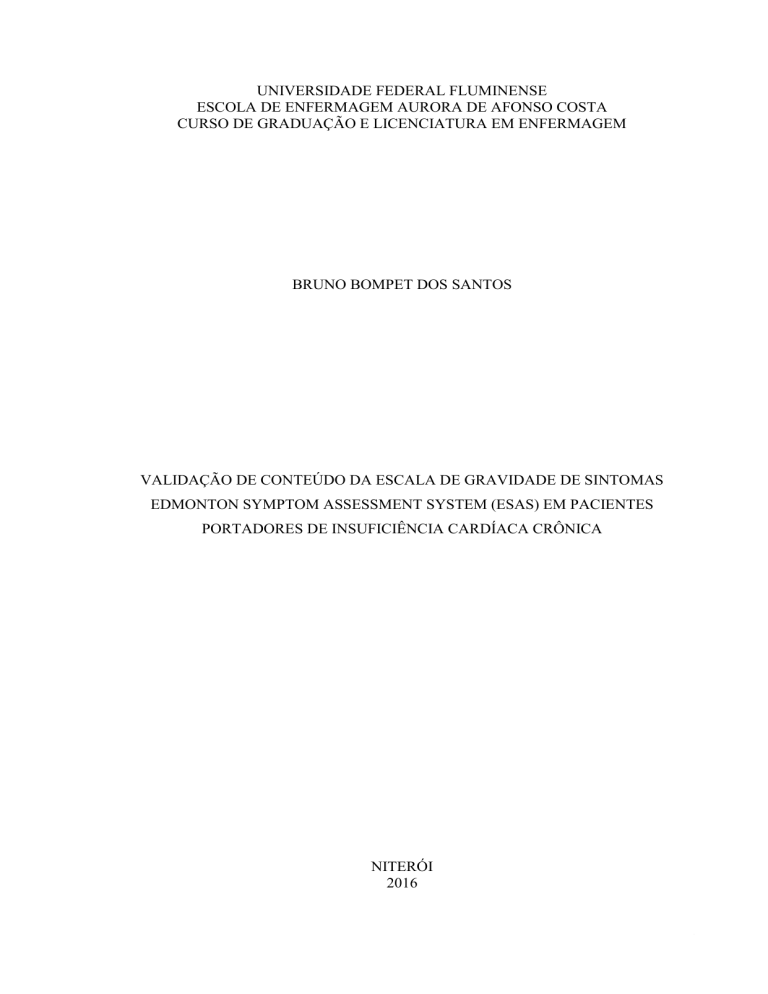
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
CURSO DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM
BRUNO BOMPET DOS SANTOS
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA ESCALA DE GRAVIDADE DE SINTOMAS
EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESAS) EM PACIENTES
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA
NITERÓI
2016
1
BRUNO BOMPET DOS SANTOS
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA ESCALA DE GRAVIDADE DE SINTOMAS
EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESAS) EM PACIENTES
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Graduação e Licenciatura da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa da Universidade Federal Fluminense,
como requisito parcial para obtenção do Título
de Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem.
Orientadora
Prof. Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti
NITERÓI, RJ
2016
2
BRUNO BOMPET DOS SANTOS
VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DA ESCALA DE GRAVIDADE DE SINTOMAS
EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESAS) EM PACIENTES
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA
Trabalho
de
Conclusão
de
Curso
apresentado ao Curso de Graduação e
Licenciatura da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa da Universidade
Federal
Fluminense,
como
requisito
parcial para obtenção do Título de
Enfermeiro e Licenciado em Enfermagem.
Aprovado em: _____/_____/_____
BANCA EXAMINADORA
______________________________________________________________________
Profª. Drª Ana Carla Dantas Cavalcanti - Orientadora EEAAC/UFF
______________________________________________________________________
Enfª Lyvia da Silva Figueiredo – 1ª Examinadora EEAAC/UFF
______________________________________________________________________
Enfª. M.ª Gláucia Cristina Andrade Vieira - 2ª Examinadora AMIL Lifesciences
Niterói, RJ
2016
3
S 337
Santos, Bruno Bompet dos.
Validação de conteúdo da Escala de gravidade de
Sintomas Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca crônica. /
Bruno Bompet dos Santos. – Niterói: [s.n.], 2016.
60 f.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2016.
Orientador: Profª. Drª. Ana Carla Dantas Cavalcanti.
1. Insuficiência cardíaca. 2. Sinais e sintomas. I. Título.
CDD 616.12
4
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, como não poderia ser diferente, meu eterno agradecimento aos meus
pais, José Marcos dos Santos e Eliane Nazareth Bompet dos Santos. Pelo apoio incondicional
em todos os momentos da minha vida, por todas as cobranças necessárias, por todo o
ensinamento de vida e principalmente, pelo amor imensurável que sempre existiu em nossa
família, amor este que foi e é guerreiramente cultivado pelos dois, meus maiores exemplos de
vida. Minha vitória é a de vocês, vencemos mais uma etapa. Amo vocês.
Aos meus irmãos Lucas e Caio, pelo companheirismo, pela amizade, por sempre
demonstrarem orgulho de mim, por todo apoio que me ofereceram nessa etapa final, por toda
a nossa história, eu amo vocês.
Bruno Saraiva, não poderia deixar de escrever este nome aqui. Por todo o apoio em
quase que 90% da minha vida universitária, pelas conversas e conselhos quando eu mais
precisei, por ter aguentado e entendido todos os meus momentos de estresse e de incertezas
diante da vida profissional, por simplesmente ser que és para mim. Por todo o incentivo
constante através de elogios e de conversas motivadores, sempre me mostrando que sou capaz
de alcançar tudo, basta eu querer o tudo. Muito Obrigado por tudo sempre.
Bom, cumprimos nossa promessa. A minha grande amiga Fernanda Figueiredo, cinco
anos de intensa convivência, inúmeras ligações, incontáveis horas no telefone, choros e brigas
a perder de vista... Tudo vivido com a intensidade que apenas nós dois entendemos. Um olhar
já era o bastante para nos entendermos. Obrigado por tudo, obrigado por ser o que prometeu
ser o tempo todo, obrigado por me aturar, obrigado por ser o melhor presente da UFF. Eu te
amo fefê.
Aos meus eternos amigos de toda a vida, Mayra Marquês, Isabella Cirne, Luana
Ailana, Luiz Paulo Porto, Julien Lima, Carolina Marchi, Raylana Paraízo, Camilla Mattos,
Luciana Alves por estarem comigo a anos, não deixando nossa amizade morrer diante das
obrigações da vida, de meus momentos de sumiço por viver 100% a universidade, por estarem
eternamente ao meu lado. Amo vocês.
Aos meus grandes amigos e colegas de faculdade o meu muito obrigado por tudo, em
especial para: Dayse Rodrigues, Clariana Rosa, Thamyres Laurindo, Rafael Saldanha, Daniela
Chaves, Mariana Valiango, Juliana Condexa, Maria Lúcia, Lays Alves, Letícia Cataldi,
Mariana Machado. Conversas, estudos, aprendizados, brigas, estresses... Todos os momentos
vividos com vocês me tornaram uma pessoa melhor. Muito Obrigado por tudo, amo vocês.
5
Aos meus amigos e companheiros de todas as sextas-feiras na Clínica de Insuficiência
Cardíaca Coração Valente, Bia, Clarissa, Marina, Daniel, Samara, Thaís, Rayanne, Sabrina
Nathália, Celso, as mais lindas meninas desse mundo que já saíram da clínica, Nathália,
Pâmela e Maria Clara e um agradecimento em especial a Lyvia, por todo o apoio
incondicional, pela amizade, pelos debates, por toda a ajuda e por sempre, sempre estar
disposta a ajudar o próximo. Eu amo vocês, muito obrigado.
Aos pacientes que diariamente me motivam e me fazem crescer a cada consulta,
fazem-me enxergar diariamente a importância da minha profissão e o propósito de eu estar ali,
um agradecimento especial a minha mais que especial paciente Maria de Fátima, minha
incrível senhora que se encontra internada no Instituto Nacional de Cardiologia, quero que
saiba que luto sempre para ser o melhor profissional para cuidar de pessoas como você.
Aos excelentes profissionais do Instituto Nacional de Cardiologia, onde estagiei no
período de 1 ano e onde adquiri excelentes ensinamentos e experiência, um grande obrigado a
Tamyres, Audrey, Roberta, Tereza, Noemi, Iza, Viviane, a todos os residentes médicos e de
enfermagem, a todos os profissionais administrativos, Marquinhos e Sandra, a toda a equipe
técnica de enfermagem. Vocês foram fundamentais para o meu amadurecimento. Muito
Obrigado, espero estar de volta em breve.
A Paula Flores por todo o ensinamento desde a disciplina de ESAI II até as atividades
na clínica, jamais esquecerei todas as palavras, toda a ajuda, todo o companheirismo durante
todo esse tempo, gostaria que soubesse que sou absolutamente grato a tudo que fez por mim.
Muito Obrigado
A professora Rosimere Santana, um mestre que me hipnotizava com tamanho
conhecimento e paixão pela enfermagem, pela constante luta pela valorização da classe e por
lutar incansavelmente para formar profissionais excelentes. Todo enfermeiro precisa te
conhecer professora, jamais esquecerei sua frase “Enfermagem é ciências”. Muito Obrigado.
Um obrigado em especial para a minha querida orientadora Ana Carla Dantas
Cavalcanti, professora exemplo em tudo o que faz, detém o dom do conhecimento e o dom de
passar o conhecimento durante os momentos de orientação. Gostaria de lhe agradecer
imensamente pelo absoluto apoio em todos os momentos, desde a minha entrada na clínica até
os momentos finais da graduação, por não ter desistido diante de minhas falhas, por ter
insistido, conversado, entendido meus problemas. Não teria conseguido concluir sem a
senhora. Espero poder contar com seu apoio, sua amizade, seus conhecimentos para galgar a
novas etapas na vida profissional. Muito Obrigado querida professora Ana.
6
Always stay gracious, best REVENGE is your paper
(CARTER, Beyonce)
7
RESUMO
Devido à alta manifestação sintomática durante a descompensação da insuficiência cardíaca
crônica e discrepância entre o número de transplante e de óbtios, surge à necessidade da
validação de conteúdo para a adaptação de uma escala que avalie a severidade dos sintomas
em pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica. Objetivo Geral: Validar o
conteúdo da escala de sintomas EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESASBr). Objetivos Específicos: 1 - Realizar uma revisão integrativa sobre os sintomas de
pacientes com IC crônica; 2 - Realizar a validação de conteúdo obtido na revisão integrativa
para a ESAS-Br para ser aplicada na avaliação da gravidade dos sintomas de pacientes com
IC crônica. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico contendo três etapas; 1 –
Permissão para uso da ESAS junto aos desenvolvedores e tradutores; 2 – Revisão integrativa
dos principais sintomas da insuficiência cardíaca; 3- Comitê de juízes especialistas para
validação de conteúdo utilizando a teoria Delphi. Resultados: A partir da avaliação dos 25
juízes, os sintomas que alcançaram percentuais acima de 70% foram: Falta de Apetite (84%),
Dor (72%), Cansaço (76%), Palpitação (72%), Fraqueza (72%); Dentre os que obtiveram
resultados inferiores a 50% foram: Taquicardia (44%), Qualidade do Sono (48%), Anorexia
(24%), Sonolência (36%), Náuseas (36%), Confusão (48%), Mau-Humor (44%) e Tosse
(44%). Discussão: Alguns estudos apresentaram baixo grau de concordância com o parecer
dos juízes diante de determinados sintomas, como por exemplo, a Dispneia e Dispneia
Paroxística Noturna. O sintoma que obteve maior percentual de concordância, a Falta de
Apetite, não contém estudos que definam sua prevalência na IC. Conclusão: Este estudo
validou conteúdos levantados na bibliografia para a validação de uma escala. Há a
necessidade de novas rodadas no Delphi para o alcance de máxima concordância entre os
juízes.
Palavras Chaves: Insuficiência Cardíaca e Sinais e Sintomas
8
ABSTRACT
Due to the high symptomatic manifestation during decompensation of chronic heart failure
and discrepancy between the number of transplants and deaths, the need arises for content
validation for the adaptation of a scale to assess the severity of symptoms in patients with
chronic heart failure. General Objective: To validate the content of the symptom scale
EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESAS-Br). Specific Objectives: 1 Make an integrative review of symptoms in patients with chronic heart failure; 2 - Perform
obtained content validation in integrative review to ESAS-Br to be used to assess the severity
of symptoms of patients with chronic HF. Methodology: This is a methodological study with
three stages; 1 - Permission to use the ESAS with developers and translators; 2 - Integrative
review of the main symptoms of heart failure; 3- Committee of expert judges for content
validation using the Delphi theory. Results: From the assessment of the 25 judges, symptoms
that reached percentages above 70% were: Lack of appetite (84%), pain (72%), fatigue (76%),
palpitation (72%), weakness (72 %); Among those who has had lower results than 50% were
tachycardia (44%), Sleep Quality (48%), anorexia (24%), somnolence (36%), nausea (36%),
Confusion (48%) Poor -Humor (44%) and cough (44%). Discussion: Some studies showed a
low level of agreement with the opinion of the judges before certain symptoms, such as
dyspnoea and the Dyspnea Paroxysmal Nocturnal. The symptom that obtained the highest
percentage of agreement, the lack of appetite, contains no studies to define its prevalence in
HF. Conclusion: This study has validated content raised in the literature for the validation of a
scale. There is a need for new rounds in Delphi to achieve maximum agreement among the
judges.
Keys Word: Heart Failure and Sigs and Symptom
9
LISTA DE FIGURAS
FIG. 1: New York Heart Association (NYHA).______________________________________p. 21
FIG. 2: Gráfico do Início do Cuidado Paliativo. _____________________________________p.25
FIG. 3: Local e Ano de Validação da ESAS em outros países.__________________________p.27
FIG. 4: Fluxo da Teoria DELPHI. ________________________________________________p.31
FIG. 5: Fluxograma Explicativo da Seleção dos Artigos. ______________________________p.34
FIG.6: Síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa. ___________________________p.35
FIG.7: Sintomas Encontrados na Revisão Integrativa.________________________________p.36
FIG.8: Sintomas Sugeridos pelo Grupo de Juízes.____________________________________p.40
10
LISTA DE TABELAS
TABELA. 1: Caracterização dos Juízes.____________________________________________p.37
TABELA. 2: Análise Estatística dos Resultados.___________________________________p.39-40
11
LISTA DE SIGLAS
ABTO – Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
BB - Betabloqueadores
BNP - Peptídeo Natriurético Cerebral
CICCV - Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente
DCNT - Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
EEAAC - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
ESAS – Edmonton Symptom Assessment System
IC - Insuficiência Cardíaca
IECA - Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina
IRC - Insuficiência Renal Crônica
IVC - Índice de Validade de Conteúdo
NANDA - Nursing Diagnosis Association
NIC - Nursing Interventions Classification
NOC - Nursing Outcomes Classification
NYHA- New York Heart Association
OMS – Organização Mundial de Saúde
RT - Raio-X de Tórax
TC - Tomografia Computadorizada
SAE - Sistematização de Assistência de Enfermagem
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UFF – Universidade Federal Fluminense
12
Sumário
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 15
2. REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................................................... 20
2.1. Anatofisiologia cardíaca ............................................................................................................. 20
2.2. Insuficiência Cardíaca Crônica .................................................................................................. 21
2.2.1. Diagnóstico ........................................................................................................................ 23
2.2.2. Tratamento .......................................................................................................................... 23
2.3. Consulta de Enfermagem ........................................................................................................... 24
2.4. Cuidados Paliativos .................................................................................................................... 25
2.5. Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) ..................................................................... 27
3. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 29
3.1. Tipo de Estudo ........................................................................................................................... 29
3.2. Obtenção da permissão para a adaptação do instrumento junto aos responsáveis. .................... 29
3.3. Revisão Integrativa..................................................................................................................... 29
3.4. Comitê de Juízes Especialistas ................................................................................................... 30
3.5. Convergência de opinião entre juízes: uso da Técnica Delphi ................................................... 31
3.6. Análises Estatísticas ................................................................................................................... 33
3.7. Aspectos Éticos .......................................................................................................................... 34
4. RESULTADOS ................................................................................................................................. 35
4.1. Revisão Integrativa..................................................................................................................... 35
4.2. – Levantamento dos Sintomas.................................................................................................... 37
4.3. Caracterizações dos Peritos ........................................................................................................ 38
4.4. Avaliação dos Peritos ................................................................................................................. 39
5. DISCUSSÃO ..................................................................................................................................... 43
6. CONCLUSÃO ................................................................................................................................... 47
6. REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 48
7. ANEXOS.......................................................................................................................................... 53
7.1. ANEXO I - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS EDMONTON (ESAS) ................. 53
7.1. ANEXO II - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS EDMONTON (ESAS-r) ............. 54
7.1. ANEXO III - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS EDMONTON (ESAS-Br) ......... 55
8. APÊNDICE ...................................................................................................................................... 56
8.1. APÊNDICE I - OBTENÇÃO DA PERMISSÃO PARA A ADAPTAÇÃO DO
INSTRUMENTO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS. ........................................................................ 56
13
8.1. APÊNDICE II – LEVANTAMENTO DOS SINTOMAS ENCONTRADOS NA REVISÃO
INTEGRATIVA. ............................................................................................................................... 57
8.1. APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS JUÍZES ESPECIALISTAS ................. 58
8.1. APÊNDICE IV – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS PERÍTOS ..................................... 59
8.1. APÊNDICE V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) ....... 60
14
1. INTRODUÇÃO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se
desenvolvem no decorrer da vida e as doenças cardiovasculares incluem-se nesse grupo. São
atualmente, um sério problema de saúde pública, sendo responsáveis por 63% das mortes no
mundo. Estudos apontam que no Brasil este número se aproxima de 74% segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS). (BOCCHI et al, 2009, p.5)
De acordo com as definições da OMS, a insuficiência cardíaca (IC) por ser uma
síndrome que gera altas limitações funcionais ao portador, deve ser tratada com alta
prioridade dentre as doenças crônicas. Estima-se que há 23 milhões de portadores de IC no
mundo havendo dois milhões de novos casos anualmente, esse aumento exorbitante de
cardiopatas se dá pelo avanço da terapêutica no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio e
da Hipertensão Arterial (NOGUEIRA et al, 2010, p. 393).
A maioria das doenças cardiovasculares tem como via final a IC, tornando essa
síndrome um grande desafio clínico devido a sua complexidade e a sua rápida progressão
(BOCCHI et al, 2009, p 7). Devido ao alto índice de morbimortalidade, a IC vem recebendo
maior atenção nas últimas décadas, obtendo assim avanços terapêuticos e aumentando a
sobrevida dos pacientes. (SOARES et al, 2007).
A falta de controle dos sintomas, o não conhecimento sobre a patologia, os quadros de
depressão e principalmente a não adesão ao regime terapêutico são os principais motivos de
morte por IC (TROTTE, 2014, p.15), (RABELO et al, 2007, p166), (BARRETO et al, 2008,
p.335), (LESSA, 2001, p 385).
No Reino Unido, aproximadamente 5% da população acima de 75 anos é
diagnosticada com essa síndrome, tendo em torno de 900.000 mil casos de IC e 60.000 novos
casos anualmente (CONNOLLY, 2009, p.5). Nos Estados Unidos da América, estima-se que
há 4.700.000 cidadãos portadores de IC, causando um total de 280.000 mortes ao ano,
igualando ao número de portadores de câncer e superando o número de portadores de AIDS
(TAVARES et al, 2004, p 121). No Brasil, segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS),
ocorreram 156 mil internações por doenças cardiovasculares sendo a IC como causa mais
frequente (BRASIL, 2014). Estudos de projeção indicam que em 2025 o Brasil terá a sexta
maior população de idosos do mundo, levando em consideração o número de 240 mil novos
casos de IC por ano, estima-se que esse número deve se multiplicar. (NOGUEIRA et al, 2010,
p. 393)
15
No estado do Rio de Janeiro, houve um aumento nos números de reinternação de
aproximadamente 25% em 2010. (MESSEDER, 2005, p.526). O número de óbitos no estado
do RJ entre os anos de 2008 e 2015 foi de aproximadamente 16 mil, sendo 51% homens e
49% mulheres, tendo a maior concentração de óbitos em pacientes entre 70 e 85 anos
(BRASIL, 2016). Devido ao aumento da população idosa, registrou-se o crescimento da
população de risco e da população portadora de insuficiência cardíaca segundo censo 2010; na
cidade de Niterói, houve 48 óbitos por IC entre 2010 e 2015, sendo 29 homens e 19 mulheres.
(BRASIL, 2016).
A complexidade desta síndrome e a alta prevalência de reinternação apontam para
necessidade de uma abordagem multidisciplinar contínua (BOCCHI et al, 2012, p 18).
Clínicas especializadas em IC desenvolvem atendimento multiprofissional direcionado para
pacientes com IC e seus familiares com o intuito de monitorá-los e educá-los para o manejo
da doença e tratamento, com ênfase em medidas de autocuidado e reconhecimento precoce de
sinais e sintomas de descompensação. (MARTINS; CAVALCANTI, 2013, p. 271)
As atribuições de uma clínica especializada são estabelecer diagnóstico diferencial,
estimular adesão ao tratamento, orientar sobre reconhecimento de sinais e sintomas de
descompensação, identificar e tratar comorbidades entre outras. (BOCCHI et al, 2009, p 19).
Os profissionais que constituem a base assistencial da clínica de IC são médicos
cardiologistas especializados em IC, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e
farmacêuticos. (BOCCHI et al, 2009, p 19)
Nesse sentido, a consulta de enfermagem surge como uma alternativa para estimular
medidas não farmacológicas e farmacológicas para melhorar a qualidade de vida e adesão ao
tratamento através de educação em saúde, com orientações sobre alimentação, atividade
física, posições de conforto, adesão ao tratamento medicamentoso, conhecimento da doença
entre outras questões que podem auxiliar a manutenção de uma vida mais saudável e
aumentar aderência ao tratamento. (CAVALCANTI et al, 2009, p.196)
No entanto, apesar das diversas medidas de controle da IC, sabe-se que o maior
desafio para o paciente no enfrentamento desta síndrome está na cura, pois o único caminho
para tal é o transplante cardíaco. Tal procedimento que perpassa por diversas instâncias, como
fatores psicossociais, contraindicações médicas, dificuldade de aplicação do transplante e
principalmente a falta de doadores, que podem inviabilizar esse processo devido à
discrepância na diferença oferta e demanda (ABTO, 2012). Assim, os pacientes não elegíveis
16
ao transplante, estão aptos ao cuidado paliativo, desde o momento do diagnóstico de IC.
(ESPANHA, 2008)
Devido a limitações funcionais, incapacidades físicas e severidade dos sintomas em
pacientes portador de doenças crônicas, em 1991 no Canadá, foi desenvolvido um
instrumento no programa de cuidados paliativos no Hospital Geral de Edmonton.
Este
instrumento teve o intuito de auxiliar na detecção e monitoramento dos sintomas em pacientes
oncológicos, sendo denominado EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM (ESAS)
(ANEXO I) (MONTEIRO, 2013, P.164).
O instrumento ESAS encontra-se devidamente validado para uso clínico no Canadá
(BRUERA et al,1991-1993, p. 9), Dinamarca (STROMGREN et al, 2002, p. 135), Estados
Unidos da América (CHANG et al, 2000, p. 27), Austrália (PHILIP et al, 1998, p.12), Suíça
(PAUTEX et al, 2003, p. 45), Itália (MORO et al, 2006, p.7), Espanha (CARVAJAL et al,
2000, p.36) , Bélgica (CLAESSENS et al, 2011, p.13), Coréia (KNOW et al, al, 2013, p. 947),
Tailândia (CHINDA et al, 2011, p.140).
A escala de avaliação de sintomas (ESAS) tem como proposta a avaliação do grau de
severidade de nove sintomas comuns em pacientes oncológicos em cuidados paliativos.
Usando uma escala de 0 a 10, teremos a mensuração deste grau de severidade, onde o próprio
paciente circula de acordo com cada sintoma determinando se naquele momento a dor está
“sem dor” ou “muito forte”. Esses nove sintomas são: Dor, Cansaço, Náuseas, Ansiedade,
Apetite, Sonolência, Falta de ar, Bem-estar, Depressão. (BRUERA et al, 1991, p. 14)
De acordo com guideline do programa regional de cuidados paliativos do Canadá de
2001 a escala pode ser aplicada para controle dos sintomas, podendo ser avaliada
semanalmente pelo próprio paciente, porém, em caso de descompensação, a escala deve ser
aplicada durante a consulta pelo profissional de saúde (BRUERA et al, 2001, p.2).
Em 2010, a ESAS sofreu algumas modificações que facilitaram o entendimento dos
pacientes, sendo nomeada de ESAS-r (ANEXO II) (BRUERA et al, 2001, p.5). Este
instrumento foi traduzido e adaptado culturalmente para uso no Brasil em pacientes
oncológicos. Ressalta-se que os autores consideraram que o instrumento apresenta pouco
esforço no preenchimento, sendo satisfatório para uso em cuidados paliativos (MONTEIRO et
al, 2013, p.163)
Outro estudo, realizado concomitantemente e de forma independente em São Paulo,
realizou a tradução e adaptação transcultural, além da análise psicométrica da ESAS para uso
no Brasil em pacientes com câncer avançado, denominando a escala ESAS-Br (ANEXO III).
17
A escala foi considerada válida e confiável para uso no Brasil nesta clientela (MANFREDINE
et al, 2014, p.8)
Considerando a complexidade dos sintomas dos pacientes com IC e a limitação
prognóstica dos mesmos, estes se encontram em uma condição séria e equivalente à doença
oncológica em termos de carga sintomática e morbimortalidade. (JAARSMA et al, 2009, p.
434). Estudos comprovam que pacientes com IC tem baixa qualidade de vida, devido as
manifestações clínicas relacionadas a patologia, tais como: fadiga, dispneia, edemas e reações
relacionadas a terapia medicamentosa. (BOCCHI et al, 2009, p 26), (JAARSMA et al, 2009,
p.433)
A utilização da ESAS em pacientes com IC pode ser útil para nortear os cuidados da
equipe de saúde multiprofissional, levando em consideração o fácil manuseio do instrumento
e a possibilidade de mensuração através do gráfico de piora na severidade dos sintomas. Não
é de nosso conhecimento que há escalas adaptadas, traduzidas e validadas para uso na
monitoração de pacientes com IC quanto a severidade dos seus sintomas no Brasil. Apesar
da ESAS-Br já ter sido adaptada e validada para uso no Brasil para avaliação da gravidade
dos sintomas de pacientes em cuidados paliativos oncológicos, esta escala ainda não está
adaptada para uso em pacientes com IC crônica.
Questão norteadora
A escala de avaliação da gravidade dos sintomas EDMONTON SYMPTOM
ASSESSMENT SYSTEM (ESAS-Br) adaptada, apresenta conteúdo válido para medir a
severidade dos sintomas de pacientes com IC crônica?
Objetivo geral
Validar o conteúdo da escala de sintomas EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SYSTEM
(ESAS-Br).
Objetivos específicos
1. Realizar uma revisão integrativa sobre os sintomas de pacientes com IC crônica;
2. Realizar a validação de conteúdo para a ESAS-Br para ser aplicada na avaliação da
gravidade dos sintomas de pacientes com IC crônica;
18
JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA
A utilização de uma escala que mensure e estratifique a severidade e a evolução dos
sintomas em pacientes portadores de IC é desconhecida. Usando a escala como artifício para
identificar o quadro de piora dos sintomas junto a uma consulta sistematizada, o profissional
especializado pode monitorar e detectar precocemente sintomas clássicos de descompensação,
além de avaliar a eficácia do regime terapêutico.
19
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Anatofisiologia cardíaca
O coração é um órgão muscular, localizado no centro do tórax onde ocupa o espaço
entre os dois pulmões e apresenta quatro câmaras: Ventrículos direito e esquerdo, Átrios
direito e esquerdo. Possui um peso de aproximadamente 300g, porém esse valor varia de
acordo com a idade, peso corporal, grau de exercícios e condicionamento. (SMELTZER et al.,
2011, p. 685)
O coração é composto por três tipos principais de músculo: O ventricular, o atrial e as
fibras especializadas: excitatórias e condutoras. Os músculos atriais e ventriculares se
contraem quase que da mesma forma que a musculatura esquelética, sendo a diferença
encontrada na velocidade da contração, já as fibras especializadas se contraem pouco porem,
em contrapartida apresentam descargas elétricas automáticas que fazem a condução dos
impulsos nervosos no coração. (GUYTON, 2012, p.103)
O coração é composto por dois sincícios, sincício atrial e sincício ventricular que é a
forma de distribuição celular no miocárdio, onde todas estão entrelaçadas facilitando assim a
condução do potencial de ação por entre as fibras musculares cardíacas. (GUYTON, 2012,
p.103). Os átrios e ventrículos são divididos entre si por tecido muscular denominado septo e
apresentam um tecido fibroso circular central denominado valva, por onde passa o sangue do
átrio para o ventrículo. As valvas que separam o átrio esquerdo do átrio direito é chamada de
valva mitral e a que separa as câmaras direitas cardíacas é a valva tricúspide. (GUYTON,
2012, p.104)
A função cardíaca é bombear o sangue para todo o corpo e essa função se dá através
da ação rítmica do relaxamento e da contração da musculatura cardíaca. A fase de
relaxamento denominada Diástole, é quando as quatro camadas se preenchem de sangue, já a
fase de contração denominada Sístole, é o momento em que ocorre o esvaziamento das
câmaras cardíacas. (SMELTZER et al., 2011, p. 685). Este processo ocorre de maneira
simultânea e sincronizada, onde no momento em que o Átrio relaxa, o Ventrículo contrai e
vice e versa, gerando assim o fluxo sanguíneo. A camada direita do coração é composta por
sangue venoso rico em CO2, e a camada esquerda é responsável por sangue arterial, rico em
O2. (SMELTZER et al., 2011, p. 686)
20
A área de cada câmara está diretamente relacionada com a carga de trabalho realizada,
onde além do tamanho, a espessura muscular também é determinada pelo trabalho. Os
ventrículos são responsáveis por vencer a resistência pulmonar e sistêmica e necessitam ejetar
mais sangue durante a sístole do que os átrios, por esse motivo, a parede muscular ventricular
é mais espessa que a atrial, devido a essa resistência sistêmica e pulmonar. (SMELTZER et
al., 2011, p. 686)
2.2. Insuficiência Cardíaca Crônica
A insuficiência cardíaca (IC) é caracterizada pela incapacidade do coração de bombear
o sangue para suprir as necessidades do corpo, causando diminuição da oferta de O2 e
nutrientes. A IC é reconhecida por ser uma síndrome clínica de sinais e sintomas de
sobrecarga de líquido. (BOCCHI et al, 2009, p 6) O termo IC determina que há uma disfunção
cardíaca seja ela diastólica ou sistólica, podendo ou não gerar uma congestão pulmonar ou
sistêmica. (SMELTZER et al., 2011, p. 825).
Há dois tipos principais de IC, o mais comum que é o sistólico, esse identificado pela
avaliação ecocardiográfica dos ventrículos que se caracteriza pelo enfraquecimento do
músculo cardíaco e o menos comum que é o diastólico que se caracteriza pela rigidez dos
músculos cardíacos o que torna difícil o enchimento das câmaras cardíacas. (SMELTZER et
al., 2011, p. 825).
Segundo BOCCHI (et al, 2009, p 7) a maioria das doenças
cardiovasculares tem como via final a IC, sendo assim, há vários fatores para chegar à o
diagnóstico de IC, sendo esses: Doenças Valvares, Infartos do Miocárdio, Miocardite,
Endocardite, Hipertensão Arterial entre outras doenças cardiovasculares.
A IC faz com que o organismo responda a insuficiência cardíaca com compensação
hormonal, esse mecanismo neuro-hormonal é o responsável pelas manifestações dos sinais e
sintomas da IC, tais como: Fadiga, Edema, Dor Precordial e ect. (RABELO et all, 2007, pg.
167) A IC sistólica faz com que o volume ejetado pelos ventrículos diminuía, sendo assim
detectados pelos barorreceptores localizados nas artérias Aorta e Carótida, fazendo com que o
Sistema Nervoso Simpático, núcleo do Sistema Nervoso Central libere adrenalina
norepinefrina causando inotropismo positivo e consequentemente uma cascata de resposta
21
sistema a essa diminuição do volume ejetado pelos ventrículos. (SMELTZER et al., 2011, p.
826)
O volume ejetado pelos ventrículos é determinado como Fração de Ejeção e essa
avaliação é determinante para o diagnóstico de IC. A fração de ejeção é calculada na
subtração do volume permanente no ventrículo ao final da sístole com o volume total ao final
da diástole, o resultado dessa subtração é a porcentagem do volume ejetado pelo ventrículo. A
fração de ejeção diminuída esta presente somente na IC sistólica, essa que é a mais comum e a
mais grave, tendo como valor de referência para determinar a fração de ejeção diminuída o
padrão de 55% a 65%. (MANN; CHAKINALA, 2013, p.1901)
Com a diminuição da FE por disfunção sistólica, o ventrículo direito busca um
remodelamento devido a diversos fatores, tais como: hipertrofia de miócito, alterações das
propriedades contráteis do miócito, perda progressiva do mócito, necrose, alterações do
metabolismo entre outros. (MANN; CHAKINALA, 2013, p.1903)
Contudo, a gravidade da insuficiência cardíaca não é determinada pelo tipo: Sistólica
ou Diastólica, nem pelo valor achado da fração de ejeção pelo eco cardiograma. Mais sim é
pela classe funcional determinada pela New York Heart Association (NYHA) de acordo com
os sinais e sintomas do paciente. (SMELTZER et al., 2011, p. 825)
FIGURA 1: Classe Funcional de acordo com o New York Heart Association (NYHA)
NYHA I
Ausência de sintomas (dispneia) durante atividades cotidianas. A
limitação para esforços é semelhante à esperada em indivíduos normais.
NYHA II
Sintomas desencadeados por atividades cotidianas.
NYHA III
Sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas
ou pequenos esforços.
NYHA IV
Sintomas em repouso.
FONTE: III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica
Tendo fadiga, falta de ar e edema como os principais sintomas da IC, a falta de ar pode
ser decorrente de outras morbidades musculares ou até mesmo devido a anemias. Os sintomas
são alterados de acordo com a evolução da doença, sendo eles inicialmente percebidos
durante grandes esforços evoluindo assim para desconforto aos pequenos esforços (MANN;
CHAKINALA, 2013, p.1905).
22
O paciente portador pode apresentar outros tipos de sintomas além dos clássicos como:
Edema agudo de pulmão, anorexia, náuseas, saciedade precoce e dor abdominal, podendo
esses estarem relacionados a edema de parede abdominal ou hepatomegalia (MANN;
CHAKINALA, 2013, p.1906).
2.2.1. Diagnóstico
Em sua fase inicial, os sintomas da IC podem passar despercebidos pelos pacientes,
devido à similaridade com algumas outras patológicas, tais como: Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) e Insuficiência Renal Crônica (IRC). Com isso, se dá a
importância da avaliação mecânica do coração, podendo ser avaliada através do eco
cardiograma, identificando assim as causas adjacentes a IC, a função cardíaca e determinar a
fração de ejeção ventricular. Outros exames como Raio-x (RT), Tomografia Computadorizada
(TC) de tórax, exames de sangue complementares para avaliar níveis de Peptídeo Natriurético
Cerebral (BNP), exames hormonais e principalmente a avaliação clínica do paciente, são as
formas de diagnóstico da IC (BOCCHI et al, 2009, p 11).
2.2.2. Tratamento
O tratamento da insuficiência cardíaca ele é constituído pelo conjunto das ações
farmacológicas e não farmacológicas. Ambas, visando sempre a melhora na qualidade de vida
do paciente e a adesão ao tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico.
Tratamento Farmacológico
O tratamento farmacológico depende da avaliação médica, de acordo com os sinais e
sintomas apresentados pelo paciente, de acordo com a etiologia, com a classe funcional da IC
de acordo com a NYHA (BOCCHI et al, 2014, p.7).
Mesmo o paciente necessitando de uma intervenção farmacológica, o tratamento deve
ser concomitante ao não farmacológico, otimizando assim, o tempo de tratamento, a qualidade
de vida do paciente entre outros fatores.
23
O tipo de fármaco utilizado irá depender da decisão médica e os principais fármacos
usados são: Digitálicos, Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA), Beta
Bloqueador (BB), Anticoagulante e Antiagregantes Plaquetários, Antiarrítimicos, Inibidores
do Canal de Cálcio, Bloqueadores dos Receptores da Angiotensina II, Antagonistas da
Aldosterona, Hidralazina e Nitrato, Diuréticos Tiazídicos (BOCCHI et al, 2014, p.9).
Tratamento Não Farmacológico
O tratamento não farmacológico deriva de ações cirúrgicas, nutricionais e educação
em saúde. A equipe de enfermagem atua diretamente a terapêutica não farmacológica, onde
está baseada em orientações sobre a adesão ao tratamento, qualidade de vida e principalmente
incentivar o autocuidado orientando quanto a: ingesta hídrica, controle de sal na alimentação,
álcool, tabagismo, atividade física e sexual (BOCCHI et al, 2014, p.9).
2.3. Consulta de Enfermagem
A consulta de enfermagem é baseada na educação em saúde, tendo como ponto guia,
os cuidados específicos de enfermagem baseados na linguagem padronizada North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA)- Nursing Interventions Classification (NIC)Nursing Outcomes Classification (NOC) (CAVALCANTI et al, 2009, p.196).
A abordagem ambulatorial é importante para uma educação sistematizada, onde o
paciente tem em um mesmo local, um acompanhamento médico, nutricional, fisioterápico e
pela enfermagem. Na abordagem do enfermeiro é fundamental a utilização da Sistematização
de Assistência de Enfermagem (SAE) em conjunto com a educação em saúde, pois ao mesmo
tempo em que o enfermeiro traça o perfil do paciente ele esclarecer qualquer dúvida do
paciente (SILVA et al, 2013, p.74).
Preconizando o autocuidado e a qualidade de vida do paciente, primeiramente se
prioriza o nível de conhecimento do paciente para com a doença, onde a partir daí se direciona
o foco da consulta (SILVA et al, 2013, p.74).
A utilização da SAE desenvolve pensamento crítico, autonomia técnica e
gerenciamento do cuidado de enfermagem. Através dela, é possível coletar o histórico do
24
paciente, traçar os diagnósticos e planejar as intervenções, trazendo assim subsídios para o
cuidado de enfermagem que é pautado em conhecimento científico (CAVALCANTI et al,
2009, p.195).
Para a implementação da consulta de enfermagem em uma clínica especializada e
fazendo parte do tratamento não farmacológico a pacientes com IC, preconizado pela Diretriz
Brasileira de Insuficiência Cardíaca, foi criado um formulário baseado em todos os domínios
do NANDA, onde através dele se traça e perfil do paciente, se desenha os principais
diagnósticos e implementar as intervenções. (CAVALCANTI et al, 2009, p.195)
2.4. Cuidados Paliativos
De acordo com a Sociedade Internacional de Transplante de Coração e Pulmão, em
2012 foram realizados 3368 transplantes de coração em todo o mundo, sendo esse valor
subdivido nos continentes: 51 na Austrália /Ásia, 2481 na América do Norte, 122 na América
do Sul, 701 na Europa e 13 na África, não tendo nos EUA nem 1% de transplante necessário
para atender os quase 5 milhões de portadores de IC (Sociedade Internacional de Transplante
de Coração e Pulmão).
Em 2002 a OMS alterou o conceito de cuidados paliativos para
“Uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes que
enfrentam problemas decorrentes de uma doença incurável com prognóstico
limitado, e/ou doença grave (que ameaça a vida), e suas famílias, através da
prevenção e alívio do sofrimento, com recurso a identificação precoce,
avaliação adequada e tratamento rigoroso dos problemas, não só físicos como
a dor, mas também dos psicossociais e espirituais” (OMS).
A dificuldade de entender a deterioração da doença e com uma fase final não tão clara
quanto a do câncer, enaltece a necessidade da intervenção paliativa em conjunto com o
tratamento tradicional, oferecendo além do tradicional todo o suporto de vida, seja ele
emocional ou não (JOHNSON et al, 2006, p.2012).
25
FIGURA 2: Gráfico início do Cuidado Paliativo
FONTE: GUIA DE PRATICA CLÍNICA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS (GOVERNO DA ESPANHA)
O cuidado paliativo deve ser iniciado ao diagnóstico de uma doença fatal, onde se tem
uma evolução gradativa em conjunto com o tratamento curativo, pois no decorrer da doença,
com sua evolução o tratamento passa a ser predominantemente paliativo. Essa transição varia
de acordo com a necessidade e particularidade de cada paciente, para essa avaliação são
pontuados qualidade de vida, autonomia e o grau de sofrimento pela deterioração da doença
(Guia de cuidado paliativo, governo da Espanha) (ESPANHA, 2008).
Palliare, do latin significa: proteger, amparar, cobrir, abrigar, tendo como perspectiva
um cuidar mais amplo que o controle dos sintomas, atendendo a demanda paciente/família, o
termo cuidado paliativo implica uma abordagem holística tendo como foco principal: Alívio
da dor, cuidado psicológico e espiritual do paciente, preparação para a morte, apoio e
incentivo a atividades de vida, reforço na necessidade do autocuidado entre outros, andando
sempre em conjunto com o tratamento tradicional, pois os cuidados paliativos podem ser
abordados por qualquer profissional na equipe multidisciplinar (PIMENTA et al, 2006 p. 54).
Em pacientes com IC, há dificuldade no controle de sinais e sintomas no curso da
doença, principalmente sintomas como: dispneia, ortopnéia, fadiga, fraqueza, retenção de
líquido entre outros, alto nível de depressão e dor, sendo a dor mais comumente relatada na
fase terminal da IC (TROTTE, 2014, p.20). No Brasil, o cuidado paliativo ao paciente com IC
é muito escasso, mesmo mediante aos comorbidades apresentadas pelos pacientes. Diante
disto, se vê a necessidade da realização de cuidados paliativos a essa clientela na tentativa de
oferecer um cuidado mais digno a esse paciente que se encontra com uma patologia incurável
(TROTTE, 2014, p.21).
26
2.5. Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
A ESAS foi desenvolvida em 1991 por Bruera no Canadá no programa de cuidados
paliativos do Hospital Geral de Edmonton com o propósito de avaliar e mensurar a gravidade
dos sintomas em pacientes com câncer avançado (MONTEIRO et al, 2013, p.164). Em sua
primeira versão a ESAS era composta por uma combinação de oito sintomas físicos e
psicológicos, tais como: dor, atividade, náuseas, depressão, ansiedade, sonolência, apetite,
bem-estar, em seguida foi acrescentado falta de ar (BRUERA et al, 1991, p.22)
Inicialmente, os sintomas foram classificados por meio de uma escala analógica. Já no
segundo momento, a intensidade do sintoma passou a ser avaliada pelo relato do paciente
através de uma escala numérica, variando de 0 a 10 pontos, sendo que a versão mais atual
inclui também a avaliação sobre o sono (RICHARDSON et al, 2009, p. 57). Além dos
sintomas avaliados pela ESAS, usualmente têm-se avaliado o escore total de sintomas (ESAStotal), considerado como a soma de todos os sintomas.
Em 2010, a ESAS sofreu algumas modificações por um grupo de estudos no Rio
Grande do Sul, originando a ESAS-r. Estas alterações facilitaram o entendimento dos
pacientes, culminando em pouco esforço no preenchimento, o que é satisfatório para uso em
cuidados paliativos (MONTEIRO et al, 2013, p.163). No entanto, este instrumento só foi
traduzido, adaptado culturalmente para uso no Brasil para uso exclusivo em pacientes
oncológicos.
Paralelamente ao estudo realizado no Rio Grande do Sul, um grupo de São Paulo,
realizou de forma independente, a tradução, adaptação transcultural e análise psicométrica da
ESAS para uso no Brasil em pacientes com câncer avançado, denominando a escala ESASBr. A escala foi considerada válida e confiável para uso no Brasil nesta clientela.
Após a criação da escala no Canadá em 1991, a ESAS foi validada em diversos países,
como discriminado na tabela abaixo.
27
FIGURA 3 – Local e ano de validação da ESAS em outros países
Pais
Autor
Ano
Local
Austrália
Philip et al
1998
Unidade de Cuidado Paliativo
Bélgica
Claessens et al
2011
Unidade de Cuidado Paliativo
Brasil
Manfredine et al
2014
Hospital de Câncer de Barretos
Canadá
Bruera et al
1991/1993
Unidade de Cuidado Paliativo
Coréia do Sul
Kwon et al
2013
Serviço de Oncologia Clínica
Dinamarca
Stromgren et al
2002
Unidade de Cuidado Paliativo
Espanha
Carvajal et al
2011
Unidade de Cuidado Paliativo
EUA
Chang et al
2000
Unidade de Cuidado Paliativo
Itália
Moro et al
2006
Unidade de Cuidado Paliativo
Suíça
Pautex et al
2003
Serviço de Geriatria
Tailândia
Chinda et al
2011
Unidade de Cuidado Paliativo
28
3. METODOLOGIA
3.1. Tipo de Estudo
Trata-se de um estudo metodológico que consiste na validação de conteúdo da escala
de avaliação dos sintomas THE BRAZILIAN VERSION OF THE EDMONTON SYMPTOM
ASSESSMENT SYSTEM (ESAS-Br) para uso em pacientes com IC crônica.
3.2. Obtenção da permissão para a adaptação do instrumento junto aos responsáveis.
A permissão para a adaptação foi enviada ao Professor Doutor Eduardo Bruera, Chefe
do Departamento de Cuidados Paliativos, MD Anderson Câncer Center (Houston, Texas,
EUA), ao Professor Doutor Carlos Eduardo Paiva, Docente da Pós-Graduação do Hospital de
Câncer do Barreto, Coordenador das Disciplinas: Cuidados Paliativos e Bases de Oncologia II
e a Mestre Luciana Lopes Manfredini, Enfermeira Oncológica autora da dissertação
“Tradução e Validação da Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS) em
pacientes com câncer avançado”. (ANEXO IV)
3.3. Revisão Integrativa
A prática baseada em evidências é a busca para resolução dos problemas, iniciada
através da literatura a fim de obter e integrar resultados evidentes para a aplicação na prática
(MENDES et al, 2008, p.4). A revisão integrativa possibilita que através da pesquisa da
síntese do conhecimento sobre um determinado assunto, construa-se embasamento e
relevância para um estudo, sendo capaz também de apontar as lacunas na pesquisa. O
propósito inicial desse processo é obter um profundo entendimento de um determinado
assunto, baseando-se em estudos anteriores.
Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados online:
MEDLINE (PUBMED) e LILACS. Utilizou-se as seguintes etapas preconizadas em um
estudo de revisão integrativa: elaboração da questão de pesquisa, estabelecimento de critérios
29
de inclusão e exclusão de estudos, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos,
interpretação dos resultados e síntese do conhecimento (SASSO et al, 2008, p 760).
Considerou-se como questão de pesquisa: Quais os possíveis sintomas da Insuficiência
Cardíaca Crônica encontrados na literatura? Foram utilizados para a busca os Descritores em
Ciências da Saúde (DeCs) Insuficiência Cardíaca, Sinais e Sintomas e os termos MESH
Heart Failure e Signs and Symptoms.
A busca ocorreu no mês Fevereiro de 2016, utilizando os seguintes critérios de
inclusão: revisões sistemáticas, em português, espanhol e inglês, sem recorte temporal,
utilizando o operador booleano AND /E. Foram utilizadas as seguintes estratégias de busca:
“Heart Failure AND Signs and Symptoms” na base de dados Medline (Pubmed) e
“Insuficiência Cardíaca E Sinais e Sintomas” na LILACS. Foram excluídos da busca os
artigos que não responderam à questão de pesquisa após leitura dos títulos e resumos.
Incluem-se neste estudo buscas em livros e guidelines.
Foram identificados 59 estudos na base de dado PubMed e 07 estudos na LILACS.
Após a leitura dos títulos e resumos foi constatado ausência de duplicações e foram excluídos
49 artigos. Destes, 2 artigos por falta de resumo e 48 por não respondem à questão do estudo.
Foram eleitos 17 estudos para leitura de texto completo, com o intuito de responder à questão
do estudo. Após leitura completa, 9 artigos foram incluídos neste estudo.
Os estudos foram lidos e os resultados encontrados foram tabulados, através de um
banco de dados em Microsoft Excel 2007, para posterior análise em conjunto com a Escala de
Edmonton, pela equipe de juízes.
3.4. Comitê de Juízes Especialistas
O comitê especialista foi composto por profissionais da área da saúde com prática
hospitalar e de estudo na área de insuficiência cardíaca. Esse comitê foi formado para a
validação de conteúdo para a utilização da ESAS-Br em pacientes portadores de IC crônica.
Os critérios para inclusão de juízes foram pautados na busca por profissionais com
amplo conhecimento prático e científico na área de IC a fim de maior fidedignidade na
avaliação do instrumento. Para tal, foi necessário ao menos atender um dos critérios abaixo:
Ter no mínimo três anos de prática profissional em uma clínica especializada em IC.
Uma pesquisa completa de Mestrado ou Doutorado com pacientes com IC.
Ter no mínimo um artigo em IC publicado como autor principal ou orientador.
30
Ter no mínimo dois artigos publicados em IC como autor secundário.
3.5. Convergência de opinião entre juízes: uso da Técnica Delphi
Baseada em pesquisas desenvolvidas por Olaf Helmer e Norman Dalker, a técnica
Delphi iniciou-se nos anos 60 com o objetivo original de aprimorar o uso de opinião de
especialistas e alcançar convergência de opiniões sobre determinado aspecto (MARTINO,
1993). Para a aplicação desta técnica, devem-se seguir rigorosamente três regras básicas, o
anonimato dos juízes especialistas, a representação estatística dos resultados e o feedback de
respostas (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000, p 54).
Caracterizado pela troca de informações através de rodadas interativas e de maneira
anônima, o Delphi inicia-se com a construção da equipe coordenadora da técnica, formada
pelos autores da pesquisa, em seguida são elaboradas as questões em função da busca
específica do estudo. Feito isso, é realizado a seleção dos especialistas, através dos critérios
pré-determinados pela equipe de coordenação. Preconiza-se um staff de juízes heterogêneos,
equilibrados em áreas de atuação, interesses diante do estudo, localidade entre outros
aspectos. Realizado a elaboração das questões e a seleção dos juízes, inicia-se a primeira
rodada da técnica Delphi (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000, p 56).
Os Juízes são contactados individualmente, onde lhes é explicado passo a passo da
técnica, o objetivo do estudo e a importância da participação no estudo. Após o recebimento
das respostas, a equipe coordenadora deve calcular a mediana e os quartis para futuras
associações de argumentos de Juízes. Como explicado anteriormente, este método tem como
objetivo e encontro da convergência, ou seja, do consenso entre os juízes selecionados, com
isso, perduram as rodadas até a conclusão consensual (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000, p
57). Estudo relatam que normalmente ocorrem abstenções em torno de 30% a 50% na
primeira rodada e de 20% a 30% na segunda rodada (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000, p 57).
A figura 3 exemplifica de forma ilustrativa as etapas realizadas durante a técnica
Delphi.
31
FIGURA 4: Fluxograma da teoria DELPHI
FONTE: (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000, p 57).
No dia 3 de junho de 2016 foi realizado o primeiro encontro com membros do grupo
de pesquisa Grupo de Estudo Multidisciplinar em Insuficiência Cardíaca (GEMIC), onde foi
apresentado a proposta de pesquisa, a escala de avaliação de severidade dos sintomas ESASBr e os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa através do levantamento bibliográfico
dos sintomas clássicos da IC encontrados na literatura. Durante a primeira reunião do comitê,
foram apresentados os instrumentos (ANEXOS I, II, III) a serem utilizados na pesquisa e os
resultados da revisão integrativa. (APÊNDICE II)
32
Após a apresentação do projeto de pesquisa, foi realizada a elaboração dos
questionários de avaliação e caracterização dos juízes (APÊNDICES III, IV) além da seleção
dos juízes para definição da primeira rodada. Para isto, foi realizada primeiramente uma busca
no curriculum lattes a partir da base de dados do CNPq após as indicações dos membros do
GEMIC.
No dia 20 de junho de 2016, foi enviada o questionário (APÊNDICE III) para a
avaliação dos 40 juízes. Este continha 10 questões que abordavam os sintomas e suas
definições de acordo com a revisão integrativa. Como enunciado, foi realizada a seguinte
pergunta: Na literatura os sintomas abaixo são citados. Considerando uma escala de 4 pontos,
avalie a pertinência de cada um deles para a incorporação em uma escala de auto avaliação da
severidade destes sintomas de pacientes com IC crônica. Para avaliação na escala tipo likert,
os juízes marcaram os valores considerando que 1- corresponde à: discordo plenamente; 2quase sempre discordo; 3- quase sempre concordo; 4- concordo plenamente.
Além do questionário foram enviados uma ficha para a caracterização dos peritos
(APÊNDICE IV) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (APÊNDICE V)
3.6. Análises Estatísticas
Os dados foram inseridos e analisados pelo Microsoft Excel 2013. A análise descritiva
apresentou distribuições de frequências, cálculo das estatísticas mediana, quartis, média e
desvio padrão para as variáveis sexo e tempo de experiência prática/ensino, profissão
Para análise quantitativa do grau de concordância entre os juízes foram utilizados os
cálculos de porcentagem de concordância e índice de validade de conteúdo (IVC). De acordo
HULLEY et al (2003), a análise de porcentagem de concordância consiste em uma avaliação
de concordância interobservadores, no qual se obtém o produto através da seguinte equação:
% Concordância = N de participantes que concordaram X 100
N total de participantes
33
POLIT e BECK (2006) dizem que, para se ter um nível de concordância aceitável,
deve-se considerar resultado a cima de 90%.
Para análise do índice de validade de conteúdo (IVC) foi utilizado um cálculo amostral
onde se tem como via de regra, relevância apenas nos itens marcados com “3”e “4”, ou seja,
onde os juízes quase sempre concordam ou concordam com a inclusão de determinado
sintoma para avaliação de severidade em uma escala (WYND; SCHMIDT; ACHAEFER,
2003). O produto do IVC se tem através da seguinte equação:
IVC =
N de respostas “3” ou “4”
N total de respostas
Para avaliação final do produto IVC, alguns autores defendem que para estipula-se a
taxa mínima aceitável de concordância, deve-se considerar o número de juízes. Determina-se
que com cinco ou menos juízes, deve-se obter uma concordância total entre os membros, no
caso de seis ou mais, taxa igual ou acima de 0,78 são considerados aceitáveis e em caso de
novos instrumentos de uma forma geral, alguns autores defendem entre 0,80 e 0,90. Este
trabalho visa a ade uma escala existente, através da inclusão ou exclusão de conteúdos
encontrados na literatura e os já existentes na escala e apresenta um número de peritos. Como
dito anteriormente, não há consenso entre autores na utilização do IVC, tendo isto em vista,
foi determinado como taxa mínima o valor de 0,78 como taxa mínima aceitável
(ALEXANDRE; COLUCI, 2001, p. 3066).
3.7. Aspectos Éticos
Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de
Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro. Encontra-se em apreciação, contudo, estudos
com o objetivo de validação de conteúdo não necessitam de aprovação no comitê de ética. Tal
submissão é de acordo com o projeto iniciado para o Mestrado.
34
4. RESULTADOS
4.1. Revisão Integrativa
Foram identificados 66 artigos nas bases de dados MEDLINE e LILACS. Após a
leitura dos títulos e resumos, foi constatado ausência de duplicações e foram excluídos 49
artigos. Destes, dois artigos por falta de resumo, 47 artigos por não adequação a questão do
estudo. Foram eleitos 17 estudos para leitura de texto completo, após leitura completa foram
excluídos 8 artigos e selecionados 9 para a utilização nesta pesquisa.
FIGURA 5: Fluxograma explicativo da seleção dos artigos
35
Os artigos selecionados apresentam o recorte temporal de no máximo 10 anos, todos
com a linguagem principal em inglês, publicados em periódicos europeus e norte-americanos.
A figura abaixo apresenta a síntese desses estudos incluídos na etapa final da revisão
integrativa.
FIGURA 6: Síntese dos estudos incluídos na revisão integrativa. Niterói, 2016.
TÍTULO
Systematic review of genuine versus
spurious side-effects of beta-blockers
in heart failure using placebo
control: recommendations for
patient information.
Older patients' experiences of heart
failure-an integrative literature
review.
Heart failure symptom measures:
critical review.
Patterns of symptom recognition,
interpretation, and response in heart
failure patients: an integrative
review.
Palliative care and hospice in
advanced heart failure.
Measurement of breathlessness in
clinical trials in patients with
chronic heart failure: the need for a
standardized approach: a systematic
review.
AUTOR
ANO
IDIOMA
Barron AJ1, Zaman N, Cole
GD, Wensel R, Okonko
DO, Francis DP.
2013
Inglês
2013
Inglês
2013
Inglês
2013
Inglês
2011
Inglês
2010
Inglês
2009
Inglês
2008
Inglês
2006
Inglês
Falk H1, Ekman I, Anderson
R, Fu M, Granger B.
Lee KS1, Moser DK.
Lam C1, Smeltzer SC.
Lemond L1, Allen LA.
Johnson MJ1, Oxberry
SG, Cleland JG, Clark AL.
Systematic review and individual
patient data meta-analysis of
diagnosis of heart failure, with
modelling of implications of
different diagnostic strategies in
primary care.
Mant J1, Doust J, Roalfe
A, Barton P, Cowie
MR, Glasziou P, Mant
D, McManus RJ, Holder
R, Deeks J, Fletcher K, Qume
M, Sohanpal S, Sanders
S, Hobbs FD.
The clinical and research
applications of aerobic capacity and
ventilatory efficiency in heart
failure: an evidence-based review.
Arena R1, Myers J, Guazzi M.
The symptom of pain with heart
failure: a systematic review.
Godfrey C1, Harrison
MB, Medves J, Tranmer JE.
.
36
4.2. – Levantamento dos Sintomas
A fase de identificação dos sintomas encontrados se teve após a leitura integral dos
artigos selecionados previamente e de bibliografias conceituadas na cardiologia. Ao todo,
foram encontrados 15 sintomas clássicos onde cada um era mencionado no mínimo duas
vezes em diferentes fontes literárias. Os sintomas que foram definidos para a apresentação ao
comitê de juízes foram: órtopneia, dispneia paroxística noturna, confusão, mau humor,
dispneia, desconforto abdominal e de membros, palpitação, taquicardia, tosse, fadiga, tontura,
depressão e edema.
FIGURA 7: Sintomas Encontrados na Revisão Integrativa
SINTOMAS LEVANTADOS NA BIBLIOGRAFIA
Ortopneia
Dispneia Paroxística Noturna
Dispneia
Taquicardia
Palpitação
Anorexia
Confusão
Tosse
Tontura
Depressão
Fadiga
Edema
Desconforto Abdominal e de Membro
Mau – Humor
Dor Precordial
37
4.3. Caracterizações dos Peritos
A tabela enviada aos peritos especialistas, com os 25 sintomas agrupados, 10 da
ESAS-Br e 15 levantados na revisão integrativa, em semelhanças conceitual e sintomática, foi
avaliada por 25 profissionais que respondiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Dentre
os peritos selecionados havia enfermeiros, médicos, nutricionistas e fisioterapeutas, tais
profissionais necessários para uma atuação multiprofissional e eficaz ao paciente com IC,
preconizado por todas as diretrizes mundiais de insuficiência cardíaca. Obteve-se um
percentual total de 60% de enfermeiros, 16% médicos, 12% nutricionistas e 12% são
fisioterapeutas, avaliando os critérios de inclusão, todos os profissionais detém uma ampla
experiência clínica e de pesquisa em IC subdivididos entre Doutores, Mestres, Mestrando e
especialistas.
O grupo de enfermeiros selecionados possui uma média de 7,6 anos de prática em IC,
já o staff médico possui 11,25 de média em tempos de prática na assistência a este paciente.
Fisioterapeutas e nutricionistas possuem uma média de prática de 10,3 anos e 2,6 anos
respectivamente. A tabela abaixo representa detalhadamente os dados já apresentados.
TABELA 1: Caracterização dos Peritos
Sexo (Feminino)
20 (80%) *
Tempo em Prática/Ensino
7,9375 ≠ 3,879728**
Área de atuação
Enfermeiro
15 (60%)
Médico
4 (16%)
Fisioterapeuta
3 (12%)
Nutricionista
3 (12%)
Doutores
8 (32%)
Mestres
10 (40%)
Mestrandos
4 (16%)
Especialistas
3 (12%)
TOTAL
25
* Valor total + Porcentagem
** Média e Desvio Padrão
38
4.4. Avaliação dos Peritos
Após análise da avaliação dos juízes, os resultados foram agrupados estatisticamente
em grupos de concordância, relevância, média e desvio padrão, mediana e quartis. Seguindo o
fluxo preconizado pela técnica Delphi e determinando valores mínimos para aceitação dos
sintomas avaliados, este estudo obteve como resultado os seguintes valores.
O sintoma que obteve a maior porcentagem de concordância foi Falta de Apetite com
84% de concordância, mediana de 4 e quartis em total concordância de 4. A partir daí, todos
os sintomas obtiveram avaliações abaixo do esperado, inferior a 80% como, por exemplo,
Dor, Cansaço, Palpitação e Fraqueza que alcançaram os valores de 72%, 76%, 72%, 72%
respectivamente. Com mediana e quartis de: 4 (3-4), 4 (4-4), 4 (3-4), 4 (3-4) respectivamente
entre esses cinco sintomas que obtiveram uma concordância de mais de 70%.
Dentre os itens que alcançaram um nível de concordância baixo, destacam-se os
sintomas Taquicardia, Qualidade do Sono, Sonolência, Anorexia, Náuseas, Confusão, Mau
Humor e Tosse. Seus resultados foram respectivamente 44%, 48%, 36%, 24%, 36%, 48%,
44%, 44%. A Anorexia foi o item que obteve o menor percentil de concordância entre todos
os 25 sintomas apresentado, alcançando apenas 24% de concordância, mediana e quartil de 3
(2-3). Os sintomas não destacados a cima, obtiveram um percentil entre 50% e 70%, abaixo
do preconizado estatisticamente, porém não inclusos aos automaticamente excluídos.
O produto do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) se teve através de uma fórmula já
apresentada previamente. Autores determinam que a escolha da taxa mínima se através
número de peritos participantes, tendo este critério em vista, obtivemos os seguintes
resultados.
Cansaço, Dor, Tristeza, Palpitação, Falta de Apetite, Fraqueza, foram os sintomas que
obtiveram uma taxa mínima a cima da média de 0,90 estipulada, alcançaram respectivamente
1, 0,92, 0,96, 0,96, 1, 0,96. Destacando-se os sintomas Cansaço e Falta de Apetite, onde
obtiveram produto máximo de IVC, alcançando 1 ponto cada.
O cálculo de IVC se dá através da soma dos valores de concordância, ou seja, uma
tabela que avalia a aptidão dos sintomas de 1 a 4 para serem inclusos em uma escala, onde 1 e
2 representam determinado nível de inaptidão segundo avaliação dos peritos e 3 e 4
representam um nível de aptidão. Com isto, calcula-se apenas através da soma dos n3 e n4 e
39
dividi-se pelo número total de peritos, ou seja, produto 1 no IVC significa que de acordo com
os peritos, o sintoma é absolutamente apto a avaliar a severidade dos sintomas de IC, não
sendo marcado por nenhum perito como inapto.
Alguns estudos apresentam produto de IVC mínimo de 0,70, sendo esta taxa
determinada pelo autor da pesquisa e levando em consideração o número de peritos
participantes. Dentre os 25 sintomas avaliados onde, 6 obtiveram IVC a cima de 0,90, 17
alcançaram ente 0,70 e 0,80, ou seja, respeitando os valores mínimos apresentados por alguns
estudos, encontram-se 2 sintomas com destaque negativo no produto IVC, Qualidade do Sono
0,68 e Anorexia 0,52.
A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos através das análises estatísticas
descritas previamente.
TABELA 2: Análise Estatística dos Resultados
%
SINTOMA
3*
IVC**
MEDIA
DESVIO
PADRÃO
MEDIANA
Q1
Q2
Q3
1*
2*
4*
Dispneia
paroxística
noturna
12%
-
28% 60%
0,88
3,36
0,99
4
3
4
4
Dispneia
16%
4%
20% 60%
0,80
3,24
1,12
4
3
4
4
Ortopneia
12%
-
36% 52%
0,88
3,28
0,97
4
3
4
4
Cansaço
-
-
24% 76%
1
3,76
0,43
4
4
4
4
Fadiga
12%
-
20% 68%
0,86
3,44
1
4
3
4
4
Dor
precordial
16%
8%
24% 52%
0,76
3,12
1,12
4
3
4
4
Dor
-
8%
20% 72%
0,92
3,64
0,63
4
3
4
4
Tristeza
-
4%
28% 68%
0,96
3,64
0,56
4
3
4
4
Depressão
16%
4%
20% 60%
0,80
3,24
1,12
4
3
4
4
Desconforto
abdominal e
de membros
8%
8%
24% 60%
0,84
3,36
0,95
4
3
4
4
Edema
8%
8%
20% 64%
0,84
3,4
0,95
4
3
4
4
Taquicardia
16%
4%
36% 44%
0,80
3,08
1,07
3
3
3
4
Palpitação
-
4%
24% 72%
0,96
3,68
0,55
4
3
4
4
40
Qualidade do
sono
Sonolência
Anorexia
20% 12% 20% 48%
0,68
2,96
1,20
3
2
3
4
4%
16% 44% 36%
0,80
3,12
0,83
3
3
3
4
20% 28% 28% 24%
0,52
2,56
1,08
3
2
3
3
1
3,84
0,37
4
4
4
4
16% 48% 36%
0,84
3,2
0,70
3
3
3
4
8%
36% 52%
0,88
3,36
0,81
4
3
4
4
Falta de
apetite
-
Náuseas
-
Bem-estar
4%
Ansiedade
-
12% 32% 56%
0,88
3,44
0,71
4
3
4
4
Confusão
4%
12% 36% 48%
0,84
3,28
0,84
3
3
3
4
Mau humor
4%
8%
44% 44%
0,88
3,28
0,79
3
3
3
4
Tontura
-
12% 37% 51%
0,88
3,28
0,67
3
3
3
4
Fraqueza
4%
-
24% 72%
0,96
3,64
0,70
4
3
4
4
Tosse
8%
8%
40% 44%
0,84
3,2
0,91
3
3
3
4
-
16% 84%
* 1- Discordo Plenamente; 2- Quase Sempre Discordo; 3- Quase Sempre Concordo; Concordo Plenamente.
** Índice de Validade de Conteúdo
Após avaliação dos resultados, destacam-se alguns sintomas sugeridos pelo grupo de
juízes selecionados. A tabela enviada tem opção de justificativa de voto e de sugestão de
sintomas, segue abaixo a tabela com os sintomas sugeridos pelos peritos.
FIGURA 8: Sintomas Sugeridos pelo Grupo de Juízes
SUGESTÃO DE SINTOMAS
FREQUÊNCIA (Vezes)
Diminuição na eliminação de
urina
1
Insônia
1
Boca seca
1
Bendopnea
5
Turgência de jugular
1
Hipotensão ortostática
1
Bradicardia
1
Hipocoloração
1
41
Dentre esses itens destaca-se a Bendopnea, sintoma este sugerido por 3 dos 4 médicos
e por 2 dos 3 fisioterapeutas peritos convidados para a pesquisa. Conceitualmente, Bendopnea
é um tipo de dispneia especifica ao momento em que o paciente dobra o corpo em direção aos
joelhos, como por exemplo, ao sentar-se para calçar os sapatos (THIBODEAU et al, 2013, p
26).
42
5. DISCUSSÃO
Este estudo validou os sintomas obtidos na revisão de literatura para a adaptação de
uma escala para o uso em pacientes com IC. Através da revisão integrativa foram encontrados
9 artigos que abordavam a temática sintomas clássicos em pacientes portadores de IC,
confrontando o encontrado na literatura com os resultados obtidos através da análise dos
juízo, obtivemos o debate abaixo.
Falta de Apetite, o único sintoma a apresentar nível de concordância superior a 80%,
um índice de relevância máximo de 1, mediana e quartil de 4 (4-4) não é amplamente descrito
como um sintoma clássico de IC. O que se descreve na literatura é a presença de inapetência
causada pelo aumento da massa hepática, causando ao paciente uma sensação de saciedade,
consequentemente a perda de apetite (VASCONCELOS et all, 2007).
Estudos sobre a manifestação clínica em pacientes com IC descompensada relatam
alguns sintomas mais prevalentes durante este quadro. ALITI et al (2011), traz que dentre os
303 pacientes que participaram da pesquisa, 91,4% apresentaram Dispneia e 87,5%
apresentaram Dispneia Paroxística Noturna (DPN). Em contrapartida ao estudo citado, os
peritos selecionados nesta pesquisa não definiram a Dispneia e a DPN como aptos a
avaliarem a severidade dos sintomas de pacientes com IC, ambas alcançaram 60% de
percentual de concordância e 0,88, 0,80 de relevância respectivamente.
Já em relação ao sintoma Cansaço, apresentado neste estudo com um alto índice de
percentil de concordância, 76%, um valor máximo de relevância de 1, media e quartil de 4 (44) no mesmo estudo acima, dos 303 pacientes apenas 67,3% dos pacientes manifestaram
cansaço durante a fase descompensada da doença. Valor este, inferior ao apresentado pela
Dispneia e pela DPN, mesmo assim, obteve pontuação maior para a inclusão em uma escala
que avalia a severidade dos sintomas (ALITI et al, 2011).
Sintomas como a Taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, pode ser
desencadeada por fatores como intoxicação digital, uma classe farmacológica utilizada na
otimização da IC, por uso de fármacos inotrópicos como Dobutamina e Levozimedam,
fármacos estes, usados na fase descompensada da IC que tem como função aumentar a
contratilidade cardíaca tendo como reação adversa o aumento da frequência cardíaca e por
fatores intrínsecos de compensação com ativação neuro-hormonais (RANG et al, 2012) e a
43
Palpitação conceitualmente e clinicamente semelhante a Taquicardia, obtiveram avaliações
completamente diferentes. Tendo o primeiro alcançado uma porcentagem de concordância de
44% e um índice de relevância de 0,80 e a segunda 72% de concordância com índice de
relevância de 0,96.
Avaliando individualmente cada sintoma e cada item da escala Likert de 1 a 4,
percebemos que alguns itens como Edema, mesmo obtendo 64% de concordância, 0,84 de
relevância e sendo descrito classicamente em mais de 70% das literaturas consultadas sobre
sinais e sintomas, dois juízes marcaram prioridade 1 para este sintoma. Clinicamente, edema é
caracterizado com sinal, não como sintoma, porém para pesquisa em bases de dados, sintoma
não é descritor, apenas sinal e sintoma, com isso o sinal edema foi incluído na tabela e obteve
82% de concordância em aprovação.
Outros sintomas que apresentam discordância de proporção de importância entre os
peritos deste estudo e de estudos prévio é a Dor. Um estudo que utilizou o SF-36 para avaliar
a qualidade de vida dos pacientes portadores de IC, apresentou uma média de 39 nas 3
questões referentes ao sintoma dor, essa média foi equivalente a aplicação da escala a 30
pacientes (SOARES et al, 2008, p 245). Este estudo apresentou aos juízes duas modalidades
de Dor, a Dor, conceituada como uma experiência emocional e sensorial subjetiva associada à
real ou potencial lesão, segundo a Associação Internacional para o estudo da Dor (IASP) e a
Dor Precordial, que é descrita como dor de caráter opressivo, localizada na face anterior do
tórax (LONGO et al, 2013). O resultado alcançado nesse momento da pesquisa para esses
dois sintomas foi 72% de concordância e 0,92 de relevância para o item Dor e 52% de
concordância e 0,76 de relevância para Dor Precordial, o produto encontrado diante da
avaliação dos peritos tem concordância com o defendido em literaturas prévias, onde
(SOARES et al, 2008, p. 245) apresenta a média referida a cima em relação ao sintoma Dor e
(RUBIM et al, 2006, p. 122) apresenta que pacientes estáveis em momentos de caminha ou
durante o exame denominado teste de caminhada de 6 minutos (T6’), manifestam Dor
Precordial devido a quadro anginoso, neste estudo 5,5% dos pacientes necessitaram
interromper o teste devido ao quadro anginoso.
Alguns peritos defendiam a troca do termo Dor Precordial para termos de mais fácil
compreensão aos pacientes idosos portadores de IC e em contrapartida, alguns peritos com
larga vivência clínica em IC justificaram a baixa prioridade à Dor Precordial pôr em seus
tempos de experiência, jamais presenciaram tal queixa relacionada a patologia. Um dos
44
relados de peritos foi o seguinte: “Em toda minha prática com pacientes com insuficiência
cardíaca avançada, não verifiquei a presença de dor precordial nestes pacientes como
sintoma, mesmo 50% destes tendo sua IC de oriegem coronariana’’.
Diante do proposto por essa pesquisa, que visa adaptar a escala Edmonton Symptom
Assessment Scale, criada para a mensuração da severidade de sintomas em pacientes com
câncer terminal para o uso em pacientes portadores de IC, dentre os 25 sintomas apresentados
aos peritos, 15 foram levantados na literatura e 10 faziam parte da ESAS-BR, escala traduzida
e adaptada para o Brasil.
Os peritos especialistas receberam os sintomas de maneira cega, ou seja, nenhum
perito sabia qual sintoma fazia parte ou não da ESAS-BR. Dos 25 sintomas, faziam parte da
ESAS-Br: Dor, Cansaço, Náuseas, Tristeza, Ansiedade, Sonolência, Falta de Apetite, Falta de
Ar e Qualidade do Sono e Bem-Estar. Dentre esses sintomas já presentes, apenas Dor,
Cansaço e Falta de Apetite apresentaram alto nível de concordância e relevância,
considerando que após a primeira rodada os peritos foram mais uma vez cegados em relação
ao termo Dispneia e Falta de ar, avaliando o percentil de Falta de Ar considerando a
pontuação de Dispneia, obteve-se um percentil abaixo de 70%. De 10 sintomas, apenas três
obtiveram uma avaliação inicial positiva, contra avaliações com médias abaixo de 50% dos
sintomas Qualidade do Sono, Sonolência e Náuseas, este último descrito em algumas
literaturas como um dos principais efeitos colaterais devido a quantidade de fármacos usados
no tratamento da IC e em casos de hepatomegalia e perda de apetite (QUINTERO et al, 2005,
p.104).
Os sintomas Anorexia, Náuseas e Sonolência, esses dois últimos presentes na ESASBr, formas os sintomas que receberam a pior avaliação em proporção de concordância e
valores de relevância, alcançando respectivamente 24% de concordância, 0,52 de relevância,
mediana e quartil de 3 (2-3), 36% de concordância porem apresenta um alto valor de
relevância 0,84, mediana e quartil de 3 (3-4) e 36% de concordância e também um valor alto
de 0,80 para relevância, mediana e quartil de 3 (3-4).
A percepção do grau de importância de sintomas avaliada clinicamente é diferente
dentre cada perito selecionado, isso se tem devido a visão de cada um diante de um paciente
portador de IC, diante das prioridades e da tomada de conduta. Nenhum estudo avaliado na
fase de revisão de literatura descreveu o Turgência de Jugular como sintoma clássico na IC,
45
porém, como apresentado neste trabalho, houve a sugestão de peritos para a inclusão deste
sintoma na escala proposta, (ALITI et al,2011) apresenta um percentil de 28,7% de pacientes
que apresentaram distensão de jugular.
Entre os sintomas sugeridos pelo comitê especialista, destaca-se a Bendopnea, não
identificada nos estudos previamente para levantamento dos sintomas clássicos, obteve 24%
indicações pelos peritos. THIBODEAU et al (2014), define a Bendopnea como uma nova
subclassificação da falta de ar, onde manifesta-se durante o ato do paciente de “specifically
when bending forward, such as when putting on their shoes or socks”, ou seja, quando o
paciente manifesta falta de ar ao inclinar-se para colocar sapatos ou meias. Este estudo relata
também que este sintoma não foi caracterizado anteriormente em sua característica específica.
Limitação
Durante o processo de revisão de literatura, o principal obstáculo foi a falta de
pesquisas que definiam e caracterizavam os sintomas clássicos encontrados na IC. A
identificação desses sintomas foi necessária, devido à diferença clínica entre o câncer e a IC, a
necessidade de controle sintomático devido à alta limitação e por ser um dos pilares do
cuidado paliativo. O processo de levantamento dos sintomas se em duas bases de dados, e
foram levantados 15 sintomas, todos estes descritos também em livros textos utilizados em
ensinos de graduação biomédica.
46
6. CONCLUSÃO
Este estudo validou os sintomas através de um levantamento bibliográfico e da
avaliação de peritos especialistas para a adaptação de uma escala já existente na oncologia
para a cardiologia.
Há necessidade de novas rodadas no Delphi para o alcance a máxima concordância
entre os peritos e elaboração da escala.
Para tal, serão realizadas novas orientações e
reformulações dos questionários enviados aos peritos.
Este projeto de pesquisa tem a proposta de migrar para o Mestrado até a construção de
uma escala apta a avaliar a severidade dos sintomas do paciente com IC, resultando assim em
um instrumento que poderá nortear as condutas dos profissionais de saúde na assistência ao
portador de IC.
47
6. REFERÊNCIAS
BOCCHI, Edimar Alcides et al. III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 93, n. 1, supl. 1, 2009. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/abc/v93n1s1/abc93_1s1.pdf >. Acesso em: 05 de Mai. 2015.
BOCCHI, Edimar Alcides et al. Revisão das II Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Cardiologia para o Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros
de Cardiologia, São Paulo, 2012; v. 79, n.4. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/abc/v79s4/a01v79s4.pdf>. Acesso em: 05 de Mai. 2015.
BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS.
Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Acesso em: 7 de Jul. 2015.
CAVALCANTI, Ana Carla Danta; ARRUDA, Cristina Silva. Ensino ao paciente com
insuficiência cardíaca: estratégias utilizadas nas intervenções de enfermagem. Cogitare
Enfermagem. São Paulo, 2012; v. 17, n. 2. Disponível em: <
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/cogitare/article/view/21088/18555> Acesso em: 3 Jul.
2015.
GOMES, Otoni Moreira. Fisiologia Cardiovascular Aplicada. Belo Horizonte. Editora
Coração. 2005.
MESQUITA, Evandro Tinoco; QUELUCI, Gisella Carvalho. Abordagem Multidisciplinar ao
Paciente com Insuficiência Cardíaca. São Paulo: Atheneu, 2013.
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G.; HINKLE, J.L.; CHEEVER, K.H. e mais de 50
colaboradores; BRUNNER E SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica.
[Revisão técnica de Isabel Cristina Fonseca da Cruz; Ivone Evangelista Cabral; Tradução
Antônio Francisco Dieb Paulo, José Eduardo Ferreira de Figueiredo, Patrícia Lydie Voeux].
Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2011. 12 eds., v.1.
48
ALMEIDA, Guilherme Abner Sousa et al. Perfil de saúde de pacientes acometidos por
insuficiência cardíaca. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro , v. 17, n.
2, Jun 2013 . Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v17n2/v17n2a18.pdf>. Acesso:
20 set. 2014.
GUYTON, Arthur C; HALL, Jhon E; Tratado de Fisiologia Médico Guyton e Hall. 11°
edição. São Paulo: Brooklin, 2006.
CORRÊA, Liana Amorim; SANTOS, Iraci dos; ROCHA, Ricardo Mourilhe; TURA,
Bernardo Rangel; ALBUQUERQUE, Denilson Campo de. Qualidade de vida de clientes com
IC: um estudo qualitativo. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 8, n. 3, jul/set. 2009.
Disponível em: < http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/issue/view/21> Acesso em:
20/10/2015.
SILVA, Ednamare Pereira da; SUDIGURSKY, Dora. Concepções sobre cuidados
paliativos: revisão bibliográfica. Acta paul. enferm. v.21, n. 3, 2008. Disponível em: <
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002008000300020.> Acesso em: 17/9/2015.
MONTEIRO, Diana da Rosa; ALMEIDA, Miriam de Abreu; KRUSE, Maria Henriqueta
Luce. Tradução e Adaptação Transcultural do insturmento Edmonton Symptom Assessment
System para o uso em Cuidados Paliativos. Rev Gaúcha Enferm. V.34, n.2, 2010. Disponível
em:< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49686/000850873.pdf?sequence=1
.>Acesso em: 20/10/2015.
BRAUNWALD, Eugene; FAUCI, Anthony S.; KASPER, Dennis L.; HAUSER, Stephen L.;
LONGO, Dan L.; JAMESON, J. Larry. Medicina Interna de HARRISON. 18° edição. São
Paulo, 2013.
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Registro Brasileiro de Transplantes.
Disponível
em:
<http://www.abto.org.br/abtov02/portugues/populacao/rbt/anoXVI_n4_completo/index>
Acesso em: 2/10/2015.
49
MENDES, Karina Del Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO,
Cristina Maria. Revisão Integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na
saúde e na enfermagem. Florianópolis. Texto contexto – Enferm, v.17, n. 4,
Outubro/Dezembro
2008.
Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072008000400018> Acesso
em: 17/07/2016
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Dados númericos da doação de
órgãos e transplantes realizados por estado e instituição no período: janeiro a junho de 2012.
Registro Bras Transpl. 2012 Jan-Jun; XVIII (2):1-34.
THIBODEAU, Jennifer; TURER, Aslan; GUALANO, Sarah; AYERS, Colvy; VELEZMARTINEZ, Mariella; MISHKIN, Joseph; PATEL, Parag; MAMMEN, Pradeep;
MARKHAM, David; LEVINE, Benjamin; DRAZNER, Mark. Characterization of a Novel
Symptom os Advanced Heart Failure: Bendopnea.Journal of the American College of
Cardiology.
Dallas,
Texas,
v.
2,
n.
1,
2014.
Disponível
em:
<
http://heartfailure.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1811667&utm_source=Silverchair%2
0Information%20Systems&utm_medium=email&utm_campaign=JACCHeart%20FailureCurr
entIssueAlert> Acesso em: 17/07/2016.
VASCONCELOS, Luiz Antônio Brito Arruda; ALMEIRA, Eros Antônio; BACHUR, Luiz
Felipe. Avaliação Clínica e Laboratorial hepática em indivíduos com Insuficiência. Cardíaca.
Arq.
Bras.
Cardiol.
São Paulo,
v. 88,
n. 5, Maio/2007.
Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066782X2007000500015&lng=pt&nrm=iso&tlng=pthttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0066-782X2007000500015> Acesso em: 17/07/2016.
ALEXANDRE, Neusa Maria Costa; COLUCI, Maria Zambon Orpinelli. Validade de
Conteúdo nos Processos de Construção e Adaptação de instrumentos de Medida. Ciências &
Saúde
Coletiva.
São
Paulo,
v.
16,
n.7,
2001.
Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n7/06.pdf> Acesso em: 12/07/2016.
50
GOODLIN, Sarah. Paliative Care in Congestive Heart Failure. Jornal of the American
College
of
Cardiology.
Utah.
v.
52,
n.5,
2009.
Disponível
em:
<
http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1139900> Acesso em: 6/06/2016.
MARTINEZ, José Antônio Baddini; PADUA, Adriana Inácio de; FILHO, João Terra.
Dispnéia. Revista de Medicina USP. São Paulo, V, 37, Julho/Dezembro 2004. Disponível em:
< http://revista.fmrp.usp.br/2004/vol37n3e4/2_dispneia.pdf> Acesso em: 15/07/2016.
POLIT, Denise; BECK, Cheryl Tatano. The Content Validity Index: Are You Sure You
Know What’s Being Reported? Critique and Recommendations. Research in Nursing &
Health.
Gold
Coast,
Austrália,
v.
29,
2006.
Disponível
em:
<
file:///C:/Users/Bruno/Downloads/pta_6871_6791004_64131.pdf> Acesso em: 8/07/2016.
PERROCA, Marcia Galan; GAIDZINSKI, Raquel Rapone. Sistema de Classificação de
Pacientes: Construção e Validação de um Instrumento. Rev. Esc. Enf. USP. São Paulo, v. 32,
n.2, Agosto/ 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v36n3/v36n3a05.pdf>
Acesso em: 7/07/2016.
ALITI, Graziella Badin; LINHARES, Joelza Celesilva Chisté; LINCH, Graciele Fernanda da
Costa; RUSCHEL, Karen Brasil; RABELO, Eneida Rejane. Sinais e Sintomas de Pacientes
com Insuficiência Cardíaca Descompensada: inferência dos diagnósticos de enfermagem
prioritários. Ver.Gaúcha Enferm. Porto Alegre, v.32, n.5, Setembro/2011. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472011000300022> Acesso
em: 3/07/2016.
JAARSMA, Tiny et al. Palliative Care in Heart Failure: a position statement from the
palliative care workshop of the Heart Failure Association of the European Society of
Cardiology.
Groningen,
The
Netherlands,
v.
11,
2009.
Disponível
em:
<
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386813> Acesso em: 4/05/2016.
MANFREDINI, Luciana Lopes. Tradução e Validação da Escala de Avaliação de sintomas de
Edmonton (ESAS) em pacientes com Câncer Avançado. Trabalho (Dissertação) - Fundacao
Pio XII – Hospital de Cancer de Barretos, São Paulo, 2014.
51
TROTTE, Liana Amorim Corrêa. Cuidados paliativos na insuficiência cardíaca: o conforto
como desfecho do cuidar em enfermagem. Trabalho (Dissertação) – Faculdade de
Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2014.
SOARES, Djanira Alzira et al. Qualidade de vida de portadores de insuficiência cardíaca.
Acta Paulista, São Paulo,
v. 21, n.2, Março/Junho 2007. Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/pdf/ape/v21n2/a02v21n2.pdf> Acesso em: 3/04/2016.
Echazarreta, Deigo Frederico. Abordaje Diagnóstico de la Insuficiencia Cardíaca. Rev Insuf
Cardíac, Buenos Aires, Argentina, v.3, Julho/Setembro 2008. Disponível em: <
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321927784006 > Acesso em: 4/07/2016.
RUBIM, Valéria Siqueira Martins et al. Valor Prognóstico do Teste de Caminhada de
Seis Minutos na Insuficiência Cardíaca. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro,
v.
86,
n.
2,
Fevereiro
2006.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2006000200007
<
>
Acesso em: 13/07/2016.
LOPES, Marcos Venícios de Oliveira; SILVA, Viviane Martins da; ARAUJO, Thelma Leite
de. Validação de diagnósticos de enfermagem: desafios e alternativas. Rev. Bras. de Enferm.
Fortaleza,
v.
66,
n.
5,
Setembro/Outubro
2013.
Disponível
em:
<
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003471672013000500002&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em: 10/07/2016.
WYND, Christine; SCHMIDT, Brian ; SCHAEFER, Marion. Two quantitative approaches
for estimating content validity. West J Nurs Res. Ohio, v.25, n.5, 2003. Disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12955968> Acesso em: 15/07/2016.
HULLEY, Stephen, et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica.
Porto Alegre, Artemed, 2003.
52
7. ANEXOS
7.1. ANEXO I - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS EDMONTON (ESAS)
53
7.1. ANEXO II - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS EDMONTON (ESAS-r)
54
7.1. ANEXO III - ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SINTOMAS EDMONTON (ESASBr)
55
8. APÊNDICE
8.1. APÊNDICE I - OBTENÇÃO DA PERMISSÃO PARA A ADAPTAÇÃO DO
INSTRUMENTO JUNTO AOS RESPONSÁVEIS.
56
8.1. APÊNDICE II – LEVANTAMENTO DOS SINTOMAS ENCONTRADOS NA
REVISÃO INTEGRATIVA.
57
8.1. APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS JUÍZES ESPECIALISTAS
58
8.1. APÊNDICE IV – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS PERÍTOS
59
8.1. APÊNDICE V – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)
60
61