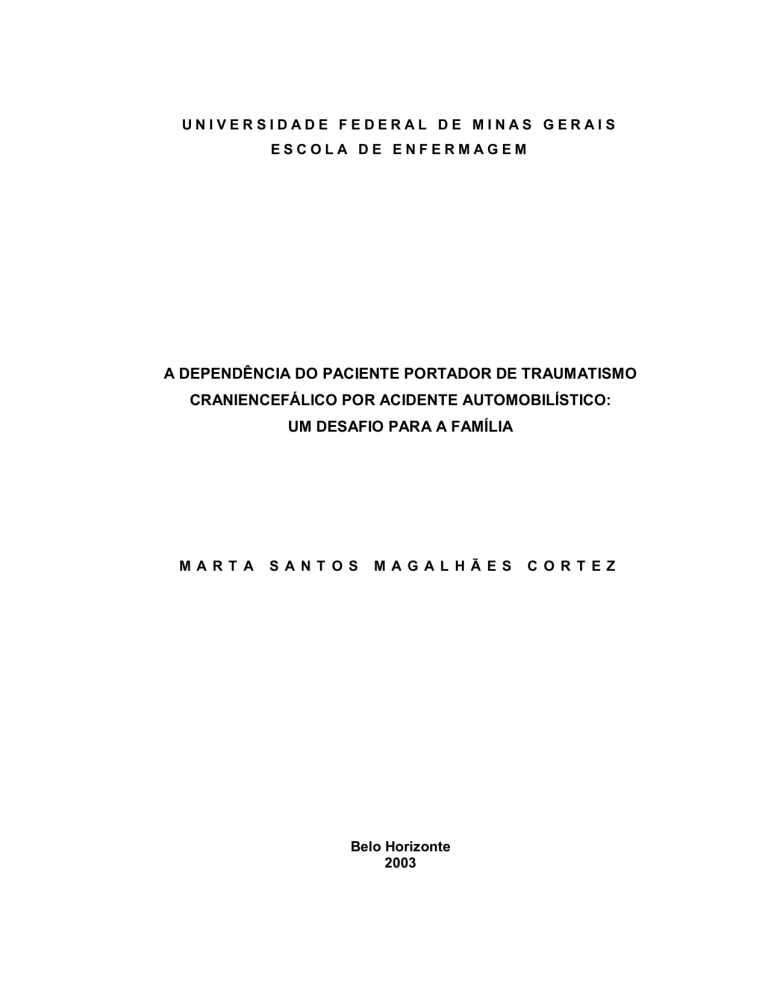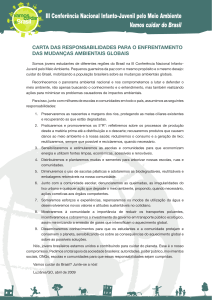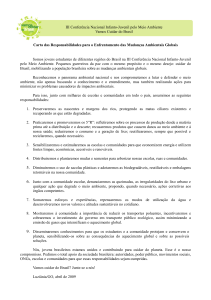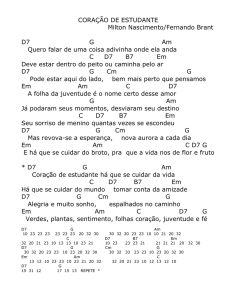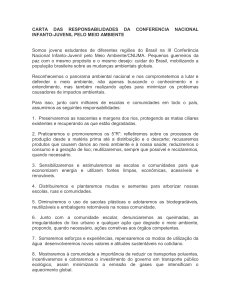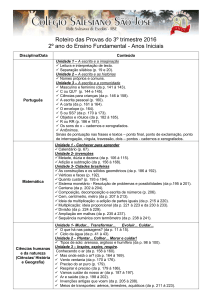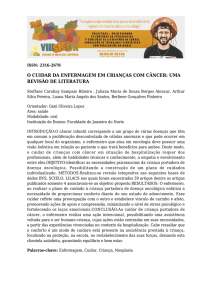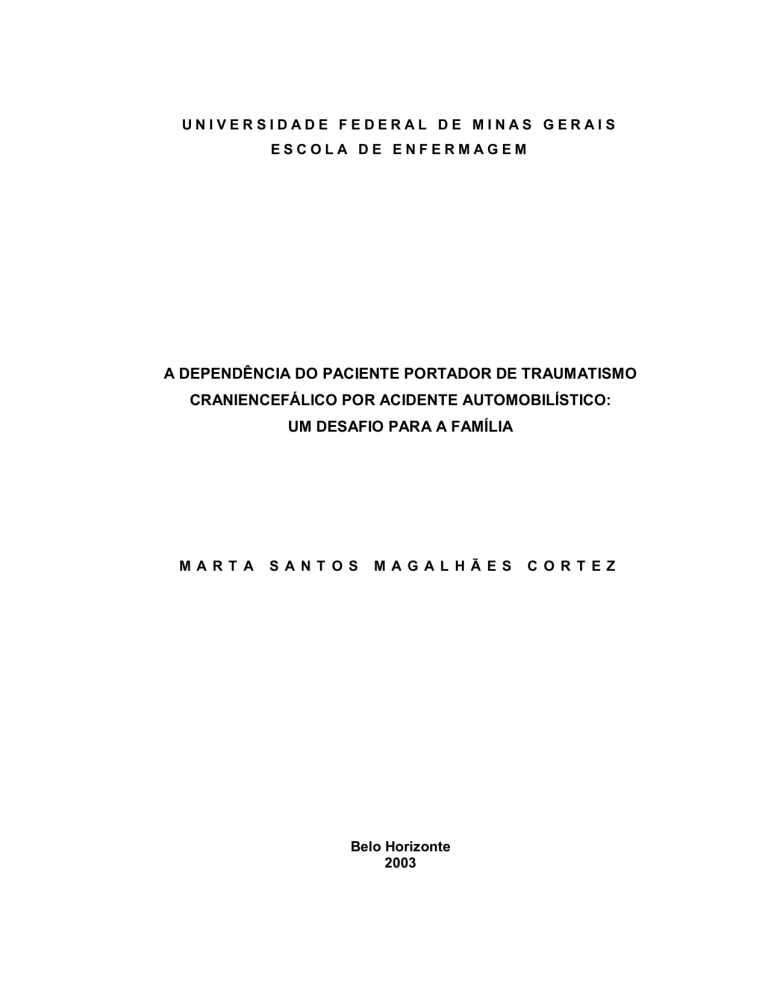
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
A DEPENDÊNCIA DO PACIENTE PORTADOR DE TRAUMATISMO
CRANIENCEFÁLICO POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO:
UM DESAFIO PARA A FAMÍLIA
M A R T A
S A N T O S
M A G A L H Ã ES
Belo Horizonte
2003
C O R T EZ
M A R T A
S A N T O S
M A G A L H Ã ES
C O R T EZ
A DEPENDÊNCIA DO PACIENTE PORTADOR DE TRAUMATISMO
CRANIENCEFÁLICO POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO:
UM DESAFIO PARA A FAMÍLIA
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de
Minas Gerais, como requisito parcial para a
obtenção do título de Mestre em Enfermagem.
Orientadora: Profª Drª. Roseni Rosângela de Sena
Belo Horizonte
Escola de Enfermagem da UFMG
2003
C828d
Cortez, Marta Santos Magalhães
A dependência do paciente portador de traumatismo
craniencefálico por acidente automobilístico: um desafio
para a família/Marta Santos Magalhães Cortez. Belo
Horizonte, 2003.
114P. ilust.
Dissertação.(Mestrado).Enfermagem.Escola de
Enfermagem da UFMG.
1.Cuidados domiciliares de saúde 2.Cuidadores/
psicologia 3.Relações familiares 4..Traumatismos
cerebrais/reabilitação 5.Acidentes de trânsito I.Título
NLM: WY 200
CDU: 616-083 : 649.8
Dissertação defendida e aprovada em 22 de dezembro de 2003, pela banca
examinadora constituída pelos professores:
Dra. Alda Martins Gonçalves
Dra. Inês Assunção de Castro Teixeira
Dra. Roseni Rosângela de Sena
Dedico este trabalho aos meus amores
Lulu, Geraldo, Adriano e Mariana
Agradeço a Deus por ter-me permitido viver mais essa experiência
em minha vida.
Lulu, você partiu antes desta caminhada rumo ao mestrado; senti
muito a sua falta, pois com você sempre partilhava minhas inquietações. Mas,
tenho certeza de que sua luz, sua presença e os valores que você me ensinou
ao longo de minha vida, mostraram-me a importância de termos uma família e
de prosseguir na busca da realização de nossos sonhos.
Ao meu Amor, Gegê, por tornar minha vida leve e feliz, por sua
impaciência que me ensina a ser paciente, por sua palavra amiga em todos os
momentos da minha vida, por acreditar que eu sou capaz. E fui.
Ao meu filho Adriano, apesar da distância, sei que também confia
em mim e mostrou-me que apesar de eu não o ter gerado, sou sua mãe do
coração.
A minha Mariana, pelo amor, pelo afeto, pela sinceridade. Por ser
tão especial e feliz. Por ser a luz do meu viver. Filha, mamãe completou este
“para casa”.
Acredito na família;
ela é o lugar privilegiado onde a vida é transmitida,
ambiente ideal para se cultivar o amor entre as pessoas, o fundamento
da sociedade, local de segurança, respeito, dignidade.
acredito na família.
Pe. Mário José Filho
AGRADECIMENTOS
A Madú, Emília, Amaury, se vocês não me tivessem dado um belo
empurrão talvez eu não tivesse produzido este trabalho.
À Dra. Roseni, que mesmo sem muito me conhecer, aceitou-me
como orientanda e ajudou-me a ver que eu sou capaz.
À Nelma que assumiu Mariana como sua filha, e sempre que
pôde tentou me ajudar para que a baixinha sentisse menos a minha falta,
obrigada pelos incansáveis lanchinhos enquanto eu “melhorava o meu
referencial teórico.”
À Lili, minha nora, que sempre me deu muita força e me admirou.
À minha família de origem, a família Magalhães, especialmente
minha prima Iva, que compreendeu por que eu me afastei. Foi só um tempo,
estou de volta.
Às famílias Cansado, Lara, Daniel, Figueiredo, que estiveram
sempre muito presente em minha vida, dividindo todos os momentos.
À família UCSI, sem vocês este trabalho não teria cor; a UCSI é o
local onde temos a continuidade de nossa família, muito obrigado por
acreditarem em mim.
À Terezinha Zaidan, se não tivesse sua luz, como seria?
Às Colegas da PUCMINAS em especial tia Mércia, tia Denise,
Erika, Dr. Luiz Fernando que nunca tiveram preguiça em ler minhas
incansáveis reflexões. Ah, ao Márcio, que ensinou ao Gegê como ser marido
de mestranda.
À família Costa. O destino mudou o caminho deste grupo familiar,
mas com garra eles estão vencendo e cuidando da nossa amiga Sandra.
Às instituições PUCMINAS e FHEMIG ao Departamento de
enfermagem HPS e à escola de enfermagem Pucminas, pela ajuda para que
eu pudesse realizar este trabalho.
Às colegas de mestrado Bruna, Regina, Mônica Chaves,
Mariangela, Renata, como foi boa a nossa convivência! Falta o jantar final.
Às cuidadoras de referência e seus familiares, pela disposição em
contribuir para o meu trabalho.
Aos alunos da PUCMINAS que vibraram comigo o tempo todo,
em especial a Mônica Fernandes, que construiu o meu jardim.
Gente, com a ajuda de vocês transformei a minha vida.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CTI
- Centro de Tratamento Intensivo
FHEMIG - Fundação Hospitalar de Minas Gerais
HJXXIII
- Hospital Jõao XXIII
SAME
- Serviço de Arquivo Médico e Estatística
TCE
- Traumatismo craniencefálico
UCSI
- Unidade de Cuidados Semi-Intensivos
UTI
- Unidade de Tratamento Intensivo
SUMÁRIO
Lista de Abreviatura e Siglas
Resumo
Abstract
INTRODUÇÃO ...........................................................................................
11
1. OBJETIVO .............................................................................................
1.1 Objetivo geral .......................................................................................
17
17
1.2 Objetivos específicos ..........................................................................
1.3 Justificativa ..........................................................................................
17
17
2. UM CAMINHAR PELA HISTÓRIA............................................. ............
2.1 As Unidades de Tratamento Intensivo e as famílias ............................
19
23
2.2 O paciente portador de TCE e as seqüelas .........................................
2.3 A família e o cuidar ..............................................................................
27
33
2.4 Domicílio o locus do cuidar ..................................................................
2.5 O cuidador de referência do paciente portador de TCE ......................
42
44
3. DISCUSSÃO METODOLÓGICA ............................................................
3.1 Os procedimentos metodológicos ........................................................
47
49
3.2 O cenário ..............................................................................................
3.2.1 O caminho do paciente pelo cenário .................................................
50
51
3.3 Sujeitos ................................................................................................
3.4 Instrumentos ........................................................................................
52
53
3.5 Coleta dos dados .................................................................................
3.6 Análise dos dados ................................................................................
54
55
4. ANÁLISE ................................................................................................
58
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................
91
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................
96
7. ANEXOS ................................................................................................
100
RESUMO
O estudo foi realizado a partir da trajetória vivida por sete mulheres
denominadas cuidadoras de referência, parentes de pacientes portadores de
traumatismo craniencefálico – TCE, que estiveram internados na Unidade de
Cuidado Semi Intensivo (UCSI) de um hospital de Belo Horizonte, referência
estadual para o atendimento ao trauma, no período de junho/julho/2003 e
receberam alta da unidade apresentando escore entre 9 e 12 na Escala de
Coma de Glasgow – ECG, o que representa seqüelas moderadas. O objetivo
do trabalho foi analisar as relações dos familiares dos pacientes de TCE,
portadores de seqüelas, ante o desafio deles de cuidar desses pacientes desde
o momento em que foi recebida a notícia do acidente até o retorno ao domicílio.
O estudo define-se como descritivo analítico sustentado na abordagem
qualitativa. Os instrumentos para a coleta de dados foram a entrevista com
roteiro semi-estruturado e visita ao domicílio. Os resultados revelam que a
partir do momento em que recebe a notícia de que aconteceu um acidente com
um de seus membros, a família passa por transformações em suas relações.
Também apontam para a importância de estarmos compreendendo esta
cuidadora de referência, ainda dentro da dinâmica hospitalar, para ajudá-la a
criar possibilidades de desenvolver a ação do cuidar quando o paciente
retornar ao domicílio, pois ele voltará com dependência física, emocional e
social.
Introdução
11
ABSTRACT
The study was done through the trajectory lived by seven women
here called “reference care”, patients relatives. Those patients had had
cranium-encephalic (TCE) and they were interned in a Care Unid semi-intensive
in a hospital from Belo Horizonte, state reference for attending trauma, in
june/july 2003 and they were discharged from the unit in coma scale glasgow
(ECG) between 9 and 12 scores, that represents moderate sequels. The goal
was of the work ,to analyse the relations from the patients relatives that had
sequels, before the challenge of taking care of them, form the moment that they
had had received the bad news from the accident till the patients returning
home. The study is defined as descriptive analytical carried in the qualitative.
The instrument for the assessment of data was interview roadbook semiorganized and visit home. The results show that in the very moment the family
receives the news that an accident, had happened with a member of the family,
they suffered transformations in their relationship. It also shows us the
importance for understanding this reference carer, still inside the dynamic of the
hospital, to help her to create possibilities of developing the action of taking care
when the patient returns home, because he will return with body, emotional and
social dependence.
Introdução
12
INTRODUÇÃO
A minha preocupação com o tema “a família como cuidadora”
surgiu durante o curso de graduação em Enfermagem por entender que a
família deve estar inserida em todo o processo do cuidar. Depois de formada,
passei a buscar resposta à seguinte pergunta: Como se organiza uma família
quando algum de seus membros adoece? Acredito que entender a família
como parte do cotidiano de todo ser humano e preocupar-se com o seu bemestar, são formas de oferecer subsídios para que ela enfrente os desafios e as
demandas a partir de uma nova situação vivenciada – a doença1.
No estágio extracurricular em um Centro de Tratamento Intensivo –
CTI –, passei a observar, durante o horário de visitas, as manifestações e o
comportamento das pessoas e verifiquei que, no decorrer desse período, os
visitantes/familiares mantinham rápido contato com o parente internado e logo
se dirigiam ao “encontro das notícias”2, onde o médico plantonista orientavaos a respeito do estado clínico3 do paciente. Às vezes, esses médicos se
deparavam com familiares que nada entendiam do quadro clínico do paciente
e/ou preferiam se retirar da unidade sem saber notícias sobre ele. De minha
parte, percebia como era difícil para aquelas pessoas vivenciar o momento em
que seu parente se encontrava confinado a um leito hospitalar, muitas vezes
com o
1
2
3
olhar
vago,
inexpressivo,
sem falar,
cercado
de
aparelhos
Doença: Falta ou perturbação da saúde, moléstia, mal, enfermidade, tarefa difícil, laboriosa.
Ferreira (1997: 605).
Notícias: após o horário de visitas os médicos explicam para os familiares o quadro clínico do
paciente.
Estado clínico: condições de saúde nas quais se encontra o paciente.
Introdução
13
desconhecidos e de tubos por todos os lados. A fé, a esperança, o acreditar na
melhora deste parente é que sustentava essa etapa da caminhada.
Aprendi também, com essa vivência, que a família e as pessoas
emocionalmente vinculadas ao paciente têm um papel fundamental em sua
vida. “A família revela-se como um dos lugares privilegiados de construção
social da realidade, a partir da construção social dos acontecimentos e
relações aparentemente mais naturais” (Saraceno, 1997:12).
Assim, a partir do momento em que se instaura a doença até a
recuperação do indivíduo, a família passa por transformações em seu grupo
social.
Ao longo da minha experiência no setor de tratamento intensivo,
percebia que os visitantes/familiares eram pouco valorizados pela equipe
multiprofissional e, muitas vezes, as suas dúvidas e questionamentos não eram
considerados, ou adequadamente respondidos. Não percebia apoio efetivo e
sistematizado
da
equipe
multiprofissional
para
com
eles.
Sentia-me
incomodada e muitas vezes inconformada, pois, com o passar dos anos, a
postura da equipe multiprofissional não apresentava mudanças significativas
que pudessem alterar a situação de forma efetiva.
Mais tarde, iniciei minha atuação profissional em um hospital da rede
FHEMIG, destinado ao atendimento a pessoas que necessitavam de atenção
nas áreas de clínica médica e ortopédica. Acreditava que as relações entre os
integrantes da equipe multiprofissional com a família se processassem de
forma diferente nessa instituição, considerando que atuava em uma unidade de
internação destinada a pessoas que apresentavam alterações clínicas de
Introdução
14
menor complexidade, onde os pacientes não se encontravam em estado
crítico. Ali também os profissionais ainda não sentiam na família “aquele
aliado forte”, que poderia ajudar no tratamento e na recuperação do paciente.
Simultaneamente a esse trabalho iniciei atividade em um curso de
graduação, como docente, e sempre mantive as discussões sobre a
participação efetiva da família na assistência desde a internação até o
momento de desenvolver o cuidado no domicílio. Para alimentar a discussão,
utilizava como metodologia a reflexão sobre o cotidiano da vida pessoal e
leituras de livros que realçassem a prática do cuidar.
Senti então a necessidade de trilhar novos caminhos. Passei a atuar
em um Hospital Público Estadual da rede FHEMIG, o Pronto Socorro João
XXIII, na Unidade de Cuidados Semi-intensivos – UCSI, construindo um novo
cotidiano no cuidado a pacientes em situação crítica. A instituição citada
destina-se ao atendimento de urgência e emergência na região metropolitana
de Belo Horizonte e é um Centro de Referência Estadual para o atendimento
ao paciente portador de trauma. Caracteriza-se como hospital de pronto
atendimento, de grande porte, mantido pelo Estado através da rede FHEMIG.
Iniciei uma nova etapa na profissão. Trabalhar com pacientes
críticos, vítimas de politrauma4 acrescentava à minha inquietação mais um
componente: a doença inesperada para o próprio acidentado, para a família e
para a comunidade, pois o trauma, segundo Utiyama (1994:552), é hoje um
grave problema de Saúde Pública, constitui-se na principal causa de morte da
população de até 40 anos e é a terceira causa de morte da população geral.
Introdução
15
Quando o paciente sobrevive, pode apresentar seqüelas, o que é preocupante
no mundo moderno onde está presente a necessidade de participarmos
ativamente de todos os processos de vida. Nesse contexto, passei a observar
mais a família dos pacientes traumatizados.
Em geral, a família é o primeiro grupo de convivência permanente do
indivíduo, assim sendo, é um dos grupos sociais que governam as condutas de
seus membros. Quando afetada diretamente por qualquer fato que não é
inerente à sua estrutura, todo o ambiente se modifica. Se acontece um
acidente que afeta um de seus membros, ocorre um transtorno na vida dessas
pessoas. Mas o próprio curso da vida faz com que as atenções nesse momento
se dirijam para quem está no leito hospitalar e não para quem irá cuidar desse
parente, especialmente no domicílio.
Vivenciando a experiência de trabalhar na UCSI, analisei dados
referentes ao censo do setor, no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2002,
o que me permitiu visualizar o índice das ocorrências que mais resultaram em
internações. O número maior deveu-se a vítimas de acidente de trânsito,
portadoras de traumatismo craniencefálico – TCE, com idade entre 18 e 42
anos, sexo masculino e que receberam alta da unidade com seqüelas
importantes, ou seja, alto grau de dependência física, até mesmo para as
necessidades humanas básicas. Algumas vítimas morriam antes do retorno ao
domicílio por complicações clínicas, incluindo-se as infecções oportunistas.
Mais uma vez me preocupava: Como poderíamos estar apoiando as famílias
4
Politrauma: mais de uma região do corpo humano sofre lesões
concomitantes, intencional ou acidental (Utiyama, 1994:552).
Introdução
16
durante o período da internação e, muito especialmente, orientando-as para o
retorno ao domicílio?
A partir de então, analisando o perfil dos pacientes internados na
UCSI do Hospital João XXIII, surgiu a oportunidade de procurar respostas à
minha antiga e permanente inquietação: Como se organiza uma família quando
um de seus membros adoece? A essa inquietação acrescentei outras
perguntas: O que representa para essa família cuidar no domicílio? Como se
pode estabelecer com os familiares relações que possibilitem ajudá-los, ainda
dentro da dinâmica hospitalar, a organizarem a nova dinâmica familiar?
Com essa oportunidade de conhecer melhor o familiar do portador
de TCE, ao realizar esta pesquisa pude apontar possibilidades de ajuda aos
familiares para o cuidado no domicílio considerando que, pelo fato de ser
portador de seqüelas “o paciente pode exercer um impacto devastador sobre
sua própria vida e as vidas da sua família” (Mills, 1993:565). Isso ocorre, uma
vez que ele passa a depender de alguém em seu cotidiano.
O estudo que me propus fazer tem como alicerce o modelo
descritivo, analítico, sustentado na abordagem qualitativa, por entender que
esse tipo de abordagem é “capaz de incorporar as questões do significado e da
intencionalidade como inerentes ao ato, às relações, às estruturas sociais”
(Minayo,1998:95).
O relatório de pesquisa foi assim estruturado: na introdução colocome como profissional, em seguida discorro sobre a metodologia dentro da qual
desenvolveu-se o trabalho. O primeiro capítulo contém aproximação ao tema
através da revisão bibliográfica na qual foi descrito todo o processo que
Introdução
17
sustentou a análise. No segundo foram descritos o processo metodológico e o
cenário que deu origem ao estudo. O terceiro contém a análise dos dados
encontrados, na qual são interpretados os discursos dos sujeitos da pesquisa.
Esses capítulos e suas respectivas reflexões foram delimitando e permitindo a
construção das considerações finais.
Deve-se ressaltar, finalmente, que se torna necessário e prioritário
conhecer a realidade vivenciada pela família e pelo “cuidador de referência”5
dentro do processo constante de reconstrução do convívio com o portador de
seqüelas de TCE, que implica a reorganização do grupo familiar, para que esta
nova situação experienciada possa ser vivida de forma a amenizar o sofrimento
de todos.
5
Cuidador de referência - utilizei esta nomenclatura para referendar o responsável por cuidar
do doente após a alta hospitalar.
Um caminhar pela história
19
1. OBJETIVO
1. 1 Objetivo Geral
Analisar a situação dos familiares de pacientes portadores de
seqüelas de TCE, em especial das cuidadoras de referência, diante do desafio
de cuidar no domicílio.
1.2 Objetivos Específicos
Analisar o modo como os familiares desse paciente assumirão a
situação de dependência (socioeconômica e emocional) do
mesmo após a alta para o domicílio;
Identificar a repercussão na dinâmica familiar em conviver com
um paciente portador de seqüelas de TCE.
1.3 Justificativa
O objeto da pesquisa é relevante por permitir compreender o
conhecimento que os familiares possuem a respeito das seqüelas que, em
geral, acometem o portador de TCE e o modo como eles desenvolvem o
cuidado do seu familiar no domicílio, e contribuir para que as famílias possam
criar mecanismos a fim de sustentar a nova relação familiar.
A pesquisa reúne subsídios para que se possa conhecer melhor o
perfil (socioeconômico e emocional) dos familiares com o fim de apóia-lo, não
se excetuando as necessidades apresentadas pelos familiares, ainda na
dinâmica hospitalar. Espera-se também contribuir fornecendo subsídios, para a
Um caminhar pela história
20
reorganização do serviço de saúde, que tenham entre seus objetivos cuidar de
pacientes politraumatizados. Sugere-se a criação de um grupo de apoio ao
familiar de portadores de seqüelas de TCE, o que possibilitará a diminuição da
permanência desse paciente na unidade hospitalar. Com a diminuição do
período de internação, pode-se contribuir para a prevenção de infecções
hospitalares oportunistas. Espera-se ainda oferecer subsídios para capacitação
dos profissionais envolvidos na atenção e para a formulação das políticas e dos
modelos de cuidado no domicílio.
Um caminhar pela história
21
2. UM CAMINHAR PELA HISTÓRIA
O século XX foi marcado por um acelerado progresso técnico
científico e pela utilização de novos conhecimentos no campo da saúde.
Podem-se destacar grandes momentos de conquistas, que fizeram
diferença na nova visão do mundo e da maneira de nascer, morrer e viver nele.
Algumas dessas conquistas foram de extrema importância para vários países e
permitem reflexões sobre sua aplicabilidade e sobre a maneira como a
sociedade se apropriou das tecnologias e as tem utilizado no dia-a-dia. Esse
vislumbre tecnológico também aponta as insuficiências e perigos residentes
nesses avanços. Fonseca (1999:5) diz que “estas idéias de mudanças, também
operadas no sistema econômico, levaram a um rápido crescimento das
ciências naturais e da tecnologia”. Capella (2002:19) acrescenta a essa idéia o
fato de que a tecnologia interfere no cotidiano, uma vez que “...os avanços
científicos do último século têm determinado importantes mudanças nas
relações do homem com a natureza, bem como na organização social e
espacial da humanidade”.
Silva (2002:82) aponta para uma reflexão ética e política voltada
para o conhecimento e a utilização das tecnologias, a qual deve ser
considerada na análise do desenvolvimento do capital humano, social e cultural
na sociedade. Os avanços trazem soluções e acarretam problemas a serem
vivenciados pela humanidade, devendo ser considerado que:
os “recados” que o século XX deixa para o seguinte, em termos
de papel da ciência e da tecnologia, constituem um apelo para
mudanças de conduta. Estas passam pela consciência das
Um caminhar pela história
possibilidades
reais
de
que
a
humanidade
possa
22
se
autodestruir; da finitude dos recursos naturais; da cautela e
consideração
dos
aspectos
éticos
da
produção
do
conhecimento científico e desenvolvimento das tecnologias.
Silva (2002:82)
A introdução da alta tecnologia na área da saúde e o maior
conhecimento científico propiciaram mudanças significativas fazendo surgir
novos caminhos a serem percorridos, no campo da promoção da saúde, na
prevenção de agravos, tratamento e recuperação “contudo, as mudanças
sociais e econômicas criaram novas demandas que já não podiam ser
atendidas pelo sistema vigente até o final dos anos 80 ... o desenvolvimento
tecnológico acelerou-se” (Mendes, 1999:34).
Na área industrial, principalmente na indústria automobilística, a
tecnologia mudou a história dos países. Com este acelerado crescimento e
modernidade dos veículos, consegue-se salvar mais vidas, desenvolver várias
atividades mais rápido e também acompanhar o crescimento demográfico.
As mudanças despertaram as atenções também no campo da
saúde. Contudo, todas essas evoluções juntamente com o crescimento da
indústria automobilística, a falta de manutenção adequada das auto-estradas e
a imprudência de alguns motoristas ordenaram de forma diferente a história do
país e em especial a história de muitas famílias. No Brasil, os acidentes
automobilísticos são um problema de Saúde Pública por sua complexidade,
magnitude, vulnerabilidade e transcendência.
Esta situação apontara para um percurso no qual a doença crônica
passa a ter o seu cenário alterado. Na atualidade existe uma nova epidemia a
Um caminhar pela história
23
se enfrentar: a epidemia do trauma6 que é um problema prioritário,
constituindo-se em um risco para a população, além de ser responsável por um
número importante de mortes e de incapacitações.
(...) é a principal causa de mortalidade na população menor de
40 anos de idade, tem enormes implicações na sociedade tanto
do ponto de vista econômico como social, principalmente por
acometer uma faixa etária jovem da população, tendo como
implicações a nível de saúde pública o número de anos de vida
perdidos. O Brasil tem uma alta incidência de acidentes de
tráfego (Coutinho, 2003:15).
Entre os diversos tipos de trauma, o traumatismo craniencefálico
(TCE) é o de maior ocorrência, sendo definido como “qualquer lesão traumática
que envolve o crânio e/ou seus envoltórios e conteúdo” (Coutinho, 1997:481).
O TCE pode deixar incapacitações desde as mais simples às mais complexas,
dependendo do tipo de agressão sofrida. As seqüelas dependem também da e
qualidade do atendimento pré-hospitalar prestado ao traumatizado desde o
momento do acidente até os cuidados hospitalares. A National Head Injury
Foundation apresenta a seguinte definição para a lesão craniana traumática:
Lesão craniana traumática é uma agressão ao cérebro, não de
natureza degenerativa ou congênita, mas causada por uma
força física externa, que pode produzir um estado diminuído ou
alterado de consciência, que resulta em comprometimento das
habilidades cognitivas ou do funcionamento físico. Pode
também
resultar
no
distúrbio
do
funcionamento
comportamental ou emocional. Este pode ser temporário ou
6
Trauma: lesão de extensão, intensidade e gravidade variável, que pode ser produzida por
agentes diversos (físicos, químicos, psíquicos) (Ferreira, 1997:1707).
Um caminhar pela história
24
permanente e provocar comprometimento funcional parcial ou
total, ou mau ajustamento psicológico (Winkler, 1994:345).
Os eventos decorrentes das tecnologias duras7, muitas vezes mal
conduzidas, e o grande crescimento urbano traçam um novo percurso para a
vida das famílias que passam a ficar emocionalmente abaladas.
Portanto, as atenções pré-hospitalar e hospitalar no atendimento a
pacientes traumatizados tiveram de se organizar e sistematizar-se para
acompanharem os novos eventos epidemiológicos decorrentes do uso das
tecnologias e das organizações das cidades. Os acidentes automobilísticos
levaram também ao aumento das internações hospitalares em setores de
urgência e emergência, principalmente de pacientes em idade produtiva.
Coutinho (1997, 2003) informa-nos que “nos EUA o TCE é a principal causa de
morte na população de 1 a 44 anos. No Brasil o TCE atinge a faixa etária
produtiva de 15 – 24 anos, sendo o acidente de trânsito responsável por cerca
de 60/70% dos casos de TCE grave”.
Com a nova organização do sistema pré-hospitalar, as vítimas de
acidentes automobilísticos e de outros acidentes como a violência urbana
(facada, tiros, tentativa de auto-extermínio, etc.) chegam muito mais rápido ao
hospital, controlam-se as iatrogenias na atenção mediata e organizam-se os
censos e referências de outros âmbitos de atenção à saúde e à população.
Capella (2002:25) afirma que “tais avanços influenciam diretamente no serviço
de saúde no que diz respeito à sua organização, modo operacional, assim
7
Tecnologias duras: aquelas ligadas a equipamentos, procedimentos (Cecílio, mar/2003).
Um caminhar pela história
25
como nas relações interpessoais entre os profissionais de saúde, e entre estes
e a clientela”.
A utilização de tecnologias avançadas, a agilidade no atendimento
pré-hospitalar e a participação de profissionais com preparo técnico-científico
na atenção do paciente acidentado fazem com que as vítimas sejam atendidas
mais rapidamente, apresentando como resultado imediato o aumento da taxa
de sobrevida. Assim, uma atenção pré-hospitalar de qualidade salva mais
vítimas, as quais após o período de internação, retornam ao domicílio, exigindo
cuidados da família.
2.1 As Unidades de Tratamento Intensivo e as famílias
“aquilo que julgamos já saber é o que, freqüentemente, nos
impede de aprender” (Claude Berde).
As
tecnologias
modernas
dos
centros
de
traumatologia,
principalmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que são áreas de
convergência multiprofissional, dentro do sistema de atendimento hospitalar,
remetem-nos a um pensamento a respeito do processo de trabalho nessas
unidades, considerando que, nessa área “volta-se ao atendimento de pacientes
com efetivo ou potencial comprometimento de funções vitais, devido à falha de
um
ou
mais
sistemas
orgânicos,
como
conseqüência
de
doenças,
traumatismos ou intoxicações” (Nozawa, 2001:3).
A UTI “é o setor do hospital que reúne recursos mais adequados ao
tratamento de pacientes em estado grave. Mas não é só isso! Não só pacientes
graves são internados na UTI”. (Abrão, 2001:85). Fazendo com que as
Um caminhar pela história
26
discussões saiam do campo da natureza técnica e venham para o âmbito da
assistência e da arte do cuidar do indivíduo, das famílias, dos grupos e da
comunidade, (Silva, 2002:84) relata que as “UTI’s devem acolher pessoas que
necessitam de observação constante, pessoas com chance de viver, mas que
naquele momento exigem cuidados constantes”. (Domingues 1999:39) destaca
que “a UTI centraliza os doentes em estado crítico, na tentativa de melhorar a
assistência a eles prestada.”
Na UTI há uma dinâmica operacional e um ambiente bastante
diferenciados dos que existem em outros setores hospitalares. Essa diferença
influi tanto no comportamento da equipe multiprofissional como no modo de
assumir e compreender a doença por parte do paciente e de seus familiares.
Cabe à equipe dispensar atenção à família, considerando serem os seus
integrantes
fortes
aliados
e
estarem
passando
por
momentos
de
transformações em conseqüência de uma doença inesperada. Hoje as equipes
multiprofissionais contam com os profissionais psicólogo e assistente social
que amenizam esta “dor”, utilizando seus referenciais teóricos e metodológicos
na organização da atenção aos pacientes e seus familiares. A função peculiar
da enfermagem, por sua vez, é prestar assistência ao indivíduo sadio ou
doente, família ou comunidade, no desempenho de atividade para promover,
manter ou recuperar a saúde (Almeida, 1999:18).
Além dessas atividades, a enfermagem deve estar atenta à questão
de
gerenciamento,
ensino,
pesquisa,
humanização
e
relacionamento
Um caminhar pela história
27
terapêutico com o paciente em estado crítico8 e à ação do cuidar, pois o
cuidado dever ser avaliado em suas diferentes dimensões.
O paciente internado em uma UTI está em estado clínico crítico,
dependência
de
aparelhagens
(monitores, ventiladores
mecânicos,etc),
submetido a vários procedimentos invasivos (sondagem vesical, sondagem
nasoentérica, várias punções venosas, drenos diversos, etc), ficando
impossibilitado às vezes de se comunicar seja por dano cerebral, seja por
trauma de face ou uso de tubo orotraqueal.
Essa situação agrava-se pelo fato de os pacientes estarem distantes
de seus familiares e carentes de sua individualidade e privacidade,
demandando cuidados constantes, o que causa conflito, ansiedade e angústia
no familiar e no paciente. É importante que se voltem as atenções também
para a família, pois ela passa a ser “uma extensão do paciente e cuidar dela
também requer cuidar de pessoas queridas, [...] de várias formas, as famílias
sofrem muitas das mesmas crises que os pacientes na UCI” (Gallo, 1997:44).
Outra reflexão importante é acerca da despersonalização ou
descaracterização9 do paciente. Em seu primeiro atendimento pré-hospitalar
quase sempre recebe o pseudônimo de vítima que, segundo Ferreira (1997:
1784), “é uma pessoa ferida ou assassinada [...] que sofre qualquer dano
arbitrariamente condenada à morte”, quando entra na instituição hospitalar
passa a ser paciente “pessoa resignada, conformada, pessoa que padece, que
8
9
Estado crítico – Conjunto de sensações inquietantes e ameaçadoras (Orlando, 2001:75).
Descaracterizar – Fazer perder o característico, desfazer as caracterizações (Ferreira,
1997:549). Despersonalizar: mudar de personagem tirar ou reduzir as propriedades que
formam a personalidade (Ferreira, 1997:573).
Um caminhar pela história
28
está aos cuidados médicos, que espera semanalmente um resultado internado”
(Ferreira, 1997:1244). Após a alta, quando retorna ao domicílio, portador de
alguma incapacidade, fica sendo o seqüelado “qualquer lesão anatômica ou
funcional que permaneça depois de encerrada a evolução clínica de cada
doença inclusive de um traumatismo” (Ferreira, 1997:1572). Este misto de
mudanças na identidade do paciente, às vezes em curto período de tempo,
pode gerar conflitos para os familiares e para o próprio paciente.
Além do problema da despersonalização, a família enfrenta a
hospitalização, período em que passa a viver a vida hospitalar. Wright
(2002:35) relata que “as intervenções na família são mais deficientes em
ambientes hospitalares, particularmente em unidades de cuidados críticos”, em
conseqüência do estresse que os profissionais estão vivenciando o tempo todo,
o que faz com que os olhares não se voltem para o familiar do paciente com a
devida atenção. Nas UTIs, existem aparelhagens que exigem muita atenção, “A
elevada tecnologia contribui muito para o esquema de cuidados intensivos.
Entretanto, também pode contribuir para o processo de desumanização que é
possível ocorrer no ambiente” (Gallo, 1997:42).
Nesse momento a família poderia ser uma aliada da equipe
multiprofissional, pois sendo parte da história de vida do paciente, poderá
ajudar na condução do cuidado, contribuindo muito para a recuperação do
paciente a partir de sua própria interação com a evolução da doença.
Um caminhar pela história
29
2.2 O paciente portador de TCE e as seqüelas
Um dilema, um problema, um desafio...
As modificações pelas quais passa uma família quando um de seus
componentes sofre uma lesão traumática e a possibilidade de o paciente vir a
apresentar uma seqüela10, devem ser apreciadas com muita reverência, pois a
família defronta com uma realidade complexa, assentada não somente em
aspectos emocionais, mas também em fatores sociais e econômicos.
A incidência de TCE é preocupante, quando se considera que “a
cada ano ocorrem 22 a 25 TCE fatais por 100.000 habitantes e mais de
500.000 lesões suficientemente significativas para exigir hospitalização”
(Machado, 2003; Neto, 2002; Mills, 1993; Winkler, 1994).
O cérebro do homem guia todos os passos do seu “ser”. Uma lesão
craniana pode levar a deficiências em áreas cognitivas, sensitivas e motoras
repercutindo no convívio social do portador de traumatismo. O organismo
funciona como uma máquina regida pelo cérebro: cada “peça” possui sua
função; quando ocorre algum problema na engrenagem, modificando-a muitas
vezes de forma brutal, ela pode não voltar a exercer a função anterior, dando
lugar às incapacitações.
Nesse processo é necessário avaliar quais os níveis de lesões que
podem acontecer após um trauma cerebral. Assim, as alterações causadas
podem ser identificadas de acordo com a natureza da lesão, isto é, de acordo
com o impacto inicial, e podem ser classificadas como “primárias e
secundárias” (Brant, 1994:596).
10
Seqüelas: qualquer lesão anatômica ou funcional que permaneça depois de encerrada a
evolução clínica de uma doença, inclusive de um traumatismo (Ferreira, 1997:1572).
Um caminhar pela história
30
As lesões primárias são aquelas que acontecem diretamente
conseqüentes ao impacto do TCE e podem ser:
fraturas do crânio (lineares ou cominutivas, com ou sem
afundamento ósseo);
fístulas liquóricas;
contusões e lacerações encefálicas;
hemorragias subaracnoideanas;
hematomas intraparenquimatosos;
hematomas subdurais ou extradurais, lesão axonal difusa (ruptura
de axônios na substância branca do encéfalo, no corpo caloso e
no tronco encefálico).
As lesões secundárias são aquelas que se desenvolvem horas ou
dias após o trauma:
hematomas extradurais ou subdurais;
edema (inchaço) cerebral localizado ou difuso. Estes produzem
compressão e ou desvios de estruturas intracranianas levando
também a aumento do edema e isquemia secundária no tecido
nervoso.
No TCE os pacientes podem apresentar lesões graves e dramáticas
desde o início. Entretanto, muitas vezes as alterações acontecerão lenta e
progressivamente, o que exige observação e cuidados da equipe de saúde
multiprofissional que tem papel relevante na qualidade da atenção. Assim, as
lesões no TCE podem ser de leves a muito graves, e os danos e possíveis
seqüelas dependerão dessa gravidade.
Um caminhar pela história
31
Após o primeiro atendimento e posterior avaliação neurológica, com
ajuda de exames especiais (tomografia cerebral computadorizada e RX),
prossegue-se a atenção que pode exigir intervenção cirúrgica ou conservadora.
Geralmente os pacientes necessitam de terapia intensiva.
A avaliação diária do “estado de consciência” através da Escala de
Coma de Glasgow (ECG)11 é utilizada como instrumento para a avaliação da
evolução do portador de TCE. A escala foi introduzida em 1874 (Winkler,
1994:345), constituindo-se em padrão mundial e atual de avaliação do nível de
consciência (ANEXO A), instrumento esse, sustentado em três parâmetros
independentes: abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. Cada
parâmetro recebe uma pontuação cujo total situa-se entre os valores de 3 a 15
de escore. Quanto menor o total de pontos mais grave é o grau do coma.
O coma é definido “como um estado de consciência caracterizado pela falta de
resposta aos estímulos, impossibilidade de despertar e de abrir os olhos,
independente de sua duração” (Brandt, 1994:591).
São considerados graves os portadores de TCE que apresentam
padrão na ECG igual ou inferior a 8 de escore. A avaliação da ECG em
períodos regulares permite a identificação de melhora ou piora do quadro
neurológico do paciente. É importante ressaltar ainda que, por meio dessa
escala surgem as categorias que definem a intensidade do traumatismo em
leve (ECG 13-15) seqüelas na proporção de 10%, moderado (ECG 9-12)
seqüelas 66% e grave (3-8) seqüelas 100%. Esses dados são “úteis para
11
ECG: criada para avaliar pacientes com trauma de crânio ao chegar no Pronto-Socorro,
ganhou popularidade pela facilidade de aplicação e pela objetividade (Ferraz, 2002:335).
Um caminhar pela história
32
relacionar os parâmetros de avaliação à terapia e resultado ao longo de um
tratamento” (Gallo, 1997:644).
Não é pertinente associar ao trauma leve, pequeno ou nenhum
problema para o traumatizado; se ele apresentar amnésia pós-traumática,
poderá alterar-se significativamente o seu estilo de vida após o trauma. Os
mecanismos de trauma também são muito importantes para determinar o nível
de lesão como descritos por Gallo (1997:645).
...uma lesão em aceleração ocorre quando um objeto em
movimento golpeia a cabeça estacionária, como em uma lesão
por um projétil ou por um objeto rombudo. Uma lesão em
desaceleração é aquela na qual a cabeça golpeia um objeto
relativamente imóvel, como o painel de um automóvel ou o
chão.
Para se apoiar o diagnóstico do TCE, pode-se utilizar a Glasgow
Outcome Scale - GOS (ANEXO B) que mede, os resultados do tratamento
realizado.
Por ser de fácil aplicação a GOS, permite uma avaliação mais
precisa das seqüelas instaladas e do nível de dependência do paciente com
lesão. Esta escala auxilia no plano da alta hospitalar, pois define as limitações
do portador de trauma. Constitui-se, portanto, em ferramenta de apoio para os
profissionais informarem os familiares sobre possíveis incapacitações e assim
orientarem quanto à assistência a ser prestada.
Os distúrbios da memória e das atividades intelectuais (seqüelas
cognitivas e compartimentais) são os mais freqüentes no portador de TCE,
causando diminuição na atenção, falta de iniciativa, perda de raciocínio e
pensamento abstrato. Em relação à memória, três tipos de amnésia estão
Um caminhar pela história
33
freqüentemente associados: amnésia retrógrada (perda parcial ou total da
habilidade de recordar eventos que ocorreram durante o período que precedeu
a lesão e pode regredir progressivamente); amnésia pós-traumática (é um
lapso de tempo entre o acidente e o ponto onde as funções relativas à memória
são tidas como restauradas). A duração deste tipo de amnésia indica a
gravidade do caso. E a amnésia anteróloga que é a inibição em formar nova
memória.
Os distúrbios clínicos são causados pelo nível e local da lesão,
neuroendócrinos, metabólicos, cardiovasculares, gastrintestinais, respiratórios
e hematológicos. É necessário ressaltar que alguns portadores de trauma
evoluem para o estado vegetativo12. Nesta situação o paciente acompanha
com os olhos e mostra atividade espontânea mínima, não fala nem responde a
estimulação vagal.
Para a família, “as seqüelas comportamentais são talvez a
característica mais devastadora do traumatismo” (Winkler, 1994:351). As
alterações na personalidade podem se refletir no dia-a-dia, exigindo que o
traumatizado e seqüelado tenha acompanhamento constante.
As lesões do lóbulo frontal são as mais comuns e ocasionam
distúrbios
do
comportamento
“a
irritabilidade
e
agressividade
são
manifestações possíveis, assim como as perdas de inibição e julgamento”
(Winkler, 1994:351).
O processo de modernização do cuidado em saúde, sustentado nos
avanços tecnológicos no campo biomédico “tem propiciado prolongamentos no
Um caminhar pela história
34
tempo de vida destas pessoas, não necessariamente associado a melhor
qualidade de vida e, muitas vezes a um custo muito alto” (Medeiros, 1998:191).
Outro dado importante, comprovado em estudos por Coutinho
(1997), WinKler (1994) e Mills (1993), revela que a maioria dos TCEs
acometem pessoas abaixo dos 30 anos; o acidente de trânsito é responsável
por 60% a 70% das incapacitações e ocorre mais freqüentemente em homens,
permitindo Machado (1998:31) afirmar que
as conseqüências definidas de um TCE dependem
tanto da natureza como da intensidade, local e direção do
impacto sofrido pelo crânio; o padrão de gravidade do trauma e
as seqüelas resultantes podem ser altamente variáveis,
dependendo da gravidade do traumatismo, natureza da lesão
cerebral e de complicações clínicas. Os déficits traduzem uma
disfunção de qualquer nível do sistema nervoso e as seqüelas
mentais, chamadas déficit cognitivos, refletem modificações no
comportamento e personalidade, alterações da memória.
Para um familiar entender que seu parente sofreu um tipo de trauma
gravíssimo e que ficará com seqüelas, às vezes se torna muito difícil, devido à
imprevisibilidade e à complexidade do evento. A família terá que considerar o
novo estilo de vida a ser enfrentado pelo portador de TCE e seqüelado e a sua
efetiva participação na vida do mesmo. Ter de cuidar de um paciente / familiar,
agora com as condições de vida alteradas, torna-se um desafio, um dilema que
expressa contradições no qual este novo viver pode exigir uma nova vida para
quem se tornar “o cuidador de referência”.
12
Estado vegetativo: condição clínica caracterizada por completa inconsciência do paciente,
Um caminhar pela história
35
2.3 A família e o cuidar
“A família ensina a exercer com fidelidade e honestidade
os direitos que a cidadania nos concede” (Pe. Mário).
Uma parte significante da história da enfermagem mostra que “a
participação das famílias sempre a integrou, mas nem sempre teve esta
denominação” (Wrihgt, 2002:14). A preocupação com a família já estava
presente desde a obra de Nightingale, principalmente nos campos de guerra,
onde ela escrevia cartas com os soldados feridos, para mandar notícias aos
familiares deles e manter o vínculo familiar que ela acreditava essencial à
recuperação dos soldados quando se internavam ou eram acidentados.
O cuidado faz parte das necessidades de sobrevivência na vida
humana. Sena (2000:548) aponta para o fato de que “o cuidar no domicílio
exige muito envolvimento e disponibilidade”.
O ser humano precisa de um equilíbrio dinâmico. As necessidades
não se manifestam, porém estão latentes e surgem com maior ou menor
intensidades. No caso de pacientes portadores de TCE conseqüentemente
estão atreladas devido ao comprometimento da lesão cerebral, o que exige
muito do cuidador, pois em alguns casos há também um apagamento da
memória, que não permite que o paciente fique só nem por um minuto.
Contudo, “as transformações sociais e culturais que acontecem nas
últimas décadas e a perspectiva de novas mudanças para o próximo século
têm nos feito pensar sobre as famílias, no seu processo de viver e nas
situações de saúde – doença” (Althof, 1998:320). Para compreender a família e
tanto em relação a ele próprio como em relação ao ambiente (Orlando, 2001).
Um caminhar pela história
36
ajudá-la a ser mediadora na ação de cuidar, principalmente no domicílio, é
necessário, antes de mais nada, tecer algumas considerações referentes à
formação da mesma, e a partir desta reflexão, somada à opinião de quem
vivencia a situação e à ajuda de alguns autores, construir alguns pressupostos
a respeito do processo de cuidar de pessoas portadoras de TCE.
A família que passa a conviver com uma situação de alteração do
estado de saúde de um de seus integrantes, precisa adotar e construir novos
conceitos e modos de vida para que a partir desta experiência ela possa trilhar
novos caminhos, principalmente se o “ser” acometido pela ruptura de seu
cotidiano de vida e de trabalho volta ao domicílio portando seqüelas e com
dependência.
O significado etimológico da organização familiar vem a ser:
“pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o
pai, a mãe e os filhos” (Ferreira, 1997:755) ou ainda “grupo de pessoas vivendo
sob o mesmo teto ou unidas por mesmas convicções ou interesses ou que
provêm de um mesmo lugar”, (Houaiss, 2002:1304). (Elsen1994:63), que
realiza estudos sobre família, conceitua - a da seguinte forma:
A nuclear, composta pelo pai, mãe, filhos, e a extensa ou
ramificada, quando diferentes gerações são incluídas. Algumas
famílias incluem, entre seus membros, também as pessoas
com quem mantêm estreitos laços afetivos, enquanto que
outras pessoas definem como família apenas seu círculo de
amigos íntimos com os quais não possuem nenhuma
consangüinidade.
Há ainda referência à família como sendo “uma organização
complexa de relações de parentesco, com história formada por etapas
Um caminhar pela história
37
evolutivas”, como adotado por Scabini (1998:121). Mesmo considerando a
diversidade de definições etnográfica, social, cultural e econômica que a
palavra e a concepção de família apresenta, pode-se entender que ela é um
ponto de convívio do ser. A sua organização e estrutura permeiam e qualificam
experiências dos seus membros, fazendo com que os sofrimentos e as alegrias
sejam partilhados de forma única e solidária, comemorando em coletivo os
acontecimentos.
É no espaço familiar que se estabelecem as relações de carinho,
afeto, solidariedade e do cuidado. A família “é o veículo de transmissão de
valores, saúde, respeito, responsabilidade” (José Filho, 2002:42), e essas
qualidades são fundamentais para o processo de “cura”.
Cabe ressaltar que no processo de transformação socioeconômico e
cultural “família é quaisquer pessoas que compartilhem da vida íntima e
rotineira do paciente” (Lemes, 2001:1120), sendo, portanto, responsável pelo
cuidar. É nela que estão centradas as ações para prosseguir o dia-a-dia, pois
“todos nós temos um significado idêntico para a família, uma vez que a maioria
de nós faz parte de uma unidade familiar” (Elsen, 1994:62).
A partir desse pressuposto, a equipe multiprofissional deve projetar e
animar a construção do futuro do portador de TCE com seqüelas,
estabelecendo o plano de cuidados para o seu retorno ao domicílio. A família
precisa se articular e eleger quem será o cuidador de referência para
prosseguir o tratamento no domicílio. Embora se saiba que a ação do cuidar
recai sobre um componente da família, percebe-se que a mulher é reconhecida
como cuidadora, por questões de história.
Um caminhar pela história
38
(...) as mulheres parecem ter adquirido um
comportamento diferenciado dos homens assemelhado entre
elas, nas diferentes épocas devido à maternidade. Quase de
forma universal, entre os diversos clãs, tribos e civilizações, ao
longo da história, os cuidados com o parto ficavam a cargo das
mulheres. ... Entre as práticas de higienizar e de alimentar,
foram introduzidos comportamentos de tocar, cheirar e gestos
rudimentares de afago. Pode-se concluir que o segundo modo
de expressar o cuidado, ou seja, a demonstração de interesse
e de afeto, é mais evidente entre as mulheres (Waldow,
1999:18).
Assim sendo, autores como Waldow (1999), Gonçalves (1999),
Wright (2002), Sena (2000), Winkler (1994), José Filho (2002) e outros realçam
a mulher, como parte importante na ação do cuidar, pois “em decorrência de
ser reconhecida a filiação pela linha feminina, foi criado um grande respeito
pela mulher” (José filho, 2002:16). Winkler (1994:391) destaca que “em
qualquer caso, uma grande carga cai sobre as esposas e progenitores,
particularmente as mães”, contudo, no decorrer da história, principalmente sob
influência do capitalismo, a mulher é obrigada a desenvolver tarefas também
fora do domicílio para aumentar a renda familiar; assim ela entra para a história
fazendo parte também de um processo social:
“no processo de formação histórica do modo de
produção capitalista, o cuidado de saúde se dá numa contínua
relação entre a mulher cuidadora e o “ser” cuidado, bem como
entre o meio ambiente, a família e a sociedade: Esta mulher
cuidadora não é um ser isolado, neutro, desligado do processo
histórico e social, nem é uma consciência pura em si”
(Gonçalves, 1999:45).
Um caminhar pela história
39
Nesse contexto, geralmente a mulher acaba assumindo o papel de
cuidadora acolhendo seu familiar que necessita de cuidado.
Isto posto, a equipe multiprofissional deve possuir uma postura de
preocupar-se com essa cuidadora, pois começa um novo capítulo na história
desta pessoa e da família, viver a situação de cuidar de um parente
gravemente enfermo, internado em um hospital de urgência “entre a vida e a
morte”, aguardar sua melhora e depois cuidar do mesmo – portador
de
seqüelas – no domicílio.
Assim ocorrerá mudança importante para todo o grupo familiar, isto
é, “alteração na estrutura familiar que ocorre como compensação das
perturbações e tem a finalidade de manter a estrutura (ou seja, estabilidade)”
(Wright, 2002:49). Assim sendo, “uma entidade viva somente pode perceber,
responder, pensar acreditar e agir de acordo com os limites de sua estrutura
única como um ser” (Galera, 2002:142).Esta mudança pode ser drástica,
exigindo novas atitudes na vivência do “novo estado de coisas antes que os
nossos sentidos possam nos contar que isto é novo” (Bateson, 1979:98).
Contudo, estas transformações podem ocorrer em área cognitiva, afetiva ou
comportamental, mas a mudança em uma dessas áreas apresentará um
impacto nas outras e isto para o cuidador pode ser certamente mudança no
seu processo de vida.
Os familiares dos portadores de trauma passam por um período
longo de internação hospitalar. Há uma ruptura entre a situação anteriormente
vivida e o momento inesperado: viver a situação do trauma.
Um caminhar pela história
40
É pertinente lembrar que a família de um paciente portador de TCE
com seqüelas está inserida em um contexto socioeconômico e emocional, e
que o trauma do acidente, no período da atenção hospitalar e no domicílio, se
refletirá inteiramente, e intensamente na dinâmica familiar.
A
família
cada
vez
mais
tem
assumido parte
da
responsabilidade de cuidar de seus membros e, nesta
perspectiva, necessita de apoio de profissionais, quando diz
respeito à atenção a saúde, seja a nível hospitalar ou
domiciliar (Marcon, 1998:290).
O cuidado faz parte das necessidades de sobrevivência na vida
humana. Nesse sentido, cabe uma reflexão sobre a perspectiva do cuidar para
o familiar de um portador de TCE, pois ele é quem dará continuidade ao
cuidado iniciado no hospital. É necessário construir um caminho, sobretudo
pautado no conhecimento de quem está vivendo este momento, revestido por
profundas transformações na vida das pessoas e de seu entorno.
Cuidar sugere que a pessoa deva estar inserida interativamente no
processo para que ela compreenda as diversidades e as transformações que
ocorrem em sua vida e em sua família.
A palavra Cuidar origina-se do latim Cogitare e pode ter vários
significados como: imaginar, pensar, tratar, prevenir, acautelar, ter cuidado
consigo mesmo (Ferreira, 1997:507).E o cuidar sempre foi desenvolvido em
diversas culturas de várias maneiras.
Waldow (1999) relata que nas diversas culturas o cuidado era
representado de várias formas, envolvendo sempre a questão familiar.
Análise
58
Na cultura americano-italiana
Na
cultura
germânica
américorepresentava
organização, limpeza, ajuda
aos outros, obedecendo a
regras
e
pontualidade,
proteção aos outros contra
danos e contra estranhos,
ou alimentação correta.
representa o bem-estar, inte-
Na
cultura
gridade familiar, envolvimento
americano-japonesa
com a família... ”Cuidar sem-
representava
pre esteve presente na histó-
respeito pela família,
ria humana, sendo direcio-
controle de emoções,
nado de acordo com a cultura,
preocupação com os
o avanço tecnológico e a
outros, resistência à
necessidade das pessoas”.
dor e ao stress.
Segundo Almeida (1999) e José Filho (2002), a religião também teve
forte influência no exercício do cuidado, justificando, inteiramente as ações das
“cuidadoras”, embora não se embasasse necessariamente em conhecimentos
científicos.O cristianismo, que institucionalizou o papel feminino no cuidado
através das ordens religiosas, e o judaísmo tiveram um papel marcante nesta
determinação.
Com a ruptura do sistema feudal e a interrupção do modelo de
produção industrial, a igreja, que mantinha parte dos monopólios hospitalares,
perdeu o domínio da interpretação do saber, e os religiosos foram expulsos dos
hospitais. Este período é marcado por um declínio na assistência voltada para
as camadas marginalizadas da sociedade. Os serviços de enfermagem
passaram a ser exercidos por mulheres consideradas de moral questionável.
Boff (1999:34) citando Martin Heidegger (1889-1976), abrilhanta
essas reflexões quando nos fala que “do ponto de vista existencial, o cuidado
se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano, o que sempre
o
Análise
59
significa dizer que ele se acha em toda atitude e situação de fato”, isto é, ele
está na raiz primeira do ser humano antes de qualquer atitude.
Nos meados do século XIX, período marcado pela revolução
Industrial, com o desenvolvimento econômico embasado no modelo capitalista
industrial, o homem é encarado como força de produção e, conseqüentemente,
o Estado passa a preocupar-se com a Saúde Pública como instrumento e
mecanismo para a reprodução da força de trabalho. Os sistemas de saúde
eram, no Brasil, pouco sistematizados, cabendo às mulheres com os “dons”
que possuíam e com a intuição, cuidar das pessoas mais necessitadas. Vão-se
destacando assim os tons femininos na arte de desenvolver o cuidar.
Voltada para a ação do cuidar, surge na Inglaterra, em 1860, a
primeira Escola de Enfermagem fundada por Florence Nightingale (Florence
fez um pequeno estágio no hospital, em Kaiserswerth, para assim ter suas
próprias diretrizes). Nesse período a Enfermagem começa a institucionalizar-se
e adquirir status; pautado em novas descobertas científicas, método
administrativo e assistencial volta a ser centrada na prática médica. A escola
fundada por Florence tinha como objetivo capacitar as alunas para prestar
assistência de Enfermagem no âmbito hospitalar, além de realizarem visitas
domiciliares. Entretanto, uma das características desta escola foi organizar e
estabelecer a educação de enfermagem sustentada na divisão técnica do
trabalho, definindo o papel das “nurses” e das “ladies nurses”. As nurses
prestavam assistência direta aos doentes enquanto as ladies nurses,
procedentes de famílias aristocráticas, realizavam a administração da
assistência de enfermagem.
Análise
60
Não se pode esquecer que a mulher vem, desde o passado,
traçando um papel importante na realização do cuidar, e o mesmo deve ser
entendido como um processo social de produção em saúde que se expressa
em atividades do cuidado com a vida diária. Boff (1999:96) afirma que “cuidar das
coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acollhê-las, respeitá-las, dar-lhes
sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, auscultar-lhes o ritmo e
afinar-se com ele”.
Para que no desenvolvimento do cuidado ocorra uma sintonia, é
necessário considerar o cuidador em sua totalidade, ele deverá exercer sua
ação de cuidador, deixando transparecer todos os seus sentimentos, suas
angústias, suas ansiedades. Deverá, também, desnudar-se para compreender
o novo momento de vida que estará vivenciando em seu cotidiano. Boff realiza
ainda uma reflexão muito preciosa e diz que um evento em nossas vidas não
acontece isoladamente, acontece envolvendo várias situações “não há um
sujeito histórico único, muitos serão os sujeitos destas mudanças” (Boff,
1999:25). Portanto, a mudança no percurso da vida da cuidadora, que é
imposta pela doença, exige uma nova percepção da realidade de como viver e
sobreviver nela; isso também refletirá na qualidade de vida do paciente.
Sendo assim, o cuidado abrange mais que um momento de atenção,
de zelo, de desvelo, representa uma atitude de ocupação, preocupação, de
responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro, “Cuidar é mais que um
ato, é uma atitude” (Boff, 1999:33). O cuidado nada mais é do que um
fenômeno que é a base possibilitadora da existência de um ser.
Análise
61
2.4 Domicílio, o locus do cuidar
A idéia de cuidar no domicílio remete-nos a um pensamento lógico
de casa, lugar de onde saímos todos os dias com a intenção de voltar e ser
cuidado com o afeto do grupo.
Domicílio
Cuidar
Locus
Domicílio: ”residência habitual de uma pessoa, lugar onde a pessoa
estabelece sua residência com propósito definido” Houaiss (2002:1074).
Lócus: “lugar, posição, local, posto, moradia, útero, madre” (Houaiss
2002:1777).
Cuidar: “imaginar, tratar, prevenir, acautelar” (Houaiss, 2002:885).
Torna-se interessante a análise desses três significados para
verificar que eles se entrelaçam, configurando um cenário ideal para
desenvolver a prática do cuidar; cuidar de alguém que necessita desse
cuidado.
Sena (2000:545) esclarece que o cuidado no domicílio sempre
existiu, desde o início da era cristã quando as pessoas doentes já eram
tratadas em casa, freqüentemente por uma mulher-mãe, familiar ou pessoas da
comunidade. Assim o domicílio sempre foi o espaço do cuidar desde o
nascimento até a morte. Lacerda (1996) amplia esse raciocínio quando diz que
O domicílio é o local onde está a família e é nela
que os seus componentes se desenvolvem física, emocional,
Análise
62
mental e espiritualmente. É aí que as primeiras relações sociais
se estabelecem e também onde as crises e os conflitos
aparecem no momento em que um dos membros desta família
adoece.
Sendo assim, após um longo período de internação, alguns
pacientes não necessitarão mais de permanecer no hospital, receberão alta e
voltarão para o domicílio, com uma história diferente, ou seja, alguém desse
grupo precisará de maior atenção. Sendo assim, “freqüentemente a família
também sofre perdas e carrega o ônus de metas e expectativas existenciais,
permanentemente alteradas para o seu membro” (Mills, 1993: 565). As
seqüelas apresentadas pelo portador de TCE poderão se tornar crônicas, e a
família terá que aprender a conviver com as mesmas. A análise de Medeiros
(1998:189) indica que:
as
doenças
crônicas
produzem
significantes
repercussões tanto econômicas como sociais, emocionais e
familiares, como resultado de seus efeitos biológicos, afetando
a qualidade de vida do paciente como um todo. Embora toda a
família também seja afetada pela doença, o cuidado do
paciente recai, especialmente, sobre um único membro, que
assume a principal responsabilidade de prestar assistência
emocional, física, médica e por vezes financeira.
Sena (1999:60) aponta para o domicílio como o locus do cuidar
refletindo sobre seus benefícios. A autora relata que o cuidado domiciliar
configura-se como uma estratégia que propicia a atenção e deve ocorrer de
forma segura e humana, permitindo a redução da permanência do paciente no
hospital, a prevenção de riscos de iatrogenia, a diminuição de custo, e também
Análise
63
possibilitando manter as pessoas, acometidas por uma enfermidade, próximo
do convívio familiar. Porém a autora chama atenção para a responsabilidade
do setor público – serviços de saúde – com o cuidado no domicílio garantindo a
integridade da atenção e apoio à família, pois
os cuidadores de familiares na maioria das vezes
não recebem preparo adequado para realização dos cuidados
e se baseiam em experiências anteriores ou em conhecimentos
do senso comum para definir suas ações (Sena, 1999:61).
Por isso, será importante ajudar o cuidador de referência a entender
essas transformações pelas quais passará, deixando manifestar seus
sentimentos, sua fala, suas angústias, seu desejo ou não de cuidar, na
perspectiva de que ele possa melhor viver o momento para cuidar de seu
parente.
2.5 O cuidador de referência do paciente portador de TCE
Se você pudesse fazer um pedido, sendo cuidadora de referência, o que
você pediria?
Ao buscar subsídios na literatura sobre como cuidar do cuidador de
um paciente portador de seqüelas, deparei com bibliografia que dava suporte a
este discurso, mas não relacionada ao paciente de TCE. Portanto, busquei, a
partir deste estudo e do discurso de mulheres cuidadoras, entender um pouco
mais este cuidar.
A família deverá enfrentar novas maneiras de se organizar e viver no
mundo familiar, ou seja, como pensar, falar e agir de acordo com uma nova
Análise
64
maneira, enfrentando uma nova realidade, “superar certos desafios para
exercer com precisão o seu papel” (Silva, 2000:307).
Esta nova realidade se inicia a partir do momento em que a família
recebe a notícia do acidente. Necessariamente, todas as atenções se
concentram nesse episódio; e o inconsciente constrói uma subjetividade de não
querer acreditar na realidade. Zacarias (1995:19) ajuda a compreender esta
situação quando analisa que:
No final do Séc. XIX, muita coisa já se sabia sobre o
inconsciente.
...
muitos
processos
de
pensamento
e
percepção ocorrem sob o limiar da consciência; que o
inconsciente armazena lembranças e percepções inúmeras;
que o inconsciente incorpora atividades automáticas criadas
com esforço no consciente e, ainda, produzem mitos, histórias,
sonhos, símbolos e alucinações.
Assim o familiar, ao vivenciar esse momento e deparar com o seu
parente entubado, com aparelho respirando por ele, um quadro clínico grave,
custa a “cair na real”13.
A família passa a viver os conflitos internos aos quais a situação a
expõe, viver o cotidiano com este desafio a ser enfrentado; uma nova
realidade, o parente enfermo. Afinal, o que será a nova realidade para a família
e para a cuidadora de referência?
A palavra realidade é utilizada diariamente e em várias situações,
em vários contextos diferentes, mas quase nunca paramos para entender o seu
13
Cair na real: gíria brasileira recente, significando um apelo para que nosso interlocutor deixe
de sonhar ou de fazer planos mirabolantes e utópicos e volte à realidade, volte a ter “pés no
chão” (Duarte Júnior, 1994:7).
Análise
65
significado.Sendo assim, “a questão da realidade (a da verdade) passa pela
compreensão das diferentes maneiras de o homem se relacionar com o
mundo” (Duarte Júnior, 1994:15).
Quando o paciente retorna ao domicílio, inicia-se um processo de
reconstrução; a realidade agora deverá ser vivida, novas montagens, com os
mesmos personagens. A postura dos componentes desse cenário é que irá se
alterar. “É preciso agora que se observe mais de perto essa tarefa de
reconstrução, já que ela nada mais é do que uma reeducação, ou melhor, uma
ressocialização” (Duarte Júnior, 1994:82).
O apoio ao cuidador de referência é importante para ajudá-lo a
manter o equilíbrio, pois, afinal será ele quem sustentará o cuidado no
domicílio. A atitude de cuidar de si mesmo e do outro quem se encontra frágil
faz parte de uma ação advinda muitas vezes de escolha pessoal. Todos
necessitam do olhar cuidadoso do outro, independentemente da fase de vida
em que se está. Essa atitude adquire um maior significado quando o cuidado
se refere à atenção a um familiar que se encontra em uma nova situação.
Pensar no outro é despertar em si mesmo a atitude de cuidado, de
preocupação e de inquietação pela pessoa amada. O sentido de cuidar –
cogitare-cogitatus – mostra o caminho, a cura. O cuidado surge, então, a
partir do momento em que alguém tem importância para alguém.
Análise
66
3. DISCUSSÃO METODOLÓGICA
Considerar a complexidade em cuidar de um familiar portador de
seqüelas de TCE e a imprevisibilidade desse novo momento de vida implica
conhecer e compreender as mudanças que passam a ocorrer na estrutura
familiar e muito marcadamente na vida da cuidadora, pois “o conhecimento se
concretiza num processo contínuo de ir e vir do todo para as partes e das
partes para o todo” Saupe (1994:35).
Minayo (1998) considera que uma metodologia deve fazer uma
combinação particular entre teoria e prática em um movimento de atividade de
aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, que propicia o
desvelamento da essência do objeto estudado. Assim, utilizando a pesquisa
científica, busquei estabelecer subsídios para conhecer o fenômeno em seu
processo de transformação e apoiar o grupo familiar.
O presente estudo definiu-se como descritivo analítico, sustentado
na abordagem qualitativa, uma vez que esse tipo de abordagem é “capaz de
incorporar as questões do significado e da intencionalidade como inerentes ao
ato, às relações, às estruturas sociais” (Minayo, 1998:95), permite a
aproximação com o fenômeno estudado e possibilita trabalhar com as
inquietações do mesmo.
...trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais
Análise
67
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo,
1998:21).
Esta abordagem também se caracteriza como um “modo de
inquisição sistemática, preocupado com a compreensão dos seres humanos
consigo mesmo e com seus arredores” (Polit, 1995:270). Considera que os
seres humanos estão inseridos em um contexto socioeconômico e emocional
que faz parte do seu cotidiano.
As categorias da dialética ajudaram a captar a nova realidade e
contextualizá-la em um movimento de transformação e de contenção de novas
possibilidades de relações, sustentando-se na relação dialetizada que:
abarca não somente o sistema de relações que constrói o
modo de conhecimento exterior ao sujeito, mas também as
representações sociais que constituem a vivência das relações
objetivas pelos atores sociais, que lhe atribuem o significado
(Minayo, 1998:11).
Assim, entender a situação do cuidador sob a perspectiva do
processo constante de construção e reconstrução do convívio com o portador
de seqüelas de TCE, implica poder ajudar esse cuidador na reorganização do
grupo familiar para que esta nova situação experienciada possa ser vivida de
forma a amenizar o sofrimento de todos (portadores de TCE com seqüela e
seus familiares) e revelar as potencialidades do cuidador de referência e
demais integrantes do grupo familiar.
3.1 Os procedimentos metodológicos
Análise
68
O primeiro passo efetivo desta pesquisa, posso afirmar que foi
quando identifiquei os pacientes internados na UCSI, para conhecer a clientela.
Nessa fase verifiquei que um grande número de pacientes internados
apresentava TCE. Assim, com a realização deste levantamento de dados
referentes aos pacientes portadores de TCE internados na UCSI, no período de
janeiro de 2000 a janeiro de 2001, construí o perfil dos portadores de TCE. Os
dados secundários foram coletados no livro de censo da unidade e no Serviço
de Arquivo Médico e Estatística (SAME). Na análise, pude observar que os
pacientes internados, na maioria, encontravam-se na faixa etária entre 18 e 42
anos, vítimas de acidente automobilístico, eram do sexo masculino e
receberam alta da UCSI com avaliação entre 9 e 12 de escore na ECG.
Após a construção desse perfil, caminhei na produção do projeto de
pesquisa que me permitiu conhecer os métodos para realizar o estudo,
completando com a delimitação do problema, revisão bibliográfica, a intimidade
com o cenário do estudo e os atores que o constituem: o portador de TCE,
equipe multiprofissional e familiares.
Nesse caminho, em maio de 2003, após aprovação do projeto pelo
Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Comitê de
Ética da FHEMIG, iniciei a observação sistematizada para a escolha dos
participantes da pesquisa: familiares dos portadores de TCE por acidente que
se inseriam nos critérios acima descritos. Isto posto, prossegui tendo em mente
o objetivo proposto no projeto de pesquisa: analisar a situação dos familiares
de pacientes portadores de seqüelas de TCE em especial das cuidadoras
Análise
69
diante do desafio de cuidar no domicílio. Assim, para fins da pesquisa o familiar
que assumiu participar deste estudo foi denominado cuidador de referência.
Construí a captação e a apreensão da vida da família do cuidador de
referência sob a perspectiva do processo constante de reconstrução do
convívio com o portador de seqüelas de TCE, escutando as falas dos
familiares, para, a partir da compreensão das mesmas, poder ajudá-los na
reorganização do grupo familiar, e na vivência da nova situação de forma a
amenizar o sofrimento e potencializar as capacidades de todos os envolvidos
para prestar cuidado no domicílio.
3.2. O Cenário
O cenário selecionado foi o Hospital de Pronto Socorro João XXIII,
destinado ao atendimento em urgência e emergência, cujo centro de trauma é
referência na região metropolitana de Belo Horizonte. O hospital realiza
atendimento diário de, aproximadamente, 457 casos. Possui 258 leitos
distribuídos em 12 andares e um ambulatório geral que é dividido em setores:
politraumatizado, ortopedia, emergências clínicas, ambulatório feminino,
ambulatório masculino, pediatria, otorrino, unidade de pequenos ferimentos e
triagem, centro cirúrgico, 18 leitos de tratamento intensivo, 21 leitos de
tratamento semi-intensivo (UCSI). A unidade em questão foi a UCSI.
A definição do cenário adveio da minha vivência na rede FHEMIG –
18 anos como enfermeira na UCSI, 7 anos como coordenadora do setor –
acrescida do fato de trabalhar no horário da tarde quando tenho a oportunidade
Análise
70
de conviver com os familiares dos pacientes internados, durante as visitas
diárias à unidade e perceber as suas inquietações.
Vale ressaltar que a clientela que utiliza os serviços desse hospital é
formada pelos que são encaminhados pelo sistema pré-hospitalar e/ou pelos
que necessitam de tratamento de urgência e emergência. A internação é
normalmente utilizada pela população que não possui plano privado de
assistência à saúde ou que por algum motivo não pode ou não quer ser
transferida
para
outro
hospital,
após
o
atendimento
no
setor
de
politraumatizado.
3.2.1 O caminho do paciente pelo cenário.
O portador de TCE, ao dar entrada no hospital, é admitido no
ambulatório 1 (politrauma). Após avaliação da equipe multidisciplinar e início do
tratamento clínico e/ou cirúrgico, é encaminhado ao setor específico para
continuidade do tratamento ou permanece nesse ambulatório de politrauma
onde o tratamento é realizado.
Também, muitos pacientes de politrauma permanecem dias nesse
ambiente superestressante pela inexistência de leito no hospital ou em outros
hospitais da rede. O familiar permanece ali, vivendo a angústia de seu
parente/paciente e dos outros pacientes, pois, a sala de politrauma
(ambutalório1) é uma sala grande onde ocorre a movimentação rápida de toda
a equipe multiprofissional, permitindo a visibilidade de todo o ambiente. Para
diminuir a angústia da família, a enfermagem coloca “biombos”, sabendo que
estes “panos” não eliminam barulhos, apitos das aparelhagens e nem
Análise
71
diminuem a correria dos profissionais, constituindo apenas uma simples
barreira visual.
3.3 Sujeitos
Os sujeitos da pesquisa foram cuidadores de referência de pacientes
portadores de TCE que se incluíam nos critérios anteriormente descritos:
vítimas de acidente de automóvel, sexo masculino, idade entre 18 e 43 anos,
que receberam alta da UCSI com escore de 9 a 11 na ECG. Assim, quando os
pacientes
se
enquadravam
nos
três
primeiros
critérios
(acidente
automobilístico, sexo masculino, idade 18 a 43 anos), eu iniciava o
acompanhamento das famílias e do paciente através da avaliação da ECG
diariamente. Após sinalização de alta da UCSI pela equipe médica e análise da
história clínica, procurava os familiares e discutia sobre a possibilidade da
participação deles na pesquisa, deixava que os mesmos pensassem a respeito
dessa participação e me dessem a resposta em outra hora. Na oportunidade
também pedia aos mesmos que me facilitassem o acesso ao membro da
família que iria cuidar do paciente no domicílio, após a alta.
Depois desse contato e da indicação do cuidador de referência pela
família, era agendada a entrevista, de preferência após a alta do portador de
TCE da UCSI, momento que se apresenta como definidor da vivência da
expectativa de retornar ao domicílio com seu familiar em uma nova situação de
vida.
Análise
72
3.4 Instrumentos
Para instrumentalizar a coleta de dados, utilizei entrevista individual,
gravada, com roteiro semi-estruturado (ANEXO C), definida por Minayo
(1994:95) como “uma entrevista que resulta em uma conversa a dois com
propósitos bem definidos, através de uma exposição verbal que reforça a
linguagem, significando a fala”. Sobre este tipo de entrevista autora ainda a
reforça:
instrumento privilegiado de coleta de informações
para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser
reveladora de condições estruturadas, de sistemas de valores,
normas e símbolos e ao mesmo tempo tem a magia de
transmitir, através de um porta-voz, as representações de
grupos
determinados,
em
condições
históricas,
socioeconômicas e culturais específicas (Minayo, 1998:35).
Foram atendidas as exigências da Resolução nº 196/96 do
Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa em seres humanos. O
projeto de pesquisa passou pela apreciação do Comitê de Ética da FHEMIG,
representada no HJXXIII pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa e também pelo
Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais (ANEXO D).
Cada entrevistada recebeu uma carta contendo os objetivos da
pesquisa e declaração de garantia do sigilo. Eu lia o Termo de Livre
Consentimento (ANEXO E) junto com a cuidadora de referência e outro familiar
que estivesse na sala 144 (sala destinada à realização da entrevista); após
esta leitura e diante do aceite, era preenchido o termo de Livre Consentimento
e pedida a assinatura do cuidador e referência.
Análise
73
Ainda, como instrumento de auxílio à realização desta pesquisa,
utilizei o diário de campo, iniciado no período que antecedeu o estudo e que foi
utilizado durante todo o tempo em que transcorreu a pesquisa. Para
complementar os dados da pesquisa, foram realizadas observações através de
visitas ao domicílio de algumas cuidadoras. Esta etapa ocorreu após o primeiro
mês da alta do paciente para o domicílio.
As visitas aconteceram para verificar como estava sendo a relação
dos familiares com o doente, no domicílio. Foram realizadas três visitas aos
domicílios, pois os outros pacientes moravam fora da grande BH e não pude
visitá-los, uma visita aconteceu no hospital, pois o paciente ainda se
encontrava internado.
3.5 Coleta de dados
A coleta de dados ocorreu nos meses de junho e julho/2003, após o
horário de visita das 15:00 às 16:00 horas. O local para realização das
entrevistas foi a sala 144 da unidade – dependência reservada na própria
UCSI. A escolha do horário deveu-se à preocupação em facilitar o trabalho
aproveitando a vinda dos familiares ao hospital no horário de visita diária.
Para
garantir
o
sigilo
do
familiar
entrevistado,
utilizamos
pseudônimos com nomes de flores (ANEXO F), escolhi esta nomenclatura por
entender que as flores representam suavidade, a exuberância da vida e são um
símbolo de fácil compreensão para todas as entrevistadas. Assim eu
perguntava a cuidadora de referência o nome de sua flor preferida. Ela escolhia
sua flor, e ainda uma segunda opção que poderia ser adotada caso outra
Análise
74
cuidadora já tivesse escolhido a mesma denominação. Com a brilhante ajuda
dessas cuidadoras compus um jardim “científico” com os sujeitos entrevistados.
Para garantir a identificação do paciente utilizei a letra inicial do seu nome.
Após cada entrevista, era feita a respectiva transcrição. Por
coincidência as quatro primeiras entrevistas foram de cuidadoras de pacientes
com idade entre 20 e 23 anos e que eram cuidados pela própria mãe. A partir
esta descoberta, decidi acrescentar mais uma característica à escolha do
sujeito: uma outra cuidadora de referência que não fosse mãe, para enriquecer
mais os dados.
Após leitura exaustiva dos relatos, ao perceber que as falas estavam
ficando repetitivas (saturação), encerrei as entrevistas e passei a realizar a
análise dos dados obtidos.
3.6 Análise dos dados
A análise foi inspirada em Minayo (1998:211). A autora explica que
um dos objetivos da análise do discurso é a realização de uma reflexão geral
sobre as condições de produção e apreensão da significação de textos.
Após as transcrições, realizei várias leituras dos discursos para
captar a essência dos mesmos. Assim, foram identificadas idéias centrais que,
após agrupadas, permitiram a construção das categorias empíricas, que são,
segundo Minayo (1998:95),
...construídas com a finalidade operacional, visando
o trabalho de campo ou a partir do trabalho de campo, têm a
propriedade de conseguir apreender as determinações e as
especificidades que se expressam na realidade empírica, a
partir das categorias analíticas construídas previamente ao
Análise
75
trabalho de campo e buscando relações dialéticas entre
ambas.
Assim, realizei novas leituras das idéias centrais, gotejando os
discursos com o intuito de apreender as estruturas de relevância das idéias
centrais, para ampliar a interpretação das mesmas. Após essa interpretação,
foram identificadas as subcategorias e os temas, o que permitiu a construção
do Quadro nº 1, lembrando que: “os conhecimentos sobre os indivíduos só são
possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal
como ela é definida por seus próprios atores” (Polit, 1995:271).
QUADRO Nº 1
O PACIENTE PORTADOR DE TCE DEVIDO A ACIDENTE
AUTOMOBILISTICO
Percepção dos cuidadores de referência
Categorias empíricas
1. Os atores no processo de cuidar
2. Sentimento da família ante o
portador de TCE
3. Transformação no processo de
vida familiar
Subcategorias / temas
O cuidador
- Recebendo a notícia do acidente
- A chegada do familiar ao hospital
- Recebendo a notícia sobre o paciente
Deus presente no processo de cura.
Visão em relação ao paciente
- A UTI
- Importância do paciente para a família
- O portador de TCE e a família
traumatizada
Transformação pessoal na vida do cuidador
- mudança na vida do cuidador de referencia
O ato de cuidar no domicílio.
- A chegada do paciente ao domicílio
- O cuidar nos primeiros dias
- O cuidar.
- E a vida....
Transformações ocorridas e os novos paradigmas a enfrentar
Análise
76
A análise foi organizada tendo como princípio gerador os discursos.
Esse tear de idéias das entrevistas, bem como a leitura de autores que
estudaram o tema, permitiram-me o retorno aos discursos e a produção da
análise que traduz o encontro da especificidade do objeto, pela prova do vivido,
com as relações essenciais da vida da cuidadora no contexto da família e nas
múltiplas relações de subjetividade dos familiares com o evento do portador de
TCE, seqüelado no ambiente familiar. Foi possível buscar, na história cultural,
elementos constituintes do próprio fazer histórico da enfermagem exposto na
análise.
Análise
77
4. ANÁLISE
O processo de mudança é um fenômeno fascinante, com uma
variedade de idéias sobre como e o que constituiu a mudança no
sistema família.
Lorraine M. Wright
As mudanças pelas quais passará a família de uma pessoa
portadora de TCE exigem a adoção de uma visão crítica da nova situação
vivenciada, pois novos comportamentos vão se associar ao cotidiano dessa
família, os quais irão nortear e serão norteados por novas maneiras: “como
pensar, falar e agir de acordo com determinada situação” (Saupeu 1994:31).
Isso implica uma mudança muito grande para o grupo familiar.
A doença como o TCE “pode exercer um impacto devastador sobre
a vida das pessoas injuriadas e de sua família” (Mills, 1993: 565). O cérebro
humano é que conduz o nosso dia-a-dia, as nossas vontades, motivações,
habilidades cognitivas e sociais, e uma lesão craniana pode deixar seqüelas
relacionadas a essas áreas, comprometendo a cotidianidade do portador de
TCE e das pessoas que o rodeiam.
A família, quando um de seus membros adoece, deve participar
ativamente de todo o tratamento; sendo assim ela terá ação efetiva no cuidar.
Se ainda na dinâmica hospitalar, no início do tratamento, ela participar desse
processo, talvez possa contribuir mais para o tratamento. É fundamental
considerar
que a família
“cada vez mais
tem assumido parte da
responsabilidade de cuidar de seus membros e, nesta perspectiva, necessita
Análise
78
de apoio de profissionais” (Marcon, 1998:290), para dar conta das
responsabilidades e da complexidade do cuidado no domicílio. Sem essa rede
de apoio o cuidado pode não acontecer de forma efetiva e o familiar pode se
tornar vítima oculta desta ação de cuidar.
São várias as etapas que a família terá de enfrentar desde o
recebimento
da
notícia
do
acidente,
passando
pelos
momentos
de
hospitalização até o retorno ao domicílio e o prosseguimento da vida.
Assim a vida que transcorria dentro de um contexto social de viver o
dia-a-dia, de repente passa por uma transformação abrupta. O telefone toca, o
policial avisa... e chega a notícia do acidente.
Para entender um pouco dessa história, analisei os discursos das
cuidadoras dos pacientes portadores de TCE com seqüelas moderadas, o que
me permitiu compreender o assumir de uma cuidadora de referência e realizar
ainda, reflexões a respeito desta nova situação a ser vivida.
Para conhecer o perfil dos sujeitos da pesquisa, construí, após as
entrevistas, um quadro para melhor visualizar e analisar as situações.
Análise
QUADRO Nº 2
PERFIL DA CUIDADORA DE REFÊRENCIA
DOS PACIENTES PORTADORES DE TCE / HPSJXXIII
Belo Horizonte, 2003
NOME
GRAU DE
PARENTES
CO
IDADE
TIPO DE
ATIVIDAD
E
Auxiliar de
enfermage
m
Funcionária
Pública
IDADE
DO
PACIENT
E anos
E.C.G.
(ocasião
da alta
na UCSI)
TIPO DE
OCUPAÇÃO
DO
PACIENTE
RENDA
FAMILIAR
19
9
Estudante de
direito
6
23
10
trabalha com
informática
5
ROSA
Mãe
43
GIRASSOL
Mãe
44
MARGARI
DA
Mãe
45
Do lar
22
9
Motociclista
4
CRAVO
Mãe
44
Lavradora
21
12
Lavrador
1,5
JASMIM
Filha
25
Auxiliar
administrati
vo
61
10
Trabalha em
um sítio
1,5
ORQUÍDE
A
Esposa
28
Bordadeira
32
12
LÍRIO
Irmã
31
Bilheteira
33
11
Fonte: salário mínimo vigente em Belo Horizonte 2003 - R$ 240,00
Mecânica de
bicicleta
Desempregad
o
1
1,5
79
O fato de conhecer os sujeitos que fizeram parte da pesquisa
abrilhantou esta análise. Os dados mostraram que 100% das cuidadoras de
referência deste estudo são mulheres, e exerciam outra função além das
tarefas domésticas. Coelho (2003) oferece argumentos para a análise da
categoria de gênero, como sendo uma referência central para a compreensão
do cuidado em saúde, ao afirmar:
A definição de gênero como categoria de análise de
fenômenos históricos e sociais foi elaborada pela
historiadora norte-americana, Joan Scott, no início da
década de 80. Para a autora, gênero é “um elemento
constitutivo
das
relações
sociais,
baseado
nas
diferenças anatômicas percebidas entre os sexos.
Gênero é uma primeira forma de significar as relações
de poder”.
Machado (2002:24) corrobora a idéia quando afirma que, no final
do Séc. XX, a entrada das mulheres no mercado de trabalho teve um impacto
substantivo na construção das identidades e subjetividade femininas; assim,
tanto para as mulheres que trabalham em casa como para as que trabalham
fora de casa o trabalho aumentou.
A faixa etária dos portadores de TCE foi considerada como critério
por ser um dado importante no acompanhamento e cuidado hospitalar e no
domicílio. Os portadores de TCE que participaram desta pesquisa eram
pessoas que estavam em sintonia com o mundo do trabalho, da cotidianidade
de uma existência; de repente tiveram de dar um tempo, só que como
portadores de TCE não se define esse tempo.
Outro dado importante é a avaliação neurológica a partir da ECG.
Essa escala é um instrumento utilizado para avaliar a evolução neurológica dos
pacientes e as possíveis incapacitações relacionadas ao trauma. Sustenta-se
em três parâmetros independentes: abertura ocular, resposta motora e
resposta verbal. Cada parâmetro recebe uma pontuação cujo total situa-se
entre os valores de 3 a 15 de escore. Quanto menor o total de pontos mais
grave é o grau do coma. Essa escala permitiu aproximar do instrumento que
seria o ponto chave para a escolha do sujeito desta pesquisa: selecionamos
pacientes com 9 a 12 de escore na ECG, por representarem TCE moderado; e
iriam para o domicílio portadores de seqüelas e necessitariam de alguém para
cuidá-los.
Quanto ao tipo de ocupação exercida pelo pacientes é preciso
aguardar o tempo, ele é que direcionará a atividade profissional do mesmo
interrompida repentinamente.
Quanto à renda familiar, é importante destacar que ela foi
mencionada, porque alguns gastos extras aparecem com a doença, tais como:
alimentação, medicação, fralda, locomoção, mas não apareceu como problema
para nenhuma das famílias.
Estas mulheres se desdobram e cuidam de seus parentes, colocamse em segundo plano e prosseguem o caminhar...
GIRASSOL – Larguei tudo: trabalho, faculdade, e agora, no primeiro
momento, no momento que ele tá precisando, então vou dedicar a ele.
Estou me virando de todas as formas. Tiro licença é, até eu poder voltar a
trabalhar. Se não conseguir licença mais, eu tiro licença sem vencimento.
Mas agora ele precisa de mim, vou cuidar dele.
MARGARIDA – Larguei o que eu estava fazendo e vim para o hospital
com o meu outro filho, mas achei que ele estava morto.
Essas mulheres possuem planos, expectativas, mantêm projetos.
Mulheres jovens, em plena sintonia com a vida, com idade entre 25 e 45 anos.
Mas diante de situação tão complexa elas tiveram de interromper parte de seus
planos, e prosseguir na busca pela saúde de seu parente.
Quando comecei a conversa com as cuidadoras, percebi a dor, o
sofrimento, a esperança, a coragem, a fragilidade e a perseverança que elas
relatavam ou manifestavam. Acreditam que tudo “acaba bem”.
GIRASSOL – Eu acredito, sinceridade, que ele vai sair desta. Ele pode sair
com alguma deficiência, com a auto-estima baixíssima, uma depressão
horrorosa, mas eu acredito que ele vai sair desta e vai conseguir voltar a
estudar”. (Ele é calouro de direito, iniciando sua busca profissional).
Essa perseverança foi observada durante a formulação da análise,
entretanto o estado de saúde do filho de Girassol complicou- se, o escore na
ECG diminuiu, impossibilitando a volta ao domicílio. Até o final da análise,
outubro/2003, ele ainda estava internado e com o acompanhamento hospitalar.
Ela não desiste e acredita: ele retornará ao domicílio.
A história começa assim:
Recebendo a notícia...
Receber a notícia de que “alguém” do grupo familiar está
acidentado, ir ao local e verificar a cena é desafiador. Assim começam várias
histórias que terão diferentes finais. Só temos uma certeza: é a repercussão da
epidemia denominada trauma, que passa a exigir a reorganização da atenção
pré-hospitalar, hospitalar e domiciliar.
Essa notícia aparece como uma “bomba” e se a família não se
estruturar poderá ocorrer alteração (permanente ou temporária) nas relações
do grupo familiar.
GIRASSOL – Eu estava dormindo sozinha, meu marido estava viajando,
eram quatro horas da manhã. A polícia me avisou que havia acontecido o
acidente com o A. Peguei o carro e fui para o local, pedindo a Deus força.
Quando cheguei lá não acreditava que meu filho estava vivo, o carro
acabou. Os dois colegas estavam estendidos no chão, passa a mão no
cabelo, pensei que meu filho era um deles... após a descrição das roupas
pude constatar que o meu filho era o único sobrevivente e que havia sido o
transportado pelo resgate.
MARGARIDA – Ele tinha ido para o jogo; era domingo, fim de tarde,
quando recebemos a notícia que R. havia batido com a moto, que já havia
sido encaminhado ao Pronto Socorro pelo resgate. Meu marido foi para o
local do acidente, precisa de alguém para rebocar a moto e eu fui para o
hospital.
CRAVO – Eu tava em casa, ele pegô a moto e foi pegar um dinheiro
emprestado para o pai ele havia pago uma dívida neste dia; como o pai
estava precisando ele ia novamente pedir o dinheiro, aí chegou a notícia
que se deu o acidente. Nós quais morreu de susto, a família toda.
LÍRIO – Estamos no AA, eu é que levo, ele é alcoólatra. Estava na hora da
reunião, ele tropeçou e caiu, bateu a cabeça no chão, não deu outra,
desmaiou na hora, foi horrível, chamado o resgate, levaram ele para o
Pronto Socorro.
JASMIM – Ele estava passando pela rodovia da Cia. Rio Doce. O senhor
falou que dava tempo de passar. Só que uma máquina entrou em
movimento houve o acidente, posteriormente ele bateu a cabeça no trilho.
ORQUÍDEA – Ficamos sabendo por um amigo, a moto bateu e ele
precisava de um hospital em Belo Horizonte, nós somos de Conceição do
Mato Dentro.
A notícia recebida pelos familiares e amigos passa a exigir de todos
uma imediata reorganização das relações no grupo familiar. Assim as
cuidadoras falaram sobre o momento em que elas viveram a cena,
expressando o seu sentimento. Através da fala dessas mulheres, observa-se o
movimento de mudança que ocorreu na vida de cada uma, nas vidas
transformadas de maneira abrupta, e que se reflete nos gestos, em cada
lágrima em cada olhar.
Ao escutar o relato das cuidadoras, às vezes as emoções delas se
misturavam com as minhas, tamanha a sinceridade que elas revelaram em
suas falas. E elas me perguntavam: por que esta entrevista não acontece
antes, pois precisamos de um momento para tentar compreender o que é isto
que se passa com as nossas vidas” (Diário de campo, página 26).
Apesar dos problemas do mundo, as pessoas estão articuladas e
tentam sobreviver mesmo que o momento represente uma catástrofe. Através
das falas das entrevistadas e da minha experiência em trabalhar no setor de
pessoas em situação crítica, pude refletir a respeito das tecnologias utilizadas
nestes grandes centros, deixando muitas vezes esquecida a atenção aos
familiares.
A chegada do familiar ao hospital.
Hospital é um local onde se reúnem recursos para cuidar do ser
humano atendendo a todas as suas necessidades e demandas. A enfermidade
arranca bruscamente a pessoa do seu meio e de sua família, leva-o a um
hospital talvez pela primeira vez e, no caso de acidente, de maneira
inesperada.
GIRASSOL – Cheguei ao hospital ele estava na sala1, num canto, com um
respirador, ainda sujo, foi horrível, eu cheguei perto dele e conversei com
ele, dizendo que ele dava conta, o médico chegou a me dizer que ele não
estava escutando, conversei assim mesmo, acreditava que ele ia viver.
MARGARIDA – Ele estava no RX, só vi o pé brando... pensei que havia
morrido.
LÍRIO – Cheguei com ele, tudo é muito rápido, eu fiquei fazendo a ficha e
ele foi levado para aquela sala... lá é muito triste.
Vivenciar este momento do primeiro contato efetivo com o seu
parente acidentado, principalmente em um hospital destinado a atenção de
urgência e emergência é um acontecimento marcante para uma família.
Quando ela chega principalmente em uma sala de politrauma, já se instala um
momento de angústia: esta sala sempre está superlotada, pois a demanda
ultrapassa a capacidade hospitalar; “o hospital, de fato, tem funcionado como o
‘centro de saúde’, algo como um ‘buraco negro’, que atrai uma grande
demanda ‘distorcida’, que acaba sobrecarregando todos os serviços” (Cecílio,
2000:4).
O movimento acima da capacidade nos hospitais dificulta a equipe a
prestar assistência aos familiares, mas o hospital conta com o profissional
assistente social que é a referência para os familiares no que diz respeito às
questões sociais. Por ser um local de atendimento de “porta aberta”, muitas
vezes o portador de um agravo fica no setor de observação imediata por horas
ou dias até conseguir um leito para sua internação no próprio hospital ou sua
transferência para uma outra instituição, o que causa maior expectativa no
familiar quanto ao prosseguimento da assistência. E o faz esperar
ansiosamente pela transferência.
Recebendo a notícia sobre o paciente.
Receber a notícia não é um bom momento, pois há muitas
contradições e incertezas sobre a vida da pessoa nas primeiras horas após o
acidente. O trauma craniano representa uma situação de risco de morte e uma
imprevisibilidade de controle e, às vezes, de planejamento para as famílias.
ROSA – Ele teve um traumatismo craniano gravíssimo, que no princípio,
os médicos não estavam acreditando que ele ia sobreviver, sinceramente.
Agora que já passou, os médicos chegaram a dizer que não dava 12 horas
de vida para ele. Foi complicado, teve SARA, abscesso pulmonar, depois
evoluiu para um pneumotórax, em resumo: era gravíssimo, continua grave,
mas melhorou em vista do dia que ele entrou no CTI ele sobreviveu de
novo.
GIRASSOL – No primeiro momento foi colocado que era uma doença
gravíssima e que possivelmente poderia vir a óbito e que se caso
acontecesse dele viver que é muito difícil, seria todo sequelado. Foi a
primeira informação que eu tive.
MARGARIDA – Não sei praticamente nada. Falou que é TCE grave. O
quadro dele, o diagnóstico, TCE grave, traumatismo craniano encefálico,
muito grave. Primeiro a tomografia o médico achou que tinha constatado
uma fraturazinha no crânio, mas depois, foi constatado que não. Que era
um pequeno coágulo e, graças a Deus, não houve fratura, mas
traumatismo cranioencefálico grave.
CRAVO – Falou que através dele ter batido, é uma doença muito
complicada. E aí no que ele falou, falei: é essa doença é muito complicada,
mas, pra Deus não tem nada impossível.
JASMIM – O que me assustou muito da doença, nem foi a cirurgia, que eu
sei que ele estava nas mãos primeiro de Deus, depois de um grande
médico que foi o Dr. Flávio, agora o que me assustou mais foi o coma e
assustou não só a mim todo mundo da minha família e todo mundo que
conhece meu pai.
ORQUÍDEA – Ele teve um traumatismo craniano gravíssimo que no
princípio os médicos não estavam mesmo acreditando que ele ia
sobreviver. Foi terrível.
LÍRIO – O médico disse que era gravíssimo, necessitava de uma cirurgia
urgente na cabeça.
A expectativa que se cria em torno da notícia do acidente de uma
pessoa da família é algo assustador; um misto de querer ouvir e não querer
perceber, um conflito interior muito grande. Há sempre um familiar que deseja
escutar uma “boa notícia“ nesse momento. São pessoas que representam
muito na vida dos grupos. Coutinho (1998) e Coutinho (2003) afirmam que, no
Brasil, o TCE atinge principalmente a faixa etária produtiva de 15 - 24 anos,
sendo o acidente de trânsito responsável por cerca de 60/70% dos casos de
TCE grave. São jovens, com futuro promissor, exemplo claro do filho de Rosa,
que se acidentou indo para a faculdade de direito onde estava cursando o 1º
ano. Com tantos problemas a família se apega a Deus, à fé, o que é revelado
nos discursos a seguir.
DEUS presente no processo de cura.
ROSA – ...acredito em um milagre. Já houve um milagre por parte de
Deus para ele. Eu acredito que ele... é lógico, ele vai ter alguma
deficiência, mas nós vamos trabalhar em cima disso.
Bem, graças a Deus a gente mora em casa numa casa em que ele tem o
quarto dele sozinho. Banheiro a gente tem dois na área e um dentro de
casa, dependendo do grau, vamos supor que ele não vai andar, mas eu
acho que ele vai andar por que ele tem movimento, tá? Se for preciso, a
gente adapta esse banheiro da área dentro do quarto dele. Eu não sei
como ele vai ficar, talvez tenha que mudar de cama, alguma coisa assim ,
e ficar por conta dele. Eu acredito que ele vai sair desta; ele pode sair com
alguma deficiência, com a auto-estima baixíssima, uma depressão
horrorosa, mas eu acredito que ele vai sair e vai conseguir voltar a estudar.
...tem vizinho bisbilhoteiro. Aqui eles já falaram de amputar a perna dele
na realidade amputou os artelhos do membro inferior direito, isso e aquilo
ele vai viver como um vegetal e assim por diante, a gente tem que tolerar
tudo isso. A minha menina de 11 anos escuta tudo isso; é um terror. Vou
conseguir, eu tenho fé em Deus.
GIRASSOL – No primeiro momento quando fiquei sabendo, eu coloquei
nas mãos de Deus e disse: Deus é maior e ele está mostrando que é
maior.
...da melhor maneira possível, todas as pessoas conhecidas, amigos, tão
dando o maior apoio, então agradeço a Deus demais por isso, pela vida
que ele devolveu para ele, por que ele renasceu de novo, ressuscitou, ele
é o exemplo puro de bondade do poder de Deus. Então a família tá assim:
todos nós estamos ansiosos que ele volte rápido. É tudo.
MARGARIDA – Não sei praticamente nada. Falou que é TCE grave, ...
traumatismo craniencefálico grave, muito grave. Primeiro a tomografia o
médico achou que tinha constatado uma fraturazinha no crânio, mas
depois, foi constatado que não. Que era um pequeno coágulo e, graças a
Deus, não houve fratura, mas traumatismo craniencefálico grave.
....parece que Jesus me concedeu um milagre.
CRAVO – Falou que através dele ter batido a cabeça muito complicada. E
aí no que ele falou, falei: é essa doença é muito complicada, mas pra Deus
não tem nada impossível.
...é eu fico pensando assim: se ele ficar com algum problema, o que é que
nós deveria fazer, mas eu penso assim. Seja o que Deus quiser. Eu cuido
dele com toda a paciência.
...Pensando Deus me dar força, saúde, que possa guentar tudo isso. E
Deus dá força os outros irmãos para nós podê trabaiá pra tratar dele.
JASMIM – O que me assustou muito da doença, nem foi tanto a cirurgia,
que eu sei que ele estava nas mãos primeiro de Deus, depois de um
grande médico que foi Dr. Flávio. Agora o que me assustou mais foi o
coma, e assustou não só a mim, todo mundo da minha família e todo
mundo que conhece meu pai.
...Mas não o é, o pai, ele é uma pessoa assim fundamental. Uma pessoa
que nunca aceitou uma mentira sempre ensinou o caminho correto, do
bem e...nossa! acho que o nosso amor, primeiro o amor de Deus, depois o
nosso amor que tá fazendo tudo funcionar.
ORQUÍDEA – Eu estou pensando assim que os familiares dele vão me
ajudar, que graças a Deus eu vou ter o apoio deles para me ajudar.
LÍRIO – ...Deus vai ajudar.
Este subtema “Deus presente no processo de Cura”, aparece na
fala de todas as cuidadoras, e deve ser tratado como auxílio ao diagnóstico,
por entender que a fé faz parte da vida dessas pessoas, são seus valores,
hábitos sociais e familiares. Independentemente da religião (católica,
evangélica, batista, etc), estas mulheres acreditam em um “Deus” e apóiam-se
nele como auxílio para a vida delas e do paciente que necessita.
A religião deve contribuir como suporte terapêutico nesse momento
de vida, mas não se pode esquecer da razão. A carta encíclica “Fides et Ratio”
(1998:66) contribui com este pensamento citando uma passagem em que
Santo Tomás coloca que a fé não teme a razão e sim aperfeiçoa a razão; esta
é iluminada pela fé, fica liberta das fraquezas e limitações. Seria bom portanto
orientar as famílias sobre a importância de acreditar sem perder a
racionalidade.
A religião influencia o modo de pensar das pessoas. (Wright,
2002:82) destaca:
a avaliação da influência da religião é mais crítica no momento
do diagnóstico ou de doença com potencial risco de vida. A
avaliação é especialmente relevante quando existe uma crise
como
morte
traumática
causada
por
um
acidente
automobilístico, violência ou abuso.
É um dos pontos de sustentação de um grupo familiar no momento
de dor.Citando novamente a encíclica “Fides et Ratio”, nela há também uma
passagem em que se coloca “quanto mais o homem conhece a realidade e o
mundo, tanto mais conhece a si mesmo na sua unicidade se tornando cada vez
mais premente a questão do sentimento das coisas e da sua própria existência;
portanto, o que chega a ser objeto do seu conhecimento, torna-se parte da
vida. Sendo assim, lidar com a fragilidade de estar envolvido em situações de
doença, exige uma razão muito grande, para não acreditar somente na força
de” Um ser maior”.
Isso posto, podemos avaliar a importância da espiritualidade, da fé
para as cuidadoras, pois a religião é um apoio e a família tenta encontrar
através dela “um significado em seu sofrimento e desconforto” (Wright,
2002:85) e aceitar as transformações impostas pela vida.
A UTI
Quando o paciente é transferido para a UTI no hospital João XXIII, a
família começa a reorganizar as idéias, pois eles acreditam na “salvação e
milagre do setor”. A “UTI centraliza os doentes em estado crítico, na tentativa
de melhorar a assistência a eles prestada”, como descreve Domingues
(1999:9). Sendo assim, “a criação da UTI surgiu da necessidade de centralizar
recursos humanos e equipamentos, com o objetivo de prestar um atendimento
adequado a pacientes graves” (Santos, 2001:1115), mas acreditamos que sua
função vai além dessas definições, pautadas em conhecimento e humanização
da equipe, não em realizar milagres.
ROSA – Esperei muito o CTI, aqui tem tudo.
GIRASSOL – Eles nem queriam trazer para o CTI, era muito grave.
MARGARIDA – aguardamos o CTI vários dias.
É importante destacar que embora as tecnologias apontem para
vários caminhos, até mesmo para uma reflexão ética, é através delas que a
sociedade se organiza e prossegue o caminhar utilizando as mudanças que
advêm das mesmas, as que ajudam hoje a cuidar de pacientes que estão
seqüelados e antes morriam por falta de cuidado e conhecimento de uma
equipe.
Cecílio14 (2003), ao destacar a importância das tecnologias em
saúde, descreve três delas: tecnologias, leves, duras e leve-duras. Ainda é
predominante no setor saúde e muito especialmente nos serviços de
tratamento intensivo o uso das tecnologias duras, e a sustentação de seu valor
deve ser enfatizada. No entanto, os dados das entrevistas revelaram a
importância e a necessidade de se intensificar o uso das tecnologias leves, as
quais podem orientar e sustentar as relações de subjetividade, fundamentais
para estabelecer a ação comunicativa não só com o portador de TCE, mas
muito especialmente com os familiares.
Apesar da tecnologia de ponta, a atenção aos familiares do paciente
de TCE ainda deixa a desejar, pois a “enfermeira que trabalha dentro de uma
UTI também sofre reflexos desse contexto e pode experimentar uma variedade
de situações estressantes relacionados ao estado crítico dos pacientes”
(Wrigth, 1999:40). Em meio ao estresse gerado pelo modelo de assistência na
UTI, a família fica secundarizada, e o enfermeiro se esquece de que esta pode
ser um forte aliado no tratamento.
A Importância do paciente para a família
Todos nós fazemos parte de uma família, sendo assim, quando um
“trauma” acomete um de seus integrantes o grupo fica fragilizado.
ROSA – Olha, nós somos em quatro pessoas: ele, a irmã de 11 anos, o pai
e eu, a mãe. Todos nós somos importantíssimos, qualquer um é como se
fosse um braço, uma perna da família. Ele é muito importante.
14
Tecnologias duras - aquelas ligadas a equipamentos, procedimentos; tecnologias leve-duras:
aquelas decorrentes do uso de saberes bem estruturados, como a clínica e a Epidemiologia;
tecnologias leves: aquelas relacionais, no espaço intersubjetivo do profissional de saúde e
paciente.
GIRASSOL – Representa tudo, tudo. Então para nós é tudo. Nós somos
quatro. Tenho uma filha de 19 anos que mora em Portugal, em casa
somos agora nós três.
MARGARIDA – Ele é muito importante, ele é meu segundo filho, embora
ele sempre foi o filho mais levado, mais aventureiro. Ele é muito importante
para gente.
Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho cinco e todos moram comigo.
CRAVO – Ai, eu acho ele muito importante. Que ele é muito bediente, ele
assim sempre cuidou de ajudar o pai. Trabaia, cuida da casa como agora,
nós construiu uma casa. Ele largou tudo o dia inteiro, ele tava rebocando,
tadinho. Aí ele começou o namoro e tá falando de casá. Oh! filho agora
você pára de ajuda nós, por que se tem que fazer pra ocê. Aí, conteceu
esse acidente com ele, mas, mesmo assim ele ajuda ainda nós.
JASMIN – Nossa! Muito grande! É um suporte, é um apoio, é uma pessoa
responsável.
LÍRIO – Ele é muito importante é o homem da casa; sou eu, ele e mamãe.
É fundamental reconhecer que a família “tem um papel significante
no restabelecimento e na manutenção da saúde” (Altoff, 1998:321).
É necessário que a equipe multiprofissional de saúde valorize e
apóie os familiares, considerando que eles são os mais fortes aliados no
período do tratamento, pois o fato de o cuidador acompanhar cada passo, cada
mudança no prognóstico do portador de TCE deverá ajudá-lo a entender parte
do que se passa. Os depoimentos constantes nesta pesquisa revelam uma
série de contradições vivenciadas pelos integrantes da família. São
contradições que acontecem no caminhar da doença.
Como a família é um grupo, sempre existe um cuidando do outro.
Por meio dessas entrevistadas, percebe-se como o grupo se desarticula
quando um de seus componentes se desloca por uma causa, como uma
enfermidade.
A minha experiência permite reconhecer que a evolução do paciente
portador do TCE passa por mudanças importantes em todo o seu quadro
clínico. Evolução às vezes arrastando-se na defesa da vida. Essas mudanças
geram enormes expectativas para a família que com o tempo, passa a
compreender a gravidade do parente e a nova realidade a ser vivida; que vai
muito além do impacto do acidente e da possibilidade de vida, a instalação
da(s) seqüela(s). É nesse momento de profundas e intensas modificações que
as famílias passam a conviver com uma nova realidade; as transformações
pelas quais passa o portador de TCE e vão lhe configurar um novo estilo de
vida. As novas condições do portador de TCE têm repercussões importantes
no grupo familiar. Parece ser neste intenso movimento que vai se definindo o
papel de cada um dos integrantes da família, incluindo a definição de quem
será o cuidador de referência. A mãe é quase sempre a primeira a se destacar
para esta tarefa.
O portador de TCE e a família traumatizada.
Processar este momento, a adversidade do trauma, não é fácil.
Vivenciar a nova situação traumática que está acontecendo e a expectativa de
mudança na evolução do portador de TCE exige do familiar e do possível
cuidador uma postura que, às vezes, não é a desejada. Assim os familiares se
expressam muitas vezes como podem, revelando conflitos e muitas
expectativas, como expresso nos discursos a seguir.
ROSA – Um pesadelo, um pesadelo muito grande, já vai para quantos
dias, já perdi a conta...
MARGARIDA – Agora, até que ele já voltou a si, já tá consciente, tá
conversando mal, mas tá. Ainda não voltou bem a consciência dele, mas,
já tá reagindo assim, já conhece, tem hora que lembra de alguma coisa,
outra não. Tá muito confuso ainda, inclusive a primeira pergunta que fiz
para ele, foi “onde que ele estava” ele falou que ele estava no cemitério.
Isso aí abalou a gente, sabe? A gente ficou muito triste com esta resposta
dele. E então, mas, a primeira semana dele foi dolorosa. Um dos primeiros
dias ... ele ficou sete dias em coma. Ele teve um acidente no domingo
depois do jogo. E ficou até na quinta-feira, e ainda coma induzido. Aí, na
quinta-feira, o médico falou “comecei a tirar o medicamento sedativo dele”.
Só que até no sábado, ainda não tinha voltado a consciência, não tinha
acordado. Aí, no sábado, eu já estava desesperada. A partir de domingo
parece que Jesus me concedeu um milagre. Cheguei aqui no domingo ele
já estava acordado, e assim, voltando a consciência, mais ou menos. Por
enquanto ele ainda não tá bem.
CRAVO – Ah! Tá uma tristeza. Contanto meu marido veio aqui ele nem
aguentô. Ele veio dois dias e nem aguentô assim apaixonado. Lá em casa
ninguém come. Eu também, pergunta ela, eu não tenho sono, eu não
como. Tenho aquela tristeza. Muito obediente ele, e assim. Nunca me
respondeu, e assim: tudo trabaiador, chega aquele tanto assim na hora de
jantar, noutro dia eles vai quatro hora pro serviço me abalou demais. Pra
mim assim eu tô na escuridão.
JASMIM – Está sendo uma coisa assim muito traumatizante. Uma pessoa
que nunca teve nada. Antes dele casar com minha mãe, ele sofreu um
acidente. Também tava próximo a um caminhão, o pneu tava sendo
trocado, estourou, então ele praticamente quase perdeu o pé . Teve que
fazê uma plástica. Mas isso há muitos anos e depois disso nunca mais.
Uma pessoa que nunca foi internada, nunca teve nada de saúde, nada.
Então de uma hora pra outra, imagina, aí acontece uma coisa dessa.
Então a gente não sabe, assim, o que, que pode ficar depois. Mas o que
incomoda mais é a falta que ele tá fazendo. Você vê, são o quê: quase uns
quarenta dias no hospital.
ORQUÍDEA – Difícil, difícil para melhor por que ele já está recuperando,
então...
LÍRIO – É um tormento, eu já cuidava dele, ele é alcoólatra, está
freqüentando o AA.
Estando atuando neste ambiente de UTI, é muito importante que a
equipe multiprofissional mantenha-se em comunicação permanente com a
família para que esta possa ter as informações que lhe permitem acompanhar
a evolução do estado clínico e das condições vitais do seu familiar e amenizar
a difícil tarefa de aguardar uma evolução que depende das condições do
indivíduo em responder ao tratamento das afecções cerebrais e de outros
órgãos que possam estar acometidos. Depende ainda de prevenir as sequelas.
Muitas vezes a evolução é lenta, o que requer o estabelecimento de novas
relações a cada momento entre a equipe multiprofissional e a família. Nessa
fase, a utilização máxima das tecnologias leves é de fundamental importância.
Aqui fica explícito o valor das relações de intersubjetividade com o portador de
TCE, os profissionais os familiares. Portanto, é necessário considerar que
...qualquer alteração que tenha ocorrido na evolução clínica do
paciente deve ser comunicada ao médico assistente. Lembrese de que ele é seu parceiro e, muitas vezes, o elo entre a
equipe da UTI e os familiares. Procedendo desta maneira, você
assegura que o médico assistente e os próprios familiares
estejam a par da evolução, e cientes de que condutas
adequadas estão sendo adotadas (Coelho et al., 2001:79).
A família deve ser alertada para o momento da alta do portador de
TCE. Deve ser informada sobre o tipo de seqüela e sobre os cuidados
requeridos, para que seus membros possam organizar-se para realizá-los no
domicílio. Esses cuidados, em alguns casos, a família precisará aprendê-los;
contudo, mesmo na dor, ela não abandona o barco. Posiciona-se e segue em
frente.
É nesta fase que antecede a alta que situações conflituosas
aumentam: um misto de olhar sem ver, acreditar sem desacreditar, sonhar sem
tirar os pés do chão. São as contradições presentes na história de cada
cuidadora, um movimento dinâmico interior para poder viver a vida. Nessa fase,
é importante procurar amenizar a situação: “durante as visitas, a equipe
(médicos e enfermagem) deve permanecer ‘visível’ ou facilmente alcançável”
(Conceição, 2001:83), captando as contradições que se revelam e orientando o
familiar sobre as dúvidas que se impõem nesse momento.
Mudança na vida do cuidador de referência
Assim que o processo se instala – a gravidade do caso, o saber real
/ o saber imaginário, as contradições –, revela-se para a cuidadora de
referência um futuro incerto. A partir das falas dessas entrevistadas podemos
captar as mudanças em relação à vida pessoal de cada uma delas.
ROSA – Eu acho que paralisou tudo. A minha vida, a dele, a de todo
mundo. O pai trabalha fora, sempre viajou. Eu sempre tomei conta de
meus dois filhos. Então, agora eu fico dividida.Eu ainda moro em outra
cidade, trabalho lá 12horas e folgo 60horas, é a conta de chegar em casa
preparar alguma coisa para minha filha comer de qualquer jeito. Eu estou
largando tudo para vim ficar com ele.
Volto para casa durmo com ela de noite. Eu no momento não tem
importância, tenho que cuidar da minha saúde, comer direito, eu tenho que
procurar dormir; é pouco mas tenho que procurar dormir porque eu não
posso baquear agora .
GIRASSOL – Ah! No primeiro momento eu estou olhando ele mesmo e
depois eu vou ver. De acordo com as necessidades dele é que eu vou ver
como é que vou organizar a minha vida agora, por que a minha anterior
acabou. Então não tem como eu viver como eu vivia antes, então, a partir
de agora é que vou ver a convivência dele em casa, no tempo que vou
dedicar para ver como que vou organizar a minha vida particular. Mais em
cima da vida dele ali. Então, ele e as outras coisas, vou organizando para
se ajeitar, mas primeiro ele.
MARGARIDA – A minha vida parece que vai ficar um pouco parada.
Enquanto eu tiver, vou me dedicar a ele. Então na minha vida eu não tô
pensando muito não, mais é nele mesmo.
CRAVO – Pensando Deus me dar força, saúde, que possa guentar tudo
isso. E Deus dá força os outros irmãos pra nós podê trabaiá pra tratar dele.
LÍRIO – Meus projetos pessoais vão parar, até a gente vê o que vai dar.
Por mais que se não queira, o cuidar de um familiar doente se traduz
em mudanças, principalmente, na vida de quem cuida. Conforme os discursos
mencionados, as mulheres, após viverem a adversidade do acidente, se
tornarão cuidadoras de referência para o paciente e todo o seu grupo familiar.
Para elas, a vida neste momento se resume em cuidar. As suas questões
pessoais são colocadas em segundo plano. Assim, tão logo acontecer a
melhora do seu parente, ela poderá voltar a pensar em si própria.
As mudanças que ocorrem na estrutura domiciliar devem resguardar
o cuidador para que ele não se torne vítima do seu ato de cuidar, além de
suportar o enorme problema. Este cuidador é portador de uma vida pessoal. O
ato de tornar-se cuidador de referência produz algum comprometimento da vida
pessoal, da vida afetiva e até mesmo das condições financeiras. Mas é
oportuno lembrar que, em momento algum, “o ato de cuidar” se torna um
impedimento para prosseguir a vida; o que pode acontecer ao longo do tempo
é um cansaço. Marcon (1998), citando Goldstein Regnery (1981), afirma que é
comum o aparecimento de fadiga, uma vez que normalmente, soma-se ao
papel de cuidador uma série de outras atividades que a pessoa precisa
continuar desenvolvendo.
Isto foi percebido na prática quando visitamos a Margarida e a
Girassol um mês após a alta hospitalar; elas já conseguiam realizar o cuidado
no domicílio e reestruturar a suas vidas pessoal e em família. Girassol havia
retomado parte de suas atividades, que é a Faculdade de Educação, pois se
não retornasse poderia perder o semestre letivo.
Contudo, temos de apoiar essas cuidadoras porque as novas
responsabilidades que elas assumirão, irão ao encontro de outras atividades
familiares, profissionais, sociais, conjugais, para que elas não se tornem
cuidadoras sobrecarregadas e com possíveis adoecimentos.
O ato de cuidar no domicílio, locus do cuidado
O domicílio como espaço de cuidar desde o nascimento até a morte.
Quando essas cuidadoras começam a pensar no retorno do seu parente/
familiar ao lar, em situação de dependência, elas sabem que vão “dar um
tempo” em suas relações pessoais, para cuidar de quem mais precisa. Nesse
momento, elas se preparam para o acontecimento esperado, a alta hospitalar.
Em casa o seu parente/paciente ficará mais próximo de toda a família, de seus
amigos e de seu cotidiano, agora alterado. As cuidadoras entendem a ida para
casa como um benefício para seu familiar, e isto deverá ser realmente benéfico
para ele, conforme se vê pelos depoimentos:
ROSA – No caso, serei eu com certeza, eu vou cuidar dele, depois que
tiver ultrapassado todos os recursos hospitalares; do jeito que ele ficar
(que eu não sei) espero... acredito em um milagre. Já houve um milagre da
parte de Deus para ele. Eu acredito que ele, é lógico, ele vai ter alguma
deficiência, mas nós vamos trabalhar em cima disso.
GIRASSOL – Ah! No primeiro momento eu estou olhando ele mesmo e
depois eu vou ver. De acordo com as necessidades dele é que eu vou ver
como é que vou organizar a minha vida agora, porque a minha anterior
acabou. Então não tem como eu viver como eu vivia antes, então, a partir
de agora é que vou ver a convivência dele em casa, no tempo que vou
dedicar para ver como que vou organizar a minha vida particular. Mais em
cima da vida dele ali. Então, ele e as outras coisas, vou organizando para
se ajeitar, mas primeiro ele.
MARGARIDA – Agora, eu pretendo dedicar meu tempo que for preciso
para a recuperação dele. Para ajudá-lo, vou arrumar o quartinho para
assim ele ficar confortável para atender todas as necessidades que ele
tiver na sua enfermidade.
CRAVO – È, eu fico pensando assim: se ele ficar com algum problema, o
que é que nós deveria fazer. Mas eu penso assim: Seja o que Deus quiser.
Eu cuido dele com toda a paciência. Que ele ajudou a criar seus outros
irmãos, então eu largo tudo, modo de cuidar dele. Por que vale a pena
cuidar dele.
JASMIM – Ele vai voltar para o interior, nós estamos pensando em mudar
algumas coisas igual por exemplo: o quarto vai ter que ter espaço, então a
gente tá pensando em passar para um espaço maior, uma cama de
solteiro que é muito difícil cuidar de um paciente na cama de casal , até
você dá a volta. Vai ter que mudar alguma coisa lá para recebê-lo. Agora,
o que me preocupa, Marta, é a questão do...é essa questão do enfermeiro,
do banho. Porque no hospital dá o banho na cama, mas em casa, para
mim dar banho, tenho ...até eu virar a pessoa, mesmo que eu coloco um
plástico eu penso em tudo, eu fico esquematizando.
ORQUÍDEA – Vou cuidar. A partir do momento que você casa com a
pessoa, você é mãe dele e ele é sua mãe. Então a gente cuida como se
fosse um filho; no caso se fosse eu, ele ia cuidar de mim como no caso eu
vou fazer com ele.
LÍRIO – Levar para casa, procurar ajuda em um posto de saúde para nos
orientar, falta dinheiro ... vamos ter muito cuidado no que ele precisar.
O cuidado desenvolvido no domicílio, segundo Sena (2000:545),
sempre existiu, desde o início da era cristã quando as pessoas doentes eram
tratadas em casa, freqüentemente por uma mulher – mãe, familiar ou pessoas
da comunidade. Assim, o domicílio sempre foi o espaço do cuidar, do
nascimento até a morte. Dessa forma, após passar pela etapa da
hospitalização, é chegada a hora do retorno ao local de origem, o domicílio.
Pode-se perceber que este momento é marcado pela preocupação,
arrumar o ambiente, arrumar um novo lugar para o “novo” familiar. Outra
preocupação que se faz presente é com a organização do tempo, pois, além
das tarefas anteriormente vividas, agora a cuidadora acrescenta mais esta que
não pode ser realizada de qualquer jeito. O Cuidar, segundo Boff (1999:96),
contribui para essa preocupação: “cuidar é mais que um ato é uma atitude,
assim”. Cuidar é entrar em sintonia com as coisas auscultar-lhes o ritmo e
afinar-se com ele. Isto contribui para que o cuidado possa ser realizado em sua
totalidade.
As cuidadoras se anulam quando passam a viver a vida do ser
cuidado. Nas entrevistas elas não falam delas. Elas colocam-se claramente à
disposição para serem cuidadoras, com todas as suas potencialidades voltadas
para o ser cuidado.
Contudo, como ser humano, esta “cuidadora” vive em sociedade,
estabelece relações com pessoas, em determinados momentos, aparece e
destaca a necessidade de cuidar de alguém. Ela se anula, pois “cuidar faz
parte das necessidades de sobrevivência da vida Humana” (Capella, 2002:16).
A chegada do paciente no domicílio
É no domicílio que as primeiras relações se estabelecem, este
momento da chegada é muito conflituoso, pois o paciente está voltando a um
espaço que é seu, mas que nesse momento ele desconhece. Assim a família
pode apresentar necessidade de expressar de alguma forma esta angústia e
ansiedade, mas esse momento é de muita felicidade.
GIRASSOL – Expectativa muito grande, todos estavam esperando, assim
que ele estava de alta né, ele queria ir embora. Aí, todos estavam ansiosos
com a chegada dele, a minha preocupação era as escadas para subir para
ir ao quarto; ele estava bem mas fraco para andar. Ai, Deus ajudou e
cheguei aqui. Foi tranqüilo, um segura de um lado, o outro segura de outro
lado, foi pro quarto.
Parei de trabalhar, larguei faculdade, estou fazendo Veredas. O estado
pagou para nós, eu fiz vestibular e passei, tô no 4º ano, abandonei tudo e
fiquei por conta dele. É a primeira vez que ele precisou de mim, até então
não tinha adoecido, com 23 anos de idade nunca adoeceu, só doença de
criança.
MARGARIDA – A chegada foi muito boa, a família fica na expectativa dele
voltar para casa, muito bom saber que está em condições de alta,
melhorando,
conversando,
bastante
confuso
mas
conversando,
alimentando bem, graças a Deus , muito bom a volta dele para casa.
A volta é sempre uma expectativa, é o momento de ver se vai dar certo,
em cada família se processa de forma diferente, não podemos trabalhar no
contexto único.
O cuidar nos primeiros dias.
As famílias se organizam, cada um faz o que pode, mas a cuidadora
de referência é quem direciona todo o tratamento, assume realmente o cuidar
do paciente, desde o banho até a alimentação passando pelas trocas de
curativos; elas se cansam, mas não desistem, utilizam o senso comum para
desenvolver algumas ações, o seu dia-a-dia.
GIRASSOL – Ah! Na primeira semana foi muito difícil para mim. Eu fazia a
dieta de hora marcada, então sem ter costume, eu dava a dieta, fazia tudo
no liqüidificador, passava pela sonda. Aí, para a dieta ficar mais forte e ele
recuperar mais rápido, passava pela seringa, pois podia ficar mais grossa
(sopa, vitamina). Aí então era essa correria, fazia de hora marcada para
cumprir os horários; a escara que tinha que cuidar, banho, eu fui treinada
no hospital, mas fiquei com um medo danado de não dar conta, fiquei
apavorada, jamais poderia saber que uma ferida daquele tamanho, não
doesse, e hoje, ele diz que não dói. No primeiro momento parece que tá
doendo demais, aquela “coisa“ aberta sangrando, levei um susto danado,
achei que não ia dar conta de cuidar, o aparelho tem que tirar o macho
para lavar e limpar, mas dói em mim. Depois foi tranqüilo, acostumei; tudo
foi tranqüilo, a escara está quase fechada. Ele fica no sol, faço curativo
com Dersani. Tô usando Dersani até hoje, esta pequenininha.
MARGARIDA-– Ah! Um pouco mais preocupante foi a escara da região
sacra, já estava melhorando, mas como escara é uma ferida que custa a
cicatrizar, ainda está precisando de curativo duas vezes ao dia, mas o
resto foi tudo normal. Eu cuidei da escara, eles me encaminharam para o
posto de saúde que me orientou a usar Furacin ou Kollagenase pomada,
colocar duas vezes por dia, lavar e limpar bem, só isso. Banho ele tomava
sozinho, andava, não foi muito difícil, não..
O cuidar...
É fundamental entender que, para ser felizes dentro dos hospitais,
precisamos ter certeza de que a nossa missão, como seres vivos, é cuidar
de alguém, das pessoas, é cuidar da vida.
Maria Júlia
Respaldadas por este pensamento é que devemos direcionar o
nosso olhar para quem cuida, pois é chegada a hora de continuar a caminhada,
viver as transformações que ocorreram em tão poucos meses, mas que foram
de uma profundidade incalculável.
Chegou a hora de cuidar, as mudanças na realidade de vida destas
pessoas ensinaram-nas a serem diferentes, viver a transformações, os conflitos
já existentes e os que irão surgir; são mulheres maravilhosas, mães, esposa,
filha irmão que acreditaram, que continuam vivendo sua história, cuidando em
seus domicílios.
GIRASSOL – Cuidar em casa requer responsabilidade demais da gente,
não só como mãe, mas como cuidadora, a gente tem que ter aquela
responsabilidade, o cuidado. Mesmo a gente sendo humilde, o que não
pode faltar é higiene; cumprir os horários que são passados para a gente e
fazendo modificações que a gente achar necessária para ajudar no
tratamento, por que tem hora que a gente precisa fazer, faço muito da
minha forma. Me deram a idéia de colocar sustagem na dieta, aí passei
usar, tem que ter paciência demais, dedicação, no momento tem que
deixar mesmo, se isolar para cuidar daquela pessoa, por que requer muita
atenção.Tem que ter esta disponibilidade, paciência mesmo e acima de
tudo o amor, não só de mãe, mas amor com o ser humano.
MARGARIDA-– A gente cuida com amor... carinho, dando tudo da gente
na melhor das intenções para melhorar a situação deles, preocupada, de
vez em quando pede orientação no posto, outras vezes utiliza o que a
gente sabe, não foi difícil por que ele chegou andando, conversando,
tomando banho sozinho, com a mão direita paralisada, mas dava; o rosto
também estava paralisado do lado direito, não sei se é seqüela do trauma
ou se foi a lesão do tendão da mão. Nos primeiros dias ele ficou com o
lado direito do rosto parado, mas já voltou (fez fisioterapia), está quase
normal. O olho não fechava direito... aí o médico disse que com o tempo,
era ter paciência e esperar, ele fez fisioterapia no hospital Sara.
O cuidar exige velo, desvelo, exige deixar de ser para ser por um
momento para ser o outro e não podemos esquecer que “do ponto de vista
existencial, o cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser
humano, o que sempre significa dizer que ele se acha em toda atitude e
situação de fato” (Boff, 1999:34). E isso significa reconhecer na ação de cuidar
um novo modo de ser, de fazer, de amar. O cuidado revela a maneira concreta
de sermos humanos.
E a vida....
E a vida, e a vida o que é diga lá meu irmão ela é a batida de
um coração ou uma doce ilusão.
Gonzaguinha
Assim se passaram alguns meses. Tudo vai se ajeitando. Para estas
famílias este é o começo de uma nova vida, com muita mudança interior,
mudanças de valores, mudança de postura, aprendendo a lidar com o novo.
GIRASSOL – Minha vida por agora que estou começando, depois de
quatro meses, estou trabalhando um horário e de licença no outro, pois
preciso trabalhar em um vínculo por causa da faculdade, eu dependo, é o
estágio... estou começando a me ajeitar..
MARGARIDA – Uma experiência assim muito difícil, uma coisa que a
gente não esperava passar por isso na vida, mas ao mesmo tempo é uma
experiência que a gente passa a ter a mais na vida, a gente passa a dar
mais valor, ser mais amorosa, comunicativa com os filhos, pois a gente
sente que está para perder aquela pessoa da família isso não é fácil, isso
aí muda muito no sentido da gente, a família sofre. Ele tem um irmão que
nem conversava com ele, passou a conversar, sabe? Foi ao hospital visitálo, ficou muito preocupado quando ele estava em coma. Graças a Deus
parece que a vida está voltando ao normal só que de uma forma diferente,
alguma coisa mudou na vida da gente.
Um mês após chegar em casa, parece que as coisas vão se
ajeitando, vivi-se o ato de cuidar, muitas verdades são evidenciadas até
mesmo a de desacreditar.
JASMIM – Nossa vida mudou demais, eu não imaginava que
seria assim.
As visitas aos domicílios permitiram o reencontro com a família. Foi
um momento de muita emoção o encontro da realidade concreta da cuidadora
em sua casa em sua vida.
Esse reencontro é também o reencontro de uma busca profissional,
na qual consigo perceber a responsabilidade que se tem ao estar sendo
cuidadora, principalmente vivendo o “real” no domicílio.
Na casa da Girassol
GIRASSOL – recebe-nos na copa, local bem arejado muito arrumado,
excelente receptividade, responde a entrevista muito bem. No meio da
entrevista a cena se compõe com um cachorro de nome Bethoven que
logo é retirado da sala. Mais tarde o A também fica na copa, troca algumas
idéias e nos convida para conhecer o seu quarto que é no andar de cima
da casa. Lá ele nos mostra onde toma o sol diariamente, e conta que irá
em um baile Sábado, que ele toca violão em uma banda. (no momento
estava arrumando o seu cabelo Pank).
Na casa da Margarida
MARGARIDA – recebe-nos na sala, casa de esquina, dois pavimentos,
muito bem arrumada e mobiliada. Ela tem cinco filhos entre 18 e 23 anos,
R é o seu segundo filho “casado” há três meses, acidentou-se um mês
após ter ido morar com a companheira. Recebeu alta do hospital e veio
para a casa da mãe, agora com sua melhora progressiva retornou à sua
casa (ele e a companheira), mas sua mãe continua acompanhando ao
médico quando necessário. Já anda sozinho de ônibus, segundo ela a
memória recente ainda não retornou.
Foi marcante rever o cliente e sua cuidadora em seu domicílio, lá
onde aconteceram de fato todas as transformações de vida e das suas
relações em seu meio cultural e social. Nada é mais como antes, mas as
relações familiares ficaram mais fortes mais afetivas.
Nem sempre todas as histórias se processam da mesma forma.
Rosa está com seu filho no hospital há 6 meses. A esperança de retornar com
ele ao domicílio existe, pautada em muita fé, em muito amor. Assim, realizei
também esta visita, só que na unidade hospitalar. Pergunto-lhe como sua vida
se organizou nesse período.
ROSA – Em casa já realizei as mudanças necessárias, o meu quarto
transformou-se em uma suíte, pois ele é maior e ficou melhor, pois ele não
pode mais ficar sozinho eu vou dormir com ele. A cama, cadeira, estas
coisas de hospital quando eu voltar, já está tudo organizado. Minha menina
eu coloquei em várias atividades: volei, natação, pois assim ela ocupa o
tempo. Meu marido não deu conta, infartou e fez angioplastia com
sucesso, mas está com perda de 30% a 40 % da área cardíaca, está
afastado, acho que aposenta.
Eu perdi 10kg, que regime, continuo trabalhando 12horas e folgo 60horas.
Quando folgo venho e fico direto com ele no hospital, nos outros dias
revezo com a família e amigos, precisa de alguém, o serviço é muito para
as meninas, quatro pacientes dependentes para uma só auxiliar, não dá
por isto é que aparecem as escaras, elas não dão conta , é muito serviço.
Meu filho está começando a comer, é demorado, mas está aceitando, eu
quero ir embora mais segura, ainda tem traqueostomia, escara; queria
levá-lo direto para o hospital de fisioterapia e depois para nossa casa.
Aguardo ansiosamente, o retorno para o domicílio. Lá as minhas colegas
irão me ajudar, pois ele depende muito de mim; banho, curativo, comida,
enfim tudo. Eu não perdi a esperança, nem a fé. Ele vai voltar para a nossa
casa (com os olhos em lágrimas).
Os dados entregues pelas entrevistadas permitiram perceber quão
pequena é a contribuição da equipe ainda dentro da dinâmica hospitalar e
como falta um trabalho efetivo com as cuidadoras de referência.
Outro ponto de destaque é ver como as cuidadoras, nesse período,
vêm desenvolvendo o seu ato de cuidar, e vivendo sua vida pessoal .
Elas se valem de estratégias oportunas para desenvolver o cuidar,
tais como: apoio dos familiares, apoio das instituições de saúde da sua área de
referência, centro de saúde, utilizam o senso comum.
Existe um rompimento entre o saber/fazer que passa a ser adaptado
a cada dia, em cada ato, socializando os demais membros da família; há um
rompimento com a vida pessoal, pelo menos por um tempo; há basicamente
uma readaptação com o cotidiano. Com o passar dos dias, vão se ajeitando as
coisas; comprometimento da vida pessoal.
Passam a incorporar à “nova vida”, como ponto chave, não deixar o
paciente sozinho, este ser humano já não possui mais sua vida própria.
Ao abordar a questão da mudança na vida pessoal, as cuidadoras
não a vêem como inoportuna e sim, como um crescimento pessoal, concluindo
até que a doença favorece o desenvolvimento e a união familiar.
E nesta nova contextualidade elas caminham, na esperança de que
a cada dia tudo poderá se transformar, cada uma tem sua história que não está
desvinculada de uma situação vivida ou a ser vivenciada ainda.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo permitiu-me compreender em parte o conflito vívido pela
cuidadora de referência e por sua família, ao cuidar de um parente que fica
portador de seqüelas após um acidente que pode ser automobilístico ou por
outras causas. Os momentos são conflituosos, são marcantes na vida dessas
cuidadoras.
Em conseqüência da experiência proporcionada por esta pesquisa,
reconheci que é necessária a criação de um espaço dentro das UTIs, onde a
cuidadora possa Ter seu primeiro encontro efetivo com a fatalidade e, após
esse contato, possa expor suas angústias e até mesmo suas dificuldades.
Nesse espaço inicia-se o acompanhamento das transformações do seu familiar
acidentado, portador de TCE.
As relações vivenciadas entre a cuidadora de referência e seu
familiar provocam, desde as primeiras horas que sucedem o acidente,
transformações que são estendidas ao grupo familiar. As mudanças são
inesperadas, contudo o grupo familiar e o cuidador se articulam, organizam-se
de acordo com esse novo momento que exige a construção de um novo modo
de vida em família, diante da necessidade de buscar paradigmas a serem
seguidos e vividos, no cuidar de um parente com dependência física,
emocional e econômica. Assim, a família e em especial a cuidadora devem ser
ouvidas e merecem a atenção da equipe de saúde em suas visitas ao familiar
no hospital durante todo o período que antecede a alta para o domicílio.
Foi reafirmado que o domicílio é o local onde as relações familiares
se estabelecem. Sendo assim, cuidar em casa representa muito para a
cuidadora de referência, que passa a desenvolver, além de suas atividades
rotineiras, ação do cuidar. Nesse movimento, a cuidadora abre mão de
algumas atividades que lhe são caras e às vezes fundamentais. Ao visitar o
domicílio como local do cuidado, constatei o carinho com que os cuidados de
enfermagem são executados pelas cuidadoras de referência. O cuidado
desenvolvido por essas mulheres, colaboradoras nesta pesquisa, está
envolvido de expressões de sentimentos que foram manifestadas no zelo para
com seu familiar, na vontade de entender o que se passa e se passará, na
vontade de defender a vida de seu parente e querer ajudá-lo, com todo
empenho, a recuperar sua vida normal; “o que motiva o cuidar, independente
de gostar ou não, está relacionado a um sentimento, a um chamado, a uma
compulsão para ajudar quem ou aquilo que conforme o julgamento necessita”,
(Waldow, 1999:137).
Ainda em relação ao cuidar, essas mulheres cuidadoras afirmaram
ter de apelar para o próprio bom senso, às vezes, para direcionar suas ações e
que puderam contar também com a ajuda do sistema básico de saúde.
Em nenhum momento elas referendaram o cuidar de si. Para
algumas, o cuidar de um familiar, vítima de traumatismo craciencefálico exige
muito mais que tempo, carinho e disponibilidade; exige às vezes abnegação
total, a entrega de uma vida. Por isso, como cuidadoras de referência, essas
mulheres colocam-se durante todo o tempo em segundo plano, reconhecem
que sua vida parou e que, quando der, elas recomeçarão.
A mudança na história de vida das cuidadoras é notável e expressa,
nas sete entrevistadas, desde a hora em que elas recebem a notícia do
acidente, uma ruptura com o passado, um marco entre uma vida antes e outra
após o acidente. Mas o que elas não perdem é a fé em Deus, presente em
todos os discursos.
Apesar de todas as conseqüências que o trauma traz para o grupo
familiar e que se refletem diretamente na qualidade de vida do traumatizado e
da família, pude aprender que desse momento difícil surgem fatos positivos
como a união do grupo, o que pode representar também mudanças de valores
para seus integrantes, que, para superar as dificuldades que se apresentam,
oferecem suas potencialidades para facilitar a vida e o convívio familiar.
Entendi que o TCE que acomete um indivíduo traz para sua família,
independentemente de sua constituição e da formação do cuidador, o desafio
de viver novas relações. A vida da cuidadora de referência passa por “altos e
baixos”. A cuidadora assume o ato de cuidar com toda sua força, um cuidar
que transcende cada momento, pois a família possui a felicidade de “mobilizar
potencialidades” (Elssen, 1994), o que foi revelado pelas sete cuidadoras de
referência e algumas de seus familiares.
Identifiquei também que o desenvolvimento do cuidado no domicílio,
em pacientes portadores de seqüelas, deve ser tomado como um desafio ao
desconhecido, por não se poder presumir quais as lesões que ficarão
presentes por toda a vida e como cada ser se comporta diante dessas
seqüelas. Sabe-se, apenas, que o cuidar exige muito das cuidadoras e das
relações que elas estabelecem na nova dinâmica familiar.
Verifiquei que existe uma proposição dos profissionais para
estabelecer relações com os familiares dos pacientes portadores de TCE por
acidente automobilístico ainda no período de internação. Esse mecanismo
deve minimizar as dificuldades e estabelecer apoio às famílias e ao cuidador de
referência ao diminuir o “peso nesta caminhada”.
A análise dos dados permitiu-me apontar para estas necessidades:
criação de um programa de apoio à família dentro da instituição
(cuidando do cuidador de referência), com uma equipe
multiprofissional para trabalhar as ações necessárias;
treinamento do cuidador de referência voltado para a prática,
ainda dentro da dinâmica da UCSI (cuidado efetivo);
realização de reuniões periódicas, em que o cuidador de
referência coloque suas expectativas, angústias, facilidades e
dificuldades inerentes à ação do cuidar no domicílio;
acompanhamento do cuidador até a alta hospitalar e, se possível,
no primeiro mês que estiver no domicílio, devido à complexidade
que há no ato de cuidar em sua casa.
divulgação maior da rede FHEMIG domiciliar e desenvolvimento
de atividades junto a ela.
Com toda a certeza este estudo não se esgota aqui. Na dinâmica da
transformação, posso acreditar que se hoje eu refizesse este trabalho o
encontro com o fenômeno se processaria de forma diferente, pois nenhum
momento é como o outro; tudo gira em torno de um momento, mas tudo
acontece em momentos diferentes, inclusive para quem pode ter o prazer de
realizar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRÃO, A.M. et al. Guia de orientação ao visitante: uma receita simples e
eficaz. In: UTI, muito além da técnica. São Paulo: Ateneu, 2001. Cap.3 p. 8592.
ALMEIDA M.C.E. Seminars Melani M.R (organizadoras). Considerações
sobre a enfermagem enquanto trabalho. In: O trabalho de Enfermagem, São
Paulo. Cortez. 1999. P.15-26.
ALTHOFF, R.C. et al. Família: o foco de cuidado na Enfermagem. Rev. Texto e
Contexto. Florianópolis. V.7. n.2. p.320- 327, mai./ago.1998.
BOFF,L. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra. 2 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes.1999.199p.
BRANDT, R.A. et al. Traumatismo craniencefálico. In: Conduta no paciente
grave. São Paulo, 1994.cap45, p.590-611.
CABRAL, R. et al. Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia – LOGOS –
Direção geral – Roque Cabral, 1997. São Paulo: Verbo. volume 3.
CAPELLA, B.B. et al. Cuidado: essência da Enfermagem. In: Fundamentos
de Enfermagem. Florianópolis: Cidade Futura, 2002. Cap.1, p. 16-29.
CARTA ENCÍCLICA FIDES ET RATIO DO SUMO PONTÍFICE JOÃO PAULO II
AOS BISPOS DA IGREJA CATÓLICA SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE FÉ E
RAZÃO.2ªed. Paulinas. 1998. 141p.
CECÍLIO, L.C.; MERHY, E.E. A integralidade do cuidado como eixo da
gestão hospitalar – Uma definição inicial de integralidade. Campinas,
março/2003.
COELHO, C. at al. Intensivista, médico assistente e familiares: em conexão
24horas. In: UTI, muito além da técnica. São Paulo: Ateneu, 2001. Cap.2 p. 7576.
COELHO, S. As práticas de Enfermagem em saúde da mulher em Minas
Gerais: um olhar de gênero. 2003. 228 p. Tese (Doutorado em Enfermagem).
Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo – USP, São Paulo.
CONCEIÇÃO, N.A. et al. Visitantes: também são parte da equipe. In: UTI,
muito além da técnica. São Paulo: Ateneu, 2001. Cap.3 p. 83-84.
COUTINHO, M. et al. Estudo de 596 casos Consecutivos de Traumatismo
craniano Grave em Florianópolis - 1994-2001. In: Rev. Brasileira de Terapia
Intensiva. p 19 a 26. Vol15-nº1 jan/Mar 2003.
COUTINHO, P.J. Traumatismo craniencefálico. In: Medicina Interna 2 ed.
São Paulo: Ateneu, 1997, cap.52, p. 481- 493.
CUNHA, A.P., Santos, Maria S.S. A origem dos serviços de assistência préhospitalar. Rev. Enfermagem Brasil. São Paulo V.2 N.2. p.110 a 115,
mar/abr.2003.
DOMINGUES, C.I. et al. Orientação aos familiares em UTI: dificuldades ou falta
de sistematização? Rev. Paulista de Enf. v.33,n.1p.39-49,mar.1999.
DUARTE Júnior, J.F. O que é realidade. São Paulo: Brasiliense, 2002.
(coleção primeiros passos) 4º reemp 10ed de 1994. P.155.
ELSEN Ingrid. Desafios da Enfermagem no cuidado de famílias. In: Marcos
para a prática de Enfermagem com famílias. Florianópolis. Editora da
UFSC.1994.p.61 a 77.
FERRAZ, A.C.; NUNES, A.L.B. Escalas comumente usadas em pacientes
neurológicos. In: Terapia Intensiva: neurologia. São Paulo: Ateneu, 2002.
Apêndice, p. 335-341.
FERREIRA, A.B.H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2 ed. Edição de
luxo. Editora nova fronteira. 1997.
GALERA. A.P. Principais conceitos da abordagem sistêmica em cuidados de
Enfermagem ao indivíduo e sua família. Rev. Escola de enfermagem São
Paulo, USP 2002; 36(2). 141-7.
GALLO, B.M. et al. Traumatismo Craniencefálico. In: Cuidados Intensivos de
Enfermagem. Uma Abordagem holística. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Kogan,1997, cap.30, p.643-660.
GONÇALVES, A.M. A mulher que cuida do doente mental em família. Belo
Horizonte, 1999.183p. dissertação de mestrado.
GONÇALVES, M.A.; SENA R.R. Assistir/Cuidar na enfermagem. Belo
Horizonte REME - Rev. Min. de Enf. 2(1):2-8,jan./jun.,1998.
HOUAISS, A.; VILLAR, M.S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2002.
JOSÉ FILHO. M. A família como espaço privilegiado para a construção da
cidadania. Franca: USP- FHDSS, 2002. 158p.- (dissertações e teses, n.5)
LACERDA. M.R. O cuidado transpessoal de enfermagem no contexto
domiciliar. Rev. Texto e Contexto v.3.n.2 p44-49. Florianópolis, 1996.
MACHADO, A.V.C. O traumatismo crânio-encefálico – sociedade e a diferença.
Rev. Nursing. Edição Brasileira, n.119, ano 6, p. 30-35.
MACHADO, D.C. O traumatismo craniano. São Paulo: Ateneu. 2003.
MARCON, S.S. et al. Percepção de cuidadores familiares sobre o cuidado no
domicílio. Rev. texto e Contexto. Florianópolis, v.7, n.2, p.289-307,
maio/ago.1998.
MARTINS FILHO, I. G. da. Manual esquemático de história da Filosofia.
São Paulo. LTR, 1997. Cap VI, p.223-226.
MEDEIROS et al. Cuidadoras: as vítimas ocultas das doenças crônicas. Rev.
Bras. Reumat.. Vol.38, nº4, p.189-191. Jul/ago,1998.
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. 2 ed. São Paulo: HUCITEC,
1999.300p.
MILLS, U.M. Traumatismo craniano. In: Fisioterapia: Avaliação e tratamento.
29ed. São Paulo, 1993. Cap.24, p. 565-586.
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa quantitativa em
saúde. 5 ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1998. 269p.
NETO. A.C. e M.F.S. Traumatismo craniencefálico (TCE). In: Terapia
Intensiva: Neurologia. São Paulo: Ateneu, 2002, p.59-82.
NOZAWA, E. at al Terapia Intensiva, trabalho em equipe In: UTI, muito além
da técnica. São Paulo: Ateneu, 2001. Cap.1 p. 3-7.
ORLANDO.J.M.C. Reações emocionais: o medo como fonte de ansiedade
no paciente crítico. In: UTI, muito além da técnica. São Paulo: Ateneu, 2001.
Cap.2 p. 75-76.
POLIT, D.F. et al. Fundamentos de pesquisa em Enfermagem: Trad. Regina
Machado Garcez. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
REZENDE, M.S. et al. O perfil das vítimas de trauma atendidas na esfera
hospitalar no município de Santa Cruz / Rio grande do Sul. Rev. Nursing.
Edição Brasileira. nº 55, ano 5, p. 18-22, dez. 2002.
RIBEIRO, H.P. O hospital: história e crise: São Paulo. Cortez. 135p.
SANTOS, N.R.; LEMES.M.M. A percepção e os sentimentos do paciente e
familiares na UTI. Rev. Estudos. Goiás. vol.26.nº6. p.1115-1136, nov-dez.
2001.
SARACEMO Chiara - Sociologia da família – temas de sociologia. Editora
Estampa, 1997. 252p.
SAUPEU D.; NAKAMAE. D. A dialética materialista na concepção progressista
da realidade. Rev. Texto Contexto Enf. Florianópolis, v.3, n.1, p.30-44,
jan/jun.1994.
SENA, R.R. et al. O ser cuidador na internação domiciliar em Betim/MG. Rev.
Bras. Enferm., Brasília, V.53,n.4,p.544-554, out / dez 2000.
SENA, R.R. et al. O cuidado no domicílio: Um desafio em construção. Rev.
Cogitare Enf. Curitiba. v. 4, n. 2, p. 58-62, jul /dez. 1999.
SILVA P.F. Bioética: valores e atitudes do sec.XXI. In. Um olhar sobre a
ética e cidadania .Coleção e reflexão acadêmica . Universidade Presbiteriana
Mackenze.2002.p.81-93
SILVA, M.J.P. Amor é o caminho – Maneiras de cuidar. 2. ed. São Paulo:
Gente, 2000.
SILVA, M.J.P. at al EU – O cuidador. Rev. O mundo da Saúde. São Paulo.
Ano24.V.24.N.4. p 306-309,jul/ago.2000.
TEIXEIRA,P.F et al. A percepção do paciente sobre sua permanência na UTI.
Rev. Nursing. Edição Brasileira. nº 6, ano 6, p. 37 -42, Maio. 2003.
UTIYAMA, E.M. et al. Politraumatismo. In: Condutas no paciente grave. São
Paulo, 1994. Cap.42, p.552-563.
WALDOW, V.R. Cuidado Humano - o resgate do necessário. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 1999.
WINKLER. P.A e S.S.S Traumatismo craniano. In: Fisioterapia neurológica.
2.ed. 1994. Ed Manole Ltda. P. 345-392.
WRIGHT, L.M. Enfermeiras e famílias; um guia para avaliação e interpretação
na família. 3. ed. São Paulo: Roca. 2002.
ZACHARIAS, J.J.M. Cap.1 Origens da tipologia junciana. Entendendo os
tipos humanos. São Paulo: PAULUS, p.17-23. 1995.
ANEXOS
Anexos
ANEXO A
ESCALA DE COMA DE GLASGOW- ECG
Abertura dos olhos
Pontuação
Espontânea
4
Comando verbal
3
Estímulo doloroso
2
Nenhuma
1
Melhor resposta motora
Obedece ao comando
6
Localiza estímulo doloroso
5
Retira membro à dor
4
Flexão anormal de decorticação
3
Extensão anormal em descerebração
2
Nenhuma
1
Melhor resposta verbal
Orientado
5
Fala confusa
4
Palavras inapropriadas
3
Sons incompreensíveis
2
Nenhuma
1
Total de pontos
3 -15
Fonte - Medicina Intensiva (Knobel, 2002)
101
Anexos
Categorias que definem a Intensidade do Traumatismo de crânio.
Classificação baseada Escore da Escala de Coma de Glasgow (ECG)
CLASSIFICAÇÃO DO TCE
Trauma
Escala de Coma de Glasgow
Freqüência
Risco
Leve
13 – 15
Pode haver perda da consciência ou
amnésia, mas por menos de 30
minutos.
Não há fratura do crânio, contusão
cerebral, hematoma.
55%
Pequeno
Moderado
9 – 12
Perda da consciência ou amnésia por
mais de 30 minutos, porém por
menos de 24 horas.
Pode haver uma fratura do crânio
24%
Médio
Grave
3–8
Perda da consciência e/ou amnésia
por mais de 24 horas.
Também inclui aqueles com uma
contusão cerebral, laceração ou
hematoma intracraniano.
21%
Alto
Fonte - Cuidados Intensivos de Enfermagem: uma Abordagem Holística (GALLO, 1997)
102
Anexos
ANEXO B
Glasgow Outcome Scale - GOS
1. Morte
2. Estado vegetativo
3. Incapacidade grave
Necessita de assistência para AVD e/ou
Incapacidade mental grave
4. Incapacidade moderada
Independente para AVD dentro e fora de casa
Déficit cognitivo, motor ou de linguagem significativa e
suficiente para impedir a volta das atividades habituais
5. Boa recuperação
Capaz de retomar às atividades normais e manter
relacionamento
Fonte - Medicina Intensiva (Knobel, 2002)
103
Anexos
104
ANEXO C
QUESTIONÁRIO
PROJETO DE PESQUISA
O FAMILIAR DO PACIENTE PORTADOR DE TCE
Nome:............................................. nº .... data da entrevista: ___/___/___ idade: ..........
Grau de parentesco: .............. Tipo de atividade que exerce: ..........................................
Paciente: ............. Idade: .......... Sexo: ............. Tipo de ocupação: ................................
Data de internação: hospitalar: _____/_____/_____
UCSI ..........................................
ECG - à internação hospitalar ................ na UCSI: ............. GOS - na UCSI: .................
Submetido a cirurgia: sim ..... não ...... Tipo: ...................................................................
Renda familiar .................. O paciente contribui para a renda familiar: sim ..... não: ......
Possui algum convênio: ..................
Perguntas
1. O que você sabe sobre a doença do ................................?
2. Como vocês estão pensando em fazer (articular) agora, com o(a) sr(a) ................... nessa
condição de depender de alguém?
3. Como está sendo esse momento para sua família?
4. E você, como responsável pelo(a) sr(a), o que você está pensando para sua vida pessoal (seus
projetos).
5. Como vocês estão pensando em se organizar em casa para receber o ( a) sr(a)
....................................... de volta?
Anexos
ANEXO D
COMITÊ DE ÉTICA
105
Anexos
106
Anexos
107
ANEXO E
TERMO DE CONSENTIMENTO
Belo Horizonte,
de
de 2003
Prezado familiar,
Estou desenvolvendo minha pesquisa de Mestrado em Enfermagem pela Escola de Enfermagem
da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo tema é “A dependência do paciente portador
de traumatismo craniencefálico por acidente automobilístico: um desafio para a família”.
O objetivo da pesquisa é analisar o que significa para um familiar cuidar de um paciente
portador de TCE, com seqüelas.
Dessa forma, solicito a sua colaboração no sentido de responder a uma entrevista semiestruturada, permitindo-me gravar a mesma em fitas magnéticas, o que me possibilitará dar
continuidade à investigação. Os registros da entrevista serão tratados de forma sigilosa e
anonimamente para fins de produção científica.
Cabe ressaltar que o projeto dessa pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da
UFMG e ao Núcleo de Ensino e Pesquisa - NEP da rede FHEMIG - Hospital João XXIII. Sua
colaboração será muito importante para a realização deste trabalho.
Agradeço sua participação e solicito seu “de acordo” nesse documento.
Atenciosamente,
Marta Santos Magalhães Cortez
Alameda Abiurana, 120 - Bairro Dom Cabral - Belo Horizonte/MG
CEP: 30535-240
Tel.: ( 031) 33756952.
...........................................................................................................................................
Eu, ..................................................................,RG nº................... grau de parentesco:.......... aceito
participar das atividades da pesquisa “A dependência do paciente portador de traumatismo
craniencefálico por acidente automobilístico: um desafio para a família”, podendo retirar este
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalidade e sem prejuízo para minha pessoa.
Estou ciente de que serão feitas entrevistas semi-estruturadas e as mesmas serão gravadas em fitas
magnéticas. Os resultados das entrevistas serão tratados sigilosamente.
Anexos
Belo Horizonte,
de
de 2003.
Assinatura: _______________________________________
108
Anexos
109
ANEXO F
SIGNIFICADO DAS FLORES
Por meio da escolha da sua flor preferida as cuidadoras de referência
me ajudaram a construir este jardim. Em cada mulher, pude perceber o quanto
ela se parecia com a “sua” flor. Mostraram como é maravilhoso poder acreditar,
ter fé, lutar e cuidar de quem se ama.
ROSA: amizade, carinho
Entrevista nº1
Nome: Rosa - Data da entrevista: 02/06/03 Idade: 43 anos
Grau de parentesco: mãe Tipo de atividade que exerce: Aux. de Enfermagem
Paciente: M. Idade: 19 anos Sexo: masculino - Tipo de ocupação: estudante (Direito).
Data de internação: hospitalar 10/04/03 na UCSI 15/04/03. Alta do hospital: até
o fim da pesquisa não havia obtido alta.
ECG : à internação hospitalar 3, na UCSI 8, à alta da UCSI 9.
Anexos
110
GIRASSOL: dignidade, glória, paixão
Entrevista nº 2
Nome: Girassol - Data da entrevista: 06/06/03 Idade: 44 anos
Grau de parentesco: mãe Tipo de atividade que exerce: funcionária pública (professora
de 1ª a 4ª série)
Paciente: A. Idade: 23 anos Sexo: masculino Tipo de ocupação: ele trabalha em uma
firma (computador).
Data de internação: hospitalar19/04/03 UCSI 2/06/03.Alta do hospital: 06/06/03
ECG: à internação hospitalar 3, na UCSI 9, à alta da UCSI 12.
Anexos
111
MARGARIDA: inocência, virgindade, sentimentos compartilhados de afeto (as
margaridas querem dizer: “você tem tantas virtudes quanto esta planta tem pétalas”).
Entrevista nº3
Nome: MARGARIDA - Data da entrevista: 26/06/03 Idade: 45 anos
Grau de parentesco: mãe Tipo de atividade que exerce: do lar
Paciente: R. Idade: 22 Sexo: masculino Tipo de ocupação: motociclista
Data de internação: hospitalar 16/06/03 na UCSI 20/06/03 alta da UCSI 3/07/03
ECG: à internação hospitalar 3; na UCSI 09; GOS na UCSI 13.
Anexos
112
CRAVO BRANCO: amor ardente, ingenuidade, talento.
Entrevista nº4
Nome: Cravo - Data da entrevista: 26/06/03 Idade: 44 anos
Grau de parentesco: mãe Tipo de atividade que exerce: lavradora
Paciente: A. O. Idade: 21 anos Sexo: masculino Tipo de ocupação: lavrador
Data de internação: hospitalar 11/06/03 na UCSI – 18/06/03 Alta da UCSI: 29/06/03
ECG à internação hospitalar 10; na UCSI10; à alta da UCSI 12.
Anexos
113
JASMIM : designação.
Entrevista nº5
Nome: Jasmim - Data da entrevista: 09/07/2003 Idade: 25 anos
Grau de parentesco: filha
Tipo de atividade que exerce: Auxiliar administrativo
Paciente: J. A. Idade: 61 anos Sexo: masculino Tipo de ocupação: trabalha em sítio.
Data de internação: hospitalar: 29/05/2003 na UCSI 26/06/2003
ECG à internação hospitalar 3; na UCSI 9; alta da UCSI 12;
Anexos
114
ORQUÍDEA: beleza, luxúria, perfeição, pureza espiritual
Entrevista nº6
Nome: Orquídea - Data da entrevista: 15/0703 Idade: 28 anos
Grau de parentesco: esposa Tipo de atividade que exerce: bordadeira.
Paciente: V Idade: 32 anos Sexo: masculino Tipo de ocupação: mecânico de
bicicleta.
Data de internação: hospitalar 20/06/03 - UCSI 28/06/03 Alta da UCSI
10 /07/03
ECG - à internação hospitalar 4; na UCSI 9; à alta UCSI 12;
Anexos
LÍRIO: casamento, doçura, inocência, majestade, pureza
Entrevista nº7
Nome: Lírio - Data da entrevista: 26/07/2003 Idade: 31anos
Grau de parentesco: irmã Tipo de atividade que exerce: bilheteira.
Paciente: .L Idade: 33 Sexo: M Tipo de ocupação: desempregado
Data de internação: hospitalar 13/06/2003 UCSI 26/06/2003
Alta da UCSI 25/07/03
ECG à internação hospitalar 5; na UCSI 10; à alta da UCSI: 11.
115