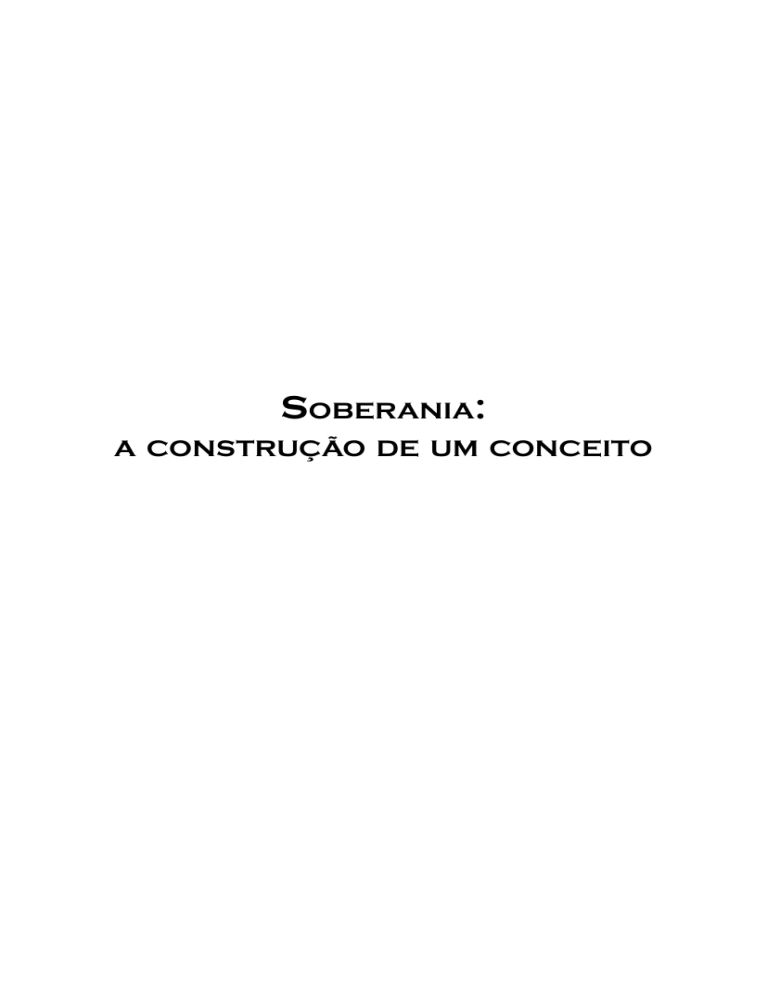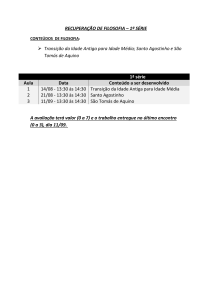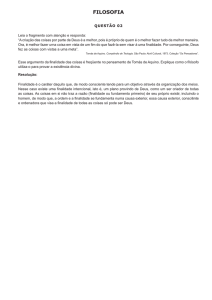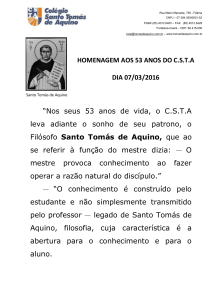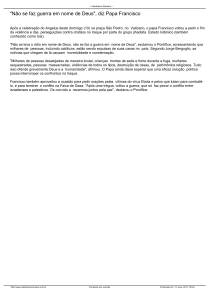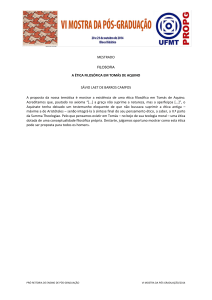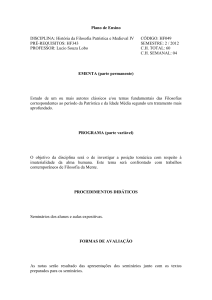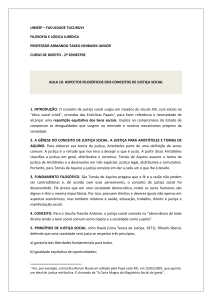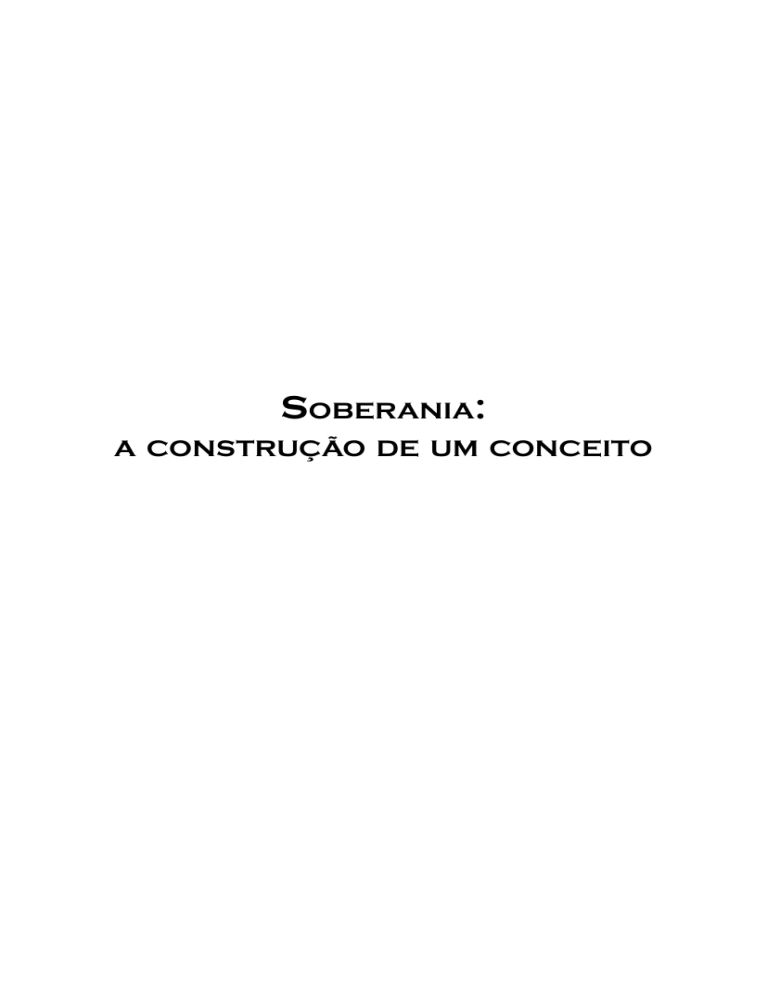
SOBERANIA:
A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitor: Prof. Dr. Adolpho José Melfi
Vice-Reitor: Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz
FFLCH – FACULDADE DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
Diretor: Prof. Dr. Francis Henrik Aubert
Vice-Diretor: Prof. Dr. Renato da Silva Queiroz
FFLCH/USP
CONSELHO EDITORIAL DA HUMANITAS
Presidente: Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento (Filosofia)
Membros: Profª. Drª. Lourdes Sola (Ciências Sociais)
Prof. Dr. Carlos Alberto Ribeiro de Moura (Filosofia)
Profª. Drª. Sueli Angelo Furlan (Geografia)
Prof. Dr. Elias Thomé Saliba (História)
Profª. Drª. Beth Brait (Letras)
V ENDAS
L IVRARIA H UMANITAS -D ISCURSO
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 – Cid. Universitária
05508-900 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (011) 3091-3728/3796
H UMANITAS -D ISTRIBUIÇÃO
Rua do Lago, 717 – Cid. Universitária
05508-900 – São Paulo – SP – Brasil
Telefax: (011) 3091-4589
e-mail: [email protected]
http://www.fflch.usp.br/humanitas
Humanitas FFLCH/USP – maio 2002
ISBN 85-7506-063-5
Raquel Kritsch
SOBERANIA:
A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
2002
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
Copyright © 2002 by Raquel Kritsch
É proibida a reprodução parcial ou integral,
sem autorização prévia dos detentores do copyright.
Serviço de Biblioteca e Documentação da FFLCH/USP
Ficha catalográfica: Márcia Elisa Garcia de Grandi – CRB 3608
K92
Kritsch, Raquel
Soberania: a construção de um conceito / Raquel Kritsch. São Paulo : Humanitas/FFLCH/USP, 2002.
572p.
Originalmente apresentada como Tese (Doutorado – Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2000).
ISBN 85-7506-063-5
1. Estado (Política) 2. Igreja e Estado 3. Soberania 4. Teoria
Política Medieval I. Título
CDD 320.157
320.9
HUMANITAS FFLCH/USP
e-mail: [email protected]
Telefax: 3091-4593
Editor Responsável
Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento
Coordenação Editorial e Capa
Mª. Helena G. Rodrigues – MTb 28.840
Diagramação e Projeto Gráfico
Selma Mª. Consoli Jacintho – MTb 28.839
Revisão
Simone D’Alevedo
AGRADECIMENTOS
Este trabalho, agora transformado em livro, foi apresentado como
tese de doutorado junto ao Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo, em dezembro de 2000.
Como toda longa pesquisa, envolveu inúmeras pessoas. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, apoiaram e colaboraram
para este trabalho. De modo especial, contudo, nomeio:
Oliveiros S. Ferreira,
Rolf N. Kuntz,
Cicero Romão de Araújo.
Não poderia deixar de retribuir ainda o apoio e a seriedade dos
professores que compuseram a banca: Luís Alberto de Boni, Maria
das Graças M. do Nascimento, Renato Lessa e Gabriel Cohn, cujos
comentários muito enriqueceram a revisão do trabalho. E a José
Antonio C. R. de Souza, que tanto estimulou esta publicação.
Minha gratidão também aos professores e colegas do Grupo de
Teoria Política, marca indelével em minha memória e em minha formação.
Aos amigos Adrián, Alberto, Floriano, Lena, Márcio e Paula pelo
auxílio e o incentivo. E, do outro lado do Atlântico, a Claus, Manfred
e Saulo.
Ao Ricardo pelo zelo das letras.
Ao time da Humanitas, o esforço e a dedicação.
A Alexandre e Rebeca, o exercício da tolerância e a fraternidade.
À Consuelo, a memória de dias felizes.
A José Roberto e Iracema, Rui e Dália, o apoio incondicional.
A Johanna e Josef Hofbauer, o apreço.
Ao Andreas, o muito.
SUMÁRIO
Prefácio: A gênese de um conceito (Newton Bignotto) ......... 13
Introdução: Os nomes e as coisas .................................... 19
Capítulo 1: A Questão das Investiduras e seus desdobramentos ..................................................................... 49
I. Antecedentes históricos ................................................ 51
II. Códigos e espadas ........................................................ 70
1. Os fundamentos da reforma eclesiástica ................ 75
2. A radicalização do partido gregoriano ..................... 85
3. Regnum e sacerdotium: os fundamentos da disputa pelo poder supremo ...................................... 93
III. Poder e Direito: império e papado no século XII .......... 110
Capítulo 2: O longo século XII ........................................ 129
I.
II.
III.
IV.
V.
Uma introdução ao Século do Renascimento ............ 131
O surgimento da Universidade ................................. 138
O direito romano e o direito canônico ....................... 148
As traduções e o fomento da filosofia natural ............ 155
1. Árabes, judeus e gregos pós-helênicos: a
herança do Ocidente medieval ............................. 159
2. A cristandade latina e o naturalismo político ........ 169
O desenvolvimento da burocracia e o surgimento
da Comuna ............................................................. 182
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Capítulo 3: A política em transformação ......................... 199
I.
O século XIII e o declínio do feudalismo .................... 201
II. A construção da teoria hierocrática do poder ............ 206
III. O corpus aristotélico dos latinos ............................... 231
1. Filosofia natural e a base da investigação científica .................................................................... 232
2. Ética e a constituição do justo ............................. 236
3. Da primazia do bem comum: a especificidade
da política .......................................................... 244
Capítulo 4: Tomás de Aquino, leitor e comentador dos
antigos ...................................................................... 261
I.
Os fundamentos aristotélicos da metafísica
tomista ................................................................... 263
II. A ética e o princípio da ação moral ........................... 285
III. Lei e Direito: a natureza mediada pela razão ............. 301
1. Lei: uma ordenação hierárquica da razão com
vistas ao bem comum ......................................... 303
2. Justiça: um critério de ordenação dos iguais
com vistas ao bem comum .................................. 323
IV. A política do Doutor Angélico ................................... 333
Capítulo 5: A hora dos reis ............................................ 367
I.
Desenvolvimentos do processo de centralização
monárquica ............................................................ 371
II. Bonifácio VIII e Filipe, o Belo: princípios em
disputa ................................................................... 383
III. Egídio Romano e as raízes do absolutismo monárquico ................................................................. 392
8
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO
PREFÁCIO DE UM CONCEITO
1. Do poder do príncipe eclesiástico .......................... 399
2. Dominium e coerção: o dom de Deus e o próprio dos homens ................................................. 403
3. Da plenitude de poder e da jurisdição do governo eclesiástico ................................................ 429
IV. João Quidort e os princípios da monarquia constitucional ................................................................ 436
1. Da força da palavra e o poder das armas .............. 439
2. Dominium e jurisdição: o bem privado e a justiça comum ........................................................ 457
3. O poder político humanizado ............................... 474
Final: O poder sem pecado ............................................. 493
I. Marsílio de Pádua e a supremacia da comunidade política .................................................................. 496
II. Guilherme de Ockham, o indivíduo e os direitos
humanos ................................................................... 511
III. A herança e o inventário .......................................... 534
Apêndice ....................................................................... 537
“Prólogo” de Tomás de Aquino à Política
de Aristóteles (Tradução) ............................................ 539
Liber primus (Prolugus), de Tomás de Aquino (texto latino) 545
Bibliografia ................................................................... 547
Fontes primárias ..................................................... 549
Fontes secundárias ................................................. 552
9
À minha avó
Jeanette Martha Josefine Anna Kritsch
(In memoriam)
A GÊNESE DE UM CONCEITO
Newton Bignotto
Prof. Dr. Adjunto do Depto. de Filosofia
da Universidade Federal de Minas Gerais
O conceito de soberania é com freqüência associado
pelos historiadores da filosofia política ao nome de Jean Bodin.
Ao formular a idéia de que a soberania é “a potência absoluta
e perpétua de uma república”,1 ele abriu um campo de investigação que seria trilhado por uma boa parte dos autores,
que mais tarde iriam se ocupar com a questão da origem e
dos fundamentos do poder. A partir do momento em que o
caráter humano da legislação tornou-se evidente, passou-se
a buscar as maneiras de assegurar sua estabilidade e sua
duração, num mundo que não podia mais contar com a certeza da emanação divina das formas de dominação. A aposta
de Bodin num soberano absoluto, no entanto, não resolveu o
problema posto pela afirmação de um poder inteiramente
apoiado em raízes seculares. O pensador francês sabia que o
príncipe, que formula leis e exige obediência, está ele mesmo
sujeito às leis da natureza e aos comandos divinos. Encontrar os limites da soberania e definir sua relação com a crença dos homens no poder transcendente de Deus passou a
ser um desafio para quase todos os pensadores que iriam se
ocupar da matéria depois dele. Em Bodin o termo soberano
1
BODIN, Jean. Les six livres de la République. Livre I, chapitre VIII.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
alcança uma conotação definitiva, que ressoa até hoje no vocabulário da filosofia e da ciência política.
Hobbes foi um dos que ajudaram a explorar as terras
descobertas pelo jurista francês. Buscando constituir uma ciência da política baseada na razão e na descrição correta da
natureza humana, ele soube como poucos analisar os vínculos que unem o medo original dos homens e a demanda por
segurança que está, segundo ele, na raiz da constituição dos
Estados. Nessa ótica, o soberano se estabelece por consentimento mútuo pelo claro desejo de todos de fugir da instabilidade imposta pela natureza aos que vivem isolados. Com o
pensador inglês, o tema se vincula a discussões filosóficas que
ainda não estavam presentes em Bodin. Ao se apoiar sobre
um estudo da natureza humana para encontrar os fundamentos do contrato social, Hobbes forja uma compreensão da
vida política que acaba em definitivo com a idéia de que o
poder temporal possa encontrar seus fundamentos em uma
ordem transcendente. Seria longo enumerar todos os pensadores que iriam fazer da soberania, tal como compreendida pelos dois autores, a pedra de toque de suas investigações sobre a natureza da política. Sob o manto das discussões sobre o contrato social se abrigaram quase todos os que
se dispuseram a investigar as raízes temporais do poder. Se a
preocupação com a religião segue habitando o coração da filosofia moderna, a idéia de que “todo poder vem de Deus” perdeu sua capacidade explicativa, deixando uma lacuna a ser
preenchida com uma visão laica do mundo político.
As considerações anteriores, que refletem uma visão comum entre os historiadores, podem induzir o leitor a acreditar
que o estudo da gênese do conceito de soberania na modernidade não pode seguir outro caminho além do sugerido. De
fato, não há como negar a posição de destaque ocupada pelas
obras dos pensadores que citamos e o fato de que o tema do
contrato social, tal como elaborado por eles, é
central no pensamento político moderno. Apesar dessas evidências, alguns historiadores, menos convencidos pela ar14
PREFÁCIO
gumentação dos que asseguram que uma importante ruptura ocorreu no século XV, passaram a rastrear no passado
medieval uma série de discussões e debates que parecem
colocar em questão a tese afirmada do surgimento do conceito de soberania com Bodin. Dentre eles, devemos destacar
Walter Ullmann que numa série de livros e artigos procurou
demonstrar que ao longo de toda a Idade Média encontramos
nos juristas e em muitos filósofos discussões que não apenas
já colocam o problema da origem das leis do ponto de vista
de um fundamento humano, mas ainda ajudaram a tornar
corrente o uso de termos como “soberano”, na mesma acepção
que será adotada pelos modernos.
Se fôssemos obrigados a tomar partido nessa discussão nos veríamos na embaraçosa condição de quem deve optar
entre duas hipóteses que parecem razoáveis. Escolhendo a
primeira via, deixaríamos de lado o resultado de pesquisas
acuradas e sérias, para afirmar o primado da idéia de ruptura na história das idéias. Nesse caso, não se trata de dizer
que as pesquisas dos medievistas são inúteis, mas simplesmente que a arqueologia de uma idéia, baseada na descoberta de proximidades de significados, não é o caminho adequado
para encontrar as raízes de um conceito. Dizendo de outra
forma, isso corresponde a afirmar que apesar da filiação de
Bodin aos debates jurídicos dos bartolistas, há em suas teses
algo que as diferenciam inteiramente dos antigos juristas.
Nessa lógica, basear-se em fontes antigas, e mesmo citá-las o
tempo todo, não garante continuidade entre hipóteses. Se de
fato há continuidade, ela não explica a concepção de soberania moderna tal como formulada por vários autores.
Na segunda via, a pesquisa minuciosa de textos nos
quais o termo “soberano” aparece, aliada a outras estratégias investigativas, parece conduzir a uma afirmação da origem medieval do conceito de soberania, ao lado da progressiva
afirmação dos Estados nacionais e da desmontagem das velhas categorias, que haviam assegurado a estrutura de justi15
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ficação da respublica christiana. Nesse caso, não há porque
falar em ruptura na modernidade, mas sim em finalização de
um processo do qual é possível conhecer os passos fundamentais, muitas vezes em detalhes. Para os defensores dessa
tese fica sempre o desafio de mostrar de que maneira a modernidade veio a se diferenciar do período anterior e de apontar as razões pelas quais a idéia de uma ruptura com o
passado, pelo menos no plano conceitual, deve ser tratada
como uma mera quimera de historiadores. No entanto, não
há como negar que nessa chave os vínculos com o passado
esclarecem muitas dúvidas, que permanecem quando o investigador se dedica a afirmar o caráter de novidade das teses de Bodin.
O trabalho de Raquel Kritsch proporciona ao leitor a
rara oportunidade de freqüentar a querela entre “modernos”
e “medievais” sem forçá-lo a adotar uma tese radical sobre a
questão. Como observa a autora, o conceito de soberania
conheceu uma longa gestação e é o processo dessa gestação
que lhe interessa em primeiro lugar. Ora, no lugar de buscar
o fio único que teria servido de guia para o tecido do problema ao longo dos muitos debates que povoaram a Idade Média sobre o tema da origem e do fundamento do poder
temporal, o estudo de Raquel se emprega em desfazer o equívoco dos que acreditam chegar a uma única solução. Apoiado em evidências textuais, o livro vai montando um mosaico
que, sem ser uma coleção desconexa de peças, não pode ser
conhecido a partir de um único ponto de vista.
Ao longo do livro, o leitor vai sendo apresentado não
apenas a textos teóricos e filosóficos, mas a uma série de
documentos, que atestam a maneira como disputas entre o
Papado e o Império impulsionaram os defensores dos dois
poderes a buscar novas armas em campos variados do saber. Em particular, a autora, no rastro das teses de Ullmann,
mostra com clareza a importância do Direito como campo de
combate entre os poderes. Regnum e Sacerdotium compuse16
PREFÁCIO
ram um campo de batalhas no qual as escaramuças foram
mais freqüentes que as guerras abertas. Ao golpe de decretos
e bulas, os problemas foram se delineando e a idéia de soberania se construindo.
Mas o leitor que espera uma demonstração linear e
causal de como se chegou a Bodin deixará de lado a riqueza
do estudo que examina. Raquel Kritsch é herdeira de um
século que viu transformar a face das análises sobre a Idade
Média. Servindo-se do resultado da pesquisa de autores como
Le Goff, Kantorowicz, Nederman e de tantos outros, ela apresenta as principais discussões em vínculo estreito com a intricada história política medieval. Sem pretender escrever uma
análise global do período que examina, a autora não
desconsidera nunca o fato de que o debate de idéias no período medieval tem, sobretudo no tocante aos temas políticos, uma grande peculiaridade. Misturar textos jurídicos,
decretos e textos filosóficos é parte de uma estratégia de alargamento do campo de compreensão do problema que examina. Dessa maneira talvez ela abdique de conclusões mais
peremptórias, mas conserva todo o frescor do tema que investiga.
Talvez pudéssemos retirar como uma lição preciosa do
estudo da gênese de um conceito como o de soberania, o fato
de que, para encontrarmos uma afirmação precisa tanto da
novidade quanto da continuidade de um conceito, somos
obrigados a esquecer a complexa articulação entre a produção teórica e a vida política. Dessa maneira, tomando como
referência apenas textos pertencentes a um dado gênero literário, podemos chegar a conclusões mais restritivas e, num
certo sentido, mais definitivas. O preço que se paga nesse
caso, no entanto, ao conceder uma excessiva autonomia à
história das idéias, é o de perder a riqueza da articulação
entre o debate teórico e os embates políticos. Investigar idéias
do passado e suas articulações com as disputas terrenas dos
homens faz sentido porque nos ajuda a pensar nossas pró17
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
prias mazelas e a ligação que nossas pesquisas conceituais
entretêm com nossa vida no seio de uma comunidade política. Ao se mostrar que o conceito de soberania não pode ser
deduzido de um único processo de gestação, não se chega ao
resultado de que é impossível falar da gênese de um conceito. Ao contrário, a investigação detalhada dos muitos caminhos que levaram dos autores medievais a Bodin e a Hobbes
realiza um notável alargamento de uma questão que está
longe de interessar somente aos especialistas.
18
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
INTRODUÇÃO
OS NOMES E AS COISAS
19
O vocábulo stato pode até ter sido introduzido na literatura política por Maquiavel, como sugerem Meinecke,1
Hermann Heller2 e outros. E talvez não haja antes dele quem
tenha escrito de modo tão franco sobre a lógica do poder.
Mas a história da noção de razão de Estado e dos termos a
ela associados começa bem antes: remonta no mínimo à disputa pelas Investiduras, caracterizada pelo confronto entre
Imperium e Sacerdotium e sua aspiração de universalidade. A
defesa de uma comunidade universal cristã na obra de João
de Salisbury, por exemplo, não constituía somente a expressão de uma doutrina. Era também a resposta eclesiástica a
uma nova realidade: um poder secular que afirmava sua jurisdição sobre um território, em oposição tanto aos poderes
locais quanto às pretensões de ingerência da Igreja.
Essa nova realidade não se configurou ao mesmo tempo nem por um processo único em toda a Europa.3 No caso
inglês, internamente a Coroa se afirmou contra os barões e,
no exterior, contra a Igreja. No continente, as forças em confronto eram quatro: as monarquias nascentes, o Império, o
papado e os poderes locais. O conflito era simultaneamente
jurídico e político. Político, porque envolvia não só uma redistribuição de poder, mas também a entrada de novos atores. Jurídico, porque os confrontos principais quase nunca,
ou nunca, eram explicitados diretamente como problemas
1
2
3
MEINECKE, Fr. Machiavellism. London: Westview, 1984.
HELLER, H. Teoría del Estado. México: Fondo de Cultura Económica,
1987.
Cf. por exemplo a obra clássica de ELIAS, N. O processo civilizador. Rio
de Janeiro: Zahar, 1993. v. 2, esp. p. 87-131.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
de poder, mas como questões de jurisdição e de legitimidade.
Os novos atores eram, entre outros: 1) a troupe do Estado (rei, ministros, burocratas, juízes, coletores de impostos
etc.); 2) os elementos urbanos emergentes (artesãos e suas
corporações de ofício, comerciantes, prestadores de serviços
etc.); 3) uma intelectualidade que, embora dividida partidariamente e, portanto, dependente quase sempre ou da Igreja
ou da espada, passava a constituir um fator de poder, identificado cada vez mais com a burocracia estatal; 4) os grupos
envolvidos nos movimentos heréticos ou de oposição às doutrinas religiosas dominantes, em geral oriundos das camadas inferiores e muitas vezes participantes de desordens e
sublevações.
A luta se desenvolvia não só no plano da ação direta,
mas também no das idéias. Participavam da disputa juristas, teólogos, filósofos e, muitas vezes, pessoas com todas
essas qualificações. A eles competia determinar os fundamentos do direito de cada parte e, portanto, a legitimidade
das pretensões em conflito. Nessa discussão se construíam
os alicerces legais e ideológicos de um novo sistema de poder
e, ao mesmo tempo, se determinava sua extensão.
Os conflitos só apareciam, é óbvio, quando um novo
poder tinha peso suficiente para questionar a ordem num
certo momento. Esse era o fato político em sua versão mais
crua. Mas o novo poder tentava afirmar-se não apenas pela
força. Pretendia sobretudo ser reconhecido como portador
de um direito ou, mais precisamente, como legítimo detentor
de uma jurisdição. Esse era o fato jurídico em sua descrição
mais simples. Mas não havia historicamente, nesse caso, um
fato apenas político ou apenas jurídico: o político se manifestava na forma de uma reivindicação legal. Quando Maquiavel
escreveu, já não precisou cuidar de questões legais. Ele já se
referia à lei como um dado político e social. O trabalho de
22
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
construção já havia sido realizado: no século XVI, o Estado,
como entidade juridicamente definida, era um fato plenamente desenvolvido, não uma novidade.
***
Caberia aqui indagar: a partir de que momento então
se pode falar em Estado, em sentido compatível com a noção
moderna? A palavra compatível, nesse caso, é uma restrição
importante. Trata-se de saber não a data de nascimento do
Estado moderno, seja qual for sua descrição tipológica, mas
de identificar um movimento histórico bem determinado. “Não
tenhamos medo de fazer mau uso da palavra Estado para
esses séculos que não a conheceram”, escreve Francesco Calasso.4 Não se trata somente de afastar, como inútil, o escrúpulo defendido, por exemplo, por Hermann Heller.5 Muito
mais do que isso: trata-se de conferir a ênfase necessária ao
movimento da história, sem se deixar limitar por uma classificação tipológica.
Reconhecer esses processos de transformação que constituíram a base do Estado moderno e de seus principais atributos, entre os quais a noção de soberania, é o objetivo deste
trabalho. Esse movimento ocorreu segundo ritmos diferentes em diferentes locais (na Inglaterra e no continente, para
tomar uma distinção bem visível). E os arranjos de poder não
4
5
CALASSO, F. Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale. Milão:
Giuffrè, 1965. p. 237.
Cf. HELLER, op. cit., p. 142 e seguintes. Heller utiliza a definição weberiana
de Estado para analisar a Idade Média e nela buscar, sem as devidas
mediações histórico-teóricas, algo que obviamente não poderia estar lá.
Sua maior dificuldade, no entanto, é não ter percebido que boa parte
das questões políticas medievais se apresentava como formulações de
caráter jurídico – daí a sua pouca visibilidade para aqueles que tentaram localizá-las por meio de conceitos cristalizados da ciência política.
23
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
se deram da mesma forma em toda parte. No entanto, é possível mostrar, em todos os casos, características comuns de
um processo de reordenação política. Essa reordenação foi
constitutiva do que hoje chamamos Estado. A ordem gestada
por esse processo é o que aqui se designa como compatível
com a noção moderna.
O problema, portanto, é procurar entender – e localizar
corretamente nos diferentes momentos históricos – uma realidade que se constituía à sombra da ideologia da communitas
humanitatis do Império e da Igreja. Essa communitas correspondia à totalidade dos cristãos e dos cives Romani imperii.
Os dois conjuntos podiam se corresponder perfeitamente em
termos ideológicos. “Na ideologia medieval do Imperium
christianorum”, explica Calasso, “todos os que acreditavam
em Cristo eram cidadãos do Império, isto é, eram cristãos e
romanos; e vice-versa”.6 O fiel e o cidadão do império constituíam faces da mesma pessoa: o cristão era “romano” e viceversa. Império e Igreja eram co-extensivos em suas pretensões
de domínio.
A observação de seus respectivos códigos legais, isto
é, as regras subsumidas sob o ius civile e ius canonicum,
garantia uma convivência pouco conflituosa entre as duas
instituições. Eram, idealmente, duas competências
normativas convergentes e não competitivas. Sua unidade
se expressava no aforisma “extra ecclesiam non est imperium”,
porque fora da Igreja não existia poder ordenado por Deus.
Historicamente, no entanto, imperadores e papas disputaram, às vezes com muito sangue vertido, o poder em todas
as suas formas, temporais e espirituais. Também essa disputa entre Regnum e Sacerdotium servia para fecundar o
pensamento político e jurídico, especialmente entre os séculos XII e XIV, mas dela não resultaria, senão de forma
6
CALASSO, op. cit., p. 241-2.
24
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
indireta, a destruição da idéia de uma comunidade universal dos cristãos.
Essa noção estava muito firme, como objeto de fé, no
tempo do “fatigoso nascimento dos assim chamados Estados
nacionais”, lembra Calasso, ao relacionar, numa longa lista,
as unidades políticas em formação em toda a Europa desde
pelo menos o século XI.7
Enquanto a Europa, particularmente entre os séculos XII
e XIII, era trabalhada pelo incessante movimento dos povos que emergiam em busca de seu lugar, dentro e fora
da jurisdição direta do Império Romano-Germânico, no
campo da ciência jurídica abria caminho um novo princípio, destinado a interpretar por séculos o mundo novo
que estava por surgir. Esse princípio veio logo encerrado
numa fórmula que assim soou: “rex superiorem non
recognoscens in regno suo est imperator”, e que significava o seguinte: o rei, que não reconhece poder acima de si,
7
“Na península Ibérica, depois da vitória definitiva das armas cristãs
sobre os muçulmanos, nascem o reino de Aragão e o de Portugal; consolidam-se como Estados fortes, mas através de uma história inteiramente diversa, o reino de França e o de Inglaterra – o primeiro, com a
pressão da monarquia sobre as classes feudais e por meio da exaltação
do elemento citadino; o segundo, com a coalizão triunfante das várias
classes sociais contra a monarquia –; no coração da Europa, o reino da
Alemanha, com a prevalência dos grandes feudatários, acentua cada
vez mais uma política nacionalista, enquanto um novo Estado dele se
destaca, a Áustria; ao norte, afirmam-se os Estados escandinavos, com
predomínio do reino da Dinamarca; surgem os reinos da Lituânia, da
Polônia, da Rússia; enquanto ao sul a Hungria, a Sérvia, a Croácia, a
Bulgária, a Romênia, a Albânia se consolidam como Estados. São ordenamentos políticos novos ou em renovação, que se erguem sobre um
fundo turbulento de lutas gigantescas, nas quais os povos europeus se
empenharam freqüentemente contra forças extra-européias (dos muçulmanos no sul aos mongóis no leste). E, como organismos jovens, não
querem sentir-se ligados pelas amarras de ideologias tradicionais, embora, note-se bem, como Estados cristãos, vinculados à Igreja de Roma,
não possam, pela estrutura mesma do mundo medieval, ignorá-las”. In:
CALASSO, op. cit., p. 243.
25
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tem, no âmbito do próprio reino, os mesmos poderes que
tem o imperador sobre todo o Império.8
A reconstituição dos passos por meio dos quais ocorria
a maturação dessas novas idéias, seja no trabalho dos juristas, seja no dos teólogos, é fundamental para compreender a
formação da concepção de uma ratio specifica do Estado, em
nossos dias freqüentemente resumida no termo soberania.
Essa é a tarefa central a ser empreendida neste trabalho.
Quando se entende este processo, pode-se fazer a crítica da
opinião corrente que nega haver a Idade Média conhecido o
conceito de Estado e também o de soberania. Segundo essa
opinião, as duas idéias só se afirmaram no século XVI, com o
triunfo do absolutismo, isto é, das condições de poder descritas teoricamente por Jean Bodin.
Os tempos modernos – e aqui se está assumindo a posição também defendida por Calasso – preencheram a palavra soberania de uma substância que, como “fatalmente
sucede às fórmulas definitórias”, foi-se petrificando e assumindo o peso de um dogma, um “verbum mysticum”, destinado a cobrir alguma coisa que na realidade se havia
distanciado sempre mais das consciências. Fazer a história
de um dogma, alerta Calasso, implica dissolvê-lo.
Trata-se sobretudo de um erro de perspectiva: o medievo
não conhece o dogma da soberania, pelo simples fato de
que este é uma criação da época moderna; se colocamos,
ao invés, o problema em termos modernos, o seu esforço
consistiu sobretudo na consumação do velho invólucro
que, como se viu, havia incubado a nova idéia.9
Calasso não usa essa imagem, mas poderia bem servir-se dela: o processo por ele descrito é análogo ao desenvolvimento de uma larva até a destruição do casulo.
8
9
Ibid., p. 244.
Ibid., p. 257 – grifo meu.
26
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
É a insuficiência dessa noção de processo que dificulta o tratamento das noções de Estado e de soberania no
capítulo de Heller, “Supostos históricos do Estado atual”.10
O texto contém referências históricas, mas permanece preso a uma perspectiva tipológica que se revela dogmática.
Por isso, o autor acaba tratando exemplos históricos importantes, como os da Sicília e da Inglaterra, quase como casos
excepcionais, desvios da norma, dados que não desmentem
a communis opinio. Talvez o problema esteja no fato de que,
enquanto Weber utiliza material histórico para construir um
tipo, Heller, movido por uma inspiração declaradamente
weberiana, parta de um tipo (do Estado) e de um conceito
cristalizado (o de soberania) para examinar a história política medieval.
***
Mas Heller certamente não é o único autor a se enredar
nesse tipo de armadilha. Tampouco é esse o único equívoco
que pode ser encontrado nas abordagens de historiadores e
cientistas políticos. Hinsley, por exemplo, especialista em relações internacionais e autor de um livro conhecido sobre a
questão de soberania,11 merece crítica semelhante. Embora
bastante sensível aos fluxos históricos, ele vincula a reconstrução da noção a uma fórmula moderna: “a afirmação do
conceito de soberania”, escreve,
só teria lugar com a completa autonomização da noção
como categoria reguladora da relação entre governante e
comunidade política. Antes que o conceito aparecesse em
sua plenitude, foi preciso consolidar o Estado, independentizá-lo dos laços com concepções de mundo divinas e
10
11
Cf. HELLER, op. cit., p. 141-54.
HINSLEY, F. H. Sovereignty. Cambridge: University Press, 1986.
27
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
naturais – bem como o conceito de soberania –, e “libertálo” da idéia do monarca legislador absoluto, para que pudesse mostrar sua verdadeira face.12
Isso implica a constituição de um sistema de relações
internacionais entre Estados autônomos.
Se essas relações são verdadeiras, argumenta ele, quatro coisas devem se seguir:
o conceito de soberania não será encontrado em sociedades que não tenham Estado. O conceito, longe de aparecer
com as formas do Estado, não surgirá até que um processo subseqüente de integração ou conciliação tenha sido
efetivado entre um Estado e sua comunidade. Ter-se-á infalivelmente lutado na superfície, por outro lado, quando e
onde quer que esse processo tenha avançado apenas até
um certo ponto. E depois, uma vez aparecido esse conceito em qualquer sociedade, seu desenvolvimento posterior
será vinculado por último a transformações posteriores
nas relações entre a sociedade e seu governo.
E, depois de fornecer a receita, propõe: “Precisamos
agora voltar à história da teoria política para descobrir se
essas expectativas foram preenchidas”.13
O equívoco não poderia ter sido explicitado de forma
mais clara. Vícios como esse podem ser encontrados em abundância nas formulações a respeito de noções como soberania
e Estado.14 Mais do que meros enganos conceituais, no en12
13
14
“A teoria da soberania”, define Hinsley adiante, “não é uma justificação
absolutista do poder político, mas sim uma justificação ‘constitucional’
do poder político absoluto”. In: HINSLEY, op. cit., p. 107.
Ibid., p. 22.
Crítica semelhante pode ser feita ao trabalho recente do cientista político sueco Jens Bartelson. Para dar conta da formação do conceito de
soberania, ele o vincula logicamente à construção de um âmbito externo
(ou internacional), em oposição ao interno. Ou seja, define soberania
como uma derivação lógica da constituição de uma ordem internacional. Parte de uma relação localizada no presente – a existência de uma
28
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
tanto, as leituras e interpretações históricas são fruto das
idéias, tendências e aparatos conceituais disponíveis em cada
época. Ao invés de apontar este ou aquele culpado, contudo,
a opção feita aqui foi a de procurar um caminho de reconstrução histórica e teórica que evite perpetuar raciocínios anacrônicos ou ainda a tentação de petrificar a história.
Também merece atenção um outro ponto: noções como
soberania e Estado moderno não podem e não devem ser utilizadas de modo intercambiável. Ora por falta de rigor
conceitual, ora por convergências históricas, muitos autores
sucumbem à tentação de tratá-las como um único fenômeno.
A intenção deste trabalho, ao contrário, é tentar reconstituir a
formação conceitual e histórica dessas duas noções diversas
num contexto específico: em fins da Idade Média, sem procurar transpor suas definições ou funções para o mundo moderno. De modo bastante grosseiro, pode-se afirmar que um novo
sistema de poder estava sendo gestado na Europa desde o
século XI. Esse sistema desenvolveria características próprias,
como se mostrará adiante, até se consolidar numa forma retrospectivamente denominada Estado moderno.
A noção de soberania, por sua vez, aparece como um
conceito em transformação desde pelo menos a difusão
ordem política internacional, baseada em Estados nacionais soberanos
– para buscá-la num passado remoto no qual ela obviamente não pode
ria estar. Isso o obriga a afirmar que o conceito só se consolida, tal como
o conhecemos modernamente, com o advento dos Estados nacionais
soberanos. Segundo ele, soberania só terá realidade de fato quando as
condições do conhecimento permitirem que seja pensada como uma construção puramente humana, expressão do poder criativo dos homens. E
essas condições, diz Bartelson, serão alcançadas apenas com as transformações possibilitadas pelo Iluminismo no século XVIII. Somente com
as sintetizações de Kant, Rousseau e Hegel, afirma o autor, torna-se
possível concretizar a idéia de um sistema internacional e de Estados
nacionais, condições epistemológicas do uso moderno do conceito de
soberania. Cf. BARTELSON, J. A genealogy of sovereignty. Cambridge:
University Press, 1995. (esp. p. 236 et seq.)
29
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ideológica e prática do cristianismo na Europa, a partir do
século X. Num primeiro momento, esse fenômeno que viria a
ser nomeado soberania indicava mais a atribuição da função
de “comissário de Deus” a este ou aquele agente. Isto é, a
determinação de quem fazia cumprir a lei em nome de Deus
nesta ou naquela esfera de governo em circunstâncias determinadas. A Questão das Investiduras, por exemplo, girava
em torno do problema de quem teria poder para nomear os
bispos e investir o clero. Nesse momento, o problema da soberania se colocava não apenas para o imperador ou para o
papa, mas para todos os poderes que pretendiam obter a
supremacia nas querelas em questão. E, de modo um pouco
diferente do que ocorreria com a noção de Estado moderno,
soberania, nesse sentido, não era incompatível com a idéia
de uma comunidade universal cristã.
Foi apenas num momento posterior, com os acréscimos políticos e conceituais gerados pela recuperação do direito romano e dos escritos dos antigos – em especial os de
Aristóteles –, pela síntese de Tomás de Aquino e pelas transformações em curso no Ocidente latino, sobretudo nos séculos XII e XIII, que se tornou possível pensar a capacidade de
criar e impor a lei – fosse em nome de um legislador divino ou
humano – como um atributo do conceito que seria sintetizado na idéia de soberania.15 A decisão de Filipe, o Belo, de
15
HINSLEY, por exemplo, inicia sua reconstrução do conceito de soberania – entendida como um conceito aplicado pelos homens, uma qualidade que eles atribuem ou ainda uma reivindicação que eles
contrapõem ao poder político que eles ou outros homens exercem –
remetendo-se à polis grega, passando depois pela Roma antiga, pelo
medievo e pelos modernos até chegar nos usos contemporâneos. É
claro que essa reconstrução não se fundamenta propriamente na existência da palavra soberania, mas nos seus vários nomes e nos significados que assumiu ao longo dos séculos até chegar a nós. Este o
princípio útil a reter: o de que as idéias têm sempre uma história, esta
também em constante transformação.
30
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
taxar o clero francês, independentemente de seus laços com
a Igreja de Roma, ilustra bem a nova dimensão do problema:
tratava-se agora de impor uma lei num determinado território como afirmação de uma vontade humana suprema.
Somente depois de adquirir esse segundo sentido é que
a noção de soberania pôde ser diretamente associada ao nascente Estado moderno: foi a partir daí que o poder de criação
e imposição da lei por um legislador passou a transformar-se
mais e mais num atributo de uma formação de poder territorial
específica, definida em termos cada vez mais leigos e independente de normas e concepções divinas e universalistas.
Quando essa “união” conceitual e prática passa a ter lugar, a
história desses dois conceitos se entrelaça de tal modo que
se torna difícil percebê-los como duas entidades teórica e
historicamente distintas, como dois movimentos temporais
diferenciados que – numa quase fusão – se encontram por
um certo período e em determinado lugar na história.
E, como conceitos temporalmente definidos, ambos
seguiram se desenvolvendo ao longo dos séculos, adicionando e subtraindo características e alterando sua semântica, o
que os tornaria ora menos, ora mais diferenciáveis. Essa separação entre as duas noções é provavelmente bem mais nítida hoje do que foi para Beaumanoir e seus contemporâneos.16 Em fins da Idade Média, contudo, é quase impossível
16
Apenas como exemplo ilustrativo: quando voltamos a atenção para o que
está ocorrendo hoje no mundo, e sobretudo na Europa, torna-se bastante perceptível que, com o acirramento da internacionalização, os conceitos básicos da ciência política estão se redefinindo e gestando novas
realidades. A criação da União Européia, por exemplo, e de um Parlamento europeu que legisla e decide em questões específicas acima dos
“Estados nacionais”, impondo a cada Estado particular normas e sanções válidas para todos, vem mostrar que o locus, a natureza e, portanto,
a definição da noção de soberania estão passando por profundas transformações conceituais e empíricas – o que não implica necessariamente
a “morte” do conceito, mas sim sua reformulação em termos novos.
31
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
falar de um desses conceitos sem ter de mencionar ou considerar o outro, o que pode obscurecer bastante a clareza
conceitual.
***
De modo semelhante à noção de Estado moderno – e
por vezes confundindo-se com ela –, também o conceito de
soberania teve uma gênese demorada: resultou de um processo de transformação jurídica e política, do qual emergiu
um novo mapeamento do poder e das lealdades na Europa.
Nesse processo, não só se afirmava uma nova formação de
poder, como também se desenvolvia um discurso jurídico e
político adequado aos novos conflitos e à nova realidade.17 A
formação do conceito, portanto, não ocorria paralelamente à
história política: era parte dela.
A mudança não se deu ao mesmo tempo nem com a
mesma velocidade em toda a Europa. A consolidação da
autoridade real, a centralização administrativa e a burocratização das funções públicas ocorreram mais cedo na Inglaterra do que na maior parte do continente. A influência do
Império, assim como a da Igreja, se exercia de forma desi17
João Carlos Brum Torres aponta com clareza o vínculo entre as duas
ordens de fatos, a reordenação do poder e a construção doutrinária: “A
idéia de soberania é resultante doutrinária, mas também instrumento,
de um longo processo de concentração e centralização do poder, em
cuja dinâmica se integram, como linhas de força decisivas, sua fixação
e centralização geográficas, o afastamento do príncipe das redes de
vassalagem medieval e, sobretudo, a consolidação do poder real tanto
frente às grandes figuras da alta nobreza, quanto, no plano externo, frente às pretensões temporais do papado [...]. Portanto, que o rei
seja efetivamente imperator in regno suo, não reconhecendo nenhum
poder terreno superior em todas as questões políticas, esta a propriedade fundamental da soberania e também o primeiro pré-requisito da concepção moderna do poder estatal”. In: TORRES, João Carlos Brum. Figuras
do Estado moderno. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 47.
32
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
gual nas várias regiões. Na França, por exemplo, a figura do
imperador praticamente não tinha relevância no início do
século XIV, embora a literatura política da época, com freqüência, se referisse ao Império como paradigma do poder
secular.
Por trás de toda essa diversidade, alguns elementos
comuns permitem falar num processo geral de transformação. Três desses elementos são apontados por Joseph Strayer
– que em seu livro concentra a atenção no desenvolvimento
institucional do Estado moderno – como essenciais à constituição do Estado, a partir das formações medievais: 1) o aparecimento de unidades políticas persistentes no tempo e
geograficamente estáveis; 2) o desenvolvimento de instituições duradouras e impessoais; 3) o surgimento de consenso
sobre a necessidade de uma autoridade suprema e a aceitação pelos súditos dessa autoridade como objeto da lealdade
básica.18
Segundo Strayer, os Estados europeus surgidos depois
de 1100 combinaram com êxito certas características dos
impérios antigos, como a vastidão e o poder, e das cidadesestado, marcadas por um razoável grau de integração entre
os súditos e por um sentimento de identidade comum. Por
volta do ano 1000, depois de grandes migrações, guerras
múltiplas e intensa fragmentação do poder, ainda era difícil
encontrar na Europa algo parecido com um Estado.
A partir do fim do século XI, porém, novas condições
começaram a marcar a vida política e social. Strayer indica,
em primeiro lugar, a difusão do cristianismo: segundo ele, “a
Europa ocidental só passou a ser realmente cristã nos finais
do século X”.19 A Igreja não só compartilhava alguns dos atri-
18
19
Cf. STRAYER, J. As origens medievais do Estado moderno. Lisboa: Gradiva,
s. d., p. 22 et. seq.
Ibid., p. 21.
33
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
butos do Estado nascente, como instituições duradouras e
uma teoria do “poder supremo” papal, mas também influenciava diretamente a política secular, pelo envolvimento do
clero nos negócios públicos e pela atribuição, aos governantes, da obrigação de garantir a paz e a justiça entre os súditos. Exigências desse tipo impunham o desenvolvimento de
instituições judiciais e administrativas.
O segundo fator apontado é a estabilização da Europa
depois de um longo período de migrações, invasões e conquistas. “Pelo simples fato de se manterem de pé, alguns
reinos e principados começaram a adquirir solidez. Certos
povos, ocupando determinadas áreas, permaneceram, durante séculos, integrados num mesmo conjunto político.”20
Com a estabilização, surgiam condições para a implantação
de padrões mais sólidos de segurança interna e externa, fundados em instituições judiciais e financeiras mais eficazes,
mais complexas e crescentemente centralizadas. As atribuições públicas tendiam a especializar-se e a diferenciar-se,
portanto, das funções costumeiras da comunidade.
Foram transformações lentas, acompanhadas e reforçadas pelo aumento da produção agrícola, do comércio e das
atividades urbanas. No fim do século XIII, segundo Strayer, a
terceira condição estava consolidada, com os sentimentos de
lealdade à Igreja, à comunidade e à família ultrapassados pelo
sentimento de lealdade ao Estado nascente, principalmente
na Inglaterra. Não que as lealdades e interesses anteriormente
dominantes tivessem desaparecido ou perdido importância. O
fato significativo é que se passava a pensar com um novo quadro de referências. Esse quadro se impunha mesmo nas rebeliões: não se lutava mais contra a instituição materializada no
governo central, mas para mudar os padrões de governo e para
obter dos tribunais a proteção desejada.
20
Ibid., p. 22.
34
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
Se essas mudanças ocorreram a partir da estabilização
da Europa, seu desenvolvimento, no entanto, não foi pacífico. O conflito, como lembra Calasso, nem sempre assumia a
forma de contestação aberta, pelos reis, da concepção tradicional da comunidade cristã universal. Tampouco se manifestava, sempre, como negação da autoridade imperial. Nem
era preciso. No século XIII, o poder efetivo do imperador pouco significava nos principais reinos em formação. E a Igreja
se encarregou, sempre que pôde, de pôr em xeque esse poder
onde ele era mais significativo.
***
A conformação desse novo sistema de poder estatal teve
como contrapartida a constituição de uma nova ordem jurídica. Essa ordem redefinia os vínculos de comando e obediência, constituía unidades políticas como áreas de jurisdição
exclusiva e estabelecia, entre essas unidades, relações de
igualdade num sentido preciso: forte ou fraca, pequena ou
grande, nenhuma se reconhecia como subordinada à outra.
A generalização dessa idéia viria fundar a ordem internacional. Se o sistema de relações entre Estados era o reino da
força, como pensaria Hobbes, ou se era também um universo legal em sentido próprio, como sustentariam os teóricos do
bellum iustum (Grotius, Pufendorf etc.), não cabe aqui discutir.
O importante é reter que o sistema se construía com
base em determinadas pretensões jurídicas dos detentores
do poder territorial. De um lado, essas pretensões excluíam
toda interferência nos assuntos do reino. Constituía-se uma
oposição legal entre o interno e o externo, em sentido radicalmente novo. De outro, passava-se a agir em nome de uma
nova categoria de interesses. João Quidort já mencionava,
em seu livro Sobre o poder régio e papal, no início do século
35
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
XIV, a possibilidade de o príncipe agir na defesa de interesses do reino:
Se fizer [o que é indicado anteriormente] em proveito
próprio ou de seu país [terrae], faz o que lhe é permitido, embora por conseqüência surjam danos a terceiros, pois a cada um é permitido fazer uso de seu direito.
[...] E, mesmo que o príncipe tome tal medida com a
intenção de prejudicar, mesmo assim lhe é lícito, se
previr com argumentos prováveis ou evidentes que o
papa se tornou seu inimigo ou que convocou os prelados para com eles planejar algo contra o príncipe ou o
reino. É lícito ao príncipe repelir o abuso do gládio espiritual como o puder, mesmo se usando para tanto o
gládio material, principalmente quando o abuso do
gládio espiritual se converte em um mal para a república [rei publicae], cujo cuidado incumbe ao rei. Em
caso contrário, não haveria razão para este levar o
gládio.21
Pode parecer curioso João Quidort utilizar, nesse momento, argumentos originários do direito privado. Ele se referia ao uso das águas, numa propriedade, com prejuízo para
os vizinhos. Pode um homem elevar as águas ou desviá-las
por outros canais, impedindo a irrigação de terras alheias?
“Diz a lei que lhe é permitida tal ação”, respondia, “pois está
usando de seu direito, embora outros venham a ser prejudicados” (idem).
Há dois pontos de especial significado nesse raciocínio.
O primeiro é a analogia, estabelecida por João Quidort, entre
propriedades particulares e potências. As relações entre potências eram equiparadas, juridicamente, às relações entre
unidades individuais de direito, num sentido muito próximo
àquele encontrado nas teorias contratualistas. Em lingua21
QUIDORT, Jean. Sobre o poder régio e papal. Petrópolis: Vozes, 1989.
p. 123-4.
36
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
gem moderna, pode-se afirmar sem muitas reservas que João
Quidort tratava as questões de direito público internacional
como questões de direito privado: pensava os Estados como
unidades individuais.22 O segundo ponto é o reconhecimento do interesse próprio como fonte absoluta de direito. Assim
como o agricultor tinha o direito de usar as águas de sua
bica segundo lhe parecesse melhor, mesmo com prejuízo dos
vizinhos, podia o príncipe tomar as medidas que julgasse
necessárias, “mesmo com a intenção de prejudicar”, na defesa própria ou de seu reino.
Note-se a diferença entre duas questões: uma é o direito absoluto de agir, outra é a obrigação do príncipe de defender a república (“cujo cuidado incumbe ao rei”). A segunda
noção era parte da tradição medieval: o governante era
minister, ou seja, servidor da lei. A primeira fazia parte de
uma idéia em formação: a dos Estados (regna, res publicae
etc.) como sujeitos de interesses que se antepunham, por
direito, a quaisquer outros. A novidade aqui consistia em
conceber na figura do Estado o portador de um direito absoluto e incondicional, isto é, pensar o Estado como detentor
de direitos indiscutíveis, de modo análogo ao direito de propriedade. Essa seria, na forma acabada, a mais radical concepção moderna da soberania de cada potência em face das
demais.
Esse novo desenho das relações de poder é ao mesmo
tempo uma construção e uma descoberta. Construção, porque correspondia a planos e a ambições dos atores envolvidos. Descoberta, porque nenhuma virtù permitiria projetar
com exatidão o formato do novo mundo. Com essa perspectiva, não é preciso eliminar a intencionalidade da ação política
22
Sua noção de direito era construída a partir da anterioridade do direito
individual em relação ao direito público – tradição herdada em boa parte do direito romano.
37
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
nem ler a história atribuindo aos agentes, de forma retrospectiva, uma consciência que não poderiam ter. Assumido
esse ponto, fica mais fácil mostrar em que consiste este trabalho. Estudar a formação do conceito que viria a ser nomeado soberania liga-se, sobretudo a partir do século XIII, à
tarefa de examinar a construção de um novo sistema de poder, que se expressaria de maneira mais acabada no sistema
estatal moderno. Se essa construção é também uma descoberta, o quadro conceitual correspondente se compõe, da
mesma forma, ao longo de um caminho desconhecido para
quem o percorre.
Essa concepção explica tanto os cuidados quanto aparentes licenças que poderão surgir no texto. O cuidado principal é não buscar, no processo formador, nem o Estado como
o conhecemos a partir do século XVI nem uma teoria da soberania tal como a sistematizada por Bodin ou por Hobbes.
É inútil, neste caso, trabalhar com imagens prontas e tipos
cristalizados e separados da história. Portanto, não se vai
tomar, por exemplo, a definição weberiana de Estado e percorrer a história, como um catálogo, em busca do que se
possa enquadrar no molde.
Também não se entrará numa pesquisa filológica. O
objetivo não é examinar textos antigos em busca de palavras
como stato e souverain e discutir seu sentido preciso, embora esse exercício seja de grande importância para a história
das idéias políticas. Tratar da gênese do Estado e da noção
de soberania, isto é, da formação de uma ordem política que
teria na definição moderna de soberania talvez a sua mais
importante representação ideológica e jurídica envolve em
primeiro lugar tarefas de outra natureza. O objeto “Estado”
ou “Estado em formação” pode ser designado por muitos
nomes (regnum, por exemplo). Da mesma forma, os atributos
do poder supremo são indicáveis por muitas palavras diferentes do termo soberania (plenitudo potestatis, entre outros).
38
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
Isso sugere uma escolha metodológica. O caminho mais
adequado parece ser o do exame de como as idéias e instituições políticas mais correntes chegaram a ser o que são ao
longo de um mesmo devir histórico. De um mesmo devir,
porque as doutrinas políticas e jurídicas não são somente
reflexões acerca do mundo. São também parte dos fatos políticos. Os principais juristas e pensadores políticos do período
estavam engajados nos grandes conflitos. Suas melhores produções correspondiam, antes de tudo, a artefatos destinados
à luta política.
O princípio de continuidade tem, portanto, importância crucial para entender como certas idéias – neste caso, as
que marcaram o período medieval – originaram, lenta e gradativamente, nossas formas de pensar a vida política e o interesse público. Para os fins deste trabalho, portanto, será
indispensável considerar tanto a história dos fatos políticos
quanto a história das idéias políticas –23 estas freqüentemente revestidas como formulações de caráter jurídico.
23
O que se tentará aqui é não cair na ortodoxia daqueles que insistem
ser o contexto (fatores econômicos, políticos e religiosos) o determinante do sentido de qualquer texto dado, privilegiando com isso a
“moldura” em que se inserem os fatos; mas deve-se evitar ainda a
ortodoxia oposta: aquela que insiste na autonomia do texto em si como
a única chave necessária para a sua compreensão, deixando de reconstituir fatos históricos que podem explicar as preocupações de um
autor. Como aponta Quentin Skinner, “[...] It must follow that in order
to be said to have understood any statement made in the past, it cannot
be enough to grasp what was said, or even to grasp that the meaning of
what was said may have changed. It cannot in consequence be enough
to study either what the statement meant, or even what its context may
be alleged to show about what it must have meant. The further point
which must still be grasped for any given statement is how what was
said was meant, and thus what relations there may have been between
various different statements even within the same general context”. In:
TULLY, J. (Ed.). Meaning and context. Cambridge: University Press, 1988.
p. 29 e p. 62.
39
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Mais importante, portanto, é identificar claramente as
pretensões e os valores em jogo nas disputas de poder. A
questão da soberania é constituída justamente no cruzamento desses confrontos políticos, que se dão entre: 1) o
império e o papado; 2) o império e os poderes estatais nascentes; 3) o papado e esses poderes estatais; 4) estes poderes e a nobreza. Também é relevante, naturalmente, o pano
de fundo das mudanças econômicas e sociais. Há uma relação de mão dupla entre os fatos da “base” – a urbanização,
o crescimento do comércio, a formação de corporações, as
revoltas no campo e na cidade etc. – e a redefinição das
forças políticas e das instituições. O “povo” passa a ocupar,
por exemplo, um lugar de crescente importância no discurso dos teólogos políticos, a ponto de, a partir do século XIV,
haver espaço para noções democratizantes nas doutrinas
sobre a organização eclesial – como, por exemplo, a teoria
do poder ascendente.24 Torna-se cada vez mais difícil manter a teoria de um mundo social ordenado de cima para
baixo.
Os novos conflitos, principalmente a partir da Questão
das Investiduras, deram origem a uma extensa literatura jurídica, política e artística. O apogeu desse movimento ocorreu entre os séculos XII e XIV. Grande parte da produção,
talvez a mais conhecida, tratava do conflito sobre os poderes
do papado (sacerdotium) e os do império (imperium ou regnum). Curiosamente, alguns dos textos mais notáveis apareceriam quando o império já pouco significava. No século XIV,
quando entraram no debate figuras como Guilherme de
Ockham e Marsílio de Pádua, a influência do imperador era
muito limitada, e o poder dos reis, em contraste, cada dia
mais sólido. Era como se os confrontos entre papado e impé24
Entre os vários autores que tratam essa questão, destaca-se a contribuição esclarecedora de Walter Ullmann. Cf. ULLMANN, W. Historia del
pensamiento político en la Edad Media. Barcelona: Ariel, 1983.
40
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
rio compusessem o cenário para a consagração de um novo
poder, o do Estado moderno.
Em alguns dos textos mais ricos do século XIV, o poder
real aparecia como um dado, enquanto o do imperador e o
do papa eram objetos de discussão. Bom exemplo é o capítulo final do Brevilóquio sobre o principado tirânico, de Guilherme de Ockham. Nessa passagem, o não reconhecimento pelos
reis da França de um superior em assuntos temporais era
mencionado como um argumento, isto é, como um fato fora
de disputa e reconhecido pela própria Igreja.25 O assunto em
debate era outro: a pretensão do papa de estender seus poderes sobre o imperador.
Faltava pouco, nesse momento, para a pulverização da
idéia de comunidade cristã universal. Como indica Francesco
Calasso, essa noção se mantinha sobretudo como uma moldura ideológica do debate político, uma moldura, porém, cada
vez menos importante. Mas o poder real, muito mais concreto que o imperial no século XIV, só se consolidaria no decorrer de uma história de disputas com a Igreja e com o império,
em que os reis enfrentariam cada adversário separadamente.
No caso inglês, por exemplo, o confronto com o império
era desnecessário. Restava, como rival, o poder do clero.
Quando o rei Henrique II resolveu intervir no foro eclesiástico, a lealdade dos homens influentes estava definida. Thomas
Becket só aceitara a decisão do Parlamento de Westminster
com uma restrição: “salvo ordine nostro et iure Ecclesiae”.
Henrique II recuou por um momento, e em seguida o Parlamento especificava, em 16 artigos, as restrições. Becket aceita, muda de idéia e foge para a França.
25
Cf. OCKHAM, G. Brevilóquio sobre o principado tirânico. Petrópolis: Vozes,
1988. p. 184.
41
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Significativamente, partiu do papa Alexandre III a tentativa de entendimento. A resistência de Becket acabaria se
dando quase à margem da política oficial pontifícia. Ao reconciliar-se com Henrique II, ele manteve a cláusula: “salvo
honore Dei”. O rei, aparentemente, se dispôs à convivência.
Historiadores descrevem o assassínio do arcebispo quase
como um mal-entendido ou fruto de intriga. Henrique II, incitado por intrigantes, teria deixado escapar a famosa frase:
“Não há ninguém capaz de vingar a honra do rei contra esse
sacerdote?”.
Quatro cavaleiros decidiram executar o serviço. A morte de Becket no templo foi descrita por João de Salisbury
como um martírio.26 O mesmo Alexandre III que tentara a
conciliação com Henrique II canonizou Becket, em 1173, três
anos depois de sua morte. Acidente ou não, o fim da história
parece evidente. O poder do rei se impunha ao resistente, e a
Igreja fazia da vítima um santo. Que outro desfecho seria
mais emblemático? Hobbes poderia ter feito essa pergunta.
Os confrontos de Roberto de Nápoles com o imperador e de Filipe, o Belo, com o papa são especialmente interessantes por seus desdobramentos jurídicos. A controvérsia
entre Bonifácio VIII e Filipe, o Belo, começou quando o rei
francês decidiu tributar o clero. A medida foi contestada
pelo papa na bula Clericis laicos, em 1296. Bonifácio declarou ilegal a taxação e proibiu o clero de pagar impostos sem
expressa autorização papal. Recuou, depois, ao descobrir o
apoio encontrado por Filipe, mesmo entre os padres, em
torno de questões de interesse francês. A essa sucedeu uma
polêmica sobre o direito da Coroa de prender e julgar um
bispo acusado de traição. A crise terminou com a morte do
papa, pouco depois de um grupo mandado pelo rei tentar
levá-lo preso. A história ficou por isso mesmo, e “os papas
26
Cf. SALISBURY, John of. Policraticus. Madrid: Editora Nacional, 1984.
42
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
que se seguiram não conseguiram reavivar nenhum interesse pelo caso”.27
Bastaria esse desfecho para tornar esse conflito extremamente importante como episódio de afirmação do poder
real. Mas a história interessa também pelo desenvolvimento
do debate suscitado pela questão fiscal. A defesa das pretensões reais aparecia em tratados escritos por ministros do rei
e por professores da Universidade de Paris, estes protegidos
pelo anonimato. Um texto especialmente interessante mencionado com freqüência por especialistas é a Discussão entre
um clérigo e um cavaleiro. Segundo o cavaleiro, Jesus nunca
dera ao papa os poderes por este pretendidos. Sendo apenas
um governante espiritual, sem domínio, não cabia ao papa
ditar leis.28 Mas é sobretudo nos tratados de Egídio Romano
e Jõao Quidort que a riqueza das conseqüências desse episódio para a literatura política se tornaria mais evidente.
Em 1312, Roberto, o Sábio, resistiu às forças do imperador Henrique VII, quando este estava em campanha na
Itália. Foi, então, acusado de traição, com o argumento de
haver incitado os toscanos e lombardos a rebelar-se contra
as forças imperiais e expulsar a administração germânica do
norte da Itália. O rei siciliano foi citado, recusou-se a comparecer perante o tribunal imperial de Pisa e foi condenado por
crime de lesa-majestade.
Como o reino de Nápoles era, nominalmente, feudo do
papado, Roberto levou o caso ao papa. Este consultou vários
juristas eminentes. Em 1313, Clemente V editou o decreto
papal Pastoralis cura, aderindo oficialmente ao ponto de vista segundo o qual o rei era soberano em seu território e não
podia ser citado ante o tribunal de nenhum outro rei nem
ante o do imperador. Como rei, não poderia cometer alta traição contra outro rei, por não ser súdito.
27
28
STRAYER, op. cit., p. 60.
Cf. ULLMANN, op. cit., p. 149.
43
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Esse decreto é considerado por inúmeros autores a primeira expressão legal do conceito de soberania territorial.
Negava a universalidade do poder do imperador, na qual o
papado sempre havia insistido com especial interesse. O imperador só exercia, segundo o documento, um poder
territorialmente limitado. Para muitos juristas, tanto acadêmicos, como os da Universidade de Bolonha, quanto profissionais, a idéia era bem familiar desde pelo menos o século
XIII.
Com uma certa licença poética, Calasso constata: “Lentamente, a venerada ideologia universalista cedia à vida”. A
idéia do dominus mundi passava agora a ser reconhecida
naquela plenitudo potestatis que o rei exercia no seu reino e
que era igual àquela do imperator in Imperio. A nova concepção da plenitudo potestatis dos reis em seus reinos, afirma
Calasso, viria fundamentar a concepção de uma ratio specifica
do Estado, que nos modernos resulta na palavra soberania.29
Revela-se aqui plenamente o valor puramente paradigmático
do Império. Na fórmula de Alan e Azzone se reconhece facilmente duas proposições: 1) o desconhecimento de qualquer superior por parte dos reis livres; 2) a atribuição a
qualquer um deles, in regno suo, da plenitudo potestatis
exercida pelo imperador in mundo.
No final do século XIII a palavra souverain já aparecia
nos escritos jurídicos. A referência mais freqüente é ao francês Filipe de Beaumanoir – que escreveu por volta de 1283 –
, autor do primeiro texto conhecido em que aparece a palavra
soberano (souverain). Em seus escritos, a noção era vinculada tanto à idéia moderna de função governamental quanto à
de jurisdição:
Verdade é que o rei é soberano acima de todos e tem, de
seu direito, a guarda geral de todo o seu reino, pelo que
29
CALASSO, op. cit., p. 256-7.
44
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
ele pode estabelecer tudo que lhe aprouver para o proveito comum, e o que ele estabelece deve ser seguido [...]. E,
como ele é soberano acima de todos, nós o nomeamos ao
falar de alguma soberania que lhe pertença.30
Todas as propriedades mais importantes do poder soberano, tal como concebido nas modernas teorias do Estado,
já apareciam nessa passagem de Beaumanoir: o domínio
definido (“seu reino”), o poder legislativo amplo (“estabelecer
tudo que lhe aprouver para o proveito comum”), o caráter
vinculante das normas (“o que ele estabelece deve ser seguido”), o uso da força como parte da função (“a guarda geral de
todo o reino”), a supremacia da autoridade (“soberano acima
de todos”) e, o que é especialmente significativo, a idéia de
uma legitimidade independente de qualquer outro poder (“tem,
de seu direito”).
A noção de gubernatio já não bastava, obviamente, para
dar conta dos elementos apontados nesse texto. A palavra pode
ter continuado em uso, mas tornava-se cada vez mais pobre
diante dos desenvolvimentos políticos e jurídicos ocorridos ao
longo dos séculos XIII a XV. Novas noções tornavam-se necessárias para dar conta dos novos fatos. Seja polemizando, seja
refletindo sobre o espetáculo da política, os filósofos e os juristas do final da Idade Média tentaram refazer o quadro
conceitual. Muito já estava feito quando Maquiavel e Bodin
produziram seus tratados sobre as questões do Estado e da
soberania. Nem os teóricos anteriores trataram apenas do que
deve ser, desconhecendo a facticidade das coisas, nem foram
cegos diante dos atributos do poder soberano.
30
No original francês: “Voirs est que li rois est souverains par dessus tous
et a de son droit la general garde de tou son royaume, par quoi il puet fere
teus establissemens comme il li plest pour le commun pourfit, et ce qu’il
establist doit estree tenu [...]. Et pour ce qu’il est souverains par desseur
tous, nous le nommons quant nous parlons d’aucune souveraineté qui a
li appartient”. In: BEAUMANOIR, Ph. Coutumes de Beauvaisis. Paris: J.
Picard, 1970. v. II, p. 23-4.
45
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
***
Uma descrição dos conflitos de maior conseqüência nos
séculos XII a XIV, na Europa, envolveria, como se viu, no
mínimo os seguintes elementos: 1) as pretensões de domínio
temporal do papa, do imperador e dos reis; 2) a superposição
ou separação das normas eclesiásticas e seculares; 3) a hierarquização das normas temporais (por exemplo: relação entre
direito costumeiro regional e normas gerais ditadas por outras esferas de poder); 4) a divisão das funções judiciárias.
Todas essas questões podiam ser entendidas como disputas de jurisdição. Tratava-se de saber quem julgava e quem
punia delitos civis ou violações de normas religiosas, o que já
implicava a distinção entre duas ordens normativas e duas
classes de autoridade. Tratava-se ainda de estabelecer a extensão de poderes, como, por exemplo, o de tributar. O frade
era subordinado apenas ao papa ou era também súdito do
rei e, portanto, pessoa tributável? Ou de esclarecer em nome
de quê, ou de quem, se julgava esta ou aquela causa judicial
e a que instância cabia a setença definitiva. Esses problemas
conduziram, nos séculos XIII e XIV, a uma posição nova – e
também mais clara – do tema da jurisdição territorial.
Os poderes de legislar, de mudar a lei, de resolver como
última instância e de controlar o uso da violência constituem
o que os autores modernos nomearam soberania. Se todos
aqueles conflitos de jurisdição ocorressem de forma desarticulada, seria abusivo vinculá-los à formação da idéia de poder soberano; mas também não se poderia tratá-los como
aspectos da constituição do Estado. Ou, dito de outra forma:
as grandes unidades políticas européias, bem desenvolvidas
no século XVI, teriam de ser vistas como resultantes de uma
série de atos desconexos. Uma coisa é reconhecer processos
que ultrapassam a intenção dos atores. Outra é negligenciar,
ou desvalorizar, a articulação dos comportamentos intencionais.
46
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
Parece mais razoável a combinação de duas perspectivas: nem fazer da história o produto de um plano nem reduzi-la a retalhos inteiramente desligados das intenções dos
atores. Os reis, os papas e imperadores, com certeza, não
tinham desenhada na mente, com todos os traços, a imagem
do mundo que estavam construindo. Mas tinham, certamente, uma visão organizada de suas ambições e dos objetos em
disputa. Quando Filipe, o Belo, rei da França, se opôs ao
papa Bonifácio VIII por uma questão tributária, o que se discutia era, claramente, o seu direito de cobrar impostos num
dado território, com base numa lei de seu reino, com uso de
sua força e com exclusão de qualquer outra autoridade.
Aceitos esses pontos, falar em Estado (como objeto em
formação) e em soberania (ponto de convergência dos grandes conflitos de jurisdição) deixa de ser um anacronismo.
Poderá soar como licença, ocasionalmente, porém autorizada por toda a argumentação apresentada até aqui. Marcel
David afasta sem muita dificuldade a objeção do anacronismo. Depois de examinar o uso dos termos soberano e soberania nos séculos XIII e XIV, ele põe na mesa um argumento
muito mais importante: nos séculos XII e XIII,
três das noções expressas em francês pela palavra soberania já existem, simplesmente adaptadas à estrutura
da sociedade política do tempo. Duas delas, autoridade
suprema e recusa de toda ingerência de um superior no
nível de uma potência reconhecida como legítima, se exprimem pela mesma palavra: auctoritas. Quanto à potência pública, é a palavra latina a partir da qual ela se
formou, potestas, que habitualmente serve para exprimila. Assim, o pensamento político dessa época soube fazer
do vocabulário um uso mais judicioso do que a partir do
século XVI.31
31
DAVID, Marcel. La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir
monarchique du IXe au XVe siècle. Paris, Dalloz, 1954. p. 14. Além de
tudo, diz também Marcel David, “a história e a lógica não se opõem a
que as idéias inerentes ao termo soberania tenham sido já extraídas,
47
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Como explica Alessandro Passerin D’Entrèves,
o que importa não é a falta de um claro conceito de Estado no pensamento medieval, e sim o surgimento gradual
de uma noção que dele se avizinha sempre mais, a noção
de que, entre as múltiplas formas de associação humanas há uma dotada de um poder particular: um poder
que administra, legifera, julga e tributa, não em virtude
da simples posse da força material ou das qualidades
pessoais de um chefe, mas em nome de um complexo de
normas que, justamente porque pertinentes ao status rei
publicae, são normas de direito público, não de direito
privado. [...] À respublica christiana, organização ao mesmo tempo política e religiosa de todo o mundo cristão,
terminará por substituir um novo tipo de organização,
mais restrita, mas também mais definida e de caráter
cada vez mais “leigo”, a civitas e o regnum.32
32
simplesmente expressas no latim da época, com ajuda de um vocabulário original que pôde muito bem permanecer sem grande influência sobre aquele que utilizamos em francês” (idem, p. 17).
D’ENTRÈVES, Alessandro Passerin. La dottrina dello Stato. Torino: G.
Giappichelli, 1962. p. 139.
48
INTRODUÇÃO - OS NOMES E AS COISAS
CAPÍTULO 1
A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS
E SEUS DESDOBRAMENTOS
49
I ANTECEDENTES HISTÓRICOS
O objetivo desta seção é apontar alguns eventos importantes ocorridos durante o período da chamada Alta Idade
Média,1 que serão retomados ou mesmo exercerão influência direta para o curso das idéias no período aqui estudado
– os séculos XI a XIV. Alguns desses episódios históricos,
como, por exemplo, a conversão de Constantino ou a formação do papado no Ocidente, serão reinterpretados e/ou
utilizados para sustentar práticas políticas bastante concretas, muitas vezes bem distantes do contexto específico
no qual ocorreram. Tais episódios deverão servir ainda para
iluminar um pouco a história da formação dessa unidade
territorial hoje denominada Europa, a partir do ocaso dos
romanos, e sua fragilidade diante dos grandes impérios da
época, como o Bizantino ou os poderosos califados muçulmanos.
1
Chamarei de Alta Idade Média, neste trabalho, o período que vai até
o final do século X; e de Baixa Idade Média o período que compreende os séculos XI e XV. Como alerta o historiador Jônatas Batista
Neto, uma periodização mais rigorosa “reserva apenas aos séculos
XIV a XV essa denominação”. Muitos chamam de “Idade Média central” o período entre os séculos XI e XIII – entre eles, Batista Neto.
Mas não entrarei aqui num tal debate. Para os fins deste trabalho,
essa seria uma discussão inútil, pois a questão não é objeto imediato
das reflexões aqui empreendidas: o desenvolvimento da argumentação não depende de critérios precisos de periodização histórica. Cf.
BATISTA NETO, J. História da Baixa Idade Média (1066-1453). São Paulo: Ática, 1989. p. 8-9.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A queda da cidade de Ravena,2 e com ela de boa parte
do território que havia constituído até então o Império Romano do Ocidente, em mãos do chefe sírio Odoacro, em 476,
significou o fim da política romana no setor ocidental. A vitória de Odoacro – fiel a Zenon, o augusto do Oriente, somada
à instalação das populações germânicas em reinos bárbaros,
principalmente na Europa central, punha uma pedra sobre
a hegemonia romana na região: “os latinos acabaram daí em
diante ou como massas submetidas ou como um complexo
de grupos cultos que colaboraram com o poder dos bárbaros”.3
No plano institucional, portanto, só havia espaço para
uma política inspirada nas necessidades desses povos bárbaros e suas formas de organização social. Duas transformações gerais merecem destaque: a substituição do sistema
tributário e financeiro romano pelo novo sistema de prestação de serviços; e o retorno à economia natural. A Igreja, por
não estar diretamente envolvida com o extinto império, acabou preservada e não participou de sua ruína. Pelo contrário: converteu-se numa instituição autônoma, com um
princípio de unidade e órgãos de autoridade próprios. Essa
2
3
Desde o ano de 402-3, com o imperador Honório, a cidade de Ravena
havia se tornado a sede da residência do imperador, por ocupar uma
posição estratégica para a defesa imperial contra os ataques bárbaros
ao norte. Tornou-se assim a capital do Império Romano do Ocidente.
Em 476, caiu em poder do chefe bárbaro Odoacro e, em 493, passou ao
domínio do ostrogodo Teodorico, tendo-se tornado capital da Itália
ostrogoda. Em 540, foi transformada em exarcado imperial, agora em
mãos dos bizantinos, passando a ser a capital da Itália e transformando-se no centro de toda atividade administrativa italiana. Era também o
principal porto de entrada para os bizantinos. Depois do século VIII,
Veneza passou a tomar o lugar de Ravena como o principal porto do
Mar Adriático. In: LOYN, H. R. (Org.). Dicionário da Idade Média. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1991. p. 312.
SAITTA, A. Guía crítica de la historia medieval. México: Fondo de Cultura
Económica, 1989. p. 61.
52
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Ecclesia, lembra Saitta, “estava em condições de ser simultaneamente a herdeira e a representante da antiga cultura romana e mestra e guia dos novos povos bárbaros”.4
A Igreja, contudo, passaria por um longo processo de
ordenação interna, no qual teriam lugar: o incremento da
organização episcopal, em curso desde o século I d.C.; a progressiva cristianização de camadas sociais cada vez mais
amplas; e o aumento da influência eclesiástica sobre os bárbaros, por meio da sua progressiva conversão ao catolicismo
– que promoveu ainda a “romanização” desses povos –, forjando as bases para uma nova civilização romano-medieval.
Os reis bárbaros aderiam à fé católica, mas não abdicavam
de seus poderes temporais. Lentamente, os católicos se sobrepuseram aos arianos5 no território europeu.
No século VI, embora se tenham erguido igrejas locais
independentes de Roma na Gália, Espanha e África, algumas transformações foram fundamentais para a afirmação
da superioridade da autoridade do pontífice sobre o poder
dos reis. Uma delas foi o surgimento do monaquismo
beneditino, por volta de 520, que aplicou à instituição monástica os princípios romanos da ordem e da lei. Também foi
relevante a progressiva separação de Roma do predomínio
cesaropapista6 de Bizâncio.
O Império Bizantino, o grande centro político da época,
precisava concentrar suas forças para conter a expansão dos
4
5
6
Ibid., p. 65.
Cristãos visigodos e ostrogodos que acreditavam não ser Pai e Filho, na
Trindade, compostos da mesma substância.
A noção de cesaropapismo tem origem na figura clássica do imperador
teocrático romano, que detinha o controle da Igreja e do Estado e era
cultuado como uma divindade. O conceito acabou se transformando
numa denominação para a teoria de governo segundo a qual os poderes
temporais do rex e os poderes espirituais se combinam e são exercidos
por um único governante leigo, como no caso dos imperadores bizantinos.
Cf. LOYN, op. cit., p. 87.
53
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
povos do Oriente, entre os quais os belicosos mongóis, militarmente muito mais poderosos e ameaçadores do que as
tribos germânicas. A preocupação com a defesa da fronteira
oriental de Bizâncio acabou resultando num maior espaço
para os bárbaros no Ocidente. Com a guerra gótico-grega
(535-53), caía por terra a unidade territorial da península,
pondo fim ao fiscalismo bizantino na região: estavam abertas
as portas às pretensões expansionistas do pontífice de Ravena.
Gregório Magno (590-604),7 primeiro pontífice da Igreja latina, “foi na verdade o último grande romano e o primeiro representante da civilização cristã-ocidental”. A ele se deve
a codificação da liturgia utilizada até hoje e também a introdução do canto gregoriano nos cultos. Além disso, foi um
severo regulador da vida disciplinar da Igreja e guardião da
tradição dogmática.8 Consolidou a estrutura da Igreja Católica, reforçando a instituição episcopal e subordinando-lhe o
próprio monasticismo, que até então tinha muitas vezes certa autonomia em relação às organizações eclesiásticas. Com
ele também a Igreja enriquecera:
Ao morrer, em 604, Gregório deixava já firme e bem construída a base sobre a qual o papado medieval edificaria
sua própria existência: primazia e raio de ação ecumênico;
poder moral indiscutível que não rejeita seus deveres no
plano político-mundano; e, finalmente, uma conspícua
riqueza econômica para o cumprimento de sua missão.9
Essa evolução terá como epicentro o século VIII. Como
resultado da crise européia – que remonta ao expansionismo
7
8
9
As datas assim mencionadas referem-se ao período em que o cargo foi
exercido, do início do mandato ao seu término, em geral coincidente
com a data da morte de seu ocupante, seja ele papa, rei ou imperador.
Essa forma de indicação já constitui hoje um padrão utilizado internacionalmente e será adotado aqui ao longo de todo o texto.
Doutrina que afirma a existência de verdades ou princípios corretos
que se pode comprovar serem indiscutíveis.
SAITTA, op. cit., p. 70 e 72.
54
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
árabe do século VII, com a revolução religiosa de Maomé (571632), e à ruptura da unidade da costa mediterrânea, com a
conseqüente destruição da atividade comercial –, tinha início
um período em que passava a predominar uma economia
puramente agrícola, de tipo latifundiário, baseada na grande
propriedade rural, o feudo. O centro da civilização ocidental
se movia em direção ao norte – e se manteria por muito tempo entre o Sena e o Reno.
Outros fatores também intervieram nessa crise. Entre
eles, deve-se mencionar: o problema da deterioração das relações religiosas entre Roma e Bizâncio (por exemplo, a Guerra
Iconoclasta, 726-87); uma séria crise política, agravada com
o assassinato do éxarchos de Ravena e com o desaparecimento, em Roma, do dux (chefe) bizantino (727) – episódio
que causou problemas, na sucessão papal, entre aristocratas armados e clérigos munidos de milícias rurais; a ameaça
direta contra a autonomia pontifícia, representada pelo
expansionismo longobardo; e o amadurecimento das reformas introduzidas pelo papa Gregório Magno (590-604), que
estendiam o poder do bispo de Ravena sobre todo o Ocidente
cristão.10
Dois fatos – relevantes para a constituição do papado
latino como instituição governamental – acompanharam essa
evolução: a inserção da atividade missionária no esquema
organizativo episcopal de Roma; e a constituição do papado
como um poder político propriamente dito, por meio da formação de um Estado pontifício. A justificação da posse seria
logo forjada por meio da falsificação da famosa Doação de
Constantino. Além disso, o dinamismo da monarquia francesa, que constituía um obstáculo à ascensão do papado, foi
posto em xeque com a deposição do último rei merovíngio e a
aliança entre o papado e a nova dinastia carolíngia de Carlos
Martel, que conduzira ao trono Pepino, o Grande, em 751. A
10
Ibid., p. 73-5.
55
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
partir daí, a espada francesa e a tiara pontíficia se converteriam nos supremos reguladores do Ocidente cristão, que lentamente passava a se diferenciar do “outro” – o perigo
muçulmano.11
A expansão do Império Carolíngio sob Carlos Magno,
coroado em 800, passou a abarcar um vasto mosaico de povos escassamente amalgamados. A íntima união entre Império e Igreja Católica, argumenta Saitta, alimentava um ideal
estreitamente ligado à essência do novo império: nele a idéia
mesma de poder supremo era inseparável da noção do cumprimento de uma missão religiosa, à qual se vinculavam tanto as batalhas militares de Carlos Magno quanto a sua
convicção de ser o chefe da Igreja, já que o catolicismo só
tinha vingado de fato nos territórios conquistados pelas armas.
Essa ligação umbilical entre Império e Papado culminou nos séculos X e XI. Mas os abusos e intromissões do
sumo pontífice em disputas políticas de caráter pouco sagrado conduziram a uma gradativa deterioração dessa relação.
O predomínio imperial sobre o papado, contudo, só seria pôsto
em xeque quando da Questão das Investiduras e seus resultados, assinados na Concordata de Worms, em 1122. O movimento de reforma da Igreja, que começava a tomar corpo e
alterava a configuração política da Europa, era apoiado pela
nova dinastia sálica.12 Mas o complexo de “Estados” surgidos dos povos germânicos diferia – e muito – dos seus
antecessores romanos, pois fundavam-se em outras bases:
seu eficiente aparato burocrático, por exemplo, não era “as11
12
Ibid., p. 77.
Dinastia oriunda dos sálios, tribo de francos que viviam originariamente às margens do Rio Issel e terminaria por ocupar o território germânico.
Na acepção latina mais antiga, o termo remete aos 12 sacerdotes de
Marte responsáveis pela guarda dos escudos sagrados que protegiam a
antiga Roma.
56
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
salariado”, como em Roma, e sim vivia do produto dos impostos e concessões de terra. Mais importante ainda: o vínculo fundamental com o Império era o da fidelidade pessoal
ao imperador, base do sistema feudal medieval.
***
Já no mundo árabe-muçulmano, os primeiros imperadores bizantinos promoveram a separação entre Roma e o
Oriente por meio de uma helenização cada vez mais intensa.
No século VI, Justiniano I (527-65) – “o último grande imperador romano e o primeiro bizantino” – tentou reconstituir a
“totalidade” do antigo Império Romano. Dois pontos mereceram especial atenção desse governante: a idéia de um império uno e a difusão do cristianismo. “Subordinou a esse fim”,
lembra Steven Wilson, “toda a sua política imperial, administrativa, fiscal, econômica e religiosa, enquanto a grande
codificação do direito romano, o Corpus Iuris Civilis, forneceu
a estrutura legal unitária para todo o espectro de poderes e
prerrogativas imperiais exercidos por Justiniano”.13
Mas a era – e a obra – de Justiniano14 não demorou
muito a ruir, sob o peso dos ataques persas e, ao norte, da
reordenação de povos que teve lugar ao longo do Danúbio (es13
14
LOYN, op. cit., p. 227.
O feito mais significativo de Justiniano I para a história do pensamento
político foi provavelmente a reunião de uma coleção de leis e textos
jurídicos da antiga Roma, que ficou conhecida como o Codex Justinianus,
o Código de Justiniano. O Código era formado de quatro partes: o Codex
Constitutionum (527-34), coletânea de antigas leis romanas compiladas
em dez livros; o Digesto (530-3), formado por cinqüenta livros com citações de juristas romanos; os Institutas (533), compêndio elementar de
instituições jurídicas para estudantes de direito; e as Novellae (514-65):
uma coleção de todas as leis promulgadas por ele, esta última a única
obra escrita em grego. O Codex Constitutionum e o Digesto foram reunidos no Corpus Iuris Civilis, que logo se tornou a grande referência medieval sobre direito romano.
57
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
lavos, búlgaros, kazares, avares). Além disso, ao sul e a leste
o novo Império Árabe-Muçulmano florescia, agora convertido a uma nova religião: o islamismo. O regime de Bizâncio
tentou o quanto pôde impedir a eliminação dos pequenos
proprietários, cultivadores diretos da terra. Mas pouco a pouco
o latifúndio foi conquistando também as novas terras do Oriente e fundando as bases do “feudalismo medieval”, sob as
quais as usurpações dos barões diante dos poderes imperiais e religiosos se imporiam por volta do século X.15
Nas vizinhanças do Império Bizantino, entretanto, um
Estado árabe, adaptado a uma “ideologia” árabe – que deveria abarcar, além de muçulmanos, beduínos e nômades –,
começou a se tornar realidade com o líder reliogioso Maomé
(570-632). Os princípios norteadores desse novo sistema de
poder foram expostos doutrinariamente no Corão (e na Suna).
Depois da morte do guia político e espiritual, surgiu na península a instituição do califado eletivo, modelo que repercutiria mais tarde nas sucessões dinásticas do Ocidente. O
Império Árabe-Muçulmano, sustentado agora na lei islâmica,
expandiu-se e passou a anexar novos territórios na Europa.
Cientes de sua pouca experiência político-administrativa em terras ocidentais, os governantes árabes procuravam
manter seu domínio sob as regiões anexadas sem contudo
eliminar ou substituir as instituições locais. Um bom exemplo dessa política pode ser encontrado na ocupação da
Espanha e do sul de Portugal. Os territórios conquistados
eram considerados províncias do império. Os cristãos eram
vistos como súditos de segunda classe. Todos os documentos oficiais eram redigidos em grego, e a lei islâmica era a
regra de direito público. Mas a conversão à fé islâmica não
era obrigatória aos povos conquistados, nem se mexeu no
regime de propriedade, que continuou sendo estatal.16
15
16
Cf. SAITTA, op. cit., p. 104.
Ibid., p. 110 et seq.
58
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
O Império Bizantino, influenciado sobretudo pelos povos do Oriente, trouxe para a sua religião – hoje denominada
catolicismo ortodoxo – o culto à imagem, fortemente rejeitado
pelos católicos da Europa e, agora, mais radicalmente ainda,
evitado pelos povos árabe-muçulmanos. Esse choque deu origem à Guerra Iconoclasta, com grandes perdas para Bizâncio.
Os árabe-muçulmanos impunham-se cada vez mais diante
do poderio bizantino. Com a dinastia macedônica, que ascendeu ao poder com Basílio I (867-86), Bizâncio recuperaria parte do esplendor e atravessaria a virada do milênio rivalizando
o alcance de sua civilização com a Bagdá muçulmana. Nessa
disputa, não havia ainda lugar de destaque para a Europa
latina, pobre, fragmentada e imersa em lutas intestinas.
Desde Justiniano, Bizâncio já não conhecera mais tal
extensão, abarcando agora também os eslavos convertidos ao
cristianismo. Mas, depois de Basílio II (976-1025), recomeçou
a decadência de Bizâncio para o resto de sua história: o choque com a Europa, marcado sobretudo pelo início das Cruzadas, alteraria definitivamente a configuração de poder no
Ocidente latino. Também o Império Muçulmano vivia seu
momento de glória e, juntamente com Bizâncio, depois da virada do milênio, conheceria a crise que determinaria seu fim.
Paralelamente, a Europa central vivia um momento de
“reordenação étnica”. A partir de povos turcos (sobretudo dos
kazares, que permaneceram na costa do Mar Negro e ali fundaram um poderoso império), cresceu o acesso, entre os séculos XI e XIII, dos nômades da estepe na direção do Ocidente
europeu. Os eslavos “desceram” literalmente em direção à
Europa. Em poucos séculos, seu peso se faria sentir de norte
a sul, por meio da migração dos povos.17 Nasciam nesse
momento os Estados eslavos da Europa.
17
O avanço desses povos se deu fora da zona “iluminada” por textos gregos ou latinos, de modo que quase não há registros destes movimentos.
59
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O feudalismo pôde se desenvolver, sobretudo na Europa ocidental e central, à margem do intenso comércio fomentado pelos árabes, em boa medida em razão da não-intervenção direta dos muçulmanos nos costumes e tradições dos
povos conquistados. O fenômeno feudal, que ganhou força
no território europeu a partir do século VIII, teve origem na
França merovíngia e carolíngia, embora seus elementos constituintes fossem muito mais antigos – já havia manifestações
isoladas destes elementos na Itália, por exemplo.
De modo geral, caracterizava-se por ser uma nova forma de organização simultaneamente política, econômica e
social, e que tinha como base a divisão do poder supremo, o
predomínio do campo sobre a cidade, e uma rígida distinção
entre as camadas dos senhores e a dos servos e vassalos.
Juridicamente, manifestava-se num complexo de instituições
organizadas em torno da relação de vassalagem, que tinha
como centro o feudo.18 Esse novo modelo significou “a completa desaparição do conceito romano de Estado, substituído pelo vínculo pessoal e hierárquico das pessoas”.19
No século X, à desordem política da Europa somavamse ainda um progressivo empobrecimento econômico e uma
grave desintegração do complexo social, devida em parte à
repetição do fenômeno migratório. A situação política começou a melhorar apenas com a ascensão da dinastia saxã – de
18
19
Pouco se sabe sobre a sua primeira forma de organização social e política. Cf. SAITTA, op. cit., p. 115.
O feudo, de maneira genérica, era constituído de três elementos: o benefício, concessão de terras pelo rei ou pelo senhor; a vassalagem: o
favorecido declarava-se vassus (seu, no sentido de posse) do senhor; e a
imunidade: transferência ao vassalo, nos limites do feudo, dos poderes
políticos desfrutados pelo senhor. O benefício (precarium – propriedade
concedida como um empréstimo de um superior) e a imunidade tinham
sido utilizados também no Império Romano. Já a vassalagem (comitatus
– séquito formado de servos) era de origem germânica.
SAITTA, op. cit., p. 134-5.
60
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Oto I e seus sucessores –, que, para superar essa desorganização feudal, entre outras coisas, introduziu por volta de 950
o feudalismo na própria Igreja, criando a figura do bispoconde. Logo depois, o Ocidente também viveria o florescimento do ano mil.
A partir do século XI, aprofundou-se o modelo feudal,
que conheceria seu auge ao longo do movimento das primeiras Cruzadas.20 A instituição eclesiástica, em especial o
Papado, tentava desde o século IX impor-se como força moral e política alternativa aos poderes existentes. Os primeiros
sinais do desenvolvimento de uma ideologia eclesial própria
– e da valorização da Ecclesia como fator de poder – já começavam a aparecer. Mas o percurso que consolidaria a institucionalização do Papado como organismo de governo só teve
lugar no decorrer de um longo processo histórico permeado
por infindáveis conflitos entre códigos e espadas, cujo desenho mais bem acabado estaria disponível nas formulações
do fim do século XIII.
***
Antes de tornar-se um poder capaz de desafiar a tradição e a ancestralidade do Império, entretanto, a Igreja sofreria transformações profundas que modificariam seu caráter
inicial. Entre o seu fortalecimento como órgão espiritual e a
reivindicação de poder supremo pelo bispo de Roma, a instituição eclesiástica percorreria um longo e conturbado caminho, do qual a batalha entre regnum e sacerdotium constituiu
20
Três fatores contribuíram fortemente para o sucesso das Cruzadas: a
introdução do feudalismo entre os povos eslavos convertidos ao cristianismo; o aumento do prestígio da Igreja e do Papado; e o interesse das
“repúblicas marítimas” italianas em expandir-se na direção do Oriente.
Com a vitória da Primeira Cruzada (1095-99), o feudalismo penetrou
também no Oriente. Ibid., p. 140-1.
61
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
provavelmente um dos aspectos mais importantes para o
desenvolvimento das idéias políticas que fundamentariam
noções centrais da ciência política, como Estado e soberania.
Walter Ullmann, num de seus livros mais conhecidos
sobre o pensamento político medieval, oferece uma descrição
pitoresca dos eventos que envolveram a constituição e a consolidação da organização eclesiástica, sobretudo a partir do
século IX. Com a restauração do império, promovida por
Carlos Magno,21 os princípios teocráticos, base do poder real,
ganharam um novo impulso. Na tentativa de moralizar o reino – e, dentro dele, a Igreja Católica, então corrompida e assolada por todo tipo de desordem –, imperadores e reis
apoiaram e promoveram a reforma eclesial, cobrando da instituição um novo padrão de conduta e de organização. As
reformas introduzidas no foro eclesiástico foram tão profundas que acabariam por gerar uma instituição com independência suficiente para reivindicar uma visão do mundo de
base hierocrática.
Conta Ullmann que o pontífice Estêvão IV (816-7), procurando concretizar a idéia papal de criar um “imperador
dos romanos”, partiu em viagem à França, onde coroou pessoalmente Luís I, filho de Carlos Magno, em 816. Na cerimônia, ofereceu-lhe a coroa de Justiniano e ungiu-o com os
óleos sagrados. A partir daí, explica, a cerimônia de coroamento e a sagração pelo papa passariam a fazer parte de um
único ato litúrgico: o primeiro imitava os imperadores de Bizâncio, enquanto a unção, nessa forma de cerimonial, era de
origem bárbara e significava ter recebido o rei a graça de
Cristo, passando a ser sua “imagem” ou “figura”. A sagração
também fazia parte do ritual de posse dos bispos. A diferença, contudo, estava no fato de que a unção real não tinha
21
Carlos Magno, filho de Pepino, o Grande, foi rei franco entre 768-814 e
imperador entre 800-14, ano de sua morte.
62
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
caráter indelével, enquanto a dos bispos os encarregava do
“cuidado das almas”.
Na coroação seguinte – do filho de Luís I, Lotário I, tornado co-imperador por seu pai –, o papa já não mais se deslocou até a França para o ato: convidou Lotário a Roma para
realizar o coroamento, que ocorreu no altar-mor da Igreja de
São Pedro – onde se perpetuaria desde então. Outro detalhe
significativo, conta Ullmann, foi o fato de Lotário ter recebido
das mãos do papa, durante a cerimônia, uma espada, símbolo da força física: o imperador passava a receber agora sua
“força” das mãos do pontífice e teria assim o dever de protegêlo.
Era o início de uma inversão de posições: o império
passava a ser agora o “braço armado” da Igreja de Roma. A
frase de São Paulo – “o príncipe não deve empunhar a espada
sem causa” – ganhava um sentido prático: a razão para
empunhá-la era agora “descarregar sua ira contra os malvados”. Em que consistia essa maldade e como erradicá-la era
uma definição que cabia àqueles que estivessem qualificados
para determiná-la: neste caso, ao sumo sacerdote. Agobardo
de Lyon, que escreveu no século IX, contava que o significado
concreto atribuído à espada era “o submetimento dos reinos
bárbaros para que abraçassem a fé e ampliassem as fronteiras do reino da fé”.22
Setenta e cinco anos mais tarde, quando da coroação de
Carlos VIII pelo papa João VIII (872-82), o pontífice deixou
claro que o monarca havia sido chamado, eleito e confirmado
por ele. E que seria nomeado imperador dos romanos “por
privilégio da sé apostólica”. Havia-se dado uma notável transposição do pensamento político abstrato para o plano legal,
como observa Ullmann. Ao longo do século IX, os imperadores
adotaram exatamente o mesmo raciocínio e ponto de vista do
22
ULLMANN, op. cit., 1983, p. 73-4.
63
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
papado, segundo o qual o “verdadeiro Império Romano” só
poderia ser obtido com a concessão do papa, “rebaixando com
isso o imperador do Oriente à categoria de mero governante
grego: a universalidade do poder e o domínio estavam reservados ao verdadeiro imperador dos romanos, coroado pelo
papa”.23 Nesse momento, era ao imperador bizantino cesaropapista que a Igreja do Ocidente tentava impor-se.
A passagem da pura ideologia política à prática foi acompanhada de algumas produções literárias, como a do bibliotecário Anastácio (c. 860), para quem o papa era o vigário de
Deus que distribuía o poder sobre a terra, na qualidade de
“porteiro de céu”. A amplitude dos poderes de São Pedro para
atar e desatar na terra afirmava-se sem ambigüidades: o supremo poder jurisdicional dentro da sociedade cristã passara a residir na pessoa do pontífice. Sob o papa Nicolau I
(858-67), essas teses espalharam-se e alargaram-se: à congregação de todos os cristãos – presidida pelo papa e deixada
a seu governo – Nicolau I denominou “sociedade de todos os
crentes”, cujas leis eram ditadas pelo herdeiro de São Pedro.
Ao imperador se concedia poder quando se lhe outorgava o
direito de usar a espada.
Baseado em tais considerações, Nicolau I forneceu aos
princípes instruções muito concretas acerca de seus deveres, entre eles o do extermínio das heresias. Os reis estariam
submetidos ao papa. E, portanto, não lhes era permitido julgar seus mestres nem servir a dois senhores, como afirmava
o Evangelho.24 O princípio formulado a partir dessa afirmação – e este é um ponto relevante – era o da imunidade eclesiástica diante dos poderes seculares e reais: na “sociedade
dos crentes”, as leis eclesiais deveriam ter sempre preeminência sobre aquelas ditadas pelos príncipes.
23
24
Ibid., p. 75.
Cf. Mateus 6: 24; Lucas 16: 13. In: A Bíblia. São Paulo: Loyola, 1995.
Todas as citações do Livro Sagrado foram retiradas dessa edição.
64
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
As leis seculares podiam existir, mas tinham caráter
subsidiário: valiam sempre que não houvesse uma disposição canônica específica sobre a matéria e não contradissessem os princípios de direito eclesiástico.25 E a função das
leis, afirmava Nicolau, era alcançar a “ordenação” social. Portanto, se um rei ditasse leis que se afastassem desse esquema jurisdicional ou contrariassem as finalidades de uma
sociedade cristã, ele deveria ser desobedecido. Essa resistência, contudo, deveria ser aprovada – só e tão-somente – por
aqueles qualificados a pronunciar-se a esse respeito.
Adriano II (867-72), sucessor de Nicolau I, sustentava
que os decretos papais materializavam a idéia de justiça, dado que esta era a base da lei. O pontífice defendeu ainda que
era da sua competência decretar a exclusão de qualquer cristão da sociedade dos crentes, incluindo os reis, pois a estabilidade de um reino dependia do fato de o rei cumprir seus
deveres como um governante cristão. O conteúdo da justiça
só podia ser definido por aqueles qualificados para tal: os
que tinham “os sentidos e a mente de Jesus Cristo”, como
afirmara no século VII o papa Gregório II. Acima de tudo,
impunha-se “o princípio da divisão do trabalho, segundo a
qual cada pessoa ocupante de um cargo, fosse rei, imperador
ou bispo, devia limitar-se ao desempenho exclusivo daquelas
funções que lhe tinham sido atribuídas”.26
O rei tornava-se minister (servidor): devia governar com
eqüidade e justiça, ainda que o conteúdo do justo não pudesse ser definido por ele, mas apenas pelo clero. A sustentação legal dessa posição remontava em geral ao argumento de
Isidoro de Sevilha (c. 560-636), que dizia ser a função do rei
meramente auxiliar, já que consistia em difundir pela força
das armas a palavra dos sacerdotes. Esse era o principal
25
26
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 77.
Ibid., p. 78.
65
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
aspecto da função ministerial do rei. As teorias hierocráticas
– que pregavam a supremacia da autoridade papal sobre os
demais poderes – ganhavam agora mais e mais espaço, difundindo-se entre os reis cristãos. Tais decretos papais, justamente porque não estavam em desacordo com a maioria
das leis costumeiras vigentes, não causavam, nesse momento, conflitos de interesses relevantes.27 Mas essa convivência
harmoniosa duraria pouco.
Os reis ainda podiam possuir igrejas em seus territórios e a elas destinar seus bens por meio de doações. Os
filhos de reis e nobres que não encontravam espaço nas sucessões de suas casas eram enviados para a Igreja, o que
assegurava a manutenção de laços de fidelidade entre os senhores e o clero local. O senhor leigo controlava, inclusive, os
cargos de bispos e abades, pois tinha poderes para designálos: a chamada investidura do clero no cargo e a concessão
de seus benefícios (regalia)28 pelo senhor.
Esses poderes dos senhores leigos não tardaram a ser
alvo de críticas dos religiosos mais radicais. A Igreja, como
instituição consagrada a Deus, não podia ser objeto de transação legal: devia ser retirada do domínio dos senhores laicos,
que passariam a ser seus patronos e protetores, mas sem
direito de dispor dela nem de seus pertences.29 Um tal passo,
27
28
29
Esse descompasso traria conseqüências graves apenas no século XI,
quando o império voltaria a reivindicar, em vão, sua supremacia sobre
o papado.
Plural de regalis [rex], adjetivo neutro, que significa “real”, “relativo à realeza”; “de ou pertencente a um rei ou monarca real”. In: GLARE, P. G. W.
(Ed.). Oxford Latin dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1982. Ao longo
da Idade Média, sobretudo na interpretação cesaropapista, o vocábulo
deu origem à noção de “regalismo”: doutrina que sustentava a intervenção do chefe de Estado em assuntos religiosos. A palavra regalia passou
para o português a partir da versão espanhola regalía, que quer dizer
“direito próprio do rei”, ou ainda “privilégio”, “prerrogativa”. Essa “instituição” medieval constituiria a raiz do conflito pela investidura.
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 81.
66
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
contudo, só seria dado no século XII, com o fim da Questão
das Investiduras. Constituía, nesse momento, apenas uma
das reivindicações de uma ala reformista minoritária da instituição eclesiástica.
Mas a transformação no papel do governante temporal operada pelos pontífices não se deu à revelia do poder
secular. O caráter sagrado conferido aos imperadores pela
unção do papa interessava também aos monarcas, pois os
colocava acima do povo: cada governante passava a ser qualificado como Rex gratia dei. Ou seja, com a unção, os reis
recebiam diretamente de Deus o benefício de estar acima
do povo para nele mandar e para governá-lo. A figura do
chefe político distanciava-se mais e mais da forma de governo típica dos povos bárbaros, na qual o rei era eleito diretamente pelos membros da tribo.
A unção pelo papa não apenas distinguia o monarca
do resto dos mortais, como também evidenciava a legitimidade de seu governo, sancionado pela divindade. Todo poder, tanto do clero quanto dos monarcas, provinha de Deus
diretamente aos seus representantes, sem intermediações.
Essa era a base da doutrina do poder que afirmava o caráter divino do rei e do Santo Padre: o povo nada tinha a ver
com a concessão divina da graça.30 Essa teoria seria usada
mais tarde para sustentar tanto as pretensões de supremacia da monarquia papal quanto aquelas dos monarcas absolutos, como ocorreria em França.
O governo do rex era exercido sobre o povo, o que reforçava a designação deste como majestas, denominação de
origem romana tardia: maior do que qualquer indivíduo de
seu reino – de onde foi refinada a noção, conhecida na época, de crime de “lesa-majestade”. A coroação acentuava a
superioridade do rei, que se tornava “supremo” dentro de
30
Ibid., p. 84.
67
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
seu reino. O governante passava a ser assim persona ecclesiastica, cujo poder se baseava na observância das regras
canônicas. Não havia uma ideologia real capaz de fazer frente às pretensões do papado.31
Mas a Igreja, apesar de influente sobre os poderes seculares do Ocidente latino, teria ainda de enfrentar por diversas vezes as pretensões de conquista de Roma e outros
territórios ao norte da Europa pelos imperadores bizantinos.
Para fazer frente ao Império do Oriente, o bispado de Roma
precisava da figura do imperador romano. O imperador
germânico Oto I (936-73), em estreito acordo com o papa
João XII (955-63), dispôs-se a defender o pontificado romano
dos ataques bizantinos em troca da nomeação de Imperador
Romano do Ocidente. O argumento legal contra Bizâncio repousava na afirmação de que o bispo de Roma desempenhava um papel constitucional na criação do imperador do
Ocidente – por meio da unção e coroamento do governante,
em contraste com o patriarca bizantino, cujo papel na coroação era o de mera testemunha. Nascia assim o Sacro Império
Romano do Ocidente.
A criação eclesiástica do imperador do Ocidente não
tardaria a voltar-se contra o próprio papado. O imperador
germânico Oto III assumiu o Codex de Justiniano como a
verdadeira origem romana do império e, por duvidar da Doação de Constantino, renovou a transmissão de Roma ao papa
Silvestre II (999-1003), em 1001. Roma tomava o lugar de
Bizâncio e passava a ser denominada “cidade real”, a cabeça
do mundo. Pela reiteração da concessão, o papa passava agora
a ser beneficiário do imperador, invertendo a posição até então sustentada pela Igreja.
31
Na concepção hierocrática, o rei estava sujeito às normas sacerdotais,
pois não era suficientemente qualificado para ditar normas gerais e
vinculantes que afetassem diretamente a estrutura básica da sociedade cristã.
68
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
O golpe era dirigido tanto contra Bizâncio como contra o
papado, que agora paradoxalmente havia descido, em
virtude da ideologia do Império Romano criada pelo próprio papado, a uma situação não muito distinta da do
patriarca de Constantinopla.32
E, justamente porque eram cristãos, os imperadores
passaram a promover reformas na instituição eclesiástica,
o que acabou colocando a Igreja totalmente sob seu controle. Na tentativa de construir uma cristandade poderosa e
universal, o Império forçava o papado a se renovar e a reformar-se completamente, destituindo governantes e nomeando novos pontífices. Os substitutos escolhidos pelo imperador Henrique III (1039-56), partidários fanáticos da causa
hierocrática, colaboraram para a reforma substancial da
Ecclesia – interesse comum que dividiam com os imperadores. Mas a morte prematura de Henrique dar-lhes-ia a chance
de tornar a inverter o estado de coisas em poucas décadas.
A própria Igreja assumia agora o comando das reformas e
rumava em direção à consolidação teórica e prática da doutrina hierocrática.
Essa teoria política da supremacia da autoridade papal
desenvolvida pela Igreja na Baixa Idade Média, lembram Souza
e Barbosa, combinava fontes legais tão distintas quanto o
direito romano, a filosofia neoplatônica e as Escrituras.33 A
ênfase era atribuída na maioria das vezes à palavra divina.
Do Novo Testamento retirou-se o argumento de que São Pedro teria sido escolhido por Cristo para chefiar a Igreja e, ao
mesmo tempo, cuidar de todos os fiéis:
Eu, eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha Igreja, e as portas do Inferno não prevalecerão
32
33
ULLMANN, op. cit., p. 95.
SOUZA, J. A. C. R.; BARBOSA, João Morais. O reino de Deus e o reino dos
homens. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997.
69
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
contra ela. Dar-te-ei as chaves do Reino dos céus, e o que
ligares na terra ficará ligado nos céus; e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus.34
O papado lutava, nesse momento, sobretudo para
confirmar a sua plenitudo potestatis in spiritualibus. O neoplatonismo forneceria ao clero uma base sólida para essa
reivindicação: o postulado de que as realidades superiores
contêm em si as inferiores permitia ao papa defender que,
dada sua superioridade espiritual, seu poder preexistia ao
poder temporal, este “ligado à materialidade das necessidades concretas da vida humana em sociedade”.35 O milênio apenas começara: as pretensões eclesiásticas
alargar-se-iam e tomariam novos rumos ao longo dos séculos seguintes. No embate entre império e papado, que se
estenderia até o final do medievo, seriam fortalecidos tanto os argumentos em favor da primazia do poder secular
quanto aqueles em defesa da plenitude do poder do papa.
Nesse processo, novos atores políticos seriam forjados e
uma nova realidade de poder seria gestada. É essa história, fundamental para a compreensão do desenvolvimento
do pensamento político no Ocidente, que se pretende contar agora.
II CÓDIGOS E ESPADAS
O historiador francês Jacques Le Goff destaca, num de
seus numerosos trabalhos, alguns acontecimentos relevantes que marcaram a história européia entre os séculos XI e
XII. O primeiro desses episódios foi o rompimento do bispo
de Roma com o patriarca de Constantinopla em 1054. A ques34
35
Mateus 16: 18-9; e Mateus 18: 18. In: A Bíblia, op. cit., p. 1216.
SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 15.
70
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
tão imediata girou em torno da adequação – ou não – à fé
cristã do uso de fermento na confecção da hóstia. Para além
do problema de natureza sacramental, a disputa punha em
relevo a autonomia crescente da Igreja do Ocidente em relação ao império do Oriente.36 A contenda marcaria definitivamente o afastamento entre as duas Igrejas, matéria que já se
arrastava desde o século VI.
Em 1059, já no contexto de uma reforma inicial da Ecclesia, teve lugar o primeiro Concílio de Latrão, no qual foi
promulgado um decreto que reservava a eleição do papa aos
cardeais, retirando do pontificado as pressões vindas dos leigos. O decreto constituiu o embrião do conflito entre o império e o papado, que teria na Questão das Investiduras a sua
primeira expressão. Nesse momento, contudo, a Igreja de
Roma ainda era pobre, se comparada ao esplendor de Bizâncio. O grego era a língua predominante entre os eruditos,
embora o latim ganhasse cada vez mais espaço. Com as traduções de textos árabes e gregos para o latim, sobretudo a
partir do século XII, a Ecclesia passaria a dispor de um arsenal mais amplo de idéias e conceitos que permitiriam sofisticar muito o antigo legado romano e entendê-lo sob nova luz.
Foi ainda nesse período que ocorreu a revolução econômica que mudaria a face da Europa ocidental. Para Marc
Bloch, a base dessa transformação – e seu principal pivô –
foram as migrações que ocorreram no período e povoaram os
rincões mais distantes do então desconhecido – e desabitado
– território europeu. Essas mudanças aconteceram entre 1050
e 1250 – período que o autor denominou “segunda idade feudal”. O efeito mais importante desse intenso fluxo de povoamento foi a aproximação entre os grupos humanos, que pôs
fim aos espaços vazios em território europeu.37 Com isso,
36
37
LE GOFF, Jacques. La Baja Edad Media. México: Siglo Veintiuno, 1985.
BLOCH, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições 70, 1987. p. 86 et seq.
71
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
cresciam as ligações entre os povoados e também as vias de
acesso, permitindo a criação de novas rotas de comércio em
território europeu.
Ao lado de pestes, fome e muita destruição, o século XI
no Ocidente foi também fecundo em invenções e acontecimentos. Além da explosão demográfica vivida no período,
merecem registro ainda as novas transformações e as descobertas tecnológicas que possibilitaram, na virada do século,
a chamada “revolução agrícola”. Também foram relevantes
os desenvolvimentos artesanais e industriais, que terminaram por duplicar o progresso agrícola. Os excedentes demográficos e econômicos impulsionaram o crescimento e a
formação de centros de consumo: as cidades – ou burgos –
que começavam a nascer ao redor das fortalezas.
Do ponto de vista da organização social, a sociedade
do ano mil era tripartida. Pode-se falar, de modo geral, em
três categorias sociais que a espelhavam: o clero, os cavaleiros e os camponeses. Esses três elementos constituíam a
estrutura básica do mundo feudal no Ocidente. O clero podia ainda ser subdividido entre clérigos e monges (categoria
da época carolíngia); a aristocracia feudal era representada
pelos senhores (os guerreiros ou cavaleiros), e tinha caráter
militar (comandava os vassalos),38 por fim, entre a massa
de trabalhadores figuram os camponeses (servos e homens
livres).39
38
39
A casta superior da aristocracia militar e agrícola era formada pela “nobreza de sangue”, que detinha o direito de jurisdição suprema
(Hochgerichtsbarkeit): era o juiz nos casos criminais mais graves. Logo
abaixo dessa nobreza, vinham os cavaleiros, que ocupavam as funções
militares, oriundos também de famílias aristocráticas ou ricas. É preciso incluir nessa categoria fidalga ainda a figura dos “ministeriais”: homens que representavam uma nobreza de serviços, muitas vezes de
origem servil.
Cf. LE GOFF, op. cit., p. 19.
72
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Nem todas as forças políticas que se beneficiaram dessas transformações ocorridas ao longo do século XI caminhavam na mesma direção. O período que vai de meados do
século XI ao fim do século XII foi marcado, sobretudo no
nível político, por infindáveis conflitos entre duas forças teoricamente complementares, regnum e sacerdotium, mas que
amiúde se alternavam nos campos de batalha. “O impulso
universal que anima a cristandade ocidental parece favorecer a unidade e, com efeito, vê-se que as duas potências que
simbolizam essa unidade passam a ocupar o centro da cena
política: o império e o papado.”40 Unidos ou não, seria em
torno dos interesses desses dois atores que se desenvolveriam as novas idéias políticas.
As Cruzadas foram a empresa militar comum dessas
forças e acabou se impondo a quase todos os reinos e príncipes cristãos. Durante todo o período das “guerras santas”, que
se estendeu de 1098 a 1400,41 o império e o papado lutaram
pelo dominium mundi, pela direção dos eventos.42 A pretensão de domínio universal dos dois poderes foi sem dúvida
um dos fatores que impediram a unificação política da cris40
41
42
Ibid., p. 77.
O auge do movimento dos cruzados, contudo, pode ser localizado entre
a Terceira Cruzada (1188) e a primeira metade do século XIII (c. 1250),
período em que atraiu leigos de inúmeras camadas sociais interessados
em tomar parte nessa atividade devocional à época deveras popular.
Bizâncio havia resolvido esse problema de forma diferente: o imperador
bizantino reunia em sua pessoa tanto o poder espiritual quanto o temporal; e o patriarca da Igreja era subordinado ao seu poder. A essa configuração do poder se denominou cesaropapismo. Alguns autores falam
ainda numa teocracia régia. O Ocidente, por sua vez, não havia definido
com clareza as relações entre ambos os domínios. Diferentemente de
Bizâncio, os imperadores ocidentais tinham seus domínios em territórios geograficamente distintos dos dos papas: no reino franco e, mais
tarde, na Germânia. Já os pontífices haviam se instalado desde o século
VIII em Roma e detinham à sua volta um domínio territorial diretamente submetido ao seu poder temporal: o Patrimônio de São Pedro.
73
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tandade. A luta entre sacerdotium e império no Ocidente cristão mesclava reivindicações temporais e espirituais de ambas as partes. Os conflitos crescentes entre os leigos (bellatores)
e o clérigos (oratores) ameaçavam a unidade da cristandade.
“A cristandade unida sob uma dupla cabeça”, escreve Le Goff,
“vai converter-se em seguida no puro sonho que Dante acalentará em fins do século XIII”.43
O impulso de expansão desordenada que se manifestava em todas as partes da Europa ocidental propiciava a formação de unidades populacionais pequenas, de escala local
ou regional, centradas na figura dos barões e nobres locais,
favorecendo uma certa atomização política. Esse movimento
ocorria paralelamente àquele que defendia o fortalecimento
de uma cristandade universal guiada pelo imperador e pelo
sumo sacerdote. Entre esses dois pólos, começava a se tornar perceptível o surgimento de uma formação de poder alternativa, na qual chefes de um outro tipo iam lentamente
colhendo triunfos: os reis e seus reinos.
A natureza da autoridade dos reis era dupla, explica Le
Goff:
de um lado, é um poder religioso que tem sua origem na
dupla herança das chefaturas bárbaras e das monarquias
orientais [...] que o cristianismo consagrou com a sua
unção; de outro lado, é um poder político superior: o da
“res publica”, o Estado, o “poder do Estado”, legado pela
tradição greco-romana. As insígnias do poder monárquico diante das insígnias imperiais e pontíficias [...] que
manifestam o poder universal, simbolizam o duplo caráter (coroa, cetro) que se afirma à margem do sacro.44
Mas até o poder monárquico emergir de fato como fator
político principal, dois poderes ainda predominantes se en43
44
LE GOFF, op. cit., p. 77-8.
Ibid., p. 78.
74
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
frentariam ao longo dos séculos e, nessa batalha, ajudariam
a forjar os fundamentos de uma doutrina do poder supremo
capaz de sustentar-se – e isto é importante reter – independentemente da reivindicação de universalidade da cristandade. Como se deu essa transformação? É uma longa história.
O importante, contudo, é tentar contá-la.
1. Os fundamentos da reforma eclesiástica
Ao desenvolvimento de uma ideologia eclesiástica da
supremacia papal correspondeu uma não menos poderosa
sistematização leiga de conceitos e noções oriundas do antigo Império Romano, cujo objetivo inicial era reforçar as bases do poder teocrático do império – tanto perante as pretensões de Bizâncio quanto diante dos poderes locais. Depois da
restauração tentada por Carlos Magno, no início do século
IX, o âmbito da dominação temporal passou a ser amplamente igualado à pessoa do imperador: ele não apenas representava os súditos, mas também incorporava em sua figura o povo e a espada.45
A casa real aparecia como o centro da ordem política.
Para pensar de forma adequada as estruturas políticas do
século IX, recorda Struve, não era necessário um conceito
abstrato de Estado: na Alta Idade Média – marcada por um
pensamento holístico – não se concebia uma separação rígida entre as esferas política e religiosa. Também nas antigas
teocracias romanas e bizantinas esses dois âmbitos não haviam sido tratados de forma autônoma. As áreas de dominação temporal e espiritual, denominadas na terminologia
45
STRUVE, Tilman. Regnum und sacerdotium. In: FETSCHER, I.; MÜNKLER, H.
(Hrsg.). Mittelalter: Von Anfängen des Islams bis zur Reformation. Pipers
Handbuch der politischen Ideen, v. 2. München: Piper Verlag, 1993.
p. 189-235.
75
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
medieval pelos vocábulos regnum e sacerdotium, estavam
incluídas numa ordem que as englobava: a da Ecclesia, que
reunia toda a cristandade.
A relação entre regnum e sacerdotium era definida em
analogia com a relação de subordinação que supostamente
existia entre a alma e o corpo. A lei era a alma que governava
o corpo da comunidade dos cristãos.46 Dizia-se que apenas
por meio da lei um corpo público podia viver, desenvolver-se
e alcançar sua finalidade. Essa concepção da alma – na qual
a Igreja aparecia como a executora da idéia cristã de justiça
que governava o corpo social – e do corpo – associado aos
leigos – expressava sobretudo a idéia do governo de um organismo público e corporado por meio da lei.47
A partir da identificação da Ecclesia com o corpo de
Cristo (corpus Christi), era possível elevar a totalidade das
relações sociais a um nível de abstração que fornecia clareza
suficiente para ser compreendido pelos contemporâneos.
Durante os primeiros séculos da Idade Média, a Bíblia, a
Patrística e alguns poucos textos dos autores moralistas latinos constituíam o principal fundamento para as concepções
de domínio e sociedade. Somente os clérigos eram considerados seus intérpretes legítimos, já que apenas eles dispunham
da formação necessária para lê-los – além de serem os únicos a poder se apoiar na autoridade de um cargo para comentá-los.
46
47
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 99.
Apenas no decorrer das mudanças iniciadas por volta de meados do
século XI – que coincidiram com a chamada Questão das Investiduras –
a realeza e o sacerdócio começaram a dissociar-se e a se desenvolver na
direção de corporações diferentes. O exemplo do organismo sugeria não
apenas a idéia de uma liderança homogênea, mas apontava ainda para
o princípio da divisão do trabalho segundo as funções. Isso, de um lado,
fortalecia a regra monárquica na Idade Média; de outro, fomentava a
compreensão da inter-relação de todos os membros, incluindo os mais
humildes, para o bem do todo. Cf. STRUVE, op. cit., p. 189-90.
76
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
À esfera temporal-estatal não se atribuía finalidade alguma apenas nela fundamentada.48 Estava muito mais integrada na ordem de salvação geral da Igreja, sua única fonte
de legitimação até então. O domínio temporal assumia, segundo essa concepção, o caráter de um encargo (ministerium).
O monarca aparecia como um encarregado de Deus (minister
Dei) e era responsável pela correta execução de sua função
diante do Senhor. A integração da esfera temporal no contexto mais amplo da Ecclesia possibilitou e marcou um primeiro
passo no rumo de uma compreensão mais abstrata das relações políticas e socias.49
A formação de uma doutrina eclesiástica específica do
sacerdotium, contudo, desenvolver-se-ia apenas lentamente.
Esse progresso foi acentuado com o movimento de reforma
ocorrido no século XI – sobretudo em virtude das demandas
geradas pelo grupo reformista de Roma, ligado ao papa Leão
IX (1049-54), ao qual pertenciam personalidades como o
arquidiácono Hildebrando – futuro papa Gregório VII – e o
cardeal Humberto da Silva Candida. Em seu pontificado, Leão
IX tomou providências severas contra a simonia (venda ilícita de bens e cargos sagrados) e a investidura leiga e sancionou um código que normatizava o comportamento moral e
religioso do clero e dos fiéis. Estabeleceu ainda o caráter eletivo
do papado, reconheceu ordens sagradas e proibiu a comercialização de ofícios eclesiáticos, além de ter privado o clero
do porte de armas.50
48
49
50
Como será mostrado adiante, apenas ao longo da recepção de Aristóteles, entre meados do século XII e XIII, acompanhada da recuperação da
filosofia natural estóica e daquela desenvolvida pelos árabes a partir
dos gregos, tornou-se possível conceber uma fundamentação natural
da comunidade política.
Cf. STRUVE, op. cit., p. 192.
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 19 – cf. também as determinações de
Leão IX no Sínodo de Reims.
77
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O historiador inglês Ian Stuart Robinson – especialista
em questões religiosas dos séculos XI e XII – faz uma distinção útil entre o que considera dois movimentos de reforma
da Igreja, ocorridos entre 1073 e 1198: o primeiro foi aquele
inaugurado por Gregório VII, no Concílio Romano de 1074-5,
e que ficou conhecido como a “reforma gregoriana” do século
XI tardio. Essa reforma “começou sob os auspícios imperiais
em meados do século e foi dedicada à erradicação da simonia
e do casamento clerical na Igreja”. Nessa fase, a simonia,51
bem mais do que o nicolaísmo, era considerada a primeira e
mais poderosa das heresias da Igreja cristã.
O segundo movimento teve lugar com a introdução do
novo programa de reforma pelo papa Inocêncio II, em 1130,
no Concílio de Clermont. Esse programa foi sendo elaborado
em sucessivos encontros e ganhou uma forma mais acabada
no Terceiro Concílio de Latrão, de 1179, sob o papa Alexandre III. Dizia respeito não à liberdade da Igreja – batalha de
Gregório VII, que o conduziu a um confronto direto com o
poder secular –, mas à disciplina do clero e ao inculcamento
dos padrões cristãos entre os leigos. “Foi no interesse da reforma”, argumenta Robinson, “que o governo papal tornouse mais eficiente e que os procedimentos papais judiciais foram
tornados mais efetivos”.52
Em meio aos esforços para o fortalecimento da reivindicação papal de liderança máxima na comunidade dos cristãos, um documento ganhou significado especial: a Doação
51
52
Robinson lembra que, inicialmente, a simonia era definida como a venda de uma ordenação sacerdotal por um bispo. O termo foi mais tarde
expandido, passando a recobrir todo o tráfico de coisas sagradas. No
século XI, era mais freqüentemente usado para designar a venda do
cargo de bispo ou abade pelo governante secular. Cf. ROBINSON, I. S. The
papacy (1073-1198): continuity and innovation. Cambridge: University
Press, 1996. p. IX.
Ibid., p. IX.
78
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
de Constantino (Constitutum Constantini), da qual era possível derivar diretamente a posição eminente do sumo pontífice, e sua jurisdição sobre Roma e sobre os territórios do Estado
eclesiástico53 (Patrimonium Petri). Tratava-se de um documento falsificado entre meados do século VIII e IX pela chancelaria papal e se ligava à lenda de Silvestre surgida no século V,
nele extensamente narrada.
Segundo a Doação, o imperador Constantino (305-37)
teria deixado para o papa Silvestre I (314-37) e seus sucessores o palácio de Latrão, em agradecimento pela cura milagrosa54 e por sua conversão. Além disso, teria concedido uma
série de privilégios e honrarias imperiais ao papa, entre as
quais o direito de portar os trajes e usar as insígnias do poder imperial (o diadema, o cetro e a espada). Teriam sido
entregues também ao Estado pontifício as honras e os privilégios do Senado. Finalmente, teria sido cedido ao pontífice o
direito de domínio sobre a cidade de Roma e sobre as províncias da Itália, enquanto o próprio imperador teria transferido
sua residência para a parte leste do reino, na direção de Bizâncio.55
O motivo imediato para o surgimento da Doação é até
hoje desconhecido e fomenta inúmeras especulações entre
53
54
55
As inúmeras versões da Doação podem ser encontradas em: FUHRMAN,
Horst (Hg.). Das ‘Constitutum Constantini’ (Konstantinische Schenkung) –
Text. Fontes Iuris Gemanici Antiqui, v. X. Hannover: Hahnsche
Buchhandlung, 1968.
O imperador, depois de ter sido curado de lepra por Silvestre I, “por
gratidão, entregou-lhe o governo do Império do Ocidente e da cidade de
Roma, retirando-se para Constantinopla”. In: SOUZA & BARBOSA, op. cit.,
p. 68.
O argumento da Igreja para justificar o ato de Constantino era o de que
não seria justo nem adequado que o imperador temporal tivesse algum
tipo de poder no âmbito onde a liderança do sacerdócio e a “cabeça da
religião cristã” tivessem sido instituídas pelo imperador celeste. Cf.
STRUVE, op. cit., p. 213-4.
79
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
os especialistas. Durante a Alta Idade Média, quando surgiu,
o documento não exerceu influência relevante sobre a política papal. Mas, na época da reforma eclesiástica, a Doação
passou a integrar os decretos “pseudo-isidorianos”,56 não mais
verdadeiros, passando a fazer parte da coleção de documentos canônicos. Os juristas da Igreja, os canonistas, passavam a dispor assim de novos argumentos para sustentar a
reivindicação de supremacia do papado, como a igualdade
de posição entre o papa e o imperador, e seu poder sobre o
território do Estado eclesiástico, de onde derivavam seus direitos temporais. Daí seguia-se a sua preeminência diante
dos dominadores temporais do Ocidente, bem como, de modo
geral, sua veneração como cabeça da cristandade (caput
Ecclesiae).
Nesse processo, o imperador Constantino foi transformado em exemplo para o dominador cristão: da sua generosidade para com o bispo de Roma era possível derivar a
obrigação do imperador de obedecer e se submeter a São
Pedro e ao seu representante na terra, o sumo pontífice. A
Doação – recusada por alguns governantes seculares como
falsificação – sobreviveu como apoio ideológico à posição
eclesial durante a disputa entre o regnum e o sacerdotium,
que dominou o período final da Idade Média.57 No contexto
da formação – e defesa – de uma doutrina própria da Igreja, a
Doação era importante, mas não bastava como fundamento
do poder papal, pois nela a posição de poder atribuída ao
56
57
A falsificação das decretais “pseudo-isidorianas” também fortaleceu a
posição dos bispos. Segundo essas normas, os julgamentos sinodiais
passavam a requerer a confirmação do pontífice, a quem se podia apelar a qualquer momento. Houve uma valorização significativa da posição papal: apenas ao bispo de Roma cabia agora a jurisdição sobre os
demais bispos. Ele convocava sínodos cujas resoluções ganhavam força legal apenas por meio da sua confirmação.
Apenas em 1440, com o humanista Lorenzo de Valla, ela foi definitivamente decretada como falsa.
80
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
pontífice pela transferência baseava-se no fundo numa concessão imperial, e não numa transmissão divina.58
As questões em torno da reforma da Igreja tinham conseqüências práticas: a partir da afirmação de que a liderança
da cristandade cabia apenas ao sumo sacerdote, deveria ser
retirada ou diminuída tanto quanto possível a influência dos
leigos sobre a Ecclesia. Bispos e clérigos de maneira geral
deviam ser excluídos da jurisdição real: não deveriam estar
submetidos a nenhum juiz temporal. Também os atos temporais que infringissem as prescrições eclesiásticas deveriam
ser vistos como inválidos. Em contrapartida, a jurisdição espiritual deveria ser estendida para âmbitos temporais. Esse
era, em linhas gerais, o programa de governo que algumas
lideranças eclesiásticas, nesse momento ainda não tão significativas, se propunham a cumprir.
Da experiência da Roma antiga parecia ter sobrevivido
a idéia de que a aplicação de um sistema monárquico de
governo requeria um firme controle dos cargos subalternos.
Num governo de tipo papal, isso significava o controle do
episcopado, sem o qual nem o pontífice nem o imperador
podiam exercer efetivamente seus poderes políticos – esta,
aliás, a raiz do conflito pela investidura. A subordinação política, isto é, jurisdicional, do clero ao papa se originou em
etapas59 e culminou com a designação significativa de “bispos pela graça de Deus e da Santa Sé” (episcopus Dei et
apostolicae sedis gratia).60 A implantação de um controle mais
eficaz por parte do papado sobre o clero supunha a regula58
59
60
Cf. STRUVE, op. cit., p. 214. Contra a validade da Doação, também não
tardaria a ser levantado o argumento, familiar aos juristas civilistas, de
que uma tal transmissão feria os princípios do direito público imperial
romano.
Começou com o juramento episcopal que os bispos tinham de prestar
ao pontífice e com as visitas regulares que deviam render-lhe.
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 104.
81
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mentação – em moldes constitucionais – da relação entre bispos e papas.
O auge desse desenvolvimento foi a afirmação do princípio de que o bispo recebia do papa o seu poder para governar
a diocese. A sua suspensão ou deposição, portanto, passava a
ser da alçada exclusiva do pontífice. Inicialmente, a novidade
foi ferozmente combatida pelo episcopado, pois os bispos equiparavam a identidade de suas funções sacramentais às do
papa, apoiados na passagem de Mateus.61 A posição do episcopado não foi vencida, mas terminou relegada a segundo plano a partir do século XII.62 A concepção do papado, portanto,
baseava-se na visão de que os poderes políticos do episcopado
derivavam dos poderes do sumo sacerdote, que possuía plenitude de poder da qual os bispos apenas participavam.63
Os textos do “Pseudo-Isidoro” também serviam à mesma causa: transformavam reivindicações hierocráticas abertas ou latentes em decretos papais concretos. Atribuía-se aos
papas dos primeiros séculos cristãos uma posição que na
realidade nem eles nem seus sucessores jamais detiveram.64
Era clara a tendência de orientar toda a constituição da Igre61
62
63
64
“Em verdade eu vo-lo declaro: tudo o que ligardes na terra será ligado
no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos
declaro ainda: se dois dentre vós, na terra, se puserem de acordo para
pedir seja o que for, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos
céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu Nome, eu estou
no meio deles”. In: Mateus, 18: 18-20. In: A Bíblia, op. cit., p. 1216.
Ela tornaria a reaparecer em meados do século XIV, sob a forma do
chamado “conciliarismo”.
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 104-5.
Souza e Barbosa observam que, mais tarde, o mandato petrino será
ampliado, e será defendida, p. ex., por Bonifácio VIII, a tese de que o
papa, na condição de vigário de Cristo e sucessor e herdeiro de São
Pedro é o “monarca do mundo” de facto et de iure entre os cristãos, e
apenas de iure entre os infiéis. A alusão às chaves será ainda o argumento papal para a reivindicação de sua superioridade sobre o imperador. Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 14.
82
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
ja na direção do papado como centro legal, organizatório e
ideal da cristandade. As frases “pseudo-isidorianas” foram
amplamente assimilidas nas compilações de direito eclesiástico – que nessa época surgiam em grande número. A tese
hierocrática ganhava assim uma base firme.
Poucos meses depois de sua entronização, o papa
Nicolau II (1058-61) emitiu, no Sínodo de Latrão, em abril de
1059, um decreto eleitoral que regulamentava as futuras eleições papais. Segundo o documento, a escolha de um novo
papa passava a ser apenas da alçada de bispos e cardeais –
que teriam direito de voto –, enquanto ao resto do clero e ao
povo de Roma cabia o direito à aclamação. Em princípio, o
papa deveria pertencer ao clero romano. Somente caso não
se encontrasse nenhum candidato adequado, poder-se-ia eleger um clérigo de outra proveniência. Caso fosse impossível
realizar uma eleição papal em Roma sem obstáculos, deverse-ia poder realizá-la também num outro lugar. O eleito deveria estar imediatamente investido de todos os poderes do
cargo, mesmo quando circunstâncias externas impedissem
ou atrasassem sua entronização. No chamado “parágrafo do
rei”, assegurava-se que os direitos do rei alemão e futuro
imperador e seus sucessores – que receberiam seus direitos
da cadeira apostólica – deveriam permanecer intocados.
Em primeiro plano estavam, portanto, as exigências da
cidade de Roma. No interesse da liberdade e independência
da Igreja, a nobreza romana – que no ano anterior havia expulsado os reformistas de Roma e instituído um candidato
próprio, Benedito X – deveria ser, no futuro, excluída de toda
possibilidade de influir na eleição papal. A escolha tornavase tarefa apenas de um círculo restrito de eleitores65 espirituais. O decreto não tocava, contudo, na posição do reino
germânico, que tinha o direito de atuação conjunta – deriva65
Desse núcleo desenvolver-se-ia, aliás, o Colégio de Cardeais.
83
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
do do patriciado do rei alemão e do imperador – na instituição de um novo papa. Mas introduzia uma mudança sutil:
nomeava esse direito imperial um privilégio honorífico, tornando-o dependente da concessão pontifícia. Expressava-se
assim aquele pensamento hierárquico, segundo o qual a eleição do pontífice – e todos os assuntos eclesiásticos – deveria
ser apenas da alçada da autoridade espiritual.66
Além dos esforços na direção de uma delimitação mais
clara entre regnum e sacerdotium por parte do papado, chamava atenção ainda a posição de liderança que pretendia
assumir a Igreja romana dentro da cristandade. As sanções
definidas no Sínodo de Latrão contra a simonia, o casamento
de padres (nicolaísmo) e os excessos de propriedades da Igreja comprovavam a determinação dos reformistas eclesiásticos de transformar suas reivindicações programáticas em
práticas concretas de jurisdição eclesiástica. O sínodo romano, contudo, não recusava o direito de investidura pelo rei
alemão de bispos e abades.
No tempo em que Gregório VII ascendeu ao trono de
Roma, o papado havia concluído que a causa mais forte da
simonia era o controle imperial sobre cargos e nomeações
eclesiásticas, característico da cristandade ocidental do século XI. Bispos e abades eram usualmente eleitos na presença do monarca e deviam prestar-lhe homenagem feudal.
Também recebiam dele a investidura de seu cargo e a propriedade a ele ligada (regalias). A reforma gregoriana constituía, portanto, uma tentativa de acabar com esse controle
secular dos ofícios eclesiásticos e com a resultante subordinação do sacerdotium ao poder do regnum. O objetivo dos
reformadores era, nas palavras de Gregório VII, “arrebatar [a
Igreja] da opressão servil, ou melhor, da escravidão tirânica,
e restituir-lhe sua antiga liberdade”.67
66
67
Cf. STRUVE, op. cit., p. 216-7.
Cf. ROBINSON, op. cit., p. IX-X.
84
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
2. A radicalização do partido gregoriano
Sob o pontificado de Gregório VII (1073-85), a doutrina
hierocrática desenvolvida no círculo dos reformistas ganhou
um significado prático. As idéias fundamentais do sumo sacerdote ganharam forma programática nas diretrizes
pontifícias do ano 1075, integradas aos registros administrativos eclesiais sob o nome de Dictatus papae.68 Com elas veio
claramente à tona a tendência de acentuar – por meio do
fortalecimento da jurisprudência eclesiástica – a preeminência da Igreja romana tanto no âmbito eclesial interno como
entre os representantes do poder temporal.69 logo a reivindicação de domínio universal seria levantada pela cadeira apostólica.
A luta pelo controle das espadas temporal e espiritual
envolvia bem mais do que meras ideologias: tratava-se sobretudo de determinar o dominus mundi e conseqüentemente a amplitude de seu poder sobre interesses bastante
concretos e palpáveis – e muitas vezes conflitantes. O meio
de garanti-lo, este sim, passava por reivindicações de cunho
ideológico. E, nesse momento, o que importava era decidir
68
69
Um trecho do documento traduzido pode ser encontrado em SOUZA &
BARBOSA, Documento 8, op. cit., p. 47-8.
Cabe aqui uma advertência: o que se está afirmando é a existência,
nesse período, de uma tendência ao predomínio da concepção
hierocrática do mundo e da política. A ascensão dessa doutrina política, contudo, se daria de forma gradual, com avanços e retrocessos tanto conceituais quanto práticos. A teoria da supremacia papal constituía,
nesse momento, a base de apenas uma das várias concepções que
sustentavam as pretensões em conflito. Essa visão tendia, sem dúvida,
a tornar-se a interpretação preponderante, como se verificaria dois séculos mais tarde. Ou seja, os poderes em disputa lutariam ainda durante muito tempo até que essa vertente interpretativa do mundo
pudesse se afirmar como uma doutrina predominante. E importa lembrar: sem que jamais tivesse sido hegemônica ou consensual ao mesmo
tempo para toda a cristandade.
85
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
qual dos dois poderes, realeza ou sacerdócio, estava mais
apto a reivindicar o ofício (officium) de “comissário de Deus” na
terra. O grande tema era, portanto, o da distribuição de jurisdições em sentido estrito: os poderes reivindicavam menos o
direito de legislar do que a atribuição de quem faz cumprir a lei
em nome de Deus nesta ou naquela esfera de governo.70
No que dizia respeito a questões de fé – este ponto, sim,
bastante consensual –, cabia apenas à Igreja de Roma – à qual
se atestava ainda a infalibilidade – a instância decisória. E
disto Gregório VII se valeu imensamente. O papa, a quem se
atribuía a santidade do cargo derivada dos merecimentos de
São Pedro, não podia ser julgado por ninguém, insistia ele. Na
doutrina hierocrática, do ponto de vista genérico, era o sumo
sacerdote – investido de autoridade moral e divina – quem
decidia sobre os interesses da comunidade, na qualidade de
“juiz ordinário”, pois detinha o saber necessário e específico
sobre quando se impunha a legislação. Da mesma forma, também no âmbito da jurisdição eclesiástica, apenas o pontífice
devia ter o direito de investir os bispos nos seus cargos: a ele
concedia-se até o poder de destituir os ausentes.
O incremento da importância do bispo romano manifestava-se também no fato de que lhe era permitido introduzir
novas leis segundo as necessidades. Apenas ao papa deviamse reservar os privilégios de honras imperiais, tais como o porte de insígnias imperiais, a recitação de seu nome durante a
eucaristia e o beijo no pé pelos príncipes. Sua primazia sobre
o poder temporal era atestada pelo fato de poder destituir o
imperador e desvincular os vassalos do juramento de fidelidade quando julgasse o monarca não “adequado” ao exercício da
função.71
70
71
A fonte da lei ainda não constituía objeto de discussão, pois apenas
Deus era o legislador supremo.
Robinson reclama ser essa noção um dos mais importantes passos para
a constituição de um pensamento político papal. Gregório VII, baseado
apenas na autoridade pontíficia, utilizou-a pela primeira vez na deposi86
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Tal separação entre os poderes temporal e espiritual,
como lembram Souza e Barbosa, não era nova: remontava à
doutrina do papa Gelásio I (492-6) que, tentando frear o cesaropapismo bizantino, escreveu ao imperador de Bizâncio
Anastácio I (419-518) uma carta na qual expunha alguns
dos pilares fundamentais do problema das relações entre os
poderes. Entre as afirmações relevantes estavam as de que:
1) o papa possuía a auctoritas, enquanto o imperador e os
reis detinham a potestas; 2) ao primeiro cabia – juntamente
com seus ministros eclesiásticos – a salvação dos seres humanos: sua missão tinha caráter espiritual e transcendente.
Aos demais competia propiciar, neste mundo, o bem-estar
de seus súditos; 3) a missão dos sacerdotes era mais relevante do que a dos governantes temporais, o que lhes conferia uma posição de superioridade moral; 4) e o mais relevante:
as esferas de atuação próprias do espiritual e do temporal
eram distintas entre si.72
A teoria gelasiana das duas espadas, baseada na coexistência de direitos iguais entre regnum e sacerdotium, sofreria na doutrina gregoriana uma reinterpretação no sentido
hierocrático. Entre regnum e sacerdotium existiria, de acordo
com a interpretação de Gregório VII, uma diferença fundamental quanto à origem e aos objetivos: enquanto o domínio
temporal teria sua origem na arrogância humana (superbia)
– que podia até ser vista como obra do demônio – e ansiava
apenas a vaidade, o sacerdotium, fundado diretamente na
72
ção e excomunhão de Henrique IV: um de seus argumentos foi justamente o da “inadequação” do imperador à sua tarefa. A noção da idoneitas
(adequação) do governante secular ao seu cargo, idéia central do pensamento político gregoriano, foi incorporada mais tarde ao Decretum, de
Graciano, como parte das leis canônicas. O autor lembra, contudo, que,
à exceção de Lotário III, imperador associado ao partido papal, nenhum
governante secular alemão abraçou esse conceito gregoriano. Cf.
ROBINSON, op. cit., p. 315.
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 16.
87
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
investidura divina, empenhar-se-ia em atingir a vida eterna.
Mesmo o grau de investidura eclesial mais baixo, sustentava
o pontífice, ainda estaria muito acima daquele dos reis e dos
imperadores do mundo, em virtude do poder sacramental
atribuído ao sacerdócio.73
Os esforços de reforma, intimamente associados à pessoa de Gregório VII, visavam no fundo a restringir a Igreja a
uma comunidade de clérigos hierarquicamente estruturada
– com o papa no topo –, em oposição à esfera dos leigos.
Dessa perspectiva, a reivindicação de liberdade da Igreja (libertas Ecclesiae) em relação aos grilhões terrenos, comenta
Struve, foi reinterpretada pelos reformistas como “domínio
da Igreja sobre o mundo” (idem). Nessa concepção, o dominador temporal aparecia como um leigo, destituído de sua
posição sacral e submetido ao poder de correção espiritual.
Isto é, tinha sua figura restringida a um mero laico que exercia seu domínio apenas enquanto ocupante de um cargo
(officium) dentro da Igreja.
Essa visão do papado tinha como uma de suas bases a
idéia de que a exclusão do temporal da jurisdição pontifícia
não apenas era contraditória ao caráter onicompreensivo dos
poderes de São Pedro para atar e desatar, mas também à
própria essência do cristianismo. Dentro do esquema governativo do papado, nem o temporal nem seu governante podiam gozar de uma posição autônoma, independente e
autogeradora. Tudo constituía um meio para atingir um fim
último, Deus. O sumo sacerdote era o senhor único da comunidade dos cristãos. A unidade do corpo requeria a unidade do governo, que se manifestava na primazia do sumo
sacerdote como “sentinela” (speculator) de todas as matérias
que concerniam diretamente ao bem-estar da comunidade.74
73
74
Cf. STRUVE, op. cit., p. 222.
A plenitude de poderes do papa se concebia completamente no terreno
jurídico: em primeiro plano permaneciam o cargo e as leis, e os decretos
88
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
A gradação hierárquica dos cargos assegurava a ordem
e o trabalho pacífico de a toda comunidade. Essa ordem se
manteria enquanto todos e cada um dos membros da comunidade se mantivessem nos limites das funções para as quais
foram designados. O princípio da divisão do trabalho constituía um elemento vital desta concepção. A suprema autoridade, por estar acima da comunidade dos crentes, desempenhava suas funções diretivas como um timoneiro (gubernator).
De modo semelhante, uma aplicação conseqüente desse programa político do papado exigia a pretensão de controlar os
governantes seculares – o imperador de forma diferente dos
demais reis, por ser aquele o “braço armado” da Ecclesia.75
O conflito entre regnum e sacerdotium – que se tornou
iminente com a intransigência das reivindicações do movimento reformista eclesial – manifestou-se abertamente na
disputa pela investidura, a cerimônia de posse que investia o
religioso com as insígnias do cargo. No confronto, que durou
gerações, o tema da investidura, isto é, da legitimidade do
monarca medieval para empossar bispos e abades, foi somente o estopim do conflito. O que estava de fato em jogo era
sobretudo a definição da posição e da função do dominador
cristão dentro da comunidade universal da Ecclesia. Com a
reivindicação de liderança da cristandade pelo papado re-
75
dele emanados. A validade de um decreto em nada dependia da pessoa
do pontífice. A idéia subjacente era a de que nenhum papa sucedia a
seu predecessor em suas funções papais, mas sucedia a São Pedro
diretamente e sem intermediários. Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 97 e
p. 102.
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 104. Essa seria a base da teoria das duas
espadas de Bernardo de Claraval, desenvolvida pouco depois, segundo
a qual o papa tinha poder de iure sobre as espadas temporal e espiritual, mas cedia a primeira ao imperador, que, na qualidade de braço
armado da Igreja, sustentava essa espada por ordem do papa. Uma vez
corado, o imperador passava a ter o poder de facto sobre o gládio material.
89
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
formista, colocava-se o problema de quem deveria ser, no
futuro, a cabeça (caput) na Ecclesia – esta entendida como
corpo orgânico. Isto é, qual dos dois poderes deveria chefiála.76
O problema tornou-se ainda mais agudo quando a Igreja
passou a pôr em dúvida o caráter sagrado da realeza, propagando a idéia de uma associação entre poder temporal e condição leiga. O movimento reformista questionava os próprios
fundamentos da ordem de dominação teocrática, predominante na Alta Idade Média. A instituição eclesiástica caminhava agora na direção de uma corporação – além de religiosa
– também juridicamente fechada, na qual a idéia da Igreja
coincidia, conceitualmente, cada vez mais com aquela da
comunidade dos clérigos. A realeza, uma autoridade fundada apenas na tradição e no costume, parecia despreparada
para responder aos reformistas hierocráticos e precisaria de
algum tempo até produzir códigos adequados para o enfrentamento das novas reivindicações eclesiásticas. Enquanto isso
não ocorria, valia-se da espada, que, de todo modo, era sua
especialidade.
A Questão das Investiduras foi bastante longa e envolveu avanços e retrocessos em ambas as posições.77 A resposta de Henrique IV – rei alemão e imperador dos romanos – às
76
77
O medievalista alemão Gerd Tellenbach resumiu esta disputa de maneira clara e precisa: segundo ele, a batalha entre realeza e sacerdócio
constituía um problema de dois poderes fundados por Deus. E a grande
disputa da época era a de decidir se um deveria se submeter ao outro,
ou se deviam ser considerados dois poderes independentes, tal como
havia proposto Gelásio I. “Estas duas alternativas”, diz ele, “têm sido
freqüentemente subsumidas nos termos monismo e dualismo”. In:
TELLENBACH, G. The church in western Europe from the tenth to the early
twelfth century. Cambridge: University Press, 1996. p. 352.
Uma discussão bastante detalhada dos episódios que envolveram a disputa pela investidura de bispos e abades pode ser encontrada em
TELLENBACH, op. cit., p. 185-303.
90
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
medidas de Gregório VII foi dada num sínodo por ele convocado, em Worms, no ano de 1076: com os votos de 24 bispos
alemães e dois italianos, o papa foi deposto. O pontífice respondeu negando ao imperador o direito de exercer o poder
na Germânia e na Itália e ordenou a todos os cristãos que lhe
negassem obediência – desde o século IV (394) não ocorria
mais excomunhão na Igreja. O imperador ficava impedido,
entre outras coisas, de receber os sacramentos.
Além disso, Gregório VII passou a apoiar as pretensões
de Rodolfo da Suábia ao trono alemão, como forma de pressionar o imperador a arrepender-se.78 Como o descontentamento de bispos e nobres dentro do reino germânico aumentasse, Henrique IV – numa estratégia para ganhar tempo e
adesão – dirigiu-se à Canossa e solicitou ao papa sua absolvição. Depois de cumprir três dias de penitência à porta do
castelo, sob o rigor do inverno europeu, o imperador foi absolvido pelo pontífice, em janeiro de 1077. Henrique, contudo, para vencer os inimigos no reino, recorreu novamente à
investidura e à simonia. Resultado: em março de 1080, ele
foi novamente excomungado pelo papa.
À nova expulsão, Henrique IV respondeu com a eleição
do antipapa,79 Clemente III (1080-1100). Gregório recorreu
78
79
Um ponto que merece destaque nesse conflito entre o império e o sacerdócio – lembrado freqüentemente por especialistas – é o fato de que o
papa Gregório VII, inicialmente, não pretendia uma confrontação. Pelo
contrário: o pontífice alimentava a esperança de conseguir envolver
Henrique IV no movimento de reforma da Igreja. Por isso também estava disposto a reconhecer o imperador como o “chefe dos leigos” (laicorum
caput), mantendo ao mesmo tempo o respeito à primazia do poder dos
clérigos no âmbito temporal. Somente depois do conflito aberto entre a
realeza e o papado, em fins de 1075 e início de 1076 – ao longo do qual
Henrique IV foi ameaçado de excomunhão e banido da Igreja por Gregório VII –, a preeminência do sacerdócio elevou-se ao nível programático.
O segundo grande tema do livro de Robinson trata justamente das cisões vividas pela Igreja entre 1073 e 1198. Três cismas dominaram,
91
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
aos nômades (vindos sobretudo das estepes) da Itália meridional para defendê-lo. Em 1084, Henrique se apoderou de
Roma e fez coroar Clemente III. No ano seguinte, Gregório
morreu em Salerno, quando deixava o exílio no castelo normando de Sant’Angelo. Seu sucessor, Urbano II (1088-99),
comandou a reação, apoiando os inimigos de Henrique IV.
Em 1094, entrou novamente em Roma. No ano seguinte, o
pontífice lançava a Primeira Cruzada e, como chefe da cristandade, convocava-a para um empreendimento coletivo do
qual o imperador excomungado estava excluído – e também
os reis de França e Inglaterra.
Com a morte de Urbano II, o conflito continuou, agora
sob o comando de Pascoal II (1099-1118), a quem só interessava a independência do clero. O pontífice chegou a propor,
na Concordata de Sutri, que a Igreja abandonasse a posse das
regalia –80 tese que, é claro, não vingou. O imperador agora
era Henrique V (1106-25), herdeiro de Henrique IV – seu pai
havia morrido pouco antes numa batalha nos campos da Itália. Henrique V recusou o acordo de Sutri, encarcerou o papa
e obrigou-o a reconhecer a investidura leiga para os bispos. A
concessão forçada, contudo, foi logo depois anulada.
Em 1122, depois de muita relutância – e já sob o pontificado de um outro papa, Calixto II (1119-24) –, o impera-
80
segundo o autor, o papado nesse período: o do antipapa Clemente III
(1080-1100) e seus sucesores, que durou até 1121; o cisma de Anacleto
II (1130-8); e o dos antipapas Vítor IV (1159-64), Pascoal III (1164-8) e
Calixto III (1168-78). Cada um desses antipapas, recorda Robinson, foi
sustentado por um governante secular suficientemente poderoso para
expulsar o papa legal de Roma em direção ao exílio: Clemente III pelo
imperador Henrique IV; Anacleto II pelo rei Rogério da Sicília; e Vítor IV
e seus sucessores pelo imperador Frederico I da dinastia dos
Hohenstaufen. Cf. ROBINSON, op. cit., p. X-XI.
Propunha o pontífice renunciar à posse de grandes feudos. Em troca,
ficaria restrita à Igreja a liberdade de eleger bispos e também a investidura no cargo.
92
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
dor Henrique V pôs fim às negociações, assinando a Concordata de Worms. Segundo o tratado, o imperador renunciava
à investidura mediante o báculo e o anel, mas conservava o
direito de vigilância sobre as eleições eclesiais no reino alemão, reservando-se ainda o poder de decidir eleições contestadas. Conservou também o direito de conceder a investidura
dos bens temporais (regalia) mediante o cetro, podendo fazêlo, em território alemão, entre a eleição e a consagração dos
escolhidos.
Na Itália e na Borgonha as eleições episcopais eram
livres e, por isso, o bispo só precisava prestar juramento de
fidelidade ao imperador seis meses depois da consagração.
Entre as conseqüências relevantes da disputa estavam a libertação da Igreja do cesaropapismo germânico e o reforço
do prestígio e da autoridade moral da instituição papal. “A
renúncia à investidura com anel e bastão – alcançada cedo
ou tarde em toda parte – foi um sucesso para o movimento
em direção a uma demarcação mais nítida da influência leiga dentro da Igreja, pois tornou claro que os direitos residuais dos leigos não eram de natureza espiritual.”81
3. Regnum e sacerdotium: os fundamentos da
disputa pelo poder supremo
Se a contenda foi árdua na prática, mais acirrada ainda foi a disputa no campo das idéias. A literatura que se
produziu para a defesa das pretensões de ambos os lados
não foi tão inovadora como aquela que surgiria como resultado do confronto entre Filipe, o Belo, rei da França, e o papa
Bonifácio VIII, na aurora do século XIV. Mas, sem dúvida,
fazia avançar a construção conceitual.
81
TELLENBACH, op. cit., p. 286.
93
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Os textos de disputa tinham, de modo geral, caráter
panfletário e dispunham-se em duas trincheiras: aqueles que
defendiam a posição imperial; e os que sustentavam as pretensões eclesiásticas. Parte desses documentos, de difícil acesso, foi reunida séculos depois sob o nome Libelli de lite e
constitui hoje a principal fonte para o estudo da história do
pensamento político no período. É o desenrolar desse debate, em suas linhas gerais, que se pretende reconstruir agora.
A realeza sálica, em oposição às pretensões hierocráticas do papado, esforçava-se para enfatizar a noção do “rei
pela graça de Deus” (rex gratia Dei): Henrique IV opunha repetidamente ao pontífice o fato de não ter recebido sua honra
deste, mas diretamente de Deus. Diferentemente das idéias
do círculo influenciado pelo pensamento gregoriano, direcionadas para uma rígida submissão do poder temporal, levantava-se entre os defensores da realeza, inicialmente, apenas
a reivindicação de igualar as esferas do regnum e do sacerdotium.
Essa posição foi defendida de forma eficaz num manifesto propagandístico de Henrique IV, de autoria do notário
imperial Gottschalk de Aachen, em 1076.82 Nele foi usado
82
Por constituírem textos de difícil acesso – e quase sempre inexistentes
em bibliotecas brasileiras, à exceção da compilação eclesiástica reunida
sob a denominação Patrologia latina –, a citação de escritos dos autores
da época seguiu aqui dois critérios básicos: 1) o recurso às fontes primárias sempre que possível; 2) a referência completa das fontes secundárias
quando o original não pôde ser conferido. Boa parte dos textos que compõem os Libelli de lite aqui citados foi retirada da conhecida obra de referência, os Monumenta Germaniae Historica (MGH), editada editada por E.
Dümmler et al. Societas Aperiendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii
Aevi. Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1891. Os inúmeros volumes dos MGH subdividem-se em cinco grandes grupos: Scriptores; Leges;
Diplomata; Epistolae; e Antiquitates. Os textos de disputa aqui utilizados
foram aqueles constantes nos volumes referentes aos Scriptores,
intitulados: Libelli de lite imperatorum et pontificum, saeculis XI. et XII.
conscripti. Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1891 e 1892. t. I e II.
94
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
pela primeira vez, conta Struve, a imagem das duas espadas
como designação direta de regnum e sacerdotium.83 O autor,
que também compunha sermões e sentenças, sustentava a
existência de uma dualidade (dualitas) entre regnum e sacerdotium e defendia enfaticamente a coexistência de direitos e
valores iguais por parte dos dois poderes, cuja validade podia ser reivindicada para todos os reinos cristãos.
Segundo Gottschalk, a corporação eclesiástica – simbolizada pela espada espiritual – devia exortar os vassalos a
obedecer o monarca, que governava no lugar de Deus. Ao
poder real – identificado à espada temporal – cabia proteger a
cristandade dos ataques inimigos tanto interna quanto externamente. A relação dos poderes entre si devia orientar-se
segundo o princípio do respeito e do reconhecimento mútuos.84 A competência do príncipe secular limitar-se-ia ao
âmbito temporal. Mas nesse âmbito seu poder era ilimitado.85 Não se esclarecia nessa abordagem, contudo, a problemática da delimitação das áreas de competência que deveriam
caber a cada um dos poderes, regnum e sacerdotium.
83
84
85
Cf. STRUVE, op. cit., p. 224.
Sua posição baseava-se na passagem de Mateus: “E ele lhes disse: ‘Quando eu vos enviei sem bolsa, nem alforje, nem sandálias, algo vos faltou?’
Eles responderam: ‘Não, nada’. Ele lhes disse: ‘Agora, porém, quem tiver uma bolsa, tome-a; da mesma maneira quem tiver um alforje; e
aquele que não tiver espada venda o manto para comprar uma. Pois eu
vos declaro, é preciso que se cumpra em mim este texto da Escritura:
Eles o contaram entre os criminosos. E, de fato, o que me concerne vai se
cumprir’. – ‘Senhor, disseram eles, eis aqui duas espadas’. Ele lhes respondeu: ‘Basta’.” In: Mt. 22: 35-8. In: A Bíblia, op. cit., p. 1299.
Cf. ERDMANN, C. (Ed.). Die Briefe Heinrichs IV. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, n. 12, Darmstadt: 1963, p. 5-28. Ed. bilíngüe de FranzJoseph Schmale, retirada de MGH Deutsches Mittelalter. Stuttgart: 1937.
t. I. Para o debate na época, cf. ANTON, Hans H. Beobachtungen zur
heinrizianischen Publizistik: Die Defensio Heinrici IV. regis. In: Historiographia mediaevalis. Darmstadt: 1988. p. 149-67.
95
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A realeza sálica reivindicava assim nada menos do que
a autonomia da esfera estatal-temporal. De outro lado, a defesa dessa posição, baseada no argumento gelasiano da independência das duas espadas, temporal e espiritual, deixava
aberta a possibilidade de uma reinterpretação, pelos opositores, no sentido de retirar o poder espiritual do âmbito de
dominação do imperador, rompendo com o modelo cesaropapista de Bizâncio e aquele da antiga teocracia régia dos
gregos e romanos. Essa muito provavelmente não tinha sido
a intenção imediata do notário, partidário das forças imperiais. Mas essa conseqüência lógica não tardaria a ser tirada
pelos defensores do pontífice. De toda maneira, essa diferenciação estabelecida por Gottschalk de Aachen significava um
primeiro passo na direção do desenvolvimento de uma esfera
de poder autônoma e secular.
A renovação das sanções contra Henrique IV, em 1080,
conduziu a um debate sobre os fundamentos da relação entre o poder temporal e a corporação dos clérigos. No centro
estavam dois temas estreitamente inter-relacionados: a questão da legitimidade do papa na destituição do rei alemão; e a
desvinculação dos vassalos do rei do juramento de fidelidade
ao imperador. O tema era complexo, pois Henrique IV era ao
mesmo tempo rei alemão e imperador dos romanos. A discussão materializou-se nos chamados textos de disputa das
Investiduras (Libelli de lite), marcando os primeiros testemunhos de uma publicística na Idade Média.
Bernoldo de Constança, monge de S. Blasien e Schaffhausen, teólogo e canonista suábio, saiu em defesa das teses gregorianas. Em numerosos tratados e escritos litúrgicos,
ele opinou a respeito de questões contemporâneas como a
simonia e o nicolaísmo e tratou também de questões dogmáticas. Num de seus tratados, o De solutione sacramentorum
(c. 1085), Bernoldo se posicionou claramente contra as pretensões teocráticas do rei germânico e imperador do Ociden96
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
te. Para ele, a Igreja era uma instituição de salvação hierarquicamente estruturada, em cujo topo estava o papa. Por
essa razão, sustentava ele, o primado da cadeira papal não
conhecia limitações. Suas decisões, conseqüentemente, não
deviam ser questionadas por quaisquer das partes.86
Uma investigação sobre a legitimidade do banimento
de Henrique IV, tal como havia sido reivindicado pelos seguidores do monarca, constituiria assim uma exigência descabida. Para Bernoldo, era fato inquestionável que ao sacerdotium cabia a primazia sobre o regnum. Pois a dominação
temporal, dizia, era uma criação humana (humana inventio)
e, como tal, não podia – diferentemente da corporação eclesiástica – reivindicar para si a investidura divina. Também
por isso não havia dúvidas de que cabia ao papado, em virtude de sua autoridade, o papel de árbitro na disputa pelo trono alemão. O critério fundamental para julgar o governante
temporal repousava não apenas na sua disposição de empenhar-se em favor dos assuntos da Igreja, mas sobretudo na
sua obediência à cadeira pontifícia.87
Também Manegoldo de Lautenbach, religioso que viveu na Bavária e morreu na Alsácia entre 1103 e 1119, foi
um defensor árduo do partido papal. Foram de sua autoria
dois textos divulgados no período, o Contra Wolfelmum, no
qual discute os perigos do avanço da filosofia natural e a
querela da investidura, e Liber ad Geberhardum, obra na
qual ataca os juristas imperiais e também o imperador.
Manegoldo compartilhava da concepção gregoriana, segun86
87
Cf. PERTZ, G. H. (Ed.). Chronicon. In: MGH Scriptores. Hannover: Impensis
Bibliopolii Hahniani, 1844. t. V, p. 385-467 (esp. crônicas dos anos
1080 e 1085).
A fim de acentuar essa submissão, Bernoldo fez no documento longos
elogios ao anti-rei Rodolfo da Suábia por sua defesa dos militantes do
partido gregoriano. Consta que Rodolfo os teria caracterizado como militantes incansáveis da Igreja e “soldados de São Pedro” (miles sancti
Petri). Cf. STRUVE, op. cit., p. 226.
97
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
do a qual a dominação temporal devia ser entendida como
uma obra humana. Suas restrições ao poder temporal levaram-no à conclusão de que a realeza seria, em princípio,
dispensável – diferentemente do corpo ecelesiástico, insubstituível para a vida cristã. No âmbito em que aceitava a dominação real, contudo, enquanto instituição imposta pelo
pecado original dos homens, atribuía-lhe em primeiro lugar
uma tarefa defensiva: a proteção dos vassalos contra ataques violentos, a defesa dos seguidores da lei e a rejeição
aos malfeitores.88
A idéia da adequação ao cargo (officium) já havia fornecido um fundamento teórico para intervir contra um governante que não cumprisse com suas obrigações diante da Igreja e
do povo. No contexto de sua “teoria do contrato” – que, é claro,
nada tinha que ver com o pensamento da moderna “soberania
do povo” –, ele entendia a autoridade do príncipe secular como
um ofício cedido pelo povo e delimitado no tempo. Caso o governante infringisse seus deveres de dominador, como assegurar o bem comum e proteger os súditos, ele romperia o
contrato (pactum) que o ligava aos vassalos, de maneira que
estes estariam liberados de toda obrigação para com o senhor
e poderiam – e isto era a conseqüência prática importante –
submeter-se a um outro rei.
Para justificar essa posição, Manegoldo recorreu à metáfora tradicional – conhecida do populacho – do pastor de
suínos que esquecia de cumprir suas obrigações e, por causa de seus erros, tinha sido expulso de seu ofício pela comunidade.89 Ele diferenciava assim com clareza entre o cargo
transferido pelo povo e a pessoa de cada um dos detento88
89
Cf. FRANCKE, K. (Ed.). Contra Wolfelmum libro. In: MGH Libelli de lite. t. I,
p. 300-8 (esp. p. 306, c. 23.13-35).
STRUVE, op. cit., p. 226. A menção original pode ser encontrada também
em FRANCKE, K. (Ed.). Liber ad Gebehardum. In: MGH Libelli de lite. t. I,
p. 309-430 (cf. esp. c. 30).
98
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
res.90 A teoria de Manegoldo em favor da possibilidade de
destituir um governante injusto era, porém, menos determinada por idéias solidamente fundadas em códigos legais do
que pela prática medieval do direito de resistência, herdada
das tribos germânicas.91 De qualquer forma, já era visível
que o conceito gregoriano da idoneitas do dominador temporal fazia escola.
Contra as reivindicações de liderança levantadas pela
Igreja, os defensores da casa sálica reforçaram a idéia da
legalidade do regnum, sua antiguidade e sua concordância
com a tradição. O escolástico Wenrich de Trier, em sua defesa da concepção teocrática de governo, assumiu a causa do
imperador. A realeza (regnum) era para ele um poder instituído por Deus, ao qual o próprio papa devia obediência.92 Sustentava a defesa da posição real no princípio da antiguidade
90
91
92
O argumento aparece na mesma passagem mencionada na nota de
rodapé n. 88. Essa distinção entre o cargo e a pessoa de seu detentor
ganharia argumentos mais sólidos ao longo do século XII e, no século
XIII, já constituiria uma premissa da discussão a respeito da política e
da função pública do governante. A esse respeito, cf. KANTOROWICZ, E. H.
The king’s two bodies. New Jersey: Princeton University Press, 1957.
Trata-se aqui sobretudo da prática de resistência herdada dos reinos
bárbaros. De acordo com o direito costumeiro das tribos germânicas, o
povo podia depor o governante caso discordasse de suas práticas.
Esse argumento podia ser confirmado, lembrava Wenrich, por meio da
leitura das Escrituras quando propõe: “seculares hystorias revolvamus”.
E escrevia: “‘Arma militiae nostrae non sunt carnalia’, sed spiritualia. [...]
Summus pontifex oboedientiam se regibus debere protestatur et asserit,
ea debiti necessitate ad ea, quae mentis iudicio ipse reprobat, pro tempore
toleranda aliquando descendit, quae tamen ipsa quantum sibi displiceant,
adepta oportunitate, salva in omnibus principis reverentia, aperte
innotescit. Unde cum legem de militibus ad conversionem minime
recipiendis imperator promulgari iussisset, legem quidem latam quam
Deo adversari videbat, statim exhorruit, sed tamen illam ex iussione
principis ad omnium notitiam ipse, qui eam inprobabat, insinuare, non
distulit”. In: FRANCKE, K. (Ed.). Epistola. In: MGH Libelli de lite. t. I,
p. 291, c. 4.
99
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
do reino: desde o início do mundo teriam existido reis. A ênfase recaía na legitimidade divina do reinado sálico: o imperador, na qualidade de “ungido do Senhor”, não podia simplesmente ser destituído como um mero detentor dependente
de um cargo. Além disso, a prática da investidura pelo rei
alemão justificava-se totalmente, segundo ele, pela tradição
do direito canônico, pela Bíblia e pelos escritos dos patriarcas da Igreja.
Segundo ele, o pontífice procedera de maneira apressada no conflito das investiduras. Como vários outros contemporâneos, Wenrich não pretendia negar uma certa
validade às idéias dos reformistas acerca da investidura de
leigos. Nem mesmo o imperador havia sido contrário às reformas: havia um consenso geral a respeito do fato de que
era preciso recuperar a credibilidade moral do papado, abalada pela corrupção e pela fragilidade da instituição ao longo
da Alta Idade Média.93 Sua crítica dirigia-se ao conteúdo das
reformas: elas estariam sendo determinadas mais por interesses político-partidários do que por reflexões religiosas profundas. A postura moderada de Wenrich de Trier ante a Igreja
– que, aliás, retratava também a visão de grande parte do
episcopado fiel à realeza – poderia ser resumida em seu famoso comentário: para consertar uma fissura na parede, não
se deveriam abalar as bases de toda uma casa.94
93
94
“Non est novum, regiam dignitatem indignari in eos, quos vident in se
sacrilega temeritate insurgere; non est novum, homines seculares
seculariter sapere et agere. Novum est autem et omnibus retro seculis
inauditum, pontifices regna gentium tam facile velle dividere, nomen
regum, inter ipsa mundi initia repertum, a Deo postea stabilitum, repentina factione elidere, cristos Domini quotiens libuerit plebeia sorte sicut
villicos mutare, regno patrum suorum decedere iussos, nisi confestim
adquiverint, anathemate damnare”. In: FRANCKE, op. cit., p. 290, c.4.
No original: “Sed non ita, inquiunt, scissuram parietis convenit resarciri,
ut totum domus fundamentum inde contigat labefactari”. In: FRANCKE, op.
cit., p. 288, c.3.
100
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Um avanço mais substancial na defesa da posição imperial, entretanto, deveu-se aos escritos de Pedro Crasso. O
jurista italiano, em seu Defensio Henrici IV. regis (1084), abriu
uma nova perspectiva argumentativa ao recorrer ao antigo
direito romano – que na Itália nunca havia desaparecido por
completo –, em especial ao Codex de Justiniano, para fundamentar a posição da casa sálica. Para Crasso, o mundo dividia-se em duas esferas de direito (duplices leges), independentes entre si e originadas de Deus: o direito canônico para
o âmbito espiritual; e as “leis sagradas” (sacratissimae leges)
do direito romano para o âmbito temporal.95
Ao sustentar o direito como categoria fundamental para
a ordenação da comunidade humana, Crasso tornava a letra
um ideal característico do período medieval, aquele da
nomocracia. Uma vida sem leis igualava-se, em seu raciocínio, à existência dos animais irracionais.96 Em sua concepção, tanto as leis de maneira geral quanto a dominação
temporal eram derivadas diretamente de Deus. Nessa perspectiva, a esfera secular era retirada do âmbito do poder papal. Em sua defesa do império, o autor recorreu tanto à
argumentação tradicional – retirada do texto bíblico Epístola
95
96
“Tum illa omni mora remota sic est exorsa: ‘Quoniam conditor rerum in
rebus, quas condidit, nihil homine carius habuit, duplices ei contulit
leges quibus fluctivagam compesceret mentem ac se ipsum agnosceret
conditorisque sui mandata servaret; sed harum unam per apostolos
successoresque eorum ecclesiasticis assignavit viris, alteram vero per
imperatores et reges saecularibus distribuit hominibus, beato Augustino
huic rei testimonium perhibente: ‘Ipsa’, inquit, ‘iura humana per
imperatores et reges seculi Deus distribuit humano generi’”. In:
HEINEMANN, Lothar von (Ed.). Defensio Henrici IV. regis. In: MGH Libelli
de lite. t. I, p. 438, c. 4. Uma passagem do documento está traduzida
para o português e pode ser encontrada em SOUZA & BARBOSA, op. cit.,
p. 61-2.
“Abolitis enim legibus, nonne parum vivere a brutis animalibus
redarguimur?”. In: HEINEMANN, op. cit., p. 445, c. 7.
101
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
aos romanos –97 quanto à noção do dominador enquanto “imagem de Deus” (imago Dei) de Ambrósio.
Para justificar o governo de Henrique IV, Pedro Crasso
sustentou tanto a hereditariedade da realeza e do império –
que existiria desde tempos imemoriais – quanto a continuidade da dominação dentro da casa sálica. Recorrendo ao direito romano de bens e de família, comentava que Henrique
IV seria o detentor legal do poder tanto no sentido jurídico,
devido ao direito de herança, quanto no sentido material, devido à posse factual das coisas (“...Nonne Henricus rex iure et
corpore possidet regnum?...”) (cf. c. 6.33-34). Ao assumir o
direito romano de majestade da Lex Iulia (I. 4,18,3) – segundo a qual qualquer ataque contra o imperador e seu Estado
deveria ser punido como um crime merecedor de pena capital –,98 Crasso reforçou a posição do rei.
A causa do imperador ganhava assim uma sustentação expressiva: com base na continuidade – sem ruptura –
do direito romano, Henrique IV era igualado aos imperadores romanos. Como o direito de majestade dizia respeito não
apenas à pessoa do governante, mas também ao bem comum (respublica) de maneira genérica, como um bem que
merecia ser protegido, sustentava-se a idéia de um conceito
de Estado para além da pessoa do monarca. Embora a recorrência ao direito romano em Pedro Crasso servisse para fortalecer sobretudo o princípio monárquico, a retomada desse
corpo legal apontava para um desenvolvimento futuro: a cons97
98
“Seja todo homem submisso às autoridades que exercem o poder, pois
não há autoridade a não ser por Deus e as que existem são estabelecidas por ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade se revolta contra a
ordem querida por Deus, e os rebeldes atrairão a condenação sobre si
mesmos”. In: Romanos, 13: 1-2. In: A Bíblia, op. cit., p. 1396.
“Item in libro Institutionum ita: ‘Lex Iulia maiestatis, quae in eos, qui contra imparatorem vel rempublicam aliquid moliti sunt, suum vigorem
extendit, cuius poena animae amissionem sustinet, et memoria noxii post
mortem damnatur’”. In: HEINEMANN, op. cit., p. 452, c. 7.
102
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
trução de uma área de dominação temporal como corporação
juridicamente fechada, baseada numa lei genericamente válida para todos.
O Anônimo Normando (também conhecido como Anônimo de York), que escreveu provavelmente em Rouen por
volta de 1100, autor de cerca de trinta tratados,99 foi responsável por uma ruptura radical com a interpretação tradicional da doutrina gelasiana dos dois poderes – incluindo sua
reinterpretação hierocrática pelos gregorianos. Aos esforços
– provindos dos reformistas – de dessacralização da figura do
governante temporal, o Anônimo Normando contrapunha,
em seu texto De consecratione pontificum et regum, a tese da
realeza, segundo a qual a sacralidade do cargo teria origem
imediatamente de Deus.100 O ponto de partida de sua argumentação era a constatação de que o rei – de forma semelhante aos clérigos – participava, por meio da unção, da
natureza divina de Cristo,101 e sofria assim uma espécie de
deificatio.
99
Os textos podem ser encontrados em: PELLENS, K. (Ed.). Die Texte des
Normannischen Anonymus, Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte Mainz. Wiesbaden: 1966, n. 42. Parte do texto
aqui utilizado, o De consecratione pontificum et regum, foi traduzida por
SOUZA & BARBOSA.
100
“Os Pontífices não ignoram que o poder dos reis sobre todos os homens
lhes foi conferido do alto e que Deus lhes concedeu exercer um domínio
não apenas sobre os leigos e os soldados, mas ainda sobre os seus
sacerdotes. [...] O fato de os monarcas estabelecerem leis para a proteção da Igreja e velarem por ela não é contrário à justiça, porque [...] eles
detêm um poder sacrossanto inclusive sobre os Pontífices do Senhor,
bem como exercem o governo eclesiástico”. In: SOUZA & BARBOSA, Documento 14, op. cit., p. 88.
101
“[...] de modo que os reis, ao serem ungidos, recebem o poder de Deus
para governá-la, confirmá-la na justiça e julgamento, e administrá-la
segundo o estatuído pela lei cristã, pois eles reinam na Igreja, que é o
povo de Deus, e exercem essa missão juntamente com Cristo”. Ibid.,
p. 88.
103
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Essa forma de participação era conseqüência de um
efeito de graça divina. As relações entre o poder temporal e a
instituição eclesiástica, segundo o Anônimo Normando, orientavam-se pela respectiva relação com Cristo – o único “rei e
sacerdote” (rex et sacerdos) verdadeiro e perfeito, como já havia
constatado Agostinho. Enquanto o primeiro participava da
natureza superior da realeza de Cristo, o sacerdote participava apenas da sua natureza humana inferior. Essa dedução teológica resultava, conseqüentemente, para o Anônimo
Normando, na primazia do regnum sobre o sacerdotium no
âmbito temporal.102
Ao imperador, continuava o Normando, era concedido
– na qualidade de “sacerdote supremo” (summus pontifex), de
acordo com a prática da instituição eclesiástica estatal constantina – o direito de convocar concílios e decidir em assuntos de fé. Por causa da honrosa reputação desfrutada pelo
império em virtude da sacralidade do cargo atribuída pela
unção, o mesmo direito valia para a investidura de sacerdotes: os bispos recebiam do governante temporal, mediante o
ato da investidura, o poder do cargo sobre o povo eclesiástico
e o poder de dispor sobre os bens da Igreja.103
102
“O sacerdote desempenha um ministério proveniente da natureza inferior de Jesus, a humana; o rei, pelo contrário, desempenha uma função
de origem naturalmente superior, a divina. [...] Alguns julgam que o rei
e o seu poder é maior e mais importante do que o sacerdote e a sua
autoridade, no respeitante à missão que desempenham junto ao povo.
[...] É por isso que afirmam que a dignidade real institui a sacerdotal e
esta deve ser-lhe submissa, e tal fato não contraria a justiça divina,
porque o mesmo acontece com Jesus Cristo”. Ibid., p. 88-9.
103
“Os Sumos Pontífices estão subordinados tanto aos reis quanto a Jesus
Cristo e prestam-lhes homenagem, porque sabem perfeitamente que,
mediante os reis, é Ele que reina e exerce o seu domínio sobre todos [...].
Não é um leigo que concede a investidura, mas um monarca, o cristo do
Senhor, co-reinando pela graça divina com Ele, ungido do Senhor por
natureza, e como esses dois cristos reinam juntamente, ambos concedem simultaneamente o que é necessário ao seu reino [...] além disso, o
104
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Segundo o Anônimo, a investidura executada pelo monarca não se referia à posição sacramental e à função do
bispo, mas apenas a suas competências de dominação temporal (regalia). Ele não deixava dúvidas, porém, de que o governante investia o clero não como leigo, mas como administrador da própria divindade. Embora sua argumentação
parecesse repousar mais numa tentativa de recuperação do
antigo modelo teocrático dos césares romanos, ao rejeitar a
visão dualista clássica, baseada na relação entre alma e corpo, segundo a qual o domínio material englobava apenas os
corpos, enquanto o domínio sacerdotal englobava as almas
dos homens, o Normando contribuía com um passo decisivo
em direção à autonomia do governo temporal: seu argumento não tardaria a ser desenvolvido.
Em oposição à linha de argumentação defendida pela
Igreja para justificar sua preeminência, o Anônimo enfatizava
que as almas não podiam ser governadas sem os respectivos
corpos, nem os corpos sem as almas. No interesse da unidade do governo, portanto, impunha-se o direito do rex de dispor sobre a Igreja. A idéia da realeza divina centrada em Cristo
ganhava com o Normando uma projeção expressiva. Não havia ainda no horizonte, é claro, a menor possibilidade de pensar uma monarquia absoluta nos moldes daquelas que
surgiriam séculos depois no continente europeu. O desenvolvimento caminhava muito mais na direção de uma diferenciação dos poderes. Mas já se podiam entrever indícios de
uma tendência à – e material teórico para a defesa da – centralização do poder nas mãos de um único governante supremo. Se esse poder deveria caber ao papa ou ao imperador,
era o que se debatia neste momento.
bispo recebe juridicamente do rei as suas possessões; e não só isso,
mas também a missão de guardar a Igreja e o direito de governar o povo
de Deus”. Ibid., p. 89.
105
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Por meio da separação conceitual entre, de um lado, o
ofício espiritual (spiritualia) e, de outro, os bens temporais e os
privilégios ligados ao cargo (temporalia), preparava-se a solução para o problema das investiduras. O notável nessa interpretação, comenta Struve, não foi tanto a distinção entre spiritualia e temporalia, mas sim a incorporação das últimas à
ordem temporal de direito104 (ius humanum) – associação que
encontrava em Agostinho uma base sólida. Essa diferenciação, relevante para o desenvolvimento das idéias políticas, foi
introduzida e fundamentada nos textos de publicistas e canonistas importantes da virada do século. Faltava pouco para o
fim da querela pela investidura.
O canonista francês Ivo de Chartres, sobretudo na sua
coletânea de cânones escritos entre 1097 e 1115, explicava
que cabia ao imperador, como “cabeça do povo” (caput populi),
dispor sobre as temporalia. A investidura de leigos, porém,
constituía, segundo ele, uma intromissão indevida do poder
temporal na esfera de direito da Igreja – ingerência que, no
interesse da liberdade evangélica, deveria ser impedida. O
bispo de Chartres acreditava, contudo, que a harmonia da
cristandade unida na Ecclesia dependia da concórdia (concordia) – que deveria ser alcançada a qualquer custo – entre
regnum e sacerdotium.
Essa sua crença constituía um ponto decisivo para o
desenvolvimento de suas posições: importante era a ação
conjunta harmoniosa dos membros do corpus Christi. Ivo de
Chartres procurava uma solução ponderada para o conflito,
sem intransigências de nenhuma parte. Isso o levou a sustentar que a investidura, quando despojada de caráter sacramental, não significava uma ofensa contra a lei divina (lex
aeterna) e, por isso, não devia ser entendida necessariamente como uma heresia: podia – e devia – ser tolerada em casos
104
Cf. STRUVE, op. cit., p. 232.
106
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
excepcionais (dispensatio) para manter a paz interna e a
utilitas comum.105
Também o publicista imperial Wido de Ferrara, no seu
texto em defesa do antipapa Clemente III, De schismate
Hildebrandi (1086), já havia defendido a investidura imperial
como um empréstimo temporal. Ele distinguia conceitualmente entre o cargo episcopal, atribuído à esfera dos spiritualia, e o complexo de bens recebidos e de direitos ligados a
ele, para o qual usava a designação “regalias” (regalia). Como
esse conjunto era concedido pelo poder temporal, eles pertenciam aos assuntos seculares (saecularia). As regalias eram
definidas, assim, como aqueles direitos que cabiam ao governante secular, independentemente de qualquer outra autoridade. Dado que esses privilégios eram cedidos à Igreja como
direitos reais genuínos – por meio do ato da investidura –
apenas para a utilização temporária e limitada, cada troca
no cargo episcopal tornava necessária uma nova investidura
real.106
Sigisberto de Gembloux, autor de um tratado muito
divulgado sobre a investidura dos bispos (Tractatus de
investitura episcoporum, de 1109), sustentava que o juramento
de fidelidade (sacramentum) e a homenagem feudal (hominium)
tinham o caráter de atos compensatórios pelo recebimento
das regalias. Embora seguisse a doutrina gelasiana tradicional da independência dos dois poderes, o autor concordava
com os partidários do imperador a respeito do fato de que
cabia ao governante temporal a investidura dos bispos.107 E
105
Cf. SACKUR, Ernestus (Ed.). Epistolae ad litem investiturarum spectantes.
In: MGH Libelli de lite. t. II, p. 640-57 (esp. p. 60, 106, 171, 236, 238).
106
Cf. WILMANS, R.; DÜMMLER, E. (Ed.). De schismate Hildebrandi. In: MGH
Libelli de lite. t. I, p. 529-67 (esp. p. 560-67).
107
“[...] et investituras episcoporum eis determinavit, ut non consecretur
episcopus, qui per regem vel imperatorem non introierit pure et integre,
exceptis quos papa Romanus investire et consecrare debet ex antiquo
107
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
adicionava um argumento importante: em razão do direito
costumeiro108 (antiqua consuetudo). Para sustentar sua posição, apoiava-se nos privilégios de investidura de Adriano I
(772-95) (in: Hadrianum) e Leão VIII (963-65) (in: Privilegium
minus), falsificados na virada do século XI para o XII por
círculos fiéis ao imperador da Itália.
Tal como seu contemporâneo Wido de Osnabrück, Sigisberto chamava atenção para o fato de que a Igreja devia a
sua riqueza à generosidade dos reis e do imperador e de
beatos leigos.109 Todos os pertences da instituição eclesiástica – posse de bens, ganhos e direito sobre um território –
foram subsumidos em sua argumentação sob o conceito de
regalia. Ao governante temporal, como cabeça do povo, cabia o direito de investidura dos bispos.110 O autor avançou
mais um passo ao conceder também ao rei o direito de
entronização, sem com isso atribuir à investidura um caráter espiritual (cf. Tractatus, p. 501). Uma solução viável ao
problema das investiduras ganhava terreno: com base nos
direitos de feudo, se tornava possível sustentar a separação –
teoricamente preparada na publicística da época – entre os
poderes espirituais e temporais, conferindo estes últimos à
dono regum et imperatorum cum aliis que vocantur regalia, id est a regibus
et imperatoribus pontificibus Romanis data in fundis et reditibus. In hac
concessione continentur regales abbatie, prepositure. In: BERNHEIM, E. (Ed.).
Tractatus de investidura episcoporum. In: MGH Libelli de lite. t. II,
p. 498.
108
“Ex hoc, prout sunt consuetudines in regnis per orbem terrarum, de
episcopis investiendis servanda sunt antiqua iura”. In: BERNHEIM, op. cit.,
p. 502.
109
“[...] [reges et imperatores], a quibus – et etiam a devotis laicis et feminis
– fundi et mobilia ecclisiis Dei in orbe terrarum provenerunt sibique tutelas et defensiones rerum ecclesiasticarum retinuerunt contra tyrannos et
raptores”. In: BERNHEIM, ibid., p. 500.
110
“[...] ut rex, qui est unus in populo et caput populi, investiat et intronizet
episcopum et contra irruptionem hostium sciat, cui civitatem suam credat,
cum ius suum in domum illorum transtulerit!”. In: BERNHEIM, ibid., p. 502.
108
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
competência do direito secular. Era o fim da querela entre
os dois poderes.
Na Concordata de Worms, Henrique V abriu mão da
concessão de posse com anel e bastão e garantiu a eleição
canônica livre e a investidura. Em troca, o papa Calixto II (111924) concedeu ao imperador que, dentro do reino alemão, a
eleição dos bispos e abades ocorresse na presença do monarca. Caso houvesse uma eleição ambígua, o imperador deveria
decidir a favor do “partido mais sensato” (sanior pars). No lugar da investidura no sentido comum, foi previsto que o eleito
deveria receber as regalias, na Alemanha, antes da cerimônia
de posse; na Itália e na Borgonha, em um prazo de seis meses
depois de empossado. Desse modo, mantinha-se a influência
do rei sobre a ocupação de bispados e abadias dentro do reino
alemão.111
Ficou acertado ainda que o clero tinha de cumprir com
os deveres – isto é, a homenagem feudal e o juramento de
fidelidade, além das obrigações a eles ligadas – surgidos a
partir do empréstimo das regalias pelo imperador, segundo o
direito do regnum. A Concordata de Worms que, aliás, não foi
integrada nas grandes compilações de direito eclesiástico,
caracterizou-se nitidamente pela marca do acordo: os dois
poderes cediam em nome da restauração da paz na cristandade dividida. No conflito pela disputa das investiduras – e
também como reflexo da “Humilhação de Canossa” – a reale111
Apesar da aparente vitória experimentada pelo papado, lembra Gerd
Tellenbach, a conduta dos bispos individuais em seus cargos nos assuntos do dia-a-dia “continuou sendo ainda fortemente determinada
pelos poderes locais prevalecentes – seus colegas episcopais, o rei e sua
corte, barões locais – tanto quanto pelo papa distante e seu aparato
curial e legados de funcionamento intermitente”. Isto é, as idéias e a
prática da maior parte dos leigos e prelados estavam ainda impregnadas dos valores e instituições de caráter feudal. Cf. TELLENBACH, op. cit.,
p. 349.
109
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
za medieval perdeu muito da sua investidura sagrada originária. Na prática, contudo, isso pouco alterava a configuração de poder local: a fragilidade institucional do papado e
sua dificuldade de enfrentar a força das armas em terras
distantes impediam maior eficácia no cumprimento do acordo. Mas era indiscutível a sua vitória moral.
Depois das regulamentações do acordo, as competências do imperador – inicialmente não divididas – foram restringidas à esfera das temporalia. A obrigação de responder
às reivindicações de poder hierocráticas levou os partidários
do governante secular a recorrer com maior ênfase à antiga
tradição romana do império, mas sobretudo ao direito romano, intrinsecamente a ele ligado. Como uma instituição puramente temporal, fundada por leigos para leigos, o império
fornecia à realeza um fundamento de idéias totalmente novo
e independente da doutrina eclesiástica. Estavam criadas,
pelo menos no plano teórico, as precondições para a
autonomização da esfera temporal.
III PODER E DIREITO:
IMPÉRIO E PAPADO NO SÉCULO
XII
Os desenvolvimentos ocorridos no interior da cristandade e da Igreja alteram a configuração da sociedade européia
durante o século XII. Apesar de finda a disputa pela investidura, novas lutas ferrenhas entre o papado e o império pela pretensão de universalidade de seus representantes máximos – e,
portanto, pelo domínio da cristandade – ainda ocorreriam. As
querelas entre os dois poderes foram responsáveis por boa
parte dos problemas políticos ocorridos em seus territórios, a
Alemanha e a Itália. Os avanços no pensamento político –
embora talvez modestos da nossa perspectiva – foram contudo bastante relevantes para a época.
110
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
A recuperação do antigo direito romano, nesse período,
combinou-se de maneira excepcionalmente fértil com a onda
de novidades intelectuais e iniciativas artísticas: conhecedores denominam – não sem razão – o conjunto de inovações e
transformações do período de o Renascimento do Século XII.
No âmbito religioso, propagaram-se as ordens monásticas e o
culto ao ideal de pobreza, que exerceu forte influência sobre a
instituição eclesiástica sobretudo a partir de 1100. Também
cresceu o movimento econômico dentro da Igreja, sobretudo
nas áreas próximas das cidades. No campo, predominavam os
cistercienses, cultivadores da vida eremítica.
Os eventos políticos também seguiam seu curso, alterando e simultaneamente sendo modificados pelos novos ventos. Depois do acordo realizado na Concordata de Worms, o
partido gregoriano se fortaleceu. Trinta anos de paz se seguiram. Quando Henrique V morreu, em 1125, sem deixar herdeiros, a cúria papal tratou de providenciar sua sucessão,
afastando da disputa seu sobrinho Frederico II de Staufen,
duque da Suábia. Contra ele, a cúria romana apoiou Lotário
de Supplinburg, duque da Saxônia e inimigo da casa sálica
desde a rebelião de Henrique IV contra o papado.
Lotário III, depois de eleito imperador, garantiu algumas
liberdades ao sacerdotium e renunciou a dois direitos acordados em Worms: abriu mão da presença nas eleições eclesiais e
também de conferir as regalia antes da consagração – renúncias que na prática não foram sempre cumpridas. Com o cisma de 1130, o apoio de Lotário III às posições do pontífice
parecia confirmar a nova política papal: a restauração do imperador ao papel de defensor do papado. Com a morte de
Lotário, seu filho Conrado III foi nomeado imperador e seguiu,
de modo geral, a mesma linha de conduta do pai.
Essas décadas foram marcadas por uma contribuição
que faria escola no pensamento jurídico: o Decretum (ou
Concordantia discordantium canonum), de Graciano. O documento, uma coleção formada de decretos papais e imperiais,
111
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
escritos dos Santos Padres, leis romanas etc., continha material suficiente para sustentar tanto a afirmação da independência das duas espadas quanto a doutrina gregoriana
da subordinação da espada temporal à espiritual. A enorme
compilação do mestre Graciano de Bolonha – que rapidamente se tornaria a grande referência para o estudo do direito canônico e serviria de base para o Corpus Iuris Canonici –
continha, entre outras, duas afirmações que teriam desdobramentos relevantes para o pensamento político: a de que
uma concepção apostólica guardaria sempre a pureza da fé
católica; e a de que príncipes cristãos deviam auxiliar a Igreja
romana no cumprimento desta função.112
Do poder temporal, a instituição eclesiástica esperava
que suprimisse “aqueles que perturbam a paz da Ecclesia”:
se eles desdenhassem fazê-lo, seriam excluídos da comunhão.
Príncipes seculares, portanto, deviam estar preparados para
conduzir uma guerra santa contra os inimigos da fé, quando
instigada pela Igreja romana. Fundamentava-se assim a teoria da “perseguição justa”, desenvolvida pelos canonistas
gregorianos – ancestral tanto da idéia de Cruzada quanto
das medidas coercitivas contra heréticos desenvolvidas no
século XII.
Um ponto merece destaque: o comentário feito por Bernardo de Claraval (1090-154), abade borgonhense de
Clairvaux, também conhecido como São Bernardo. Quando
o papa Inocêncio II (1130-43) foi expulso de Roma, no cisma
de 1130, Bernardo declarou que os papas expelidos eram
“geralmente expulsos da cidade e aceitos pelo mundo”.
Robinson chama atenção para o fato de que, apesar dos cismas e das expulsões dos pontífices de sua base romana, os
“papas legais” acabaram vitoriosos porque “foram aceitos pelo
mundo”. Mas eles tiveram primeiro de persuadir príncipes e
112
Cf. ROBINSON, op. cit., p. 318.
112
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
religiosos da legitimidade de sua causa pelo Ocidente afora.
Esses esforços de persuasão acabaram projetando o papado
para o mundo além de Roma.
Outras forças, além dos cismas, também contribuíram
para levar os papas para fora dos limites romanos: a cidade
havia-se tornado perigosa por causa da hostilidade do populus
romano ao pontífice. A independência papal nos séculos XI e
XII foi ainda ameaçada pelas ambições das famílias nobres.
“Depois de 1143”, escreve Robinson,
a ameaça foi intensificada pela fundação de uma Comuna romana que reclamava jurisdição sobre a cidade. Os
papas mantinham sua liberdade de ação criando um sistema de governo que os tornou independentes dos romanos, por meio da exploração de recursos dos territórios
papais (“o Patrimônio de São Pedro”) e por meio de sua
aliança com príncipes ocidentais.113
Essa projeção do sacerdotium, contudo, esteve intrinsecamente ligada às suas infindáveis disputas com os defensores do imperium, que resistiam com todas as armas à
reivindicação de plenitude do poder pelo trono pontifício.
***
Diferentemente de Conrado III e seu pai, a eleição do
rei alemão Frederico III, da dinastia dos Hohenstaufen, du113
ROBINSON, op. cit., p. IX. O sucesso dessa emancipação dos pontífices,
constata Robinson, pode ser percebido no número de pontífices originários de Roma no período: dos 19 papas que governaram entre 1073 e
1198, apenas 5 eram romanos (Gregório VII, Inocêncio II, Anastácio IV,
Clemente III e Celestino II). Os demais pontífices provinham do sul da
Itália (3), da Itália central e do norte (8), da França (2), e um da Inglaterra. Essa “internacionalização” da Ecclesia seria ainda mais fortemente
sentida na composição do Colégio de Cardeais, a mais importante instituição no governo papal do século XII.
113
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
que da Suábia e imperador Frederico I, o Barba-Ruiva, em
março de 1152, não contou nem com o apoio nem com a
presença da cúria papal. Frederico apenas anunciou sua eleição e fez-se coroar imperador sem a presença do pontífice
nem de prelados. Também não aguardou a confirmação da
autoridade espiritual para assumir o trono. Tal como os
Staufen que o antecederam, Frederico I recusava-se a sucumbir à pressão do gládio espiritual: com base na tradição
imperial romana, argumentava ter recebido o império diretamente de Deus, não do papa.
Também a sua posição privilegiada – era bem aceito
pelos dois partidos alemães fortes, os Staufen e os Welf –
permitia-lhe abrir mão de qualquer sanção adicional. O papa
Eugênio III (1145-53) enviou, três meses depois, uma carta
ao imperador, manifestando sua aprovação e boa vontade
para com o eleito, mas em nenhum trecho usou a palavra
confirmação. O pontífice e o imperador, por meio de seus legados, selaram uma aliança entre os dois poderes, fixada no
Tratado de Constança, em 1153. Esse acordo definia sobretudo os deveres do imperador na Itália: comprometia-se a
proteger a honra do papado e a não fazer a paz com os romanos nem com o rei da Sicília sem o consentimento do sumo
sacerdote.
Em troca, receberia a coroa imperial, o que lhe permitia restaurar as regalia de São Pedro – da competência do
poder temporal. Ambos comprometiam-se ainda a não fazer
alianças nem concessão de terras ao rei bizantino. O pacto
durou até a morte de Eugênio III (1153) e de seu sucessor
Anastácio IV, que também logo faleceu. O seu lugar foi ocupado por Adriano IV (1154-59). Cada novo pontífice recebia
pressões de vários lados, mas especialmente dos romanos e
do rei da Sicília.
A Comuna romana erguia-se contra o papado, por meio
de líderes eloqüentes como Arnoldo de Brescia. No reino
114
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
siciliano, o sucessor de Rogério II, Guilherme I, tinha assumido o título de rei sem a permissão de seu senhor feudal, o
papa. Quando Adriano se recusou a reconhecê-lo como rex,
em 1155, seu exército passou a atacar o Patrimônio de São
Pedro. Frederico I, que desde 1154 avançava sobre o reino
italiano, alcançou Roma em junho de 1155: levava como troféu ao pontífice o prisioneiro Arnoldo de Brescia, que entregou ao prefeito de Roma para execução.114
No mesmo mês, no campo de Sutri, Frederico I e Adriano IV encontraram-se: o imperador era agora oficialmente
coroado. As duas versões do episódio eram bastante divergentes, como mostravam tanto os documentos do papa quanto
as cartas do imperador relatando o ocorrido. A versão germânica falava de um quadro de harmonia entre a duas autoridades e enfatizava a boa vontade de Frederico em cooperar
com o pontífice – como conta a carta de Frederico ao seu tio,
o bispo Oto de Freising.115 Já a versão eclesiástica descrevia
uma situação tensa causada pela má vontade de Frederico
em respeitar a honra do papado.
As duas versões tinham intenções polêmicas, argumenta
Robinson: a alemã ocultava a falha do imperador em preencher os termos do Tratado de Constança, que envolvia proteger o papado da Comuna romana e do rei siciliano; a versão
pontifícia pretendia culpar Frederico pela deterioração da
relação entre papado e império – acentuada no fim do pontificado de Adriano. Toda a disputa, entretanto, girava em torno de um dado prévio: apesar de Lotário III ter consentido em
ser chamado “vassalo do papa”, toda linhagem imperial não
114
115
Cf. ROBINSON, op. cit., p. 462-3.
Um minucioso estudo sobre o período – que trata sobretudo da vida e
obra do bispo bávaro Oto de Freising, tio e conselheiro de Frederico I –
pode ser encontrado no gigantesco trabalho de: BARBER, Malcolm. The
two cities: medieval Europe 1050-1320. London, New York: Routledge,
1993.
115
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
o admitia. Frederico recusava-se a aceitar a posição de mero
stratoris116 officium do prelado.
Além do fato de Frederico não ter cumprido rigorosamente as cláusulas do Tratado de Constança, também o papa
tomou medidas para proteger-se de seus inimigos, o que, em
última instância, envolvia uma quebra do pacto por parte do
cadeira pontifícia. O imperador e sua tropa retornaram à Alemanha,117 em 1155, sem ter restabelecido a autoridade papal sobre Roma e sobre o território da Igreja: não tinham sido
subjugados nem a Comuna romana nem o rei siciliano.
A vitória de Guilherme I da Sicília sobre o papado no
ano seguinte causou perdas ao Patrimônio de São Pedro. Além
disso, o rei avançou sobre as terras do sul da Itália. Pouco
depois, na Concordata de Benevento (1156), o rei confirmou
a suserania pontifícia sobre o reino da Sicília. Um ano mais
tarde, o rei siciliano selou um acordo com o imperador de
Bizâncio, Manuel I Comnenus, segundo o qual este reconhecia a titularidade de Guilherme sobre o reino da Sicília e sobre o sul da Itália.
Tanto o tratado quanto a concordata pareciam à corte
imperial um ataque direto contra o imperador. O capelão imperial, Godofredo de Viterbo, reclamou que Adriano IV
teria rompido o Tratado de Constança não uma, mas duas
vezes, fazendo a paz com os normandos e com Bizâncio. “O
papa desejava ser tido como inimigo de César” ,118 escrevia o
capelão. Era razão mais do que suficiente para considerar
desfeito o acordo entre o papa e o imperador germânico.
116
Stratoris: aqui no sentido de “serviçal”; também “a domestic servant
performing the duties of groom or the like; a personal aide or equerry”. Cf.
GLARE, op. cit.
117
O retorno do imperador deveu-se sobretudo ao fato de que havia tensões
e suspeitas de desagregação interna de suas tropas, de modo que sua
avaliação o impedia de conduzir uma guerra em tais circunstâncias.
118
ROBINSON, op. cit., p. 465.
116
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Apesar das tentativas pontifícias de ganhar aliados na
Alemanha, não havia partido contra Frederico I em território
germânico no momento em que estourou a querela entre o
papa e o imperador. A disputa começou por causa da concessão pelo papa do controle sobre a Igreja sueca a Esquil de
Lund, que – a caminho de casa – foi preso e detido por brigadas imperiais na Borgonha. O papa apelou às armas do imperador para libertá-lo e enviá-lo com segurança de volta à
Suécia. Frederico não respondeu à carta do pontífice, pois o
concorrente dinamarquês de Esquil tinha sido conduzido ao
trono por vontade do próprio Barba-Ruiva em 1152.119
Meses depois, Esquil foi libertado e voltou ao reino sueco. As cobranças de ambas as partes, contudo, acirraramse.120 O caso estendeu-se ainda mais com uma carta do papa,
enviada a Frederico na dieta de Besançon, em setembro de
1157. No documento – lido e traduzido na reunião pelo influente chanceler Reinaldo de Dassel –, o papa lembrava ao
governante temporal que este não estava cumprindo os compromissos de “honra e dignidade” a ele conferidos quando da
coroação. E que o imperador não devia mostrar ingratidão
para com aqueles de cujas mãos recebera os beneficia e que
lhe teriam “concedido” a dignidade imperial.121
A interpretação de que Frederico teria recebido a coroa
imperial com feudo (pro beneficio) do sumo pontífice causou
119
Tratava-se do rei Swein Grathe, da Dinamarca, que apoiava as pretensões do rival de Esquil ao trono sueco, Knut Magnusson.
120
Há muita polêmica histórica sobre o assunto: se o seqüestro de Eskil foi
premeditado pelo papa para provocar Frederico; ou se Eskil estava usando a sua proximidade com o papado para frustrar as reivindicações
legítimas de um bispo imperial leal, e assim fazer oposição à influência
imperial na Dinamarca.
121
Dizia a carta de Adriano IV a Frederico I: “[...] Deves, portanto, gloriosíssimo filho, recordar quão graciosa e alegremente, no ano passado, a
Sacrossanta Igreja Romana te recebeu e com quanto afeto ela te tratou,
com que plenitude de dignidade e de honra te revestiu, e como conce117
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
confusão e tumulto entre os barões, legados e autoridades
presentes. O imperador, em sua resposta irada, rejeitou a
noção de que o império fosse um feudo do papado, e acusou
o pontífice de desonrar os alemães e o Império. Argumentava
que o Sacro Império (Sacrum Imperium) lhe tinha sido concedido por Deus e, por isso, não dependia do papado.122 Adriano
retrucou dizendo que a carta tinha sido traduzida de maneira equivocada: quando escrevera “concedendo-te a coroa”,
quisera apenas dizer que teria “colocado a coroa em sua cabeça”.123 Seja por erro de interpretação, seja pelo uso de um
vocabulário feudal oriundo das concepções políticas de Gregório VII, o fato é que as disputas entre os dois poderes se
agravaram.124
dendo-te muito graciosamente a distinção da coroa imperial, se empenhou em te conservar no seu regaço fertilíssimo, no ápice da tua sublimidade, certa de não ter nada que viesse a causar [sic] o mais pequeno
descontentamento à tua vontade real”. In: SOUZA & BARBBOSA, Documento 19, op. cit., p. 93 – grifo meu.
122
Respondera Frederico I em circular aos bispos do império: “Tendo em
vista que, pela eleição dos príncipes, recebemos o reino e o Império
somente de Deus, o qual, por meio da Paixão de Cristo, seu Filho, submeteu este Orbe ao governo das duas espadas necessárias, e considerando, paralelamente, que o Apóstolo Pedro ensina a todos a seguinte
doutrina: ‘Temei a Deus e honrai o Rei’, aqueles que afirmam termos
recebido a coroa imperial através do Senhor Papa, ao modo de benefício, contradizem a instituição divina, bem como o ensinamento do bemaventurado Pedro, e por isso devem ser considerados mentirosos”. In:
SOUZA & BARBOSA, Documento 20, op. cit., p. 95.
123
Cf. ROBINSON, op. cit, p. 470.
124
“Não se pode propriamente entender quão insolúvel era a tensão entre
reis e papas se se falha em reconhecer o fato de que ambos os lados
viam sua legitimação divina como indisputável e como um componente
indispensável de sua dignidade”, escreve Gerd Tellenbach. Enquanto
existisse uma monarquia cristã, prossegue, uma relação direta entre
regnum e Deus continuaria a ser afirmada em face de todas as tentati118
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Frederico havia decidido dar novo sopro à política imperial. Para isso, determinou na dieta de Roncaglia, em 1158,
a restauração do controle imperial sobre o reino da Itália.
Mas Adriano continuava negociando com os interesses italianos, sobretudo com as cidades lombardas, que resistiam
aos decretos imperiais de Roncaglia. E tudo indicava, já antes de sua morte, que a aliança papal-alemã tinha chegado
ao fim. Com a morte de Adriano, em 1159, foi eleito papa o
cardeal italiano Rolando, líder do “partido antigermânico siciliano” – cujas origens remontam ao acordo de Benevento de
1156 –, sob o nome de Alexandre III (1159-81).
Com o endurecimento e o incremento da disputa entre
regnum e sacerdotium até dentro da própria Igreja, Frederico
I, incitado e militarmente sustentado por Reinaldo de Dassel,
passou a sustentar um antipapa, Vítor IV (1159-64) – e seus
sucessores –, agregando os cardeais contrários à hegemonia
siciliana na cúria papal. O argumento formal em prol dos
antipapas era o de que o Tratado de Constança deveria ser
mantido e cumprido. Os romanos, em sua luta contra o pontífice oficial, também apoiaram Vítor IV. O papa legal Alexandre III, depois de passar uma semana no castelo de
Sant’Angelo, foi obrigado a fugir de Roma.
Depois de várias tentativas – inúteis – de solucionar o
conflito com o bispo de Roma por meio de concílios, Frederico
I decidiu atacar Milão – sede das cidades lombardas resistentes –, destruindo-a. Isso assustou as cidades do norte,
que passaram a adotar uma posição defensiva em relação ao
império. O plano imperial agora era atacar a Sicília. Enquanto isso, o papa Alexandre III tentava governar o que havia
sobrado da instituição pontifícia baseado no território franvas de rejeitá-la. No fundo, argumenta o autor, a igualdade de todos os
príncipes seculares em sua relação com Deus foi a base para a idéia e
realidade do Estado soberano. Cf. TELLENBACH, op. cit., p. 350.
119
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
cês, sob a proteção de Luís VII e do rei inglês Henrique II e
suas Igrejas.
O contra-argumento de Alexandre III tinha clara inspiração na antiga “disputa pela investidura”. O imperador e
seu antipapa, escreveu, não recearam “cortar a túnica
inconsútil de Cristo-Deus”,125 isto é, despedaçar a unidade
da Igreja. Em 1159, Vítor IV foi excomungado. Seis meses
depois, em março de 1160, Frederico I também foi expulso
da Igreja. Pesava contra o imperador a acusação de que pretendia sujeitar a Igreja de Deus às suas leis – e também reis
e príncipes de várias regiões – por meio do controle de ambas
as espadas: a material e a espiritual.
Alexandre III argumentava que, se Frederico fosse bemsucedido na tentativa de impor à Igreja seu antipapa, tornarse-ia impossível prevenir a extensão de seus domínios sobre
outros governantes seculares. E esse era, verdadeiro ou não,
um argumento de peso. A Igreja ainda declarou nulos e evitáveis todos os seus atos até que a paz fosse refeita. Liberou
também os seus vassalos do juramento de fidelidade e proibiu-os de oferecer-lhe ajuda ou conselho.
Com a morte de Vítor IV, em 1164, Frederico I, ao invés
de abrir negociações com o papado, logo apoiou seu sucessor, Pascoal III (1164-68), eleito pelos cardeais rebeldes. As
lutas continuaram, com vai-e-vem de cada lado, até a reconciliação entre o papa Alexandre III e o Barba-Ruiva, ocorrida
em Veneza, em julho de 1177. Segundo o acordado no tratado de paz, o imperador renunciava ao antipapa, reconhecia
Alexandre como pontífice católico e lhe prestaria “a devida
reverência”, devendo fazer o mesmo “quanto aos seus sucessores entronizados canonicamente”.126
125
A passagem consta da carta de Alexandre III aos lombardos, parcialmente traduzida em SOUZA & BARBOSA, Documento 24, op. cit., p. 102.
126
Cf. o “Tratado de paz entre Frederico I e Alexandre III”, traduzido em
SOUZA & BARBOSA, Documento 23, op. cit., p. 99-102.
120
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
Os cardeais, por sua vez, absolviam-no da sentença de
excomunhão e o readmitiam na unidade católica. Embora o
documento imperial, confirmando a Paz de Veneza, pudesse
ser interpretado por muitos como mais uma vitória do sacerdotium sobre o regnum, o texto restituía aos Staufen a noção
de Sacrum Imperium e se comprometia com a manutenção
da paz no Império romano. E isso era o que no fundo desejavam ambos os partidos em disputa.
Durante o terceiro cisma, que durou de 1159 a 1178,
Alexandre III evitou a linguagem gregoriana tanto da deposição quanto da superioridade papal sobre a imperial. O “incidente” ocorrido em Besançon – provocado pelo papa Adriano
IV ao reavivar a noção gregoriana de que o imperador era
mero vassalo do papa – foi a última aparição, durante o século XII, da teoria da supremacia papal sobre o império. A ênfase havia sido posta agora não mais sobre a autoridade do
papa de maneira absoluta, mas sobre os crimes que o imperador teria praticado e que o levaram a ser excomungado.
Ou seja, Frederico I fora excomungado não porque tivesse desobedecido ao papa – essa havia sido a ofensa de
Henrique IV – , mas porque se mostrou “um violento perseguidor da Igreja”. Seus súditos foram absolvidos da fidelidade feudal não porque ele foi deposto pelo papa, mas porque,
ao perseguir a Igreja, cessou de preencher a principal função
de seu officium: já não era mais “o advogado e defensor da
Igreja”. E, por isso, “devia ser chamado tirano, em vez de
imperador”.127
O imperador, por sua vez, fundamentara suas reivindicações, durante a querela, com base em dois argumentos de
peso. Recorrera à história para reclamar a anterioridade do
império em relação à Igreja: por ser o primeiro uma instituição mais antiga, a Ecclesia não poderia ter autoridade sobre
127
Cf. ROBINSON, op. cit., p. 480-1.
121
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ele. E, com base no direito imperial romano – cujo estudo o
Barba-Ruiva fizera questão de fomentar, sobretudo na Escola de Bolonha –, afirmara serem o reino e o império seus por
graça apenas de Deus (gratia Dei) e por meio da eleição dos
príncipes.
Um minucioso estudo de M. Pacaut sobre Alexandre III
sugere que os pronunciamentos do pontífice sobre a liberdade da Igreja, sobre a preeminência espiritual do sumo sacerdote e sobre o papel do governante secular tiveram como
fonte principal o Decretum, do mestre Graciano.128 Embora
os escritos de Graciano devessem muito à argumentação utilizada por Gregório VII e seus intérpretes do fim do século XI,
Alexandre III não concordava com a idéia da supremacia do
papa em assuntos seculares: preferia a concepção gelasiana
da independência dos dois poderes, com funções distintas.129
Sua preferência, contudo, não impediu que, na última década do século XII, o Decretum viesse a se tornar o livro oficial
de direito canônico da cúria papal, consultado em todas as
matérias e dificuldades.
A sobrevivência de Alexandre III no período em que esteve exilado, insiste Robinson, dependeu da ajuda dos reis
sicilianos Guilherme I e II, do magnânimo Henrique II da
Inglaterra, mas sobretudo de Luís VII da França. Todos esses
reis, constata, tal como Frederico I, insistiam que seu reino
tinha sido “decretado sobre a terra pelo rei dos reis”. Durante
o cisma, Alexandre III – vulnerável e necessitado – nunca
128
129
PACAUT, Marcel. Alexandre III. Paris: J. Vrin, 1956. p. 320 et seq.
Robinson sugere que parte do tom moderado adotado pelo papado ante
o poder secular durante o cisma deveu-se à presença de importantes
canonistas na cúria durante a briga em questão e à sua forte herança:
os estudos canônicos baseados no Decretum. Mas o resto da explicação, argumenta o autor, pode certamente ser encontrada no fato de que
a cúria papal necessitava urgentemente de apoio financeiro e político
dos governantes seculares. Cf. ROBINSON, op. cit., p. 482.
122
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
esteve em posição de afirmar a primazia do papa em assuntos seculares, nem o direito papal de depor reis desobedientes, pois o pontífice dependia completamente de seus aliados
seculares.130
Além disso, o pontífice jamais pretendera realmente
imiscuir-se nas eleições reais. Os reis, nesse momento, não
constituíam uma ameaça concreta nem ao regnum nem ao
sacerdotium. Os poderes por eles detidos ainda não conflitavam com a reivindicação de supremacia das duas autoridades que de fato contavam nesse período. Diferentemente do
imperador, os reis raramente haviam sido coroados pelo bispo de Roma, o que os impedia de reclamar o compartilhamento
de uma ordem divina. Mas seu apoio à causa papal terminava por valorizá-los como “protetores” da Ecclesia. E, nesse
período de consolidação do papado como centro organizador
da instituição eclesiástica, sua ajuda tinha sido inestimável.
Durante o exílio, Alexandre III residira na corte do rei
normando em Terracini e Agnani. Depois, na França, migrou
da proteção e residência do duque de Aquitânia para a do
capeto da cidadela de Paris; e mais tarde para a proteção do
conde D’Anjou. Finalmente, estabeleceu-se no território capeto
de Sens. Por volta de 1165 retornou a Roma, mas logo teve
de fugir novamente: em 1167 fora instaurado o novo antipapa
Pascoal III (1164-68). Alexandre morou depois disso em vários reinos da Itália. Pôde retornar a Roma apenas após a Paz
de Veneza (1177). A vulnerabilidade do pontífice, portanto,
contribuía inegavelmente para torná-lo cauteloso e desejoso
de um compromisso.
No dia seguinte à sua absolvição pelo papa, Frederico I
concordou com a efetivação da cerimônia de “confirmação do
cargo” (stratoris officium) – aquela que tinha hesitado em realizar em 1155, sob Adriano IV. A solenidade não implicava a
130
Ibid., p. 484.
123
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
dependência feudal do imperador ao papa, mas o reconhecimento pelo governante secular do título do sumo pontífice e
sua rejeição do antipapa. Um mês depois Frederico I participava de um concílio papal em que foram excomungados todos os cismáticos que se recusaram a reconciliar-se com a
Igreja – incluído o último antipapa, Calixto III (1168-77), que
passou a chefiar uma abadia.
Apesar dos atritos entre o imperador e as cidades
lombardas de Itália, aliadas do papa, as relações entre regnum e sacerdotium foram de relativa paz, mesmo depois da
morte de Alexandre III, em 1181. Seus sucessores foram partidários moderados da causa alexandrina e colaboraram para
a manutenção da paz entre os dois poderes. Grande importância para eles tinha adquirido a Paz de Constança, assinada em 1183 entre as cidades lombardas e o imperador, sob o
pontificado de Lúcio III (1181-5). Seu resultado prático – e
quase imediato – foi a transformação das cidades lombardas
de liga hostil em súditos leais ao imperador.
Frederico renunciou às medidas governamentais introduzidas na dieta de Constança em 1158 e reconheceu o direito de autogoverno às cidades italianas – reclamado sobretudo pelas Comunas que se fortaleciam. Em troca, elas lhe
pagariam um tributo anual e reconheceriam a suserania do
imperador. Também estava garantida a paz com a Sicília,
não apenas pelos esforços do papa, mas também pelo casamento do filho de Frederico I, Henrique VI, com a filha do rei
Rogério II, Constança. Lúcio III foi sucedido por Urbano III
(1185-7). Seu pontificado testemunhou a última querela da
Igreja com Frederico Barba-Ruiva.
O conflito com o milanês Urbano III, cuja família havia
sido vítima da dizimação da cidade por Frederico I em 1162,
foi motivado mais por razões pessoais do que por disputas
político-ideológicas. A uma provocação do papa, o BarbaRuiva reagiu duramente, fazendo casar-se seu filho, Henri124
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
que VI, e Constança da Sicília na catedral de Milão. Ele próprio coroou o filho co-imperador, numa cerimônia realizada
pelo patriarca de Aquiléia. Frederico ameaçava com isso o
direito do bispo de Roma à transmissão da dignidade imperial.
O papa, em resposta, mobilizou as cidades lombardas
contra o imperador, rompendo a Paz de Constança. As forças
imperiais invadiram então o Patrimônio de São Pedro, sob o
comando de Henrique VI. O papa, assediado, fugiu. Os conflitos e querelas aumentaram ainda mais. O pontífice decidiu
então viajar de Verona a Veneza, onde excomungaria o imperador. Mas não passou de Ferrara, onde morreu numa noite
de outubro de 1187. O chanceler e cardeal Alberto de Morra
foi então eleito papa, sob o nome de Gregório VIII (1187). Sua
missão era restaurar a paz entre império e papado, indispensável também para as pretensões do novo pontífice, reformar
a Ecclesia e lançar uma cruzada em ultramar. O acordo estava prestes a ser selado quando Gregório faleceu, em 1187,
depois de apenas 57 dias de pontificado.
Sucedeu-o o bispo-cardeal da Palestrina, agora Clemente III (1187-91). A paz foi finalmente assinada em abril de 1189,
em Estrasburgo. Em troca da promessa de coroação de seu
filho, Henrique VI, como imperador, Frederico I restabelecia o
Patrimônio de São Pedro ao domínio do papa. O imperador,
contudo, não abriu mão do controle da Igreja alemã: pelo contrário, garantiu-o em mais uma vitória contra as pretensões
do papado de libertar a Igreja no território germânico. Era o
preço a ser pago pela Ecclesia, mais interessada no lançamento bem-sucedido da Terceira Cruzada: em maio de 1189,
Frederico I lançou-se na Cruzada contra Saladino – era o primeiro imperador reinante a participar de uma guerra santa
papal. E dela nunca mais retornou: afogou-se quando cruzava o rio Salef, na Sicília, em junho de 1190.
125
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Henrique VI, seu filho e sucessor, se encontrava a caminho de Roma para a cerimônia de coroação quando Clemente III morreu, em abril de 1191. Dado o novo cenário
episcopal – o Colégio de Cardeais fora ampliado de 19 para 31
membros votantes – e os vários interesses em jogo, entre eles
o medo de o reino da Sicília vir a ser anexado ao Império
germânico, o nome escolhido para a sucessão papal foi cuidadosamente pensado: elegeu-se o mais velho dos cardeais, o
romano Jacinto Bobo, nomeado Celestino III (1191-8), de modo
a evitar um novo cisma. O cardeal já havia demonstrado ser
hábil negociador, além de agradar à – agora numerosa – base
romana da cúria.
Um dia depois de consagrado, Celestino III coroou Henrique VI imperador e Constança imperatriz, ainda em abril
de 1191. O ato mais relevante de seu pontificado, porém, foi
a restauração do domínio papal sobre a cidade de Roma,
após 45 anos de batalha com a Comuna romana. Henrique
VI ainda precisou enfrentar mais três anos de lutas até poder
tomar posse do reino, o que ocorreu no Natal de 1194, quando foi coroado rei siciliano. A coroação foi assegurada pelo
filho que nasceu logo depois, o futuro imperador Frederico II.
A morte prematura de Henrique VI, em 1197, pôs o problema da sucessão – que o monarca pretendia tornar hereditária – em primeiro plano, justamente no momento em que o
governante enfrentava uma rebelião de parte da nobreza
siciliana, conspirada também com o papa. A questão era complexa, pois envolvia diretamente o papado: o reino da Sicília
era considerado nominalmente feudo papal. Em seu testamento – que muitas fontes defendem ter sido falsificado –, ele
teria instruído a imperatriz e seu filho “a conferir ao papa e à
Igreja romana todos os direitos dos reis da Sicília aos quais
eles tinham por costume”,131 incluindo a homenagem e a
feudalidade recusadas por Henrique pouco antes.
131
Cf. ROBINSON, op. cit, p. 521.
126
CAP. 1 - A QUESTÃO DAS INVESTIDURAS E SEUS DESDOBRAMENTOS
No que dizia respeito ao regnum, seu filho deveria ser
reconhecido imperador pelo sumo pontífice, que, em troca,
recuperava as possessões ocupadas militarmente por Henrique na região de Roma e a disputada herança de Matilde,132
até então pendente. Meses depois morria também Celestino
III. Para o seu lugar foi eleito o cardeal Lotário de Segni, futuro Inocêncio III (1198-216). Ganhava força agora a nova
corrente hierocrática, que depois de quarenta anos de prática dualista e moderada, voltava a inflamar os ânimos dos
religiosos: era o retorno das idéias de Gregório VII – com todos os poderes que ele havia reivindicado para a supremacia
da espada espiritual. “A unidade dos cristãos parecia mais
longe do que nunca. O novo pontífice, contudo, tentaria uma
vez mais agrupar sob a direção do papado – como havia desejado cem anos antes o papa Urbano II – a cristandade dividida.”133
132
Matilde, condessa da Toscana, foi uma ferrenha defensora da causa
papal gregoriana durante a querela da investidura. Foi no seu castelo
em Canossa que aconteceu a penitência e a conseqüente absolvição do
imperador Henrique IV em 1077. Por volta de 1110, Matilde submeteuse ao governo do sucessor, Henrique V, tornando-o herdeiro de suas
terras antes prometidas à Santa Sé. Ao morrer, doou todos os seus
bens à Ecclesia, fato que foi motivo de longa controvérsia entre império
e papado e que só agora teria solução. Cf. LOYN, op. cit., p. 254.
133
LE GOFF, op. cit., p. 116.
127
CAPÍTULO 2
O LONGO SÉCULO XII
I UMA INTRODUÇÃO AO SÉCULO DO RENASCIMENTO
O incessante conflito entre regnum e sacerdotium pela
pretensão de supremacia dentro da comunidade cristã foi
acrescido, sobretudo ao longo do século XII, de elementos
novos que forneceram munição às duas partes. Conhecido
como o Renascimento do Século XII, o período foi marcado
por eventos e transformações importantes que influenciariam não apenas o desenvolvimento do pensamento político, mas também toda a concepção de mundo do Ocidente
cristão.
Esses acontecimentos, indispensáveis para uma adequada compreensão da época, forjariam um respeitável arsenal teórico e prático que seria apropriado por velhos e novos
atores sociais de maneiras diversas e, por vezes, opostas.1
Entre as principais mudanças podem-se apontar o surgimento
das universidades, a recuperação do direito romano, as traduções de obras gregas e árabes para o latim e o incremento
das Comunas, elementos especialmente relevantes para o
desenvolvimento das idéias e das instituições políticas no
Ocidente. Compreender esse movimento, portanto, é acompanhar o processo por meio do qual as modernas concepções políticas chegaram a ser o que são – esse o objetivo
primeiro deste trabalho. Passemos então a elas.
1
A emergência da figura do rei e a reinterpretação da velha fórmula do
rex in regno suo imperator est, por exemplo, ganham maior inteligibilidade quando analisadas nesse novo contexto.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Depois do intenso período de reformas dentro da Igreja,2 iniciadas pelo papa Gregório VII um século antes, novas
formas de vida leigas e religiosas passaram a ser objeto das
preocupações dos habitantes da cristandade ocidental no
século XII. A significativa diversificação de modos de vida,
instituições e ordens – umas de caráter mais religioso, outras mais leigas – redefiniu laços e obrigações para homens e
mulheres. As batalhas recentes em prol da reforma da Ecclesia
tiveram como conseqüência o fortalecimento da distinção,
que depois se desenvolveria em separação clara, entre os
âmbitos temporal e espiritual.3 “A formação de novas ordens
religiosas e de novas Comunas urbanas, a multiplicação de
diferentes tipos de produtores e comerciantes, assim como
de funcionários administrativos especializados, levou a um
alargamento e a um novo emprego das “imagens” recebidas
2
Recentemente, os estudiosos da Idade Média têm dividido o período em
quatro subperíodos, que representariam fases distintas do pensamento
e da ação: o primeiro, que iria de 1040 a 1070, diria respeito mais à
reforma moral do clero, especialmente em relação à simonia e ao celibato; o segundo, que cobriria o período entre 1070 e 1100, é particularmente associado aos papas Gregório VII e Urbano II e se concentraria
na liberdade da Igreja em relação ao controle leigo e à supremacia do
papa dentro da Igreja; o terceiro momento, de 1100 a 1130, teria sido
um período de transição que assistiu tanto ao fim da querela das investiduras quanto à crescente ênfase no monasticismo; e, por fim, o período que vai de 1130 a 1160, no qual teria sido marcante a intensa
dedicação à natureza da vida religiosa e à reforma pessoal de todos os
cristãos. Cf. CONSTABLE, Giles. The reformation of the twelfth century,
Cambridge: University Press, 1996. p. 4.
3
Num dos textos do Decreto, de 1140, p. ex., Graciano de Bolonha defendia a existência de dois tipos de cristãos: os clérigos, que seriam os
verdadeiros reis e não podiam ser forçados a qualquer tipo de ação por
nenhum poder secular; depois os leigos, que cultivavam a terra, casavam-se e a quem os clérigos deviam conduzir em direção à verdade (cf.
Decreto, causa 12, q. I, c. 7).
132
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
dos canais de poder e da relativa importância e distinção dos
papéis na sociedade.”4
Esse movimento era acompanhado de uma progressiva tensão entre tendências – competitivas – a favor da sacralização e da secularização na definição dos postos e funções.
Crescia o número de funcionários e burocratas a serviço tanto das coroas quanto do papado. Particularmente o ideal da
cavalaria encontrava-se agora influenciado em ambas as direções, como se podia constatar no desenvolvimento dos rituais cavalheirescos de consagração.
No início do século XII, entretanto, não havia ainda,
como lembra Giles Constable, uma distinção clara entre um
renascimento secular e uma reforma religiosa, ou mesmo nas
atitudes de clérigos e leigos diante da reforma.5 Entre estes
últimos, aliás, era possível encontrar alguns dos mais firmes
apoiadores da reforma eclesiástica, como o fora um século
antes o imperador Henrique IV. O período foi marcado ainda
por um enorme fomento da história social da Igreja. Atitudes
e instituições tradicionais foram alargadas ao máximo a fim
de acomodar novas formas de vida e novos sentimentos. Era
uma época de experimentos, iniciativas, flexibilidade e tolerância tanto para com os novos empreendimentos quanto
para com as novas idéias.
Uma preocupação comum à época era a da natureza
da vida religiosa e do ideal de perfeição pessoal. Um conjunto
de valores e de modos de vida, expresso em várias institui4
5
Cf. LUSCOMBE, D. E.; EVANS, G. R. The twefth-century renaissance. In:
BURNS, J. H. (Ed.). Medieval political thought (c.350-c.1450). Cambridge:
University Press, 1991. p. 308.
Na introdução, Constable esclarece que utilizará a palavra renascimento
para se referir ao período em questão no livro, com o intuito de transmitir o sentido contemporâneo do termo reforma, que era, segundo ele, o
que a palavra renascimento significava na concepção de mundo do homem que vivia no século XII. Cf. CONSTABLE, op. cit., p. 3.
133
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ções, estava no coração do movimento de reforma, que podia
ser vista como um esforço de “monastizar” primeiro o clero,
impondo-lhe um padrão de vida antes reservado aos monges, e depois o mundo todo. Religião era, na época, explica
Constable, um modo de vida, uma conversatio ou ordo, e não
um sistema de crenças. E um religiosus era o homem que
conduzia uma vida religiosa, que podia ser um regularis ou
um claustralis, caso habitasse um mosteiro.
Embora soe hoje algo estranho, a vida ascética adotada na época por monges e religiosos voltados cada vez mais
para a vida monacal, fosse ela eremítica, penitente, de
peregrinagem ou ainda de dedicação exclusiva aos desejos
do Senhor, não era aceita com facilidade dentro da Igreja.
Homens cujo comportamento se assemelhava ao da vida dos
santos não cabiam facilmente nas instituições eclesiásticas
estabelecidas.6 Por essa razão também, proliferavam novas
casas e ordens religiosas pela cristandade afora, dentro das
quais era possível viver de acordo com ideais e práticas próprios. Também a vida eremítica ganhava numerosos adeptos. Mas a instituição eclesial ganhava importância crescente
não apenas entre religiosos, como também entre a população européia, fato que pode ser percebido quando se analisa
a adoção de nomes cristãos e de santos para os recém-nascidos.7
6
7
A mais séria crítica feita durante o século XII aos cluniacenses e seus
seguidores – sobretudo por monges cistercienses – dizia respeito ao fato
de os primeiros desejarem ser “não monges, mas senhores [lords]”. A
prática de referir-se a monges e cânones regulares como dominus, conta Constable, teve início no século XII e persistiu sobretudo nas ordens
beneditinas, mesmo contra a reação de outros círculos monásticos. Ibid.,
p. 28-9.
Constable mostra que, entre os séculos XI e XIV, cresceu vertiginosamente o número de crianças que recebiam nomes cristãos ou inspirados nos santos da Igreja. Entre os séculos XI e XII, p. ex., o número de
nomes cristãos cresceu 16,5% na região do Lorraine, 12% no condado
134
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
Quando se examina o pensamento político do século
XII, portanto, é preciso levar em consideração a diversificação de ordens e instituições na sociedade. Mas não apenas a
multiplicação das fundações monásticas fornecera estrutura
e material humano mais apto a pensar as novas realidades
sociais. Também o crescimento das escolas urbanas passou
a contribuir para a formação de mão-de-obra qualificada,
capaz de discutir os trabalhos disponíveis de autoridades
intelectuais. Na Bíblia, nos textos dos “Pais da Igreja” e nos
escritos clássicos dos pagãos, havia uma abundância de reflexões sobre a meta da vida humana e sobre o governo da
sociedade. E esse legado do pensamento era vigorosamente
disseminado por uma audiência cada vez mais ampla e mais
letrada.8
Essa renovação de quadros repercutiu diretamente no
movimento de revisão dos clássicos: com esses novos profissionais da escrita, tornava-se possível empreender a recuperação do legado greco-romano, transmitido à cristandade pelos
muçulmanos, principalmente por meio da Espanha. Entre
1120 e 1160, por exemplo, foram realizadas as primeiras traduções do árabe para o latim, sob o predomínio intelectual
de João de Sevilha. Elas abarcavam sobretudo temas como
astronomia, astrologia, meteorologia e matemática. Em 1141,
uma visita feita pelo monge cluniacense Pedro, o Venerável,
à Espanha estreitou os laços intelectuais entre tradutores
árabes e latinos: surgia assim a versão latina do Corão.9
8
9
de Vendôme, 34,8% na Normandia, e 43,2% na Picardia do século XIII.
Os dados, contudo, avisa Constable, nos induzem a pensar que nomes
cristãos foram adotados nos quatro cantos da Europa. Mesmo tendo
representado “um triunfo da religião sobre a barbárie ou sobre a conformidade social, ou ainda sobre o tribalismo medieval” dos primeiros séculos, alerta, é difícil dizer quanto esse raciocínio pode ser verdadeiro
no atual estágio da pesquisa. Ibid., p. 40 et seq.
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 310.
Cf. LE GOFF, op. cit., p. 147-8.
135
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Em 1180, sobretudo com o “toledense” Gerardo de
Cremona, cresceu o interesse dos latinos pelas obras científicas e filosóficas de Aristóteles. O legado árabe ao Ocidente,
argumenta Jacques Le Goff, manifestou-se, mais do que num
conteúdo científico, principalmente numa “espiritualidade”,
num método, que se traduzia na observação e na experiência: significava o esforço por uma verdade controlada e demonstrada pela primazia da razão.10 No fim do século XII,
um certo espírito “enciclopedista” e a especialização daquelas que viriam a ser chamadas “artes liberais” e da ciência
uniam-se no humanismo nascente: a cultura urbana intelectualizada firmava suas bases sobretudo nas universidades que emergiam.11
O primeiro campo a ser afetado por esse Renascimento
foi provavelmente o jurídico: a lei romana passou aos poucos
a substituir as normas costumeiras tribais na maior parte
da Europa. Esses costumes raras vezes tinham sido reunidos e alterados conscientemente. Duas influências contribuíram para mudar a situação: em boa parte da Itália – onde
os reis alemães estiveram sempre muito presentes – sobreviveu a lei romana; a outra influência, também italiana, remonta ao pontificado de Gregório VII, no qual foram
produzidas numerosas leis canônicas, destiladas e compiladas depois por Graciano no Decretum (1140).
Whitton chama atenção para um ponto de extrema relevância no que respeita à importância adquirida pelas escolas de direito e suas produções, que logo engrossariam os
arsenais dos vários poderes em disputa. “Sua tentativa [de
10
11
Pedro Abelardo, filósofo e teólogo que viveu entre 1079 e 1142, é comumente apontado como o primeiro expoente dessa luta. Sua contribuição
mais conhecida foram talvez os argumentos que desenvolveu, pela aplicação da dialética, sobre a intenção dos atos como explicação para aparentes contradições contidas nas afirmações da Bíblia.
Cf. LE GOFF, op. cit., p. 149-52.
136
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
Graciano] de reconciliar precedentes contraditórios, identificando os princípios subjacentes e estendendo-os aos casos
análogos”, escreve ele, “indicava do modo mais claro possível
que o precedente não fazia a lei, embora pudesse ajudar a
justificá-la. A feitura das leis eclesiásticas era reservada ao
papado, e a legislação editada por ele começava a encorajar
os poderes seculares a fazer o mesmo”.12 Os contornos do
que viria a ser a figura do soberano legibus solutus – que
mais tarde se associaria à noção da lei como produto da
voluntas princepis – começavam a se configurar.
Isto é, enquanto a produção de normas e códigos legais
fora atribuição exclusiva do imperador romano, não houve
grandes conflitos de jurisdição e a tradição se manteve. Mas
quando também o papado em ascensão passou a editar decretos vinculantes para toda cristandade, com base no modelo adotado – e pela Igreja preservado – dos antigos imperadores romanos, os nascentes reinos europeus não tardaram
a perceber a utilidade de uma tal função nas disputas de
poder e também passaram a reclamar para si o direito de
legislar e decidir em matérias relativas ao bem comum. Dessa forma, num primeiro momento, os diferentes poderes procuraram formular suas pretensões de supremacia em termos jurídicos. Por essa razão, à época os conflitos de poder
freqüentemente apareciam, de maneira imediata, como conflitos de jurisdição.
A recuperação e transformação do exemplo romano,
contudo, não se limitou à esfera do direito: alcançou em maior
ou menor escala todos os âmbitos do pensamento e da arte.
Eventos presentes ou passados eram encaixados no contexto dos eventos gerais, remontando à Criação. A moldura divi12
WHITTON, David. The society of Northern Europe in the High Middle Ages
900-1200. In: HOLMES, G. (Ed.). The Oxford history of medieval Europe.
Oxford: University Press, 1991. p. 143 – grifos meus.
137
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
na incluía Roma. Também os historiadores romanos passaram a influenciar seus sucessores: a história passava a ser
escrita agora em termos de feitos dos grandes homens. Suas
ações deveriam ser avaliadas do ponto de vista do benefício
que haviam trazido para a res publica. A exigência de racionalidade tendia a minimizar o efeito das explicações sobrenaturais.
Esse novo “método” de interpretação da realidade, aliado à recuperação e valorização de textos de filosofia natural
traduzidos do grego – em especial os escritos aristotélicos –
do árabe e do hebraico, oferecia ao pensamento científico
uma alternativa de fato: começava a ser levada a sério a possibilidade da existência de uma ordem natural das coisas na
qual Deus não intervinha diretamente. Como isso podia ser
afirmado sem limitar a onipotência divina era uma questão a
ser resolvida e estava ainda sendo debatida. Mas não havia
dúvida de que São Tomás e seus antecessores procurariam
respostas para o recente problema.
II O SURGIMENTO DA UNIVERSIDADE
As condições contextuais do século XII foram enormemente alteradas principalmente a partir de uma transformação institucional que teve conseqüências nítidas para todas
as áreas do conhecimento, e também para teoria política: a
fundação das universidades. O incremento da rede de escolas, já perceptível desde o fim do século XI, constituía o embrião de uma nova forma de vivência do exercício da ciência,
que vingaria sobretudo a partir do século XIII: a universidade
européia, com autonomia corporativa.
A universidade surgiu apenas no decorrer de um processo complexo e demorado. Mas onde ela aparecia, lá se
transformavam de maneira fundamental as condições do tra138
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
balho teórico.13 Esse novo dado institucional e social que lentamente se impunha constituía os primórdios das “corporações de artes e ofícios” que iriam marcar fortemente os séculos finais da Baixa Idade Média. Também cresceram, com os
novos centros de saber, as possibilidades metodológicas nas
várias ciências, fato que diversificou e transformou o horizonte reflexivo.
Às vezes trabalhavam na sistematização de seus respectivos livros de direito – no mesmo local e ao mesmo tempo
– tanto juristas decretistas, ocupados do direito canônico,
quanto legistas. Introduzia-se na Europa uma nova época: a
era da cultura científica do direito. Os textos eram escritos
majoritariamente em latim, tal como na Alta Idade Média.
Mas era agora o latim das universidades. Mesmo com todas
as diferenças e oposições, os escritos exprimiam, não resta
dúvida, as expectativas e ambições, os interesses e horizontes daquele grupo de pessoas que os produziam, os liam e os
utilizavam – daquela “aristocracia letrada”, como se convencionou chamar desde Dempf. Cada vez mais, esses letrados
podiam ser percebidos como uma camada própria em quase
toda a Europa ocidental.
Um ponto relevante merece ser lembrado: a educação
antiga e medieval dizia respeito não apenas ao treino da mente,
mas ocupava-se também do comportamento. Por isso, era
tarefa das escolas, ao menos num nível elementar, adequar
os homens educados ao céu e ajudá-los a viver aquela boa
vida na terra, esta última a preocupação comum aos teólogos e pensadores políticos. Assim, a ação humana correta e a
errada eram tratadas em dois campos: nas adjacências
terrenas – ética – que conduziam ao divino – teologia. A “boa
vida” era em primeiro lugar aquela conduzida de maneira
13
Cf. MIETHKE, Jürgen. Der Weltanspruch des Papstes im späteren
Mittelalter. In: FETSCHER & MÜNKLER, op. cit., p. 351.
139
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
virtuosa. A vida do homem bom era vivida no amor a Deus e
no amor ao seu vizinho como a si mesmo. “Esta era a primavera e a direção do relacionamento social, e a chave do bom
comportamento como súdito ou cidadão.”14
Os textos latinos eram utilizados basicamente de dois
modos: num nível mais elementar, como “livros de exercícios”,
entre os quais estavam as fábulas de Esopo e Aviano, alguns
dísticos etc.; num nível mais avançado, Cícero fornecia material para idéias sobre amizade e dever,15 provocando debates e sua adaptação ao contexto cristão. Outra idéia tomada
de empréstimo era a afirmação ciceroniana, repetida de Platão, de que não nascemos para nós mesmos sozinhos,16 que
os cristãos iriam interpretar em termos do amor a Deus e a
nossos vizinhos. Cícero era lido juntamente com outros moralistas, como Sêneca etc.
O uso feito desses autores clássicos, contudo, não se
estendia ainda à sua reflexão filosófica como um todo, mas
restringia-se freqüentemente à utilização como fonte de excertos e frases. Essa “seleção” evitava o confronto entre valores cristãos e pagãos e terminava enfatizando mais seus
pontos de concordância e similaridade. O ideal de vida vir14
15
16
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 310.
Os deveres podiam ser classificados em dois tipos: aqueles absolutos e
ligados ao bem supremo; e aqueles menos elevados, que diziam respeito às regras concretas por meio das quais a vida prática era regulada –
uma divisão não muito distante daquela noção dos cristãos monásticos, que separava a vida ativa da contemplativa.
“Mas porque, como escreveu admiravelmente Platão, não nascemos apenas para nós, e a pátria reivindica parte de nosso nascimento e os amigos outra; e, como querem os estóicos, todas as coisas geradas na terra
o foram para uso dos homens, a fim de que entre si se ajudassem, nisso
devemos tomar a natureza por guia: dividimos ao meio as utilidades
comuns pela troca de favores, dando e recebendo; e, ora pelas artes, ora
pelo trabalho, ora pela competência, unamos a sociedade dos homens
entre os homens” (I.VII, 22). In: CÍCERO. Dos deveres. Trad. de Angélica
Chiapeta. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 14.
140
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
tuosa conduzido nos escritos clássicos era tanto privado
quanto público. O indivíduo não podia ser verdadeiramente virtuoso a menos que fosse também um bom cidadão.
Uma tal noção não era inteiramente contrária aos ideais
cristãos. Mas adequava-se a eles apenas e somente se o
cidadão em questão fosse também o cidadão do céu, isto é,
se o indivíduo fosse considerado partícipe do Corpo de Cristo.17
Os escritos de Cícero forneciam ainda material para
um desenvolvimento recente: o renascimento das cidades,
sobretudo na região do norte da Itália. Aí as aglomerações
urbanas tornaram-se civitates, isto é, comunidades autogovernadas com base nos princípios do direito civil estabelecido e aplicado dentro da própria cidade-república. No De
Officiis, Cícero tinha apresentado o homem como um ser
naturalmente social e cívico. E por serem os homens dotados
de razão e de capacidade de comunicação, eles eram naturalmente conduzidos para um tipo específico de associação
ou comunidade.18
A associação humana, assim, estava de acordo com a
natureza. Nem toda união de seres humanos, entretanto,
constituía um povo. Mas onde havia o consentimento à lei e
um acordo acerca das vantagens da associação, um populus
tinha sido constituído, ensinava Cícero no Da república.19
17
18
19
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 312.
“Parece, contudo, que devemos antes investigar quais princípios da
natureza são próprios da comunidade e da sociedade humana. E o primeiro é o que notamos no concerto universal do gênero humano. Seu
vínculo é a razão e a palavra que, ensinando, aprendendo, comunicando, discutindo e julgando conciliam entre si os homens e agrupam-nos
em uma comunidade natural” (I.XVI.50). In: CÍCERO, op. cit., p. 28.
“É pois, prosseguiu o Africano, a República coisa do povo, considerando, tal não todos os homens de qualquer modo congregados, mas a
reunião que tem seu fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem: a primeira causa dessa agregação de uns ho141
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Tais idéias eram conhecidas, se não por outras razões, ao
menos por já terem sido objeto de discussão de “Pais da Igreja”, como Santo Agostinho e Isidoro de Sevilha. Quando o
texto da Política de Aristóteles, a respeito da naturalidade da
polis, se tornou disponível no Ocidente, na segunda metade
do século XIII, ele serviu para reforçar uma posição já familiar, oriunda de Cícero e da lei romana. A idéia estóica de que
os homens e as coisas eram regulados pela lei natural encontrou respaldo, no século XII, entre os que definiam as
civitates como uniões de pessoas que partilhavam uma visão
comum de justiça.20
No século XII, houve muitos escritores que enfatizaram
pontos comuns à filosofia pagã e à doutrina cristã. Pedro
Abelardo (1079-1142), por exemplo, dizia que os ensinamentos dos antigos filósofos sobre o status rei publicae e sobre a
conduta dos seus cidadãos não se opunham às Escrituras.
Os preceitos morais evangélicos, sustentava, eram equivalentes à reforma da lei natural seguida pelos filósofos. Seus
ensinamentos sobre a vida ativa – o modo correto de governar e de viver nas cidades – eram tão vigorosos quanto seus
ensinamentos sobre a vida virtuosa. Seguindo a tradição platônica, Abelardo acreditava que os filósofos tinham conduzido os governantes das cidades a estabelecer a posse comunal
20
mens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de
sociabilidade em todos inato: a espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas com uma disposição que, mesmo na
abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum” (I.XXV).
In: CÍCERO. Da república. Trad. de A. Cisneiros. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 155.
Adelardo de Bath (1090-150), p. ex., afirmava que os homens, por meio
de seu próprio bom senso, punham de lado a vida conduzida sem o
apoio da lei e eram atraídos para a vida na civitas e para a aceitação de
uma justiça comunal. Cf. ADELARD OF BATH. De eodem et diverso. Ed. (H.
Willner. (Beiträge zur geschichte der Philosophie des Mittelalters 4/1).
Münster: Aschendorf, 1903. p. 19.
142
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
da maneira observada nos “Atos dos apóstolos”,21 mais tarde
sustentada por monges cristãos.
Assim como o compartilhamento das esposas na Antigüidade contribuíra para o bem da vida comunal, afirmava
Abelardo, igualmente o governo da res publica devia tender
em direção à communis utilitas, e os governantes de uma
verdadeira civitas deviam seguir a lei do amor. De Cícero,
Abelardo utilizava a definição da civitas como um concilium
ou coetus hominum iure sociatus. E de Platão tomava emprestado o encorajamento dos governantes para amar e servir seu povo. A vida civil, portanto, já havia se tornado objeto
de reflexão antes mesmo da entrada de Aristóteles.22
A doutrina da lei natural, entretanto, era familiar aos
medievais não apenas de Cícero, mas remontava a São Paulo
em sua “Epístola aos romanos”,23 ao primeiro capítulo do
Digesto, e ao 5° livro das Etimologias, de Isidoro de Sevilha.
Graciano de Bolonha, no Decreto, seguia Isidoro ao definir a
lei natural como aquela lei comum a todas as nações – encontrada em todas as terras mais por causa do instinto na21
22
23
“A multidão daqueles que tinham abraçado a fé tinha um só coração e
uma só alma e ninguém considerava como propriedade sua algum bem
seu; pelo contrário, punham tudo em comum”. In: Atos dos apóstolos,
4: 32. In: A Bíblia, op. cit., p. 1345.
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 314.
“Todos os que pecaram sem a lei perecerão também sem a lei; todos os
que pecaram sob o regime da lei serão julgados pela lei. Não são, com
efeito, os que escutam a lei que são justos diante de Deus; justificados
serão aqueles que a põem em prática. Quando pagãos, sem ter lei, fazem naturalmente o que a lei ordena, eles próprios fazem as vezes de lei
para si mesmos, eles que não têm lei. Mostram que a obra exigida pela
lei está inscrita em seu coração; a sua consciência dá igualmente testemunho disso, assim como os seus julgamentos interiores que sucessivamente os acusam e os defendem. É o que aparecerá no dia em que,
segundo o meu Evangelho, Deus julgará por Jesus Cristo o comportamento oculto dos homens.” In: Epístola aos romanos, 2: 12-6. In: A
Bíblia, op. cit., p. 1385.
143
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tural imutável dos homens do que em razão de qualquer promulgação positiva.24 E ia além, adaptando a lei natural ao
preceito divino básico do amor ao semelhante:
A humanidade é regida por duas coisas: pelas leis naturais e pelos costumes. Lei natural é aquela que está contida nas Escrituras, segundo a qual cada um é obrigado
a fazer para outro como quer que seja feito para si mesmo, e proibido de fazer a outro o que não deseja que seja
feito a si mesmo.25
A definição de Graciano integrava assim a doutrina clássica à cristã.
Moralistas e filósofos clássicos inculcaram desse modo
ideais de comportamento pessoal e social. Os fatos e as lendas
sobre história antiga ofereciam inspiração para a reforma política e para a restauração. Entre 1144 e 1155, a Comuna
romana invocou diretamente o passado clássico com o objetivo de restaurar o modelo governamental da Roma antiga, quando das disputas tanto contra o império quanto contra o papado.
Também durante a reconstrução da monarquia germânica,
depois da querela pelas investiduras, procurou-se reforçar a
“romanidade” do império. Frederico I, o Barba-Ruiva, tinha
como objetivo uma reformatio do Império Romano, segundo
ele, sagrado, independente do papado e governado de acordo
com as leis do Código de Justiniano e com os costumes
germânicos. Sua autoridade legislativa sustentava-se na lex
regia, e não na aprovação do papado.26
24
25
26
Nos termos de Isidoro: “Ius naturale [est] commune omnium nationum, et
quod ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur” (5.4).
In: ISIDORO DE SEVILHA. Etymologiarum sive originum. Ed. W. M. Lindsay.
Oxford: University Press, 1989 (repr. 1929). t. I.
GRACIANO, Concordia discordantium canonum, D.I. In: LUSCOMBE & EVANS,
op. cit., p. 314.
Ibid., p. 315.
144
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
Num tal contexto de fermentação intelectual, portanto,
não é de admirar que as universidades tenham logo conquistado tamanha relevância institucional. Edward Grant, especialista em filosofia da ciência, procura mostrar em obra
recente que, ao contrário do que afirmam correntes influentes de interpretação científica, as “descobertas” e avanços
dos cientistas modernos, sobretudo a partir do século XVII,
têm raízes profundas no pensamento medieval. Mais que isso,
argumenta ele, muitos dos desenvolvimentos científicos não
poderiam ter ocorrido na Europa ocidental no século XVII se
o nível da ciência e da filosofia natural tivesse permanecido o
que era na primeira metade do século XII, sem as traduções
da ciência greco-arábica e sua adoção nas universidades
nascentes.
Segundo Grant, três precondições foram cruciais para
o desenvolvimento da ciência moderna: 1) a tradução de obras
greco-arábicas sobre ciência e filosofia natural para o latim;
2) a formação da universidade medieval; 3) a emergência dos
filósofos teológico-naturalistas.27 As traduções greco-arábicas para o latim, como é de conhecimento comum, ocorreram sobretudo durante os séculos XII e XIII. Boa parte desse
sucesso, aliás, deveu-se aos árabes, que já haviam traduzido
do grego as obras mais relevantes para o avanço científico
que se verificaria mais tarde no Ocidente.
A segunda precondição foi a formação da universidade
medieval, com sua estrutura corporativa e atividades variadas. Nada no mundo chinês, islâmico ou na Índia, nem mesmo no mundo antigo, diz Grant, foi comparável à instituição
da universidade medieval.28 Esta tornou-se possível porque
a evolução da sociedade medieval tardia, tão dividida entre
27
28
Cf. GRANT, Edward. The foundations of modern science in the Middle Ages.
Cambridge: University Press, 1996. p. 171.
Ibid., p. 172.
145
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
as duas espadas, temporal e espiritual, permitia a existência
separada da Igreja e do Estado. As traduções viabilizavam às
universidades emergentes a adoção de um extenso currículo, composto inicialmente das ciências matemáticas, lógica e
filosofia natural. A incorporação de inúmeros tratados traduzidos, tanto de origem grega quanto de cientistas árabes e
judeus, permitiria a institucionalização da ciência e da filosofia natural nas escolas.
O currículo estabelecido para as disciplinas nas universidades medievais a partir dessas traduções manteve-se
por cerca de 450 a 500 anos. Cursos de lógica, filosofia natural, geometria, aritmética, música e astronomia constituíam
os objetos de estudo para o bacharelado e mestrado na faculdade de artes, a maior e mais tradicional das quatro grandes
faculdades – as outras eram a medicina, a teologia e o direito
– em qualquer grande universidade. Pela primeira vez na história, uma instituição havia sido criada para o ensino de ciência, filosofia natural e lógica. Também era a primeira vez que
se instituía um curso extenso de quatro a seis anos de educação superior, fundamentado num currículo científico básico no qual a filosofia natural era o seu mais importante
componente.29
Com a multiplicação das universidades a partir do século XIII, o mesmo currículo de filosofia lógico-científico-natural disseminou-se por toda a Europa, chegando a pontos
tão remotos quanto o leste da Polônia. A base desse currículo
eram os textos aristotélicos sobre ciência e filosofia natural e
os comentários produzidos por árabes e judeus a partir deles.30 Tanto as faculdades de artes, voltadas para o estudo
29
30
Cf. MIETHKE, op. cit., p. 351-7; cf. tb. GRANT, ibid., p.172-3.
Um tal currículo, contudo, lembra Grant, certamente não teria sido
implementado sem o consentimento tácito tanto da esfera espiritual
quanto da temporal: as duas instâncias concederam às universidades
poderes extensos o bastante para que determinassem seu próprio cur
146
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
da filosofia natural e da razão, quanto as de teologia, especializadas em religião e revelação, adotaram prontamente em
seus currículos as traduções de obras pagãs e, em especial,
as de Aristóteles. Afinal, a cristandade já desfrutava de alguma familiaridade com o pensamento pagão havia tempos.
Nesse momento, era relativamente consensual que nada tinham a temer estudando-o.31
A terceira precondição, o aparecimento de uma classe
de filósofos teológico-naturalistas, isto é, de indivíduos não
apenas treinados em teologia, mas também previamente formados em artes ou nalgum equivalente, colocava à disposição profissionais bastante qualificados para o exercício do
pensar. Esses intelectuais não apenas eram formados em
artes seculares – e este é um ponto importante –, mas ainda
consideravam essencial o estudo da filosofia natural para a
elucidação da teologia.32 Os teólogos desfrutavam de um grau
razoável de liberdade intelectual para lidar com problemas
complexos como o poder absoluto de Deus ou a aplicação da
ciência e filosofia natural à exegese sagrada. Essas reflexões
eram iluminadas, já desde o século XI, por um dos acontecimentos importantes do período, que de certo modo acompanhou o desenvolvimento da filosofia natural nas universidades: a retomada e o estudo sistemático do antigo direito
romano.
31
32
rículo, para regularem-se e para estebelecerem critérios relativos aos
níveis de seus estudantes e de seus docentes. Cf. GRANT, op. cit., p. 173.
Se os teólogos das universidades logo cedo tivessem declarado o pensamento aristotélico incompatível com a fé cristã, como de fato ocorrera
no mundo islâmico, os textos pagãos certamente não teriam se disseminado nas universidades européias, nem poderiam ter permanecido em
seus currículos oficiais. E, de todo modo, os ganhos provenientes desse
tipo de conhecimento revelavam-se bastante superiores às eventuais
perdas que dele decorressem: parecia útil a todos os atores e poderes.
Era comum exigir que o estudante que desejasse se matricular no curso de teologia tivesse diploma da faculdade de artes.
147
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
III O DIREITO ROMANO E O DIREITO CANÔNICO
O restabelecimento da jurisprudência, no final do século XI e início do XII, deu-se concomitantemente com a retomada das leis romanas que, mais tarde, influenciariam
também outros corpos legais: primeiro a lei canônica eclesiástica, e depois as leis costumeiras feudais e locais, além da
nova lei da corte real inglesa. As noções romanas de res publica e de lex ganharam destaque cada vez maior ao longo do
século XII, sobretudo com a tentativa de Frederico I, o BarbaRuiva, de restaurar o ideal do império. Um de seus atos mais
importantes para a jurisprudência da época foi a incorporação dos decretos de Roncaglia, que remontavam à Questão
das Investiduras, ao Corpus Iuris Civilis.33
Também a redescoberta do Digesto, de Justiniano (c.
1070), contribuiu para fomentar ainda mais um reavivamento
do estudo e da prática do direito civil romano. Os glosadores
civilistas do Digesto, seguidores de Irnério de Bolonha – responsável pela separação, ocorrida por volta de 1080, do estudo do direito das demais artes –, haviam recriado a ciência
racional do direito. No século XII, tanto a chancelaria imperial, que havia adotado a terminologia legal romana, quanto
a chancelaria real ou ainda os notários do continente propagavam a nova jurisprudência como instrumento para solucionar as necessidades práticas de juízes e juristas. Os novos
ensinamentos penetraram com rapidez a Europa, e também
a Ecclesia, passando a ser divulgados tanto por leigos e burocratas imperiais quanto por canonistas, como o chanceler
papal Aimeric e Graciano de Bolonha.
Era em primeiro lugar a jurisprudência que forjava, ao
lado da teologia, os novos impulsos. O direito canônico tor33
O Corpus Iuris Civilis reunia duas grandes obras principais: o Digesto
(ou Pandectas) e o Codex que, por sua vez, também abrigavam outros
livros de direito (cf. n. 14, cap.1).
148
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
nou-se, ao longo do século XII, uma disciplina própria, reforçada sobretudo pela compilação de cânones empreendida por
Graciano, o Decretum. Os juristas da Igreja viam-se confrontados, no seu trabalho cotidiano, com as conseqüências práticas de reivindicações eclesiásticas como a da Doação de
Constantino. Já os especialistas que seguiam o direito românico – os legistas – tinham um espectro de textos da Antigüidade que havia ficado por muito tempo no esquecimento e os
confrontava com teoremas e concepções em parte desprezados – e de qualquer modo anacrônicos para a Idade Média.
Assim, os jurisconsultos de ambos os direitos estavam especialmente preparados para se empenhar no trabalho teórico
e nas questões políticas.34
Era nos enfrentamentos concretos entre prelados eclesiásticos e governantes temporais pela pretensão de supremacia, porém, que os juristas encontravam cada vez mais
seu espaço. A ciência do direito, e nela sobretudo a canonística, penetrava na Igreja não apenas em termos teóricos.
Juntamente com o Decretum (1140), do mestre Graciano de
Bolonha, os canonistas eram os responsáveis pela reunião
do novo direito que provinha da cúria pontifícia na forma de
decisões e decretos papais. Esse material tinha de ser juntado, ordenado, comentado e trabalhado de forma científica.
Sua ordenação requeria portanto formação específica.
Aos chamados decretistas – juristas que se preocuparam sobretudo com o Decretum – somavam-se cada vez mais
os decretalistas – juristas que se preocupavam com as decretais do papa e sua compilação e seguiam o mesmo método dos
decretistas. Os jurisconsultos ocupados dessas tarefas acabaram formulando para a Igreja um direito constitucional ecle34
Essas novas ciências ocidentais da universidade, relata Miethke, tinham
grande apoio social e político: a jurisprudência, p. ex., era subsumida,
desde o século XII, junto com a medicina, sob as ciências consideradas
lucrativas (scientiae lucrativae). Cf. MIETHKE, op. cit., p. 356-7.
149
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
siástico que não estava, necessariamente, interessado na posição central do papa, mas que se orientava cada vez mais em
direção a ela. O conjunto de documentos compilados pelos
canonistas integrariam, com o Decretum, o código normativo
canônico, o Corpus Iuris Canonici.
A regulamentação das ordens religiosas, dos clérigos e
do exercício de seu cargo, do direito de matrimônio e das
penitências eclesiásticas, entre outras, constituíam todas
questões que tinham de ser esclarecidas de acordo, simultaneamente, com a tradição legada e com as decisões tomadas
em tempos recentes na cúria romana. A resposta dada deveria ser capaz de resistir diante do tribunal.35 Mas o direito
canônico, como meio de regulamentação, era tão eficaz que a
juridificação parecia irresistível, sugere Miethke. O número
das decretais papais, que correspondiam na maioria das vezes a uma requisição junto à cúria, aumentou ainda no século XII de forma antigamente inimaginável.36
A política promovida por alguns papas, pela cúria, pelos bispos e por governantes leigos não era de forma alguma
apenas mera aplicação de “concepções teóricas”, mesmo que
se confiasse cada vez mais no debate letrado para a percepção dos problemas e para a formulação de suas soluções. A
disputa entre o papado e o poder temporal levou a Igreja e
seus peritos eclesiásticos a uma elaboração cada vez mais
precisa de como a instituição eclesial deveria ser organizada
enquanto corporação religiosa, de como eram nela distribuídas as competências e a que tipo de exigências a liderança
da Igreja podia obrigar os seus fiéis.
35
36
O princípio da não-contradição era um dos problemas do desenvolvimento do direito que qualquer sistema com normas legais fixadas pela
escrita tinha de resolver. Mas aqui se apresentavam com uma urgência
especial, uma vez que os cânones de direito já eram em parte muito
velhos e ultrapassados e, mesmo assim, reivindicavam validade.
Cf. MIETHKE, op. cit., p. 358.
150
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
A partir do século XII, também foram realizadas leituras e comentários mais sistemáticos da Bíblia, que passava
agora a ser estudada fora dos mosteiros, numa busca metódica de textos que pudessem esclarecer questões de teologia
especulativa e de reforma moral. O livro sagrado parecia até
então ter pouco a esclarecer sobre questões políticas complexas como a relação entre regnum et sacerdotium.37 Em meados do século, contudo, os ensinamentos bíblicos passaram
a ser lidos sob nova luz e aplicados a matérias relativas ao
pensamento político: São Paulo forneceu talvez o mais importante argumento bíblico relativo ao dever dos cristãos de
se submeterem a um poder secular, pois, diz o texto sagrado,
o governante é instituído por Deus.38
Algumas alegorias políticas já tinham sido desenvolvidas durante a reforma gregoriana do século XI. A metáfora
mais influente foi provavelmente a interpretação patrística
das duas espadas, um dos símbolos habituais da autoridade
política. Mas o poder eclesiástico era descrito ainda por uma
série de motivos como a palavra (verbum), a cruz, as chaves
37
38
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 316.
“Seja todo homem submisso às autoridades que exercem o poder, pois
não há autoridade a não ser por Deus e as que existem são estabelecidas por ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade se revolta contra a
ordem querida por Deus, e os rebeldes atrairão a condenação sobre si
mesmos. Com efeito, os magistrados não são temíveis quando se faz o
bem, mas quando se faz o mal. Queres não ter de temer a autoridade?
Faze o bem e receberás os seus elogios, pois ela está a serviço de Deus
para te incitar ao bem. Mas se fazes o mal, então teme. Pois não é em
vão que ela traz a espada: castigando, está a serviço de Deus para manifestar a sua cólera para com o malfeitor. Por isso é necessário submeter-se, não somente por temor da cólera, mas também por motivo de
consciência. Este é também o motivo pelo qual pagais impostos: os que
os recebem são encarregados por Deus de se dedicarem a este ofício.
Dai a cada um o que lhe é devido: o imposto, as taxas, o temor, o respeito, a cada um o que lhe deveis”. In: Epístola aos romanos, 13: 1-7. In: A
Bíblia, op. cit., p. 1397.
151
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
de São Pedro, a mitra e o bastão. Ao final do século XII, os
reformadores da Ecclesia já tratavam os aspectos legais
da reforma, baseados em estudos bíblicos, de uma perspectiva cada vez menos sobrenatural.
O teólogo parisiense Pedro, o Cantador, por exemplo,
condenou a prática do julgamento por meio da tortura, pois,
segundo ele, constituía uma demanda flagrante por uma intervenção miraculosa para um juízo de Deus.39 A reafirmação
do veto ao uso de provações pelos religiosos, ratificada no
cânone 18 do Concílio de Latrão em 1215, refletia sem dúvida a poderosa influência dos ensinamentos de Pedro. Mas
espelhava também um amplo movimento na direção da adoção de procedimentos legais mais racionalizados. A própria
Ecclesia contribuía, desse modo, para a secularização e a
burocratização de métodos e critérios legais que, direta ou
indiretamente, se refletiam no âmbito do poder político.
Ao lado da Bíblia, em termos de autoridade, estavam
os escritos dos “Pais da Igreja”, dentre os quais se destacavam Santo Agostinho, Isidoro de Sevilha, Bernardo de
Claraval, entre outros. Além de ter sido um agente importante na promoção das leis da antiga Roma, a Ecclesia havia
passado agora a sistematizar seus próprios cânones interpretativos em corpos jurídicos mais ou menos coerentes.
Papas juristas importantes, como Inocêncio III e IV, contribuiriam para o surgimento de um complexo de concepções
sobre direito canônico que ganhava autoridade. A Igreja era
entendida cada vez mais como uma corporação juridicamente constituída, cujas relações de direito centravam-se completamente no seu bispo supremo, o papa. A instituição
eclesiástica, como organização legal, ganhava, além disso,
um caráter cada vez mais paradigmático e modelar para outras áreas.
39
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 322.
152
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
A visão de que o papa tinha de ser reconhecido como o
topo e o centro do sistema foi ganhando importância central.
Colaboravam para esse movimento de concentração do poder a adoção de conceitos legais como plenitudo potestatis, o
pleno poder do cargo máximo – cargo no qual se preenchia
toda a competência eclesiástica. O título de successor Petri
perderia, no século XIII, em grande parte, seu significado inicial: o de justificar a posição do cargo. A supremacia do bispo
de Roma aparecia na liberdade de que gozavam os pontífices
para alterar as leis ditadas por qualquer de seus predecessores: nenhum papa podia, na qualidade de detentor do cargo,
obrigar seu sucessor.
A partir do fim do século XII, com o pontificado de Inocêncio III (1198-215), o sumo sacerdote passou a monopolizar para si a denominação vicarius Christi, que antes podia
ser reivindicada por qualquer padre em virtude de sua administração sacramental. Em toda a Igreja impôs-se a concepção de que apenas no uso do título restrito ao papa – e apenas
nesse uso – a alta reivindicação que lhe cabia tinha uma
base adequada: somente nele estava a soma e a expressão de
todas as competências.40 O título transferia, assim, a abrangência desse poder pleno do Cristo como “pessoa de Deus”
ao papa.
40
Em virtude de sua função súpera dentro da comunidade, recorda Ullmann, o pontífice reclamaria mais adiante o direito de declarar nulos
ou inválidos os tratados entre os reis; de revogar leis seculares, como a
Carta Magna; de decretar censuras eclesiásticas contra aqueles que
cobrassem tributos ou cotas injustas em pontes e rios; de ordenar aos
reis o envio de forças armadas em auxílio de outro monarca ou contra
os pagãos e hereges; de confirmar os territórios obtidos por conquista
militar como possessões legítimas; de obrigar às partes beligerantes o
cessar-fogo e estabelecer conversações de paz; de obrigar a população
de um reino – mediante a mera proibição ou com ameaças de excomunhão – a negar obediência a seu rei etc. Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p.
109.
153
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O vicariato de Cristo na pessoa do papa, observa Ullmann, fazia dele o ponto de intersecção entre o céu e a terra:
“as chaves do reino dos céus” haviam-se convertido nas “chaves da lei”. Por ser Deus o autor de todas e cada uma das
coisas que existem sobre a face da terra, Inocêncio IV (124354) declarou que todas e cada uma das criaturas humanas –
e não apenas os cristãos – estavam sujeitos ao governo do
papa, que, afirmavam os canonistas, era o monarca universal de iure, embora não de facto. Como era monarca sobre a
comunidade dos crentes, o papa pretendia que suas leis alcançassem a tudo e a todos.41
A reivindicação de universalidade pelo pontífice logo iria
impor-se aos opositores curiais e, em especial, ao imperador.
Por um longo período o papado permaneceria, na prática,
sozinho no cenário jurídico com a sua reivindicação de universalidade. Entretanto, a lacuna que seria aberta – por volta
de meados do século XIII – pelo enfraquecimento da posição
do imperador não havia sido de forma alguma preenchida
por um papado “vencedor”. Ao contrário: logo entrariam em
cena novas forças, os reinos nacionais europeus em processo de consolidação, que à época estavam paulatinamente ganhando forma.42 “Do ponto de vista histórico”, escreve Ullmann, “não se pode esquecer que esses conceitos – como o
de soberania, de lei, de súdito, de obediência etc. – foram
gestados em um contexto exclusivamente eclesiástico”.43
A teoria jurídica da monarquia papal sobre o povo cristão – e assim, de forma indireta, sobre o mundo – não seria
tão cedo abandonada. Pelo contrário: os princípios por ela
colocados podiam ser transferidos com um esforço relativamente pequeno para as corporações fundamentadas no go41
42
43
Ibid., 1983, p. 101.
Cf. MIETHKE, op. cit., p. 359.
ULLMANN, op. cit., 1983, p. 110.
154
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
verno temporal. A Igreja se constituiria assim, entre os séculos XI e XIII, num paradigma extremamente poderoso para o
pensamento e para a teoria política. Um paradigma que acabaria servindo – totalmente contra as próprias reivindicações
– de modelo, teórico e jurídico, para a autonomização do âmbito da dominação política secular. E esse movimento esteve
intrinsecamente ligado ao progresso da jurisprudência, disciplina que contribuiria de forma nada marginal para o desenvolvimento da teoria política para muito além da Idade Média.44
IV AS TRADUÇÕES
E O FOMENTO DA FILOSOFIA NATURAL
É muito freqüente encontrar, entre os autores que tratam da Idade Média, a afirmação de que teria havido, por
volta de 1250, uma “revolução aristotélica” – causada sobretudo pelas traduções da Ética e da Política de Aristóteles –
que marcaria a ruptura entre a Idade Média e o período moderno. Alguns especialistas de área, como C. Nederman, D.
Luscombe e G. Evans, já chamaram a atenção para esse “desvio de interpretação”, que leva a compartimentar a história
em “blocos” demarcados, com início e fim. A leitura sustentada pelos partidários da “revolução aristotélica” é “um dos
mais acalentados cânones interpretativos da historiografia
intelectual medieval”, escreve Nederman.45
Entre eles, podem-se mencionar alguns nomes de peso,
como Q. Skinner, W. Ullmann e M. Wilks. Ullmann, por exemplo, inicia um capítulo sobre a recuperação aristotélica nos
seguintes termos:
44
45
Cf. MIETHKE, op. cit., p. 360.
Cf. NEDERMAN, Cary J. Aristotelianism and the origins of “Political Science”
in the twelfth century. Journal of the History of Ideas, v. 52, p. 180,
april-june 1991.
155
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A influência de Aristóteles da segunda metade do século
XIII para frente forjou uma transmutação no pensamento que equivale a uma revolução conceitual. De fato e em
teoria, o alude aristotélico no século XIII marca o divisor
de águas entre a Idade Média e o período moderno.46
Ou ainda Wilks:
O que ele [o pensador leigo do século XIII] precisava não
era mais uma teoria da correta distribuição do poder,
mas uma concepção totalmente nova de sociedade; e esta
só podia ocorrer quando uma revolução filosófica tivesse
tido lugar. Essa revolução ocorreu durante o século XIII,
com a redescoberta de muitos dos trabalhos perdidos de
Aristóteles.47
A adoção irrestrita dessa posição traz alguns problemas. Os estudos historiográficos mais recentes permitem afirmar, por exemplo, que a Ética já estava disponível em latim
desde pelo menos 1100, ou seja, 150 anos antes. Isso significa dizer que vários dos conceitos aristotélicos, como o de
virtude (aretê), já eram conhecidos e utilizados desde pelo
menos o início do século XII. Sua influência pode ser avaliada em textos como o Policraticus (1159), de João de Salisbury, entre outros. Já muito antes da metade do século XIII,
portanto, noções centrais do sistema moral aristotélico haviam entrado em circulação, ou na forma de fragmentos e traduções indiretas, ou ainda por meio de fontes indiretas como
Cícero e Boécio (480-524).
Também não constituía novidade a idéia da naturalização da sociedade política. Ao contrário do que se afirmou
46
47
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 152.
Cf. WILKS. M. The problem of sovereignty in the Later Middle Ages.
Cambridge: University Press, 1964. p. 84; cf. tb. SKINNER, Q. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 617.
156
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
durante décadas, também o “naturalismo político” – a doutrina que sustentava emergir a associação política diretamente
das exigências da natureza humana, e não da inspiração divina – não foi introduzido pela recuperação da Política de
Aristóteles. A noção já era bastante conhecida das leituras
de autores latinos como Cícero, Sêneca e outros moralistas,
em cujos trabalhos se podiam encontrar apreciações consideráveis sobre a naturalidade das associações humanas.
Nesse sentido, é possível sustentar que o naturalismo político aristotélico serviu mais para complementar do que para
suplantar tradições de pensamento preexistentes. Há muito
mais continuidade do que ruptura nos processos históricos.
E muito mais acúmulo do que revolução na produção do
conhecimento. Isso é o que se pretende mostrar aqui.
Outro tema relevante que vinha ganhando espaço nas
transformações em curso era o da independência de certas
esferas do conhecimento. Não apenas a jurisprudência e a
teologia se tornavam autônomas como campos legítimos de
investigação científica, como também a ciência da política e
outras tantas artes refinavam conceitualmente seus objetos.
Em textos medievais de inícios e meados do século XII, já era
possível encontrar relatos precisos sobre o lugar da política
dentro do sistema geral do conhecimento humano.48 A ausência de um corpus filosófico sistematizado não impedia que
pensadores do período se dedicassem ao exame da política,
como aliás já vinha ocorrendo desde a disputa pela investidura. Entre esses autores, havia nomes importantes como
Hugo de São Vítor, Guilherme de Conches, Domênico Gundisalvi e João de Salisbury.
48
“Muitos autores do século XII não só perceberam que a política era um
assunto separado e distinto de investigação”, escreve Nederman, “mas
também tentaram por vezes especular de modo mais genérico sobre a
própria natureza do campo político, sobre o propósito e função da política, e sobre a relação entre a política e outras formas de conhecimento
‘prático’”. Cf. NEDERMAN, op. cit., 1991, p. 182.
157
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O processo de transmissão e difusão das idéias aristotélicas ocorria, portanto, de forma vagarosa, e somente aos
poucos foi conquistando espaço nos círculos intelectualizados, em companhia de outros pensadores ilustres.49 O universo das idéias disponíveis era grande e variado. O que se
buscava eram soluções adequadas para problemas contemporâneos. E isso vários desses autores forneciam, inclusive
Aristóteles. Suas idéias eram adotadas aqui e acolá, muitas
vezes sem menção à fonte, ao estilo dos medievais, e desse
modo penetravam a reflexão e o dia-a-dia dos homens de
letras. Assim, ao contrário do que sugerem autores importantes como Tierney50 ou Canning,51 o progresso da ciência,
e com ele a autonomia da política, resultava de um lento e
demorado processo de absorção e adaptação de autores “clássicos” à realidade medieval.
Esse mundo cristão era, nesse momento, um corpo em
transformação, recebendo influxos de vários lados. A exten49
50
51
Além disso, outros mestres da Antigüidade, como Platão, Hipócrates,
Pitágoras etc., estavam sendo traduzidos para o latim, bem como pensadores árabes de peso como Al-Farabi e Ibn Sina (Avicena), ilustres
comentadores dos filósofos antigos.
“A Política, um dos últimos trabalhos de Aristóteles a ser traduzido”,
escreve Tierney, “abriu um mundo novo de pensamento para o homem
medieval. Mostrou-lhes que a teoria política não precisava ser um mero
ramo da jurisprudência: ela poderia ser uma ciência autônoma com
razão própria, um campo próprio de estudos para filósofos”. In: TIERNEY,
B. Religion, law, and the growth of constitutional thought (1150-1650).
Cambridge: University Press, 1982. p. 29.
“A principal inovação do pensamento político medieval tardio”, diz Canning,
“foi o desenvolvimento da idéia de Estado secular como um produto da
natureza política do homem. Esse conceito foi adquirido por meio da
redescoberta da Política e da Ética de Aristóteles. Aristóteles forneceu
uma teoria pronta [ready-made] da política e do Estado, cuja existência
se dá em uma dimensão puramente natural e mundana [this-worldly].
De fato, a idéia mesma de ciência política como uma disciplina autônoma
e a noção do político como uma categoria da atividade e relação humanas
foram o produto dessa nova visão”. In: CANNING, J. P. Introduction: politics,
institutions and ideas. In: BURNS, op. cit., 1991, p. 360.
158
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
são dos laços políticos da cristandade latina durante a época
das Cruzadas havia tornado a sociedade européia mais complexa e mais unificada. No século XII, como jamais ocorrera
antes, conviviam, na região do Mediterrâneo, e em especial
na Península Ibérica, correntes de pensamento tão diversas
como as de origens grega, islâmica, judaica e católica. Os
filósofos islâmicos, por exemplo, possuíam um leque abrangente de trabalhos de Aristóteles e de seus comentadores,
assim como de Platão e Galeno, todos em versões arábicas.
Tinham, além disso, reflexões próprias que não devem ser
subestimadas quando se que dar conta do pensamento político europeu na Idade Média.
No século XII, sob o predomínio do almorávida Ibn
Rushd (Averróis), ocorria um amplo restabelecimento do pensamento grego, especialmente do aristotélico. Estudiosos latinos espanhóis já haviam desenvolvido um interesse considerável pelos ensinamentos arábicos. Essas obras forneciam
extenso material para debate teórico e prático. A vida intelectual da Europa cristã estava sendo profundamente afetada,
nos séculos XII e XIII, pela recepção contínua das traduções
para o latim de textos científicos e filosóficos de origem
islâmica, grega e judaica. Nada era desperdiçado. No final
da Idade Média, a cristandade ocidental disporia de uma
longa tradição de uso do pensamento pagão em benefício
próprio.
1. Árabes, judeus e gregos pós-helênicos: a herança
do Ocidente medieval
Um dos pontos ainda hoje pouquíssimo explorados por
estudiosos das idéias políticas é a contribuição do pensamento de origem islâmica à cristandade ocidental na Baixa
Idade Média. Sabe-se pouco a respeito desse encontro de
mundos, e o material é, entre nós, escasso, quando não des159
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
conhecido. Mas um dos temas que as pesquisas recentes
revelaram tem interesse imediato para a reconstrução que
aqui se empreende. Trata-se da relação de cada uma dessas
concepções de mundo, cristã ocidental e islâmica, com seus
fundamentos teológicos e científicos, isto é, do modo como
cada uma relacionava ciência e religião.
No mundo árabe, predominavam basicamente dois tipos de ciência: a islâmica, baseada no Corão e nas leis e
tradições islâmicas (sobretudo a sharia); e as “estrangeiras”
ou pré-islâmicas, que envolviam ciência antiga grega e filosofia natural. As ciências estrangeiras foram traduzidas para o
árabe principalmente nos séculos IX e X. A filosofia natural
dos gregos foi largamente utilizada para defender e explicar o
Corão e suas doutrinas, apesar das reivindicações de autosuficiência do livro sagrado pelos religiosos. Os teólogos muçulmanos encarregados de promover a harmonização entre
razão e fé, denominados mutakallimun, usavam seu conhecimento de filosofia antiga para criticá-la. Afirmar que a filosofia grega era necessária para a defesa do Corão podia ser
entendido até como blasfêmia.52
Boa parte dos teólogos muçulmanos estava convencida
de que a lógica e a filosofia natural antigas – sobretudo a
aristotélica – eram incompatíveis com seu livro sagrado. Um
dos pontos de conflito era a explicação da criação do mundo
no Corão, contrária à de Aristóteles: para o Filósofo, a eternidade do mundo – que não teria início nem fim – era uma
verdade essencial da sua filosofia natural. Por afirmações
como essa, a filosofia grega era vista com suspeita no mundo
islâmico e raramente era discutida em público. Muitos dos
cientistas muçulmanos e filósofos naturais conhecidos, entre eles Ibn Sina (Avicena), eram patrocinados pela realeza e
não ensinavam nas escolas. Sem o apoio de um senhor po52
Cf. GRANT, op. cit., p. 177-8.
160
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
deroso e forte, esses estudiosos terminavam sujeitos a denúncias e ataques de líderes religiosos locais que podiam
ofender-se com a propagação das idéias pagãs.53
Diferentemente da cristandade ocidental, a filosofia no
mundo islâmico jamais se tornou uma disciplina independente. Havia fortes barreiras à disseminação sobretudo dos
ensinamentos de filsofia natural. Pois uma disciplina colocada com freqüência em oposição ao Corão não podia ter um
valor significativo para o crente. Seu estudo nunca foi institucionalizado no Islão. Se a cristandade foi disseminada lentamente, permitindo séculos de ajustamento ao mundo pagão,
já a religião do Islão era transmitida com velocidade notável:
em cerca de cem anos expandiu-se sobre vastas áreas, envolvendo povos diversos, da África à Ásia. A religião muçulmana, ao contrário da cristandade, jamais viveu qualquer
período de ajustamento aos ensinamentos da filosofia pagã.
Enquanto a cristandade havia nascido dentro do Império Romano e da civilização mediterrânea, além de ter estado
numa posição subordinada dentro desse império por muitos
séculos, o Islão nasceu fora do raio de influência do Império
Romano e nunca esteve numa posição subordinada a outras
religiões e outros governos. O Islão, diferentemente do Ocidente cristão, não teve de se acomodar numa cultura mais
ampla nem de aceitar os ensinamentos gregos, que continuaram sendo vistos como estranhos e potencialmente perigosos para a fé islâmica. No Islão, à exceção dos mutakallimun
53
A lógica, p. ex., era freqüentemente caracterizada como matéria nãoteológica. Filósofos e cientistas não deviam estudar para a sua própria
satisfação, mas para servir à religião. Logo, seu estudo não era recomendado. Aritmética e astronomia eram aceitas, p. ex., porque eram
vistas como indispensáveis à fé: a primeira como instrumento para dividir heranças; a segunda para obter valores para os fenômenos astronômicos, essenciais para a determinação das horas em que deveriam ser
feitas as cinco orações diárias. Cf. GRANT, op. cit., p. 179.
161
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
e de figuras ocasionais como Al-Ghazali (1058-111), filósofos
naturais eram normalmente distinguidos dos teólogos. Filosofia natural era matéria para ser pensada privada e silenciosamente. E, de maneira mais segura ainda, sob a proteção
de um rei poderoso.54
Dentro da cristandade ocidental, ao contrário, quase
todos os teólogos profissionais eram também filósofos naturais, fato devido em boa medida à estrutura da universidade
medieval no Ocidente. A atitude favorável da cristandade ocidental em face da filosofia natural, contudo, não derivou apenas do contato prolongado, ao longo dos séculos, com o
pensamento pagão, e de uma acomodação a ele. Apesar de
suspeitos, os ensinamentos greco-romanos não eram tidos
como inimigos da fé cristã, e sua utilidade potencial foi reconhecida logo cedo.
Embora muitos homens da Ecclesia tenham proclamado a sua superioridade em relação ao governo terreno, como
Santo Agostinho, a Igreja Católica reconheceu e aceitou a
separação entre os gládios material e espiritual, seja na forma de regnum et sacerdotium, seja na divisão entre os poderes temporal e espiritual, cisão que permitiu o desenvolvimento de uma filosofia natural secularmente orientada. No
Islão medieval, pelo contrário, um governo propriamente secular inexistia: Igreja e Estado eram uma única coisa. A função do Estado era garantir o bem-estar da religião muçulmana de modo que todos os que viviam dentro deste Estado
pudessem ser bons, isto é, muçulmanos praticantes.
Como a Igreja ocidental via com bons olhos a ciência,
as autoridades seculares também puderam adotar uma abordagem positiva desta. Religiões estritamente unitárias, como
o judaísmo e islamismo, não precisam de assistência metafísica nem de aparatos para expor a essência de Deus, embo54
Ibid., p.182.
162
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
ra, é claro, sempre apareçam problemas que requerem algum grau de explicação filosófica. Mas os teólogos islâmicos,
de fato, desencorajavam análises do Corão e evitavam o desenvolvimento de uma teologia especulativa.55 Mesmo dentro desse quadro complexo, contudo, o pensamento
político-filosófico árabe desenvolveu uma abordagem própria
que teria repercussões no Ocidente cristão, sobretudo no
período em que o domínio árabe no sul da Península Ibérica
experimentava seu auge.
O pensamento político árabe era fortemente marcado
pela influência platônica, que se tornou ainda mais forte depois de Al-Farabi (950). Durante o período clássico da filosofia islâmica (séculos X a XII), a filosofia política não foi atividade
marginal, e sim predominante. Tratava-se, contudo, de uma
filosofia política que servia sobretudo aos propósitos religiosos. No Falasifa, o respeitado compêndio de filosofia, a idéia
platônica do rei-filósofo e legislador fora assimilada à noção
do profeta num Estado religioso ideal. Os pensadores
islâmicos incorporavam as idéias políticas gregas e transformavam-nas em parte integral de seus próprios ensinamentos gerais.56
Al-Farabi, por exemplo, entendia o “objeto” do que se
pode denominar ciência política, em termos da caracterização de diferentes tipos de Estados e governantes, com base
na investigação das causas da felicidade (que no Ocidente
equivaleria ao papel do “bem comum”) e dos meios de alcançála pelo exercício do governo virtuoso sobre a cidade ou nação. Ele investigou os elementos que compunham a comunidade islâmica – os legisladores, a lei, os diferentes tipos de
Estados – e sustentou que as funções da profecia, da legislação, da filosofia e da dominação não se diferenciavam. Por
55
56
Ibid., p. 184.
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 330.
163
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
isso, deveriam estar unidas numa pessoa, um califa ideal,
que seria simultaneamente profeta-legislador e rei-filósofo.57
Al-Farabi explorou ainda questões fundamentais sobre
a relação e a harmonia entre filosofia, revelação e lei humana; estabeleceu o lugar da ciência política nas sociedades
com religião profética revelada e objetivos espirituais;
pesquisou a filosofia e o pensamento político da Grécia antiga, especialmente o de Platão. Refletiu sobre a jihad ou guerra santa; propôs a analogia entre o Estado e o corpo humano.
Mas não havia traduções latinas da obra de Al-Farabi disponíveis na Europa medieval: A enumeração das ciências, por
exemplo, de sua autoria, foi traduzida para o latim por
Domênico Gundisalvi apenas por volta de 1150. E uma tradução completa da obra só surgiu em 1175, com o toledense
Gerardo de Cremona.
A mais forte influência islâmica sobre a recepção de
Aristóteles no Ocidente latino, entretanto, foi provavelmente
Ibn Rushd (1126-98), de Córdoba, que viveu a maior parte
de sua vida na Espanha dos almorávidas e em Marrakesh e
era conhecido entre os latinos pelo nome de Averróis. A influência de sua monumental tentativa de recuperar a filosofia aristotélica teve vida breve no Islão. Com a sua morte e
com o declínio da influência de Al-Farabi, poucas cópias da
versão arábe dos trabalhos de Ibn Rushd sobreviveram e ficaram conhecidas. Mas seus comentários sobre Aristóteles
tornaram-se uma parte importante do pensamento judaicocristão.
Em termos de doutrina política, Ibn Rushd era um seguidor de Platão: estudou com simpatia o Estado ideal platô57
Criava assim uma teologia política na qual religião e filosofia se encontravam. Também enfatizava o papel ativo que os filósofos deveriam desempenhar em negócios legais e políticos. E sonhava, como Dante mais
tarde, com uma sociedade universal baseada na fé comum e organizada sob um único governante: o profeta-filósofo.
164
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
nico, acrescentando apenas que, para ele, esse Estado ideal
era o islâmico e teria tido origem com o profeta-legislador.
Quando, no século XIII, os escolásticos latinos encontraram
os comentários de Ibn Rushd sobre Aristóteles, estavam bem
mais interessados em seus trabalhos sobre filosofia natural,
física e metafísica do que em sua ética. Por isso, seu pensamento político acabou não tendo no Ocidente divulgação tão
ampla como outras partes de sua obra. A entrada triunfante
de Aristóteles no Ocidente latino, lembram Luscombe e Evans,
e a descoberta de que o Filósofo não era apenas um mero
lógico, mas também um filósofo natural e moral, deveu-se
inicialmente aos árabes.58
Também os judeus participaram desse período fecundo de convivência intelectual experimentado na Espanha
muçulmana. O representante mais significativo dessa corrente de pensamento talvez seja o pensador judaico Moisés
Maimônides, nascido em Córdoba em 1135 e morto em 1204,
também ele um discípulo da teoria política de Platão e AlFarabi. Maimônides sustentava que o homem dependia de
um Estado para sua perfeição e felicidade. Numa sociedade
em que se vive de acordo com a religião revelada, dizia, o
profeta assume a função política de governante e feitor da lei.
Os profetas bíblicos deveriam ser vistos como filósofos dotados de qualidades especiais de imaginação, e a comunidade
religiosa deveria ser considerada um Estado ideal.
Como Al-Farabi, Maimônides incluía o estudo da filosofia e da religião na lista das ciências. Em seu Millot haHiggayon XIV, depois de distinguir – como Aristóteles – entre
filosofia prática e teórica, ele traçava o escopo do estudo da
ética, da economia e da política. E ainda introduzia um quarto tipo de filosofia prática, que denominava “o governo da
grande religião ou das outras religiões”, que correspondia à
58
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 334.
165
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
lei religiosa tanto islâmica quanto judaica.59 Filósofos árabes
ocidentais que escreviam na Espanha ou no Magreb, fossem
islâmicos ou judeus, geralmente atribuíam alto valor aos escritos de Aristóteles.
Para Maimônides, o Filósofo representava “o extremo
do intelecto humano, se excetuarmos aqueles que receberam inspiração divina”. Entender Aristóteles deveria ser a
mais alta ambição de um homem que raciocinava. No Guia
dos perplexos, Maimônides tentava mostrar que, corretamente
interpretados, não há incompatibilidade entre os ensinamentos éticos e metafísicos de Aristóteles e os textos do Talmude
e a Escritura. Quando os pensadores latinos tiveram acesso
aos seus textos, impressionou-os não tanto o seu débito para
com a filosofia política ou prática de Al-Farabi, e sim sua
adesão à doutrina aristotélica.60
A parte oriental do Império Romano, por sua vez, desenvolveu um ramo da cristandade consideravelmente diferente da sua contrapartida ocidental. No início, a parte oriental
– bizantina – e a ocidental – latina – formavam um Estado
unificado, o Império Romano. Dentro desse império unificado, que sobreviveu até o século V d.C., a cristandade era
essencialmente una. Com o passar do tempo, o Império Romano dividiu-se em duas unidades distintas e até mesmo
rivais. Por volta do ano 800, o império já se encontrava de
fato dividido entre Ocidente e Oriente. O rompimento manifestou-se também lingüisticamente: enquanto no leste a língua oficial era o grego, no oeste era o latim.
Essa divisão aparecia também na religião: a cristandade rachou-se em duas facções rivais, a Igreja Católica no oeste, e a Igreja Ortodoxa Grega no leste. Diferiam, é claro, no
uso da linguagem litúrgica, sendo o latim utilizado no Oci59
60
Ibid., p. 332.
Ibid., p. 333.
166
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
dente e o grego no Oriente. O clero oriental tinha permissão
para contrair matrimônio, o ocidental não. Na Sagrada Eucaristia, ou missa, clérigos orientais usavam pão sem fermento, enquanto os católicos do Ocidente serviam pão com
fermento. Na Igreja do Oriente, leigos podiam ser nomeados
patriarcas.61
A diferença mais importante entre as duas instituições, contudo, remonta ao início do século VI, quando a
Igreja Católica alterou o “Credo de Nicene”, de 325 a.C. Enquanto a Igreja Ortodoxa declarava formalmente que o Espírito Santo provinha apenas “do Pai”, a Igreja do Ocidente
adicionou as palavras “e do Filho”. Declarava-se assim que
o Espírito Santo provinha agora do Pai e do Filho, uma reivindicação que a Igreja Grega considerava objetável, porque
poderia levar à afirmação de que o Espírito Santo derivava
de dois deuses distintos. A formação de duas Igrejas já era
uma realidade, portanto, muito antes de 1054, quando legados papais, numa missão a Constantinopla, excomungaram o patriarca e seus aliados, que, por sua vez, condenaram
os enviados papais.
Em contraste com Bizâncio, que era essencialmente um
Estado teocrático, a cristandade ocidental admitia uma diferenciação acentuada entre regnum e sacerdotium. No mundo
bizantino, o imperador era considerado o vice-rei de Deus e
um líder sagrado. Nenhum debate significativo sobre os méritos e poderes relativos de autoridades seculares versus espirituais ocorreu no Oriente, como acontecera no Ocidente.
O imperador bizantino não só tomava todas as decisões seculares de forma autocrática, mas ainda exercia um controle
quase total sobre a administração da Igreja Grega: entre outras coisas, ele podia nomear e depor os patriarcas. Em algu61
Durante o curso do Império Bizantino, essa prática – desconhecida do
Ocidente – foi utilizada 13 vezes na seleção dos 122 patriarcas de
Constantinopla.
167
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mas ocasiões, os imperadores tentaram até mesmo modificar alguns dogmas da Igreja e os sacramentos, embora nunca de maneira bem-sucedida.62
Também a constante iminência da guerra fazia de Bizâncio um caso especial: as forças do império estavam constantemente em guerra, defendendo um território cada vez
menor que durou mais de mil anos. Mesmo assim, Bizâncio
experimentou, em meio às disputas nos campos de batalha,
um grande “renascimento intelectual” durante seus dois últimos séculos de existência. De modo geral, contudo, é possível concordar com Runciman quando chama a atenção para
o fato de que Teodoro Metochite, em seu Miscellanea
philosophica et historica, provavelmente falava pela maioria
dos filósofos gregos ao declarar que “os grandes homens do
passado haviam falado tudo de modo tão perfeito que não
nos deixaram nada a dizer”.63 Essa atitude contrastava com
a dos islâmicos e latinos do Ocidente, que também respeitavam os antigos, mas estavam sempre preparados para ir além
deles e adicionar algo à soma total do conhecimento.
Além disso, em Bizâncio, filosofia natural e ciência eram
atividades reservadas a uma minúscula camada de homens
leigos. Ao que tudo indica, a intelectualidade bizantina parecia ser formalista e pouco inovadora. De toda maneira, recorda Grant, é relevante e apropriado reconhecer que o significado intelectual concreto dos bizantinos repousa na
preservação e transmissão da tradição científica grega. Por
essa contri-buição incalculável, os bizantinos foram corretamente chamados os “bibliotecários do mundo” na Idade
Média européia.64 Sem eles, não resta dúvida, a história do
Islão e a do Ocidente teria sido outra.
62
63
64
Cf. GRANT, op. cit., p. 187.
Cf. RUNCIMAN, S. The last Byzantine renaissance. Cambridge: University
Press, 1970. p. 94.
Cf. GRANT, op. cit., p. 191.
168
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
2. A cristandade latina e o naturalismo político
Mas como essa herança foi apropriada pela cristandade ocidental? Os filósofos naturais medievais estavam interessados nos modos pelos quais se podia conhecer e abordar
a natureza. Ou seja, naquilo que poderia ser chamado hoje
de “método científico”. Procuravam explicar como se chegava
à compreensão da natureza. A entrada, na segunda metade
do século XIII, da tradução latina do texto da Política de Aristóteles ocorreu depois que suas idéias sobre filosofia natural
tinham passado a ser correntes no Ocidente.
Mesmo antes das traduções dos escritos aristotélicos,
em circulação desde pelo menos um século antes, teólogos e
juristas já enxergavam a natureza como um poder normativo,
capaz de ditar leis aos homens. Alguns escritores do século
XII já haviam construído doutrinas nas quais a ação das forças naturais e da lei natural tinham um papel central. Boa
parte dessa influência tivera como base o acesso recente a
antigos textos de medicina, astrologia, magia e alquimia, traduzidos de autores como Ptolomeu, Albumasar, Ibn Sina
(Avicena), Al-Farabi e outros.
A ordem natural não era vista pelos estudiosos de então como conflitante com a ordenação divina do mundo. “Natureza” era com freqüência um sinônimo para “Deus”.
Graciano de Bolonha, por exemplo, igualava a lei natural à
divina. Guilherme de Conches acreditava que os trabalhos
da criação deviam ser explicados pela razão e por causas
naturais, e não milagrosa ou alegoricamente. A ordem governaria o mundo – e por ordem “ele entendia a ordenação natural estabelecida por Deus”.65 A idéia de que a natureza
constituía um poder criativo, com propósito, tinha sido assimilada dos escritos estóicos da Antiguidade. Textos de
65
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 335.
169
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Macróbio e Platão deram origem ao interesse pela idéia de
que o homem, como um microcosmo, refletia a estrutura do
macrocosmo.66
Da tradução do Timeu, também de Platão, por Calcídio
derivava a distinção entre ius naturale e ius positivum no pensamento legal, inicialmente promovida por escolásticos franceses como Guilherme de Conches,67 Hugo de São Vítor e
Pedro Abelardo,68 assim como por canonistas do século XII.
Essa diferenciação, entre outras coisas, apontava na direção
da perspectiva de que muitas leis passavam a valer por meio
de promulgação positiva, como sugere a própria etimologia
do conceito.69 A proposição de que as leis eram feitas por
decisões humanas conscientes tornara-se mais prontamente justificável no tempo em que a coletânea de leis romanas
de Justiniano passou a estar disponível para estudo. Isto é,
na época em que a legislação recente, tanto eclesiástica quanto
secular, estava rapidamente se tornando uma atividade fundamental e corriqueira.
Alan de Lille, filósofo-poeta, e também seu contemporâneo Bernardo Silvestre de Tours ofereciam ricas visões
66
67
68
69
A capacidade humana de controlar a natureza passaria a ser ainda
mais valorizada com o desenvolvimento de técnicas agrícolas, de construção, de guerra, de navegação e de comércio.
“Et est positiva [iustitia]”, escrevia Guilherme de Conches no seu Comentários ao “Timeu” de Platão, “quae est ab hominibus inventa ut suspensio
[...]. Naturalis vero quae non est homine inventa ut parentum dilectio et
similia”. In: WASZINK, J. A. (Ed.). Plato. Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus. (Corpus platonicum Medii Aevi. Ed. Klibansky.
Londinii: in aedibus Instituti Warburgiani). Leiden: Brill, 1962. p. 59.
“Ius quippe aliud naturale, aliud positivum dicitur [...]”. E positiva, esclarecia ele adiante, é aquela justiça que “ab hominibus institutum”. In:
ABELARDO, Pedro. Dialogus inter philosophum, iudaeum et christianum.
Ed. T. R. Friedrich. Sttutgart: Frommann Verlag, 1970. p. 124-55.
A palavra “positiva” relaciona-se ao verbo “pôr”, em latim “ponere” –
“legem ponere”, “lex posita”, “lex positiva”.
170
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
evocativas. Ambos viam o mundo material como tendo sido
originalmente um estado caótico, carecendo de dignidade e
forma. Mas a natureza, segundo eles, moldava e informava
esplendidamente o mundo da matéria. A “Senhora Natureza”, sustentava Alan, constituía um instrumento da providência – o vigário de Deus na terra – e encarregava-se da
produção das coisas viventes. Era um livro no qual se podia
ler que o homem tinha sido moldado à semelhança do mundo. E o mundo era uma “máquina” criada em bom estado
pela razão divina. A imagem do cosmo consistia numa magnífica unidade obediente a Deus, que se estendia do céu à
terra, tendo a natureza como sua mediadora.70
O pensamento ocidental latino, portanto, apropriavase dos e desenvolvia os acréscimos recentes oriundos das
traduções do grego, árabe e hebraico, muito antes mesmo de
ter à disposição a totalidade do corpus aristotélico, o que só
ocorreria no final do século XIII, com a contribuição de Guilherme de Moerbecke. Essa organização sistemática do conhecimento, que parecia dominar os pensadores ocidentais
do século XII, conduzia recorrentemente ao debate sobre a
classificação das disciplinas que compunham a filosofia ou
“as ciências”.
Dois modelos básicos para o arranjo do conhecimento
humano estavam disponíveis à época. Uma primeira abordagem, derivada da leitura agostiniana de Platão, dividia a filosofia em três campos de conhecimento: a ética (ciência da
moral), que pertenceria ao reino da ação; a física (ciência da
natureza), que pertenceria ao reino da contemplação; e a
lógica (ciência da razão que distingue o verdadeiro do falso),
70
Cf. LILLE, Alan de. De planctu naturae. Ed. N. M. Häring. Studi medievali,
série 3ª, n. 19, 1978, p. 797-879. Cf. tb. LUSCOMBE & EVANS, op. cit.,
p. 337.
171
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
que pertenceria a ambos os reinos, contemplação e ação,71
com maior inclinação para o primeiro. Agostinho construía
a disciplina “prática” da ação moral em termos familiares:
ela dizia respeito ao fim apropriado da ação individual, à
virtude pessoal.72 Nessa vertente não há menção ao campo
político. Essa divisão foi amplamente divulgada, durante a
Idade Média, não apenas pelas próprias obras de Agostinho, mas também pelo famoso tratado Etimologias, de Isidoro
de Sevilha.73
Uma segunda estrutura classificatória, igualmente popular, podia ser identificada numa outra tradição. Essa concepção, derivada diretamente de Aristóteles, também começava com a distinção entre a investigação “contemplativa”
(dedicada à busca da verdade pura) e a “ativa” ou disciplinas
“práticas” (visando à conduta correta da vida).74 Nesse modelo, o conhecimento de tópicos como a física, matemática e
metafísica (ou teologia) situava-se no campo da teoria, isto é,
71
72
73
74
“A [sabedoria ou ciência] ativa tem em mira organizar a vida, isto é,
estabelecer costumes; a contemplativa pretende considerar as causas
da natureza e a verdade pura”. E em seguida: “Uma [filosofia] é a moral
e diz respeito principalmente à ação; a outra, a natural, compete à contemplação; a terceira, a racional, distingue o verdadeiro do falso. Embora necessária a ambas, ou seja, à ação e à contemplação, esta de modo
primordial postula o conhecimento da verdade”. In: AGOSTINHO, Santo. A
cidade de Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1990. v. 1, p. 305.
“A última parte, a moral, chamada em grego ethiké, trata do bem supremo. Se lhe atribuímos tudo quanto fazemos, se o apetecemos por ele
mesmo e não por outro e se o conseguimos, não necessitamos buscar
outra coisa [senão aquilo] que nos faça felizes”. E adiante: “Basta, no
momento, dizer que Platão estabeleceu que o fim do bem é viver de
acordo com a virtude, o que pode conseguir apenas quem conhece e
imita Deus, e que tal é a única fonte de sua felicidade”. In: AGOSTINHO, op.
cit., p. 310-1.
Cf. ISIDORO DE SEVILHA, op. cit., 2.24.3-4.
Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de L. Vallandro e G. Bornheim,
1177a. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 201-2.
172
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
da contemplação; e a ética, economia e política pertenciam à
práxis, ou ação prática.75 O método de classificação aristotélico, diferentemente do platônico-agostiniano, abraçava explicitamente o conceito de política como um objeto próprio e
distinto da investigação filosófica.76
Os autores medievais tinham apenas raramente, ao que
tudo indica, acesso direto a tais textos de Aristóteles, so-bretudo
àqueles nos quais afirmava a independência do político. Mas
tinham em mãos inúmeras fontes intermediárias, bastante
divulgadas na Idade Média, como o Comentário sobre o “Isagoge”
de Porfírio, de Boécio 77 (480-524), as Instituições, de
Cassiodoro78 (c.490-580), e as Etimologias, de Isidoro de Sevilha79 (c.560-636). As formas de categorização do conhecimento filosófico de Aristóteles haviam se tornado, por meio desses
autores, um assunto familiar no aprendizado medieval.
75
76
77
78
79
As categorias do conhecimento prático, mesmo inter-relacionadas, eram
claramente delimitadas: a arte da política, p. ex., não derivava diretamente da virtude individual nem era simplesmente uma extensão das
habilidades exigidas para a administração eficiente da casa. Cf. ARISTOTLE.
The politics, 1252a7-23. Ed. S. Everson. Cambridge: University Press,
1996. p. 11.
Para Aristóteles, a Política era a “ciência mestra do bem”, o campo privilegiado de estudo dentro da esfera do conhecimento prático. Cf. ARISTÓTELES, op. cit., 1099b, 1992, p. 28.
BOÉCIO, romano que viveu em Atenas e Alexandria, era profundo conhecedor da obra de Platão e Aristóteles e pretendia traduzir o corpus para
o latim, mas morreu sem levar a cabo seu projeto. Sua influência entre
os pensadores medievais, no entanto, foi imensa, e seu uso do método
aristotélico bastante divulgado durante a Alta Idade Média. Cf. BOÉCIO,
Anício M. T. Severino. In Isagogen Porphyrii commenta. Ed. S. Brant.
New York: Johnson, 1966. v. 86 (1.3). (Corpus scriptorum ecclesiasticorum
Latinorum; 48. Repr. d. Ausgate Vindobonae, 1906).
Cf. CASSIODORUS. Institutiones, 2.3.7. Ed. R. Mynors. Oxford: University
Press, 1977.
Depois da divisão clássica entre as filosofias “inspectiva” e “actualis”,
compunham a segunda as ciências “moralis, dispensativa et civilis”. Cf.
ISIDORO DE SEVILHA, op. cit., 2.24.10 e 2.24.16.
173
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O monge Hugo de São Vítor, por exemplo, em seu Didascalion (1120), sustentava, usando a distinção aristotélica, a divisão das ciências em quatro reinos: contemplativo,
prático, lógico e mecânico. São Vítor reconhecia que a diferença entre a política e as outras formas de conhecimento
prático era de natureza qualitativa: enquanto a ética tratava
das virtudes, do ponto de vista do indivíduo, e a economia
das circunstâncias materiais da manutenção da casa, a política se ocupava de seu próprio fim especial, o bem da esfera
pública. Por isso, explicava ele, o estudo da política requeria
princípios diferentes e chegava a conclusões diversas daquelas das “ciências” da moralidade ou da administração doméstica: a política consistia numa esfera de conhecimento
própria e, por isso, requeria uma investigação específica.80
Guilherme de Conches (c.1080-1154), seguidor e contemporâneo de São Vítor, utilizava no seu comentário ao Timeu
de Platão a mesma tipologia de Aristóteles. Mas conferia nova
dimensão a essa classificação ao igualar a polis à civitas.
Explicitava assim a conexão, assumida por São Vítor, entre a
“ciência política” e o governo das cidades. Se a polis era idêntica à civitas, e o termo político era derivado de polis, argumentava Guilherme, daí se concluía que o estudo da política
devia se ocupar especialmente de formas urbanas da comunidade. Sustentava ainda uma hierarquia definida para o
80
Aristóteles insistia que a polis constituía a mais alta forma de organização humana. Os pensadores medievais, mesmo confrontados com a
predominância de arranjos políticos geograficamente muito mais amplos, como reinos e impérios, com freqüência ignoravam esse
ensinamento do Filósofo e tentavam aplicar as conclusões de Aristóteles sobre “corpos urbanos” pequenos e autogovernados às instituições
da monarquia medieval. São Vítor, diferentemente dos demais, seguiu
mais de perto as teses aristotélicas, defendendo que o conhecimento
gerado pela ciência política era útil especialmente no governo das comunidades urbanas. Cf. SÃO VÍTOR, Hugo de. Didascalion.Washington:
C. H. Buttimer, 1933. p. 131 et seq.
174
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
estudo das esferas do conhecimento. Devia-se ascender, genericamente falando, dos campos práticos de investigação
ao terreno contemplativo, e não o oposto.
Também havia, segundo Guilherme, uma hierarquia
entre as próprias disciplinas práticas:
um homem deve ser instruído primeiro em assuntos
morais por meio da ética; depois na administração de
seus negócios familiares por meio da economia; e, por
fim, no governo [gubernatio] das coisas por meio da política. E então, quando tiver sido treinado nessas matérias até a perfeição, ele deve seguir para a contemplação.81
O raciocínio era estritamente aristotélico. Essa ordenação do reino do conhecimento prático reproduzia a insistência aristotélica de que a política era a ciência suprema
do bem, subsumindo todas as outras ciências práticas sob
si, já que seus fins eram superiores aos da ética e da economia.
Outros autores medievais tentaram estender a aplicação das categorias aristotélicas da política para além da dimensão estritamente urbana, adaptando-a ao contexto
medieval. O mestre parisiense de teologia Godofredo de São
Vítor, por exemplo, em seu Microcosmus, do fim do século
XII, explicava – depois de identificar os três tipos de conhecimento prático – que
por meio do primeiro [ética], todo mundo está preparado
para uma relação social adequada, instruindo-os [os homens] admiravelmente em ações externas; por meio do
segundo [economia], a manutenção da casa é bem ordenada aos olhos dos homens que estão fora dela; pelo ter-
81
CONCHES, Guilherme de. In Boethium de Trinitate. In: JOURDAIN, C. (Ed.).
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris: n.
20, 1862, p. 74.
175
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ceiro [política], um povo submetido é louvavelmente moldado por seu príncipe, como uma árvore que dá frutos foi
feita para crescer em nossa terra.82
Também o De divisione philosophiae, escrito por volta
de 1150, de autoria do andaluz Domênico Gundisalvi, sugeria um profundo conhecimento das idéias de Aristóteles ao
longo do medievo. Gundisalvi, mais conhecido por suas traduções de textos gregos e árabes, também utilizava a distinção clássica entre conhecimento prático e teórico, e identificava
o primeiro à ciência do que deveria ser feito para atingir o
bem dos homens. Na esfera prática, diferenciava entre ética,
economia e política: enquanto a ética respeitava à relação
entre ação individual e disposições pessoais, e a economia
tratava da disciplina, cuidado e instrução dentro da unidade
familiar, a política buscava regular as ações propriamente
ditas e visava à humanidade como um todo.
Numa passagem do trabalho, Gundisalvi proclamava
que o conhecimento da política pelos governantes constituía
a garantia última da bondade e felicidade humanas. A boa
vida na terra e a possibilidade de uma vida eterna depois
dela dependeriam da existência de uma ordem política. O
legislador devia ser uma espécie de educador moral e religioso, dedicado à promoção da virtude e da fé entre os membros
do corpo civil. A implicação dessa visão era a de que a ciência
da política, ciência mestra do bem, subordinaria a si a ética e
a economia, pois estas últimas só se realizariam onde exis-
82
O valor da ciência do político estaria assim na postulação de novas doutrinas para a promoção do bem público. E o estudo da política constituía,
segundo Godofredo, o instrumento mais adequado por meio do qual os
monarcas podiam comandar a lealdade de seus súditos e melhorar as
condições existentes em seus reinos. Cf. DELHAYE, P. L’enseignement de la
philosophie morale au XIIe siècle. Medieval Studies, v. II, p. 77-99 (esp.
p. 95-6), 1949.
176
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
tisse uma comunidade política bem governada. A ciência do
governo das cidades, por dizer respeito à ordenação das relações entre seus habitantes, era chamada razão civil ou política, e constituía a garantia última da felicidade e bondade
humanas.83
A política, tornava-se claro, tinha passado a desfrutar
de um lugar fixo como tópico de discussão filosófica a partir
de inícios do século XII. As categorias aristotélicas, disseminadas até então no pensamento da época, e sobretudo a distinção entre as ciências, podiam ter sua influência avaliada
em textos como o Policraticus (1159), de João de Salisbury.84
Sem explicitar a divisão aristotélica entre as ciências, Salisbury sustentava que as questões políticas – este um dos pontos centrais de sua obra – deviam ser tratadas como um campo
separado de investigação, sem confundirem-se com matérias morais ou teológicas, mesmo que existisse uma interconexão entre elas.
83
84
Embora provavelmente não conhecesse o texto da Política de Aristóteles, Gundisalvi o mencionava: afirmava estarem contidas nele as bases
da “ciência civil” da qual estava tratando, fato que apenas ratifica a
suspeita de que tais textos de Aristóteles, apesar de não estarem disponíveis em traduções latinas, eram conhecidos nos meios intelectuais. E
que algumas de suas idéias básicas circulavam, direta ou indiretamente, desde os primórdios da Idade Média. Cf. GUNDISALVI, D. De divisione
philosophiae. Munique: L. Baur, 1903. p. 11-6 e p. 134-9.
João de Salisbury, um dos homens mais ilustrados de seu tempo, fazia
uso amplo de fontes antigas em seus textos. No Policraticus, reportou-se
mais aos textos clássicos do que às Escrituras e à Patrística para sustentar sua argumentação. Sua obra consistiu num tratado vasto e desconexo que forneceu material para uma variada gama de interpretações,
por vezes opostas. Luscombe e Evans assim avaliam seu livro mais
conhecido: “Pretende oferecer uma teoria do Estado e ser uma enciclopédia histórico-literária, assim como um trabalho didático de filosofia e
uma dissertação sobre a relação entre lei e natureza”. É na verdade um
trabalho sui generis numa época em que se faziam muitos experimentos com gêneros literários. Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 325-6.
177
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O Estado era caracterizado, em seu livro, como um fenômeno diretamente social, parte da ordem natural, e assim
como um organismo suscetível a disfunções, como a tirania.
Apesar de se encontrar, como homem político, em meio a
controvérsias significativas, como a que ocorreu entre o rei
inglês Henrique II e o arcebispo de Canterbury Thomas Becket,
João de Salisbury estava pouco envolvido em disputas objetivas e com os trabalhos dos contemporâneos sobre o governo e suas instituições: seu interesse imediato concentrava-se,
sobretudo no Policraticus, em assuntos como o comportamento pessoal e a moralidade nas cortes.85 O objetivo da
obra era fornecer um espelho para os governantes e seus
súditos que os auxiliasse na correção de imperfeições morais
por meio de instruções filosóficas e exemplos de justiça.
O problema da tirania ocupou boa parte de suas reflexões políticas. Por justificar o tiranicídio, João de Salisbury
tem sido apontado freqüentemente como o pensador que teria
ressuscitado os valores republicanos romanos.86 Vale lembrar
85
86
A pouca disposição de João de Salisbury de analisar as tarefas concretas de governo podia ser explicada pelo fato de que o Policraticus não
tencionava ser um tratado estritamente político, mas pretendia oferecer
um programa moral e político abrangente para guiar cortesãos e seus
governantes na direção de um conhecimento correto das letras, da filosofia e do direito, e evitar o erro, e principalmente o modo de vida, dos
epicuristas (cf. VIII: 25). Salisbury, comentam Evans & Luscombe, dirigia-se ao que era mais relevante no mundo angevino de governo, no
qual a vis et voluntas do governante (ou sua ira et malevolentia) eram os
fatores principais num sistema de domínio pessoal. Cf. LUSCOMBE & EVANS,
op. cit., p. 327.
Por recorrer tão extensamente a ensinamentos morais e políticos clássicos e à história, João de Salisbury tem sido apontado como o responsável
pela secularização do pensamento político medieval e pelo abandono da
teologia política tradicional. Em suas reflexões sobre o microcosmo e o
macrocosmo, e sobre a lei positiva e a lei natural, entretanto, ele ecoava
tanto os transmissores pagãos da filosofia platônica (Cícero, Sêneca etc.)
quanto o direito romano, duas grandes influências em seu pensamento.
178
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
que o direito de resistir ao tirano constituía, em seu pensamento, apenas um último recurso, pois, como ele mesmo sugeria, a justiça seria feita por Deus.87 Embora a figura do tirano
refletisse fatos contemporâneos, como as disputas entre papas e imperadores pela pretensão de supremacia dentro da
cristandade, João de Salisbury a utilizava mais como uma
espécie de figura literária e como contrapeso para pôr em relevo a figura do bom príncipe, este sim modelo de justiça.88
O termo política em sua linguagem era claramente utilizado para denotar a comunidade política secular, na qual
os indivíduos se associavam uns aos outros de acordo com
as leis humanas e as normas temporais. Era próprio daqueles que lidavam com os assuntos políticos, dizia ele, viver de
acordo com a lei.89 A política, para João de Salisbury, se
referia essencialmente à presença e manutenção dos laços
humanos na terra. Assuntos políticos, portanto, pertenciam
ao melhor e mais apropriado método para organizar instituições comunais, a ciência civil.
87
88
89
Depois de descrever muitos exemplos de tiranos clássicos, João de Salisbury concluía: “De todas estas fontes, tornar-se-á logo evidente que
adular tiranos tem sido com freqüência permitido, assim como enganálos, e que tem sido honroso matá-los se eles não podem ser contidos de
outro modo” (VIII:18). Nos capítulos seguintes, contudo, passa a descrever detalhadamente como Deus teria castigado muitos dos tiranos
que oprimiram seus povos, sem a necessidade da intervenção humana
(cf. VIII: 20,21,22). Cf. SALISBURY, J. Policraticus. Ed. e trad. Cary J.
Nederman. Cambridge: University Press, 1995. p. 203-16.
Cf. LUSCOMBE & EVANS, op. cit., p. 328-9.
“Por isso, Crisipo afirmou que a lei tem poder sobre todos os assuntos
divinos e humanos, razão pela qual ela preside todos os bens e todos os
males e é governante e guia das coisas assim também como dos homens. [...] É apropriado para todos os que habitam a comunidade dos
assuntos políticos viver de acordo com ela [a lei]. Todos estão, por esta
razão, sujeitos a impedimentos, pela necessidade de que se cumpram
as leis, a menos que alguém talvez imagine ter licença para fazer o mal”
(IV: 2). In: SALISBURY, op. cit., p. 30.
179
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Isso o levava ainda a constatar que a investigação política não constituía um monopólio da sociedade cristã. Aceitava
que a crença numa “justiça política” – que envolvia a correta
tarefa de distribuir responsabilidades e recompensas dentro
da comunidade civil, assim como assegurar que cada um agisse
para o bem do todo – não consistia num privilégio exclusivo
dos fiéis: era possível constituir-se como matéria de qualquer
povo, até dos pagãos, podendo existir independentemente do
contexto religioso. A política, em seu pensamento, já era portanto um empreendimento fundamentalmente secular (cf.
Policraticus, VII: 22). Essa idéia pode ser bem ilustrada na sua
adoção da famosa imagem do organismo, de Plutarco, simultaneamente para identificar e descrever a cooperação entre as
partes funcionais do corpo público.90 Uma metáfora que logo
faria escola no pensamento ocidental.
90
“Pois a república, tal como Plutarco a declara, é uma espécie de corpo
dotado de vida pelo dom da graça divina, dirigido pelo ditame da eqüidade suprema e governado por uma espécie de arranjo da razão. [...]
Assim, o lugar da cabeça na república é ocupado por um príncipe sujeito apenas a Deus e àqueles que agem em Seu lugar na terra, do mesmo
modo como no corpo humano a cabeça é estimulada e governada pela
alma. O lugar do coração é ocupado pelo senado, do qual procedem os
princípios dos atos bons e maus. As tarefas dos ouvidos, olhos e bocas
são reivindicadas pelos juízes e governadores de províncias. As mãos
correspondem aos oficiais e soldados. Aqueles que assistem o príncipe
de modo estável são comparáveis aos flancos. Tesoureiros e notários
(eu falo não daqueles que supervisionam prisioneiros, mas dos encarregados do erário real) se assemelham à forma do estômago e dos intestinos; estes, se acumulam com avidez desmesurada e retêm com excessivo
empenho o que acumularam, engendram enfermidades tão inumeráveis e incuráveis que a sua infecção ameaça destruir o corpo todo. Além
disso, os pés coincidem com os camponeses, eternamente pregados ao
solo. Para eles, é especialmente necessária a atenção da cabeça, já que
tropeçam mais freqüentemente em dificuldades enquanto caminham
sobre a terra em subserviência corporal; e àqueles que erguem, sustentam e movem para frente a massa do corpo inteiro é justamente devida
proteção e apoio. Retire do corpo mais saudável a ajuda dos pés, e ele
não poderá prosseguir por suas próprias forças, e sim tentará rastejar
vergonhosa, inútil e repugnantemente sobre suas mãos ou senão será
movido com o auxílio de bestas” (V: II). In: SALISBURY, op. cit., p. 66-7.
180
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
Para João de Salisbury, os bons governantes, fossem
leigos ou eclesiásticos, deviam – a fim de não se tornarem
tiranos – observar o que as leis determinavam e ter sempre o
objetivo de “proporcionar a todos os membros da comunidade os bens materias e espirituais” de que necessitassem. Salisbury afirmava ainda a independência dos dois poderes,
temporal e espiritual, nas suas esferas próprias de ação: por
serem distintos, um não devia interferir de modo algum na
competência do outro, e deviam respeitar os direitos e privilégios que cabiam a cada uma das instâncias, regnum e sacerdotium (cf. IV: 3; VI: 8,9).
O poder eclesiástico, contudo, gozaria de uma “autoridade e dignidade moralmente superiores ao poder temporal”
pelo fato de sua missão específica ser mais relevante. Por
esta razão, as leis editadas pelos potentados seculares deveriam estar em consonância não apenas com as disposições
divinas, mas também com as canônicas, na função de braço
armado da Igreja.91 O reino da política constituía, para Salisbury, o âmbito no qual se tomavam as decisões sobre o bem
da totalidade em relação às capacidades e necessidades de
suas partes. Mas – e isto importa aqui – seus argumentos e
categorias para a análise dos fatos políticos, e também para
a de outras esferas do conhecimento humano, partiam de
premissas já bastante “naturalizadas”, com alto grau de independência em relação a uma vontade divina.
Aristóteles foi assim, sem dúvida, uma influência primária na formação dos argumentos centrais da tradição
medieval da teoria política.92 Mas apenas a tradução de sua
Política – e isto foi o que se tentou demostrar até aqui por
91
92
Cf. SOUZA, J. A. C. R.; BARBOSA, João Morais. O reino de Deus e o reino dos
homens. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. p. 86-7.
A “descoberta” recente de que a política constituía uma categoria importante da análise filosófica durante o século XII, constata Nederman,
em parte desafia e em parte confirma as abordagens convencionais so181
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
meio da reconstrução de linhas gerais do pensamento político gerado ao longo do século XII – não pode ser vista como o
ato revolucionário que viria modificar a compreensão da época
sobre o assunto, ponto em que se concorda com Nederman,
Luscombe e Evans, Grant e outros.
Pelo contrário: quando, na metade do século XIII, Guilherme de Mörbeck traduziu o texto para o latim, as idéias de
Aristóteles não puseram em xeque as crenças comuns a respeito da vida pública, e sim mais reforçaram e elabororam a
concepção de política e seu estudo, que se tornou, a partir de
1260, matéria tradicional e incontroversa. Justamente por
não ter sido uma fonte de contendas insuperáveis, a Política
de Aristóteles, embora provocasse polêmica, pôde ser rapidamente assimilada e aplicada por autores medievais das
mais diversas correntes intelectuais e inclinações políticas,
como Tomás de Aquino, Egídio Romano ou Marsílio de Pádua,
entre muitos outros.
V O DESENVOLVIMENTO
DA BUROCRACIA E O SURGIMENTO DA
COMUNA
Outras transformações de peso ocorridas no século XII
– importantes para o desenvolvimento posterior tanto da teoria da soberania quanto dos nascentes Estados territoriais –
foram o incremento da rede de aparatos burocráticos na
Europa e o surgimento das Comunas. Esses elementos, reu-
bre teoria política medieval. Não se pode negar, diz ele, que a emergência da base conceitual e lingüística dos blocos constitutivos da teoria
política durante a Idade Média tenha um débito profundo com as fontes
aristotélicas. Mas, uma vez disseminadas e aceitas as premissas aristotélicas, sustenta Nederman, teve início o debate teórico sobre matérias
políticas puramente temporais, gerando alguns dos pilares filosóficos
para a idéia do Estado secular. Cf. NEDERMAN, op. cit., 1991, p. 193.
182
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
nidos aos demais já tratados, certamente concorreram para
a aceleração do processo de desagregação feudal no continente europeu, abrindo espaço para novas reivindicações
sociais e políticas.
A burocracia real de origem romana, vale lembrar, nunca desaparecera por completo na Inglaterra. Sua reintrodução
no século XII, portanto, ligava-se mais aos povos do continente, muito mais marcados pelas instituições do direito feudal. Essa burocracia agora em processo de expansão em toda
Europa era composta de um quadro regular de funcionários,
nomeados para executar tarefas administrativas específicas
e para levar a cabo os propósitos políticos no dia-a-dia dos
negócios públicos. Esse pessoal era livremente nomeado,
demissível e assalariado, além de não exercer outro cargo no
feudo e operar tanto local quanto nacionalmente.
Um escritório central, mais tarde denominado chancelaria, já existira na Inglaterra desde os tempos anglosaxônicos. Também os governantes normandos, que a partir
de 1066 passaram a ter seu órgão administrativo no território, deram continuidade a essa prática. No século XII a dimensão da chancelaria real inglesa, que dispunha, entre
outras coisas, de efêmeros mandatos judiciais em matéria
fiscal, judicial e outros negócios governamentais, já era bastante considerável: algo em torno de 48 escribas estavam
ligados à função sob o governo dos reis ingleses Henrique I e
Henrique II.93 Já na França essa burocracia era muito menos desenvolvida e só ganharia corpo com o reinado de Filipe
Augusto e Luís IX, no século XIII, os quais incentivaram a
formação de um quadro permanente de servidores.
Também no que se referia à administração central do
fisco, a situação inglesa era bem mais adiantada do que a do
resto do continente. O Tesouro, em Winchester, data com
93
Cf. VAN CAENEGEM, R. Government, law and society. In: BURNS, op. cit.,
1991, p. 189.
183
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
certeza de antes de 1066. Durante o reinado de Henrique I, o
“ministério das finanças” começara a funcionar como um
escritório de contabilidade central. A documentação tributária mais antiga são provavelmente os Pipe Rolls, os primeiros
documentos fiscais oficiais, datados de 1130.94 A administração local era bastante desenvolvida sobretudo em razão
da preservação, pelos reis normandos, da função do xerife,
oriunda dos anglo-saxônicos. Em Flandres, por exemplo, também havia representantes locais bastante independentes, os
castelães (castellani, burggraven), e também os notários,
oriundos da Germânia.
Na França, inicialmente figuraram entre os servidores
locais os prebostos (prèvôts) e também os bailios (baillis), representantes populares diretos da Coroa.95 A importância
crescente das funções ligadas à execução da justiça, ainda
mais acentuada no século XII, exigia um controle cada vez
mais centralizado das decisões, reduzindo o poder dos notáveis locais.96 O fortalecimento desse elemento monárquico
foi um fenômeno comum a várias terras, mas assumiu for-
94
95
96
Dados legais referentes às terras da Coroa e dos grandes proprietários
locais, leigos ou eclesiásticos, p. ex., já haviam sido reunidos décadas
antes no livro de cadastramento iniciado em 1086 por Guilherme I. A
reunião desses dados seria denominada, no século XII, Domesday Book.
O documento era composto de dois extensos volumes contendo não
apenas informações detalhadas a respeito das terras e seus proprietários, como também dados sobre o campesinato de cada condado e sobre os recursos naturais disponíveis à comunidade, como quantidade
de moinhos, áreas florestais e pesqueiras etc., além de outros itens de
interesse da Coroa. Para um aprofundamento do assunto, cf. FLEMING,
Robin. Domesday Book and the Law. Cambridge: University Press, 1998.
Para uma análise detalhada da situação francesa, cf. LEMARIGNIER, J.-F.
La France médiévale: instituitions et société. Ed. G. Duby. Paris: Librarie
Armand Colin, 1970.
O status das cortes locais inglesas foi sendo lentamente reduzido por
meio da possibilidade de transferência dos casos para cortes mais elevadas, em nível nacional.
184
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
mas muito diversas. O exemplo mais famoso é novamente o
caso inglês, em que uma rede de cortes reais com considerável competência em primeira instância fez nascer uma lei
nacional, comum a todo o reino, a Common Law, aplicada
nas cortes reais. A possibilidade de qualquer homem ou
mulher livre dar início a um processo na corte real – mesmo
contra algum personagem poderoso do cenário local – e obter
um julgamento investido da autoridade real significava, sem
dúvida, um considerável freio no poder dos lordes, criando
ainda uma ligação especial e direta entre o povo e o monarca.97
Também os reis locais passaram aos poucos a produzir
leis, em forma de ordenações, estatutos, decretos etc. Na confecção desses documentos era utilizada a linguagem e a terminologia imperial, oriunda do direito romano. Em decretos
de 1140 editados pelo tribunal superior de Ariano, por exemplo, para a defesa das posições do monarca siciliano, o tom
já era ditado com as seguintes palavras: “desejamos e ordenamos que recebais estas sanções fiel e ardorosamente”.98 O
rei proclamava sua vontade; os vassalos e outros súditos
deveriam cumpri-la. Nos primeiros estágios desse desenvolvimento, os assuntos mais freqüentes limitavam-se a matérias criminais, fiscais e feudais. O leque de abrangência só
seria ampliado mais tarde, com a consolidação das funções
reais.
A legislação constituía, assim, um elemento politicamente
importante para a afirmação da posição suprema do governante. Essa nova realidade era percebida de maneira cada vez
mais clara pelos vários poderes em disputa. Como a função
primeira do governante temporal consistia em garantir a paz e
a segurança de seus súditos, e para isso era preciso dispor de
97
98
Cf. VAN CAENEGEM, op. cit., p. 191.
CARAVALE, M. Il regno normano di Sicilia. Ius nostrum, Roma, Giuffrè,
v. 10, p. 96, 1966.
185
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
meios financeiros, matérias fiscais e criminais ocupavam lugar de destaque entre as leis do período.99 O exemplo, que se
tornava a cada dia mais freqüente, da produção de leis por
papas e pela cúria romana com certeza encorajava e servia
de inspiração às monarquias nascentes. E o pano de fundo
da nova produção legal era o direito imperial romano. O primeiro tratado sobre a Common Law, o de Glanvill, explicava
que o poder régio (regia potestas) precisava ser dotado de leis
assim como de armas.100 A noção da união entre força e direito como base da autoridade política já constituía, nesse
momento, uma realidade.
Outro ponto fundamental para o desenvolvimento político do Ocidente foi a emergência, no início do século XII, de
uma nova forma de associação humana, estranha à realidade feudal medieval. Tratava-se das cidades autônomas, as
Comunas, surgidas sobretudo no norte da Itália e na região
de Flandres, cuja expansão, entretanto, atingiria boa parte
do território europeu. No século XIII, as Comunas já haviam
se tornado uma realidade bastante visível e constituíam um
desafio à antiga ordem. Seu surgimento alteraria visivelmente as estruturas feudais vigentes e promoveria avanços bastante concretos, tanto no pensamento político medieval quanto
na nova configuração das cidades emergentes.
Sem dúvida, a disputa pela investidura um século antes e o início do movimento das Cruzadas – fatores que já
haviam colaborado para a aceleração do processo de desagregação do mundo feudal – influíram na afirmação desse
novo tipo de associação comunal que predominou na Europa entre os séculos XIII e XIV. Nesse período, as Comunas,
99
Outros dois aspectos legislativos relevantes eram a lei feudal, que garantia a proteção dos legítimos locatários e herdeiros, e as questões de
jurisdição.
100
Cf. VAN CAENEGEM, op. cit., p. 194.
186
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
cujo germe residia nas transformações econômicas ocorridas desde o século XI, pipocaram incessantemente em toda
a Europa. O incremento do comércio e, conseqüentemente,
das trocas monetárias, tinha recolocado a Europa nos antigos caminhos romanos e nos rios navegáveis (Itália e Flandres),
e tinha seu núcleo agora nas cidades, nas quais se concentravam os mercados e centros de trocas.
Em oposição ao campo, surgia nas comunidades citadinas uma camada de comerciantes e artesãos não mais sujeitos aos vínculos feudais e servis: “os ares da cidade”, dizia
um ditado popular da época, “tornavam as pessoas livres”. A
evolução urbana levou os citadinos a criar associações de
caráter corporativo, de modo a assegurar melhor seus interesses e realizar com maior segurança suas atividades. Esse
processo era completamente novo – não havia similares nem
na tradição germânica nem na romana – e assumia formas
extremamente variadas.101 Em algumas zonas, a separação
entre campo e cidade foi mais acentuada do que em outras
(por exemplo, na Inglaterra, França e Itália).
Uma característica comum a essas Comunas era o fato
de constituírem uma coniuratio,102 isto é, uma associação
privada que, por meio de um pacto interno, vinculava todos
os membros da Comuna, e tinha caráter voluntário: só obrigava os que aderiam a ela espontaneamente. No início, essa
estrutura não chegava a coincidir com o ordenamento jurídico da cidade, o que evitava choques diretos com a organiza101
De forma geral, contudo, podiam-se distinguir três tipos de Comunas:
1) a Comuna urbana, que se desenvolvia à sombra do poder dos bispos;
2) a Comuna do condado, que derivava do castelo feudal; e 3) a Comuna
rural: associação de pequenos agricultores livres que passavam a se
opor aos grandes proprietários e liberavam-se dos vínculos econômicos
e jurídicos que os ligavam aos senhores feudais. Cf. SAITTA, op. cit.,
p. 142-3.
102
Literalmente, uma “reunião de conjurados”, de pessoas que juraram
conjuntamente.
187
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ção pública feudal, episcopal ou imperial. A corporação
comunal, porém, rapidamente se expandiria a ponto de coincidir com a própria civitas. A cidade-república, inicialmente
dominada pela aristocracia urbana, passaria, ao longo do
século XIII, a ser governada por funcionários estrangeiros, os
podestà.
No século XII, ocorreram desenvolvimentos econômicos e mercantis excepcionais. O crescimento das redes de
mercadores, dos pequenos proprietários e artesãos superou,
no período, a renda gerada pela antiga nobreza feudal. O
poder das cidades passava agora a ser assegurado também
pelas recém-criadas “corporações” ou “artes” que, por meio
de associações econômico-profissionais, garantiam os direitos de seus membros no mercado. Essas organizações terminaram por regular toda a produção manufatureira e industrial. Essa nova camada empreendedora logo se chocaria com
as associações da nobreza, que detinham o controle da justiça local. A solução encontrada para evitar a disputa de facções foi entregar as funções judicias e a administração das
cidades aos podestà, magistrados que vinham de terras estrangeiras e eram nomeados anualmente.103
Paralelamente ao desenvolvimento das Comunas, começaram a emergir, no fim do século XII, os novos Estados
mediterrâneos, militar e comercialmente em franco alargamento: vivia-se a agonia do milenar Império Bizantino e a
expansão do Ocidente. Em 1204, Constantinopla era conquistada pelos guerreiros da Quarta Cruzada. A ajuda das
“repúblicas marítimas” italianas na defesa de Bizâncio enfraquecera ainda mais a posição bizantina: o Oriente fora obrigado a criar condições cada vez mais favoráveis para Veneza,
em prejuízo próprio. Era o fim das gloriosas Cruzadas, que
haviam se convertido em instrumentos de conquistas políti103
Cf. SAITTA, op. cit., p. 146.
188
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
cas –104 objetivo oposto à intenção religiosa que as tinha inspirado.
Com o início do século XIII, tinha lugar no território
europeu uma lenta transformação do mundo feudal e de sua
expressão política. Os vassalos e as cidades autônomas podiam ser utilizados tanto para colaborar com os príncipes
quanto para resistir a eles. Por isso, os domínios mais sólidos tendiam a ser não os mais vastos, e sim aqueles com
maior equilíbrio entre o governo central e os diferentes poderes locais. “No mundo europeu”, escreve Saitta, “em lugar da
unidade [da cristandade] buscada em vão, vinha se formando uma pluralidade de organismos políticos e sociais”:
Comunas, senhorios, principados, grandes unidades nacionais. “Essa pluralidade ocupa lugar proeminente na história
européia, e substitui as duas forças universais que, além do
mais, estiveram sempre muito longe da dominação exclusiva.”105
Juristas civilistas e canonistas procuravam mais uma
moldura teórica na qual encaixar essas comunidades citadinas do que uma explicação para sua emergência. Isso levou
as primeiras gerações de juristas do norte da Itália a defender, muitas vezes até contra os seus interesses, a causa do
imperador dos Staufen contra as reivindicações citadinas e
pontifícias.106 Pois, na tradição do direito imperial romano, a
104
A última Cruzada (a Oitava, de 1270) teve como protagonistas o imperador Frederico II e o rei Luís IX, da França: tornara-se claro que o governante podia servir-se agora de novos recursos oferecidos pelo progresso
econômico e cultural, tanto para fazer prosperar a paz dentro de seu
próprio reino quanto para saciar sua sede de conquistas.
105
SAITTA, op. cit., p. 156 – grifos meus.
106
O poder imperial se via ameaçado diante do florescimento das Comunas,
sobretudo na Itália. Frederico I, o Barba-Ruiva, foi o primeiro a lançar
mão das armas para impor seu domínio sobre as cidades-repúblicas
italianas. Depois de longas batalhas, firmou-se em 1183 a Paz de
189
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
civitas era apenas uma unidade administrativa integrada ao
regnum, com direitos comunais próprios pouco definidos.
Do ponto de vista de sua organização política, a cidade
desenvolveu, na forma da Comuna, um princípio de oposição a formas de dominação hierarquicamente estruturadas
da sociedade feudal: sua organização saía grandemente do
âmbito do feudo. Por outro lado, mesmo as formas constitucionais citadinas mais independentes – isto é, aquelas mais
privilegiadas, como as formadas pela Liga Lombarda do norte da Itália ou as cidades livres alemãs – reconheciam a supremacia do imperador e delegavam poderes ao regnum. Essa
articulação política fazia com que as cidades fossem vistas
pelos contemporâneos como partes integrantes do poder
monárquico imperial. Na Escola de Bolonha, o Corpus Iuris
Civilis, de Justiniano, o direito imperial por excelência, fornecia matéria-prima sobretudo para a solução de conflitos
no âmbito do direito privado.
Nos primeiros contatos com a restauração do império,
promovida sobretudo por Frederico I, já havia ficado claro
que o direito romano, na qualidade de direito imperial, devia
ser tomado como base para tratar o problema da legitimidade da dominação. Os letrados em direito do norte da Itália
tiveram um papel importante, por exemplo, na Reunião de
Notáveis (Reichstag) de Roncaglia, em 1158. Nela, a causa
imediata do imperador, a nova regulamentação dos direitos
do regnum sobre o norte da Itália – que nesse meio tempo
tinha-se transformado quase totalmente num mundo de
Comunas citadinas – ganhou fundamento legal. Entre os temas relevantes decididos no encontro estavam: a outorga à
Comuna de poderes de jurisdição do imperador e o conseConstança, segundo a qual as Comunas se submetiam por juramento
ao poder do imperador e à investidura dos cônsules pelo império, mas
mantinham reconhecidos (e em vigor) seus direitos régios já conquistados.
190
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
qüente recebimento da investidura de todos os portadores de
cargo nas cidades; e o poder de jurisdição e banimento pelo
imperador.
Com isso, o poder político das Comunas, baseado no
juramento da corporação dos burgueses, isto é, dos habitantes do burgo, foi integrado ao âmbito de dominação da realeza e depois reunido em formas de direito feudal: os detentores
de cargos públicos citadinos, denominados com a noção legal romana magistratus, recebiam o privilégio da execução
da justiça e do banimento diretamente do imperador. Na
qualidade de portadores do poder judicial, eram chamados
de iudices: sob este termo – com exceção dos portadores de
cargos tradicionais da alta nobreza, o conde e o visconde –
podiam ser compreendidos, entre outros, os cônsules citadinos eleitos e os podestà investidos. O imperador proclamava
assim o monopólio da distribuição de todo poder do cargo,107
conferindo um sentido prático à velha máxima romana: Omnis
potestas a principe.
Essa subordinação constitucional da Comuna ao regnum só seria alterada no decorrer de um processo longo e
demorado. Em Bolonha, por exemplo, a situação mudou apenas depois de os doutores em direito terem sido incluídos,
sobretudo como conselheiros, na vida constitucional das
Comunas citadinas. A partir daí, teve início uma tendência à
valorização do direito costumeiro, que logo se sedimentaria
também na jurisdição da cidade, o Estatuto. Contra os velhos juristas, favoráveis ao imperador, erguia-se uma nova
crítica. Mesmo o acordo que selara a paz, duramente conquistada, entre a Liga Lombarda e o imperador, em Constança
(1183), já havia sido objeto de discussão política. No documento, as civitates tinham sido reconhecidas como portadoras de direito.
107
Cf. DILCHER, Gerhard. Comuna e cidadania como idéia política na cidade
medieval. In: FETSCHER & MÜNKLER, op. cit., p. 331.
191
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O direito costumeiro (consuetudo) lhes fora concedido
como base para o exercício do direito supremo sobre o território (regalia), e com isso também a eleição dos cônsules. O
privilégio de investir no cargo, porém, ainda tinha de ocorrer
por meio do imperador, ao qual se prestava também o juramento de fidelidade. Todos os juramentos continham a promessa de lealdade ao poder do princeps, que, seguindo a
concepção medieval, não era ilimitado, e sim baseava-se no
direito e no costume e incluía o direito de resistência. Foi
justamente a esse direito que as cidades lombardas apelaram nas lutas contra o exercício “tirânico” do poder pelos
Staufen.108
A antiga constituição municipal romana sobrevivera
apenas em poucas passagens da coletânea do Corpus Iuris
Civilis. Mas o pensamento escolástico agora fornecia uma
saída que tendia a dominar a jurisprudência: buscava-se uma
retomada de conceitos genéricos (universalia), por meio dos
quais se tornava possível uma harmonização entre textos
conflitantes e sua aplicação prática. A noção de universitas109
como expressão da unidade humana – idéia pouco desenvolvida no direito romano e recuperada agora pelos canonistas
– era tida como adequada para todas as formações corporativas, desde a universitas da cristandade até as das guildas e
corporações de ofício, passando ainda pela universitas
magistrorum et scolarium.
108
O conflito entre Frederico I e as cidades lombardas teve especial importância no desenvolvimento da jurisprudência civilista, pois os respectivos documentos legais, das Leis de Roncaglia até a Paz de Constança,
foram anexados como leis imperiais ao Corpus Iuris Civilis. Com isso,
continuaram presentes no trabalho da glosa jurídica, nos comentários
e na formação conceitual e teórica ao longo de toda Idade Média.
109
Na acepção básica, “universalidade” ou “totalidade”. Vocábulo formado
de “unus” + “versus” (part. pass. de “verto”), contendo a idéia de converter, transformar em todo, em algo uno.
192
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
Assim, a civitas podia também ser concebida como universitas, já que o seu nome apontava para a totalidade dos
cidadãos (cives). A cidade concreta, como local murado, diferentemente, era designada com a antiga palavra romana urbs.
O desenvolvimento legal do conceito de universitas na jurisprudência acabaria assim ultrapassando em muito as reflexões iniciais do direito romano e passaria a servir também
para as estruturas corporativas da sociedade medieval, em
especial à realidade da Comuna citadina. Entre os séculos
XII e XIV, os glosadores,110 sobretudo os civilistas, haviam
produzido inúmeros tratados sobre a posição da universitas
no processo jurídico e sua responsabilidade penal nos diversos âmbitos legais. O problema de quem podia agir em nome
da universitas – aqui então a cidade – e da maneira de agir de
quem tinha domínio sobre ela não tardou a ser levantado.
Isto é, passava a fazer parte do debate o problema da
representação jurídica do governo da cidade e sua legitimidade. Aos glosadores parecia óbvio que o seu representante
devia ser, ao mesmo tempo, a cabeça – rector (condutor) ou
praeses (o que preside, presidente) – da universitas. E, como
tal, teria também competências no âmbito do direito público.
Para os canonistas, o princípio era transmissível de forma
simples para as agremiações espirituais. Do mesmo modo,
valia para as universidades que estavam surgindo como
uniões de estudantes e docentes. Questões antes laterais,
como a representação estamental em corporações representativas, tornavam-se agora relevantes.
Um pouco mais tarde, emergiria ainda o problema da
formação da vontade dessa universitas, vinculada pelos canonistas à voluntas da maioria. A elaboração do problema
110
Juristas que se ocupavam das glosas, curtas explicações de trechos
importantes do direito romano. Em 1224, essas glosas foram compiladas por Acursius sob o nome de Glossa ordinaria, e ainda no século XVI
eram divulgadas em textos impressos.
193
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
impunha a delimitação do âmbito corporativo comunal ante
a totalidade das relações jurídicas de cada um de seus membros. Mais uma vez, o problema da circunscrição dos âmbitos público e privado era levantado, agora a partir da Comuna.
Questões fundamentais do Estado constitucional moderno,
como a formação de uma vontade política com a participação
dos cidadãos e a proteção jurídica de cada um contra o poder
político assim formado, recorda Dilcher, eram tematizadas
nesse momento em seu cerne.111
O trabalho dos legistas e canonistas contribuiu para
que características centrais das diversas corporações fossem
elaboradas e reconhecidas em muitos aspectos como sendo
do mesmo gênero. Isso valia para aproximações como a que
ocorreu entre a noção romana de universitas e as cognatas
societas e collegium. Não havia também diferenças importantes entre os termos communitas e commune, utilizados para
designar a Comuna citadina, e a palavra corpus, freqüentemente usada pelos canonistas. A associação desses elementos permitia afirmar o surgimento de uma doutrina corporativa
e pensar uma doutrina estatal medieval geral, que mostrava
o caminho à concepção dogmática da pessoa jurídica do século XIX.
Esse trabalho de elaboração conceitual manifestou-se
na teoria política em documentos legais de direito urbano,
nos quais populus, reunião do povo, Comuna e cidade eram
entendidas como relações paralelas e cambiantes, além de
ligarem-se a uma teoria do bem-estar comum, dentro da qual
111
No âmbito da conceituação jurídica, porém, surgiam limitações complexas: como explicar uma maioria constituída de pessoas, mas que
aparecia como uma pluralidade de seres isolados (universitas ut universi)?
E onde deveria ser projetada uma unidade colocada sobre a pluralidade, numa corporação ou pessoa jurídica? Pois apenas esses passos possibilitariam o reconhecimento do princípio da maioria. Um caminho se
esboçava: a população das cidades já era tratada pelos glosadores quase como uma ficção jurídica. Cf. DILCHER, op. cit., p. 334.
194
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
podiam ser encontradas expressões como “communis status
civitas”. Esse desenvolvimento de uma “teoria da corporação”
para além da concepção inicialmente predominantemente do
âmbito do direito privado acelerava-se à medida que os juristas de ambos os lados se posicionavam acerca de questões
de legitimidade e de poder de jurisdição.112
A idéia de governo que nascia do poder supremo, apontada especialmente em relação ao rei da França, mas que
não excluía o exemplo das Comunas, voltava as atenções
para a legitimidade de uma dominação autônoma que desviava do direito romano. Esta caminhava paralelamente à maior
integração de noções antigas como populus, res publica, regnum etc., à semântica jurídica e política. Da leitura aristotélica do século XIII seriam retiradas ainda as idéias de politia
e civitas (no sentido de cidadania). Tais conceitos foram incorporados à reflexão dos juristas acerca da fundamentação
do poder jurisdicional. A lex regia romana reaparecia para
definir o direito e sua transposição ao princeps, freqüentemente associado ao rex.
Nas comunidades citadinas, afirmava-se tanto a primazia do direito costumeiro quanto do direito estatutário
comunal frente ao direito imperial. Ao mesmo tempo, ficava
claro que nem a doutrina aristotélica da polis nem a concepção romana do Estado imperial aplicavam-se totalmente aos
cenários medievais: era preciso desenvolver noções que melhor se aplicassem à realidade. A hierarquia da organização
social ampliava-se em relação a Aristóteles: para além do
nível doméstico e do da aldeia, que antecediam a polis, distinguia-se agora no medievo entre cidades pequenas
(municipium), a cidade maior (civitas), o reino mais extenso
(regnum, provincia) e o império (Imperium Romanum).
112
Ibid., p. 336.
195
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A designação res publica, que inicialmente coubera
apenas à cidade de Roma e ao Império Romano, referia-se
agora a todas as corporações citadas. E, por dizerem respeito
ao comum, podiam deter também, em diferentes graus, direitos de jurisdição e de legislação autônomos.113 Criava-se
assim um instrumental jurídico capaz de fazer a ponte entre
a semântica do rex da antigüidade romana e as estruturas
de dominação de fato das novas unidades de poder emergentes. O discurso teórico, entretanto, mantinha-se dentro dos
limites da escolástica, referindo-se a todo o espectro conceitual
da universitas. Isto é, à totalidade da Ecclesia e do regnum
sobre as cidades e sobre as corporações e irmandades de
todo tipo.
Os autores do período, geralmente engajados nos conflitos de poder, oscilavam entre favorecer a incorporação dessas novas entidades num ordenamento de dominação
hierarquizado e fundamentá-las num direito autônomo. Nesse
movimento estavam sendo gestadas duas noções que teriam
como base o segundo caminho: a idéia de soberania e o conceito de Estado moderno. Mas esse desenvolvimento ocorria,
curiosamente, a partir de um refinamento conceitual da primeira posição, na forma da doutrina de poder hierocrática,
que se tornava a cada dia mais concreta dentro da Eclesia.
Esse passo seria dado somente no fim do século XIII, início
do XIV, quando a sistematização filosófica dos novos elementos e idéias surgidos nos séculos XI e XII ganharia forma
moderna e mais adequada à realidade do fim do medievo.
Em virtude dos desenvolvimentos ocorridos até então,
já havia sinais evidentes, no fim do século XII, do declínio
113
Isso valia de forma irrestrita para a cidade (civitas superiorem non
recognoscens); de forma mais delimitada, devido à transposição do direito costumeiro, para a Comuna da cidade (civitas); e com restrições
ainda maiores para uma pequena cidade necessariamente dependente
(municipium).
196
CAP. 2 - O LONGO SÉCULO XII
feudal. Em toda parte, formas modernas de organização política estavam brotando e os velhos arranjos feudais tornavam-se cada vez mais irrelevantes. Os novos reinos emergentes eram baseados menos em laços pessoais que sujeitavam
os líderes locais ao governante do que na lealdade dos súditos à Coroa. Esta seria mencionada provavelmente pela primeira vez de maneira abstrata numa carta real. Nela o rei
Luís VII, que partira para a Segunda Cruzada (1147), lembrava aos súditos que deviam lealdade à “Coroa”, mesmo na
ausência do rei.114
Os cavaleiros, guerreiros detentores de feudos, e a base
social do feudalismo, estavam perdendo rapidamente sua
importância. Os monarcas haviam encontrado uma forma
mais adequada, e menos onerosa, para a defesa dos interesses do reino: passaram a empregar mercenários, recriaram
as antigas forças camponesas não-profissionais e fomentaram a formação de milícias urbanas. O que restou depois do
feudalismo ter sido destituído de seu significado institucional e militar foi uma forma particular de posse da terra, essencialmente não muito diferente da propriedade, mas regulada por leis de herança peculiares, como a primogenitura.
Nesse contexto, novas formas de organização social, muito
mais sofisticadas e complexas, tomavam corpo. E com elas
novos sistemas de poder, entre os quais um fadado a se expandir, sob diferentes formas constitucionais, por toda Europa: o Estado territorial moderno.
114
A afirmação aparece numa carta real de 1147, escrita por Suger, o poderoso abade de Saint-Denis, que foi regente durante a ausência do rei.
Cf. VAN CAENEGEM, op. cit., p. 206-7; cf. tb. LOYN, op. cit., p. 339.
197
CAPÍTULO 3
A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
I O SÉCULO XIII E O DECLÍNIO DO FEUDALISMO
O século XIII pode ser considerado o período no qual o
incremento da prosperidade econômica na Europa medieval
atingiu seu auge. A diminuição da fome não se deu apenas
pelo desenvolvimento do comércio de grãos, mas deveu-se
também ao aumento das superfícies cultivadas e da produção. A colonização germânica em direção ao leste viveu seu
apogeu entre 1210-20 e 1300. O crescimento dos lucros acompanhava o aumento das terras cultivadas. Ao mesmo tempo,
ocorria uma especialização dos cultivos em determinadas
regiões. O progresso técnico era acompanhado de um novo
incremento nas práticas agrícolas. Nesse período, surgiram
na Inglaterra e na França os primeiros tratados especializados
de economia agrícola do medievo.1
Em termos de desenvolvimento industrial, o setor têxtil, sobretudo o de tecidos de valor, crescia e se transformava
com o surgimento de novas técnicas e invenções (tear horizontal com pedais, torno de fiar). O crescimento dessa indústria têxtil foi lento e avançou mais no noroeste da Europa,
1
Essa expansão econômica foi acompanhada de um avanço do equipamento técnico: passava-se a utilizar agora a força hidráulica na lavoura. Vários instrumentos, como o “carnet” (espécie de carretilha utilizada
na construção) e o “gato” (máquina para elevar fardos) foram aperfeiçoados. A pedra substituiu as antigas construções de madeira e o ferro
passou a ser utilizado em larga escala na Europa. Também foram aperfeiçoadas as técnicas de extração de sal. Acentuava-se ainda a produção de artigos de luxo e de produtos de alta qualidade. Cf. LE GOFF, op.
cit., p. 177.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
especialmente em Flandres e na Itália setentrional e central.
“Em 1297”, contabiliza Le Goff, “segundo uma petição do
Parlamento a Eduardo I, as rendas obtidas de lá [noroeste da
Europa] pelos ingleses eram equivalentes à metade de toda a
terra; e segundo outra avaliação o valor da lã inglesa exportada equivalia às rendas anuais de 100.000 camponeses”.2
Também a indústria da seda floresceu no território europeu,
trazida inicialmente por gregos que se instalaram em Palermo.
O uso do papel, aprendido dos muçulmanos da Espanha
e da Sicília no século XII, propagou-se pela Europa ao longo
do século XIII. O comércio terrestre conhecia seu ápice com o
surgimento de novos meios de transporte e sobretudo de novas
rotas e caminhos. O comércio marítimo também se ampliava
com o uso da bússola e dos timões. Surgiam os primeiros
mapas marinhos europeus. O tamanho das embarcações
também aumentara para que as cargas transportadas pudessem ser incrementadas. A legislação comercial acompanhava esses progressos da navegação, concretizando-se em
dois códigos usados em Veneza em meados do século XIII: o
de Jacepo Tiepolo, de 1235; e o de Raniero de Zeno, de 1255.
Também nos grandes centros comerciais urbanos começava a ser esboçada uma legislação comercial que pouco
a pouco se tornava oficial.3 As feiras foram dotadas de regras
extremamente sofisticadas que regulavam as relações de troca dos mercadores e lhes asseguravam a estada no local. O
grande fenômeno econômico do século XIII talvez tenha sido
o retrocesso da economia em espécie ante a economia monetária, evidenciada pelo aparecimento da figura do mercador.
O crescimento da massa monetária em circulação na cristandade podia ser comprovado pelo incremento da atividade
2
3
Ibid., p. 182.
“Durante todo o século XIII”, escreve Le Goff, “pode-se encontrar em
todos os campos essa característica da preocupação com a institucionalização, com a regulamentação e a ordem”. Ibid., p. 188.
202
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
mineradora. A penetração dessa economia monetária no campo era visível no aumento das dívidas que os camponeses
passaram a contrair.4 Também as rendas senhoriais em produto eram agora cobradas em dinheiro.
O endividamento se dava tanto por empréstimos feitos
por citadinos quanto pela pressão dos senhores, que tendiam
a se converter cada vez mais em rentistas do solo. Aos poucos
o dinheiro disponível tornou-se insuficiente para cumprir os
contratos baseados em quantidades e valores mais elevados.
Introduziu-se nessa época o “gros de prata”. Por volta de 1252,
reaparecia em Gênova e Florença o “florim” de ouro; na França, o “escudo” de ouro (1269); e em Veneza o “ducado” (1284).
O “dinar” muçulmano entrava nesse momento em crise e já
não seria mais por muito tempo a moeda geral da cristandade.
Na maior parte dos territórios cristãos, tanto nos Estados
monárquicos quanto nas comunidades urbanas, o poder público se consolidava à custa do poder senhorial da aristocracia
que começava a perder prestígio e fortuna.5
A partir de meados do século XIII, o endividamento e a
alienação de bens e de terras aumentaram e tornaram-se
especialmente problemático, sobretudo para a pequena no4
5
Na maior parte da Europa, essas novidades produziram um incremento
progressivo e generalizado do endividamento dos camponeses, pois estes não conseguiam pagar todos os tributos devidos nem honrar os
compromissos assumidos com as parcerias. Internamente, o
campesinato se diferenciava produzindo uma camada de camponeses
enriquecidos e bem-sucedidos (os “kulaks”) e, por oposição, uma categoria de servos pobres dominados pela proteção desses proprietários
mais afortunados. Cf. LE GOFF, op. cit., p. 203.
Lentamente, a aristocracia tanto da grande quanto da pequena nobreza
cavaleiresca empobrecia. Com o progresso da economia monetária, os
custos cada vez maiores dos armamentos e da vida cavaleiresca, dos
produtos de luxo que invadiam as feiras e mercados e os gastos com a
construção de castelos e fortalezas de pedra, além dos gastos excepcionais com as Cruzadas, acabaram por empobrecer tanto nobres quanto
cavaleiros.
203
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
breza, que passou a vender paulatinamente a sua herança.
A aristocracia militar e latifundiária conseguiu manter e até
melhorar sua posição à custa dos senhores mais fracos que
empobreciam. Tendiam, porém, a fechar-se como camada
social, de modo a assegurar jurídica, política e economicamente o resto de seu poderio. A nobreza de fato tornava-se
agora a nobreza de direito, isto é, uma nobreza de sangue
que se afirmava em marcas hereditárias: os brasões. Também a nomeação dos cavaleiros ficava menos acessível: só
poderia tornar-se um gentil-homem aquele cujo pai já tivesse sido cavaleiro: a sociedade feudal estratificava-se segundo
novas condições e regras.
O encerramento da nobreza nessa “casta” e a alta taxa
de mortalidade conduziam à extinção ainda mais rápida de
linhagens. Colocar os herdeiros em maior número possível
dentro da Igreja para evitar a repartição do patrimônio passou a ser uma prática corrente. Ao defender a proibição da
“degradação”, do exercício de uma atividade lucrativa, contudo, a nobreza preparava a sua extinção econômica. Ainda
por cima, essa nobreza era impedida pelos burgueses urbanos corporados de exercer alguma arte mecânica ou o comércio. A manutenção de seu status isolava assim a nobreza
das transformações econômicas. Em fins do século XIII, essa
aristocracia voltaria a abrir-se, admitindo em suas casas e
famílias burgueses enriquecidos.
O auge urbano no século XIII foi impelido também por
uma onda demográfica ascendente. A população européia,
entre 1200 e 1300, passou de 61 milhões para 73 milhões de
habitantes. A aceleração demográfica quase dobrou em França, Alemanha e Inglaterra. Ao mesmo tempo que contribuía
para o crescimento das cidades, já que o campo estava saturado, esse aumento demográfico gerava também, pelo incremento da demanda, uma elevação dos preços dos produtos
agrícolas, encarecendo ainda mais o custo de vida da popu204
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
lação. A espinha dorsal da sociedade urbana, no século XIII,
era constituída pela emergente burguesia das corporações
citadinas.6
Também o clima intelectual se transformava: a lei romana e os desenvolvimentos de filosofia natural forneciam
instrumentos novos para a análise social e para uma nova
abordagem política. Cada vez mais, a comunidade política
era a res publica, e o princeps, seu primeiro magistrado. A
emergência desses poderes urbanos alterava a realidade social, reduzindo a importância relativa da nobreza rural e da
cavalaria. A sociedade européia passava a ser formada não
apenas por cavaleiros e camponeses, mas também por uma
rica e bem-educada burguesia e por uma burocracia pequena, mas em franca expansão.
A abundância de dinheiro e o incremento das taxações
mostravam que a concessão da terra estava se tornando obsoleta como técnica de gratificação de soldados. Mercenários
eram mais fáceis de tratar, de recrutar e de demitir. E, se
essa forma de recrutamento parecia ser um rebaixamento
para os cavaleiros associados às formas mais tradicionais, o
feudo mercantil oferecia a solução perfeita: o vassalo recebia
agora, em vez de um feudo de terra, uma remuneração regular. O feudo não era alienável nem era mais hereditário, o
que garantia aos reis uma margem ampla de flexibilidade e
6
Um pequeno número de famílias urbanas formava agora o “patriciado
local”, controlando as principais fontes de poder social e político. Esse
“patriciado” era formado basicamente de três grupos: os mercadores, os
ministeriais e os proprietários de terras livres. Esses patrícios formariam agora as assembléias políticas que governariam as cidades. “Os
abusos desta camada de mercadores ricos donos das cidades eram tais
que justificavam, como em França por exemplo, a intromissão do poder
real nas finanças urbanas, finanças estas que eles saqueavam e arruinavam, curvando com impostos e taxações o povo baixo”. In: LE GOFF,
op. cit., p. 208.
205
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
assegurava a dependência do locatário, já que tirá-lo das terras e cortar seu pagamento tinha se tornado mais fácil.7
A emergência dos Estados modernos eliminaria boa
parte das normas e valores feudais. Mesmo assim, em nossas modernas instituições políticas sobreviveria ao menos
um elemento que remontava diretamente a essas origens feudais: a noção de que a relação entre governantes e cidadãos
se baseava no contrato mútuo, o que significava terem os
governos direitos e deveres, e ser legítima a resistência
aos governantes ilícitos que quebrassem esse contrato. O rei,
fosse majestoso ou ungido, era também um senhor feudal
que tinha relações contratuais com seus homens e, por extensão, com a nação. Mas até que se chegasse no Estado
territorial moderno, algumas transformações políticas fundamentais ainda teriam lugar, a principal delas a disputa
pelo poder último de fazer cumprir a justiça, isto é, nos termos dos medievais, pelo “vicariato de Cristo” na terra.
II A CONSTRUÇÃO DA
TEORIA HIEROCRÁTICA DO PODER
Do ponto de vista do desenvolvimento das idéias políticas, o século XIII marcava a consolidação da tendência, existente na Ecclesia desde a reforma gregoriana, ao fortalecimento
do poder papal, que agora passaria a reivindicar, com mais ou
menos coerência, a supremacia e o controle das duas espadas: a espiritual e a temporal. O pontífice reclamaria a jurisdição de facto e de iure sobre a comunidade cristã. A afirmação
desse pensamento hierocrático – que culminaria um século
depois na defesa de uma espécie de “monarquia papal absoluta” por Egídio Romano – deu-se de forma gradual e nem sem7
Cf. VAN CAENEGEM, op. cit., p. 208.
206
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
pre clara. Na tentativa de se impor ao regnum, cuja figura
máxima era o imperador, a Igreja selava alianças com reis e
poderosos locais e, com isso, os fortalecia indiretamente.
Mas o fato realmente importante era o de que, nessa
disputa, a Ecclesia, ao tentar legitimar política e juridicamente essa aspiração de se constituir como um poder supremo, capaz de regular toda a cristandade, acabou refinando o
aparato conceitual disponível. Ao procurar definir em bases
legais a figura e a função de seu representante maior, o sumo
pontífice, a corporação religiosa criou preceitos jurídicos e
políticos que consolidaram a idéia da soberania – noção que
seria rapidamente apropriada por um novo conjunto de interesses e pretensões que entravam em cena, o dos Estados
territorias nascentes. Antes que esse movimento se tornasse
realidade, contudo, as disputas entre regnum e sacerdotium
pela pretensão de supremacia ganhariam ainda alguns acréscimos teóricos e práticos, como se verá a seguir.
A eleição do cardeal Lotário de Segni para o papado,
em 1198, marcaria um novo avanço nas pretensões hierocráticas da Ecclesia. Sob o nome de Inocêncio III (1198-216),
o novo pontífice, aluno brilhante e discípulo de Hugucião em
Bolonha, assumiu o posto em meio à contenda – até então
não completamente resolvida – com o império, chefiado pelo
filho de Frederico I, o Barba-Ruiva, o príncipe herdeiro Henrique VI. Embora a morte prematura de Henrique tivesse proporcionado um período de trégua entre os dois poderes,
Inocêncio III empenhava-se em fundamentar melhor as pretensões pontifícias. Concentrou esforços na tentativa de mostrar a superioridade do poder sacerdotal sobre o imperial,
afirmação contestada por muitos poderosos, entre eles o imperador bizantino Aleixo III (1195-203).8
8
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 105. O livro oferece, no terceiro capítulo,
“Hierocracia e teocracia no século XIII”, um excelente resumo dos acontecimentos e dos desenvolvimentos hierocráticos no período.
207
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Numa decretal – Solitae – dirigida ao imperador, Inocêncio III fizera uma defesa cuidadosa da primazia do sacerdócio sobre os poderes temporais e obtivera, em resposta, a
contestação do governante grego. Aleixo III apoiava-se – para
fundamentar sua tese da primazia da esfera temporal sobre
a espiritual – na “1ª epístola de São Pedro”, que conclamava
todos os fiéis a se submeter às autoridades constituídas, uma
vez que elas existiam para castigar os maus e recompensar
os bons, segundo a vontade do Senhor.9
Em resposta a Aleixo, Inocêncio III argumentou que,
mesmo tendo os reis mandado nos sacerdotes, como conta o
Antigo Testamento, agora era diferente. Pois, na época do
Novo Testamento, o Cristo, Sumo Sacerdote da Nova Aliança, que redimiu os homens por meio de sua paixão e morte,
teria deixado na terra um vigário – Pedro e seus sucessores –
para prosseguir a tarefa que havia começado.10 O sacerdotium teria assim, segundo a decretal pontifícia, a função de
salvar as almas, “bem mais relevante, pela sua finalidade e
transcendência, do que a desempenhada pelo poder régio;
9
10
“Sede submissos a qualquer instituição humana por causa do Senhor:
quer ao rei, porque é o soberano, quer aos governadores, delegados por
ele para punir os malfeitores e louvar as pessoas de bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, façais calar a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, sem usar da liberdade como
véu para vossa maldade, mas procedendo como servos de Deus. Honrai
todos os homens, amai vossos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei”. In:
1ª epístola de São Pedro, 2: 13-17. In: A Bíblia, op. cit., p. 1495-6.
No documento original: “No entanto, o que foi legal na época do Antigo
Testamento, agora sob o Novo Testamento é diferente, pois Cristo, que
se fez sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu-se como hóstia a Deus Pai sobre o altar da Cruz. Por sua morte,
ele redimiu o gênero humano e realizou isto na condição de sacerdote,
não como rei, e principalmente o que diz concerne à missão daquele
que é o sucessor do Apóstolo Pedro e Vigário de Jesus Cristo”. INOCÊNCIO
III. Solitae. In: SOUZA & BARBOSA, Decretal Solitae de Inocêncio III a Aleixo
III de Constantinopla (Documento 27), op. cit., p. 130.
208
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
daí outrora, os reis terem exercido um poder supremo e exclusivo sobre toda a sociedade”.11
Mais adiante, no § 4 da Solitae, Inocêncio III recorria ao
“Gênesis”12 para sustentar seu ponto de vista:
Deus fez, portanto, duas grandes luminárias na abóbada
celestial, isto é, na Igreja Universal, quer dizer, Ele instituiu duas grandes dignidades, que são a autoridade
pontifícia e o poder real. Mas a que dirige os dias [o sol],
isto é, as coisas espirituais, é maior, e a que preside à
noite [a lua], pelo contrário, é menor, a fim de que se saiba
quão grande é a diferença que existe entre os pontífices e
os reis, à semelhança do que se passa com o sol e a lua.13
No § 6 acrescentava mais um argumento: a conhecida
concessão de Cristo a São Pedro, pedra fundadora da Igreja,
a quem caberia o poder de ligar e desligar no céu e na terra.14
Como já expressaram adequadamente Souza & Barbosa:
A Igreja é, portanto, a única sociedade a se ter em conta,
pois dela, mediante o batismo, fazem parte todos os fiéis,
e, por isso mesmo, tem de ser governada por uma só cabeça que, de acordo com o Evangelho, é o Papa. Trata-se, na
verdade, de um organismo espiritual com uma dimensão
temporal subsidiária, não de um corpo bipartido, “quase
11
12
13
14
SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 106.
“Deus disse: ‘Que haja luminares no firmamento do céu para separar o
dia da noite, que eles sirvam de sinal tanto para as festas como para os
dias e os anos, e que sirvam de luminares no firmamento do céu para
iluminar a terra’. Assim aconteceu. Deus fez dois grandes luminares, o
grande luminar para presidir o dia, o pequeno para presidir a noite, e as
estrelas. Deus os estabeleceu no firmamento do céu para iluminar a
terra, para presidir o dia e a noite e separar a luz da treva. Deus viu que
isto era bom”. In: Gênesis, 1: 14-18. In: A Bíblia, op. cit., p. 11.
INOCÊNCIO III. Solitae. In: SOUZA & BARBOSA, Documento 27, op. cit.,
p. 130.
Trata-se da passagem de Mateus 16: 18-19. cf. tb. Mateus 18: 18. In: A
Bíblia, op. cit., p. 1213 e p. 1216.
209
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
um monstro”, para empregarmos a comparação usual entre os medievais. O único objetivo desta comunidade universal dos fiéis reside em alcançar a salvação eterna.15
Longe de terminada, a contenda entre a Igreja e o Império pelos respectivos âmbitos de jurisdição seguia adiante.
Inocêncio III, na bula Venerabilem, de 1202, lembrava os príncipes eleitores germânicos de que eles de fato escolhiam livremente o seu monarca, mas que era apenas por meio da
unção e coroação pelo papa – ou por seus devidos representantes – que o imperador seria sagrado. Lembrava ainda que
o papa Leão III (795-816) havia feito a translatio imperii dos
gregos para os germânicos, na pessoa de Carlos Magno (80014), no Natal de 800, pois naquela ocasião os bizantinos eram
governados por uma mulher, Irene. Desse modo, declarava
Inocêncio, o Império ficara sob a auctoritas do bispo de Roma
e devia ser entendido como um beneficium eclesial outorgado
pelas regras do direito canônico. O imperador seria, portanto, beneficiário (vassalo) da Igreja e teria a obrigação de
defendê-la.
Inocêncio III havia assim completado a inversão histórica referente aos primórdios da relação entre regnum e sacerdotium, tal como registrada no século IX e descrita por W.
Ullmann.16 A matéria reabria também uma velha ferida, deixada aberta desde a morte de Henrique VI, em 1197, cujo
herdeiro era ainda uma criança.17 Pela primeira vez na complexa história desses dois poderes, o pontífice reivindicava
15
16
17
SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 107.
Cf. Capítulo 1, p. 67-9.
Depois da morte de Henrique VI, as disputas internas no reino germânico
passaram a girar em torno de dois grupos poderosos e seus respectivos
príncipes: o de Filipe de Staufen e seu rival, Oto, duque de Brunswick.
O conflito, que já causara inúmeras mortes e a destruição de várias
cidades e feudos, parecia insolúvel, pois a legislação eleitoral germânica
nada previa em tais casos.
210
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
caber o exame quanto à aptidão e ao caráter do candidato ao
trono imperial “ao seu consagrante, isto é, o próprio Papa,
adaptando para a esfera das relações entre o Império e o
Papado uma prática usual e institucionalizada no tocante à
confirmação dos bispos eleitos pelos cabidos diocesanos, efetuada ou pela Metropolita ou pelo Santo Padre.”18
Nos termos do pontífice, no § 4:
Mas, por outro lado, os príncipes devem reconhecer e
decerto reconhecem que a autoridade e o direito para
examinar a pessoa eleita rei e que será promovida ao
Império nos compete, visto que nós a ungimos, coroamos
e consagramos. Pois é normal e regularmente observado
que o exame da pessoa compete àquele que lhe vai impor
as mãos. Por conseguinte, se os príncipes, em consenso
ou em desacordo entre si, escolherem como reis uma
pessoa sacrílega ou excomungada, um tirano ou um idiota,
ou um herege ou um pagão, nós deveremos ungir, consagrar e coroar tal pessoa? Decerto que não!19
E, mais adiante, no § 6:
É evidente ainda que, numa eleição, quando os votos
dos príncipes estão divididos, após uma advertência e
um intervalo conveniente, podemos favorecer um dos
postulantes, considerando-se que posteriormente um
deles virá a ser ungido, coroado e consagrado por nós, e
aconteceu freqüentemente que ambos nos pediram que
fizéssemos isso. Assim, que brilhem o exemplo e o direito. (idem)
Oitenta anos mais tarde, invertia-se em favor do papado
o direito de resolver eleições contestadas, concedido ao impe18
19
SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 108.
INOCÊNCIO III. Venerabilem. In: SOUZA & BARBOSA, Documento 28, op. cit.,
p. 131.
211
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
rador Henrique V pelo papa Calixto II no documento da Concordata de Worms, em 1122.
A adoção dessa postura pelo papado sustentava-se na
idéia de que a Igreja constituía a causa eficiente do império e
de seu poder e que o imperador era um advocatus et protector
Ecclesiae. Inocêncio também avançava na construção dos
pilares de uma teoria hierocrática do poder, conferindo à Igreja
o papel de sede última – de acordo com seus próprios critérios políticos e morais – de legitimação do poder temporal.
Estava definitivamente estabelecida, ao menos na teoria, a
primazia do sacerdotium sobre o regnum na função de juiz
supremo, fosse em assuntos espirituais ou seculares. Daqui
para frente, os papas reivindicariam o direito de só tratarem
alguém como imperador depois de sua eleição para o cargo
ter sido sancionada pela Ecclesia.20
No mesmo ano, 1202, Inocêncio III, respondendo à solicitação do conde Guilherme de Montpellier, que desejava
ver reconhecidos e legitimados pelo papa seus filhos bastardos, a fim de que pudessem se tornar seus legítimos herdeiros, reafirmou na decretal Per venerabilem os princípios
políticos defendidos no documento dirigido aos príncipes eleitores alemães. Inocêncio rebateu cuidadosamente os argumentos do conde, afirmando que a Igreja teria, sim, o direito
de legitimá-los ou não, mesmo sendo esse um assunto temporal, em razão da superioridade do espírito sobre a matéria.
Pois era natural que “a autoridade competente para legitimar na esfera superior também o fosse na inferior”, isto é, se
o papa decidia em assuntos espirituais, também lhe era lícito determinar em matérias temporais.
Guilherme reclamava o reconhecimento dos herdeiros
com base no caso precedente do rei francês, Filipe Augusto
(1180-223), cujos filhos com Inês de Meran haviam sido re20
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 108.
212
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
conhecidos como legítimos pelo mesmo papa pouco antes.
Inocêncio III explicou ao conde que ao rei dos francos o pedido fora concedido em virtude de não reconhecer o rex superior algum na esfera temporal. Por isso, Filipe recorrera à
autoridade pontifícia, sem que seu ato lesasse o direito de
outros, o que já não cabia ao conde, subordinado legalmente
pelos laços de vassalagem ao rei.
Nos termos de Inocêncio:
[...] Além disso, como o rei Filipe não reconhece de modo
nenhum ter superior no âmbito temporal, sem nisso lesar o direito de outrem, pôde sujeitar-se e [de fato] submeteu-se à nossa jurisdição, quando talvez parecesse a
alguém que ele poderia ter legitimado por si próprio, não
como pai em relação aos seus filhos, mas na condição de
Príncipe para com os súditos. Tu, no entanto, és conhecido como súdito de outrem. Daí que não pudesses sujeitar-te nesse aspecto, sem prejudicares assim o direito
alheio, a menos que te autorizassem a fazê-lo, e ainda
não gozas da autoridade para teres o direito de dispensar
em tal questão.
Movidos por essas razões e baseando-nos, tanto no Antigo, como no Novo Testamento, atendemos à solicitação
de Filipe, tendo em mente ainda que, não só no Patrimônio
da Igreja exercemos pleno direito temporal, mas também
noutras regiões, dadas certas circunstâncias, exercemos
casualmente a jurisdição na esfera secular. Com isso não
tencionamos prejudicar um direito de outrem, ou usurpar um poder que nos seja indevido, visto não ignorarmos a resposta que Cristo oferece no Evangelho: Dai a
César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
E arrematava mais adiante:
Paulo, com o fito de explicar o que é a plenitude de poder,
escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: Não sabeis que
julgaremos os anjos, quanto mais as coisas do mundo?
Ora, as incumbências seculares costumam ser regularmente executadas por quem exerce o poder temporal. Às
213
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
vezes, porém, e em circunstâncias excepcionais, por outrem.21
Para sustentar sua argumentação, Inocêncio apoiouse no “Deuteronômio”,22 associando-o à passagem de Mateus
relativa ao mandato e primado petrinos. Com Inocêncio III, a
teoria hierocrática que crescia dentro da Igreja acrescentava
em seus fundamentos argumentos extraídos de uma leitura
mais pragmática tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Além de um novo uso da Escritura, Inocêncio consolidava
a esfera de atuação e legislação da Ecclesia, tornando inquestionáveis suas decisões no foro espiritual e ampliando
seu raio de ação para assuntos temporais ligados a matérias
de fé, como heresias, paganismo, “razão de pecado” e outros
temas controversos. Isto é, afirmava sua plenitudo potestatis
não mais apenas no âmbito espiritual, mas agora também in
temporalibus.
O século XIII foi marcado ainda pela construção e solidificação de um novo campo de direito, que se oporia ao ius
21
22
INOCÊNCIO III. Per Venerabilem. In: SOUZA & BARBOSA, Documento 29, op.
cit., p. 134-6.
“Se for muito difícil para ti julgar da natureza de um caso de sangue
derramado, litígio ou ferimentos – questões levadas ao tribunal de tua
cidade –, pôr-te-ás a caminho para subir ao lugar que o Senhor, teu
Deus, tiver escolhido. Irás procurar os sacerdotes levitas e o juiz que
estiver em função naquele dia; e os consultarás e eles te comunicarão a
sentença. Procederás conforme a sentença que te houverem comunicado no lugar que o Senhor tiver escolhido, e cuidarás de pôr em prática
todas as suas instruções. Segundo a instrução que te tiverem dado e
segundo a sentença que tiverem pronunciado, procederás, sem te desviares da palavra que te tiverem comunicado nem para a direita, nem
para a esquerda. Mas o homem que tiver agido com presunção, sem
escutar o sacerdote que lá estiver oficiando em honra do Senhor, teu
Deus, e sem escutar o juiz, este morrerá. Extirparás o mal de Israel.
Todo o povo ouvirá falar do caso, temerá, e não se tornarão mais presunçosos”. In: Deuteronômio, 17: 8-13. In: A Bíblia, p. 224.
214
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
antiquum (1150-200), baseado sobretudo nas compilações
feitas por Graciano no Decretum e em comentários e glosas.
Novas reflexões, assim como novos cânones e decretais, passaram a ser incluídos num novo corpo jurídico de direito
canônico, denominado ius novum (1200-34), organizado pelo canonista Raimundo de Peñaforte: os Cinco livros das
decretais. Com a incorporação desses documentos eclesiásticos recentes, perspectivas novas se abriam à reflexão tanto
dos teóricos da Igreja quanto dos juristas civilistas, que agora se viam confrontados com novos textos e interpretações
das quais tinham também de dar conta.
Para os canonistas mais moderados, o poder eclesiástico podia intervir em assuntos temporais apenas em casos
excepcionais.23 Já a corrente mais extremada defendia não
apenas a intervenção ocasional dos moderados, mas ainda
assegurava ser o pontífice o detentor “dos dois gládios”, aquele
que conferia o poder temporal ao príncipe mais adequado.
Segundo estes canonistas, o papa tinha o direito de intervir
em assuntos seculares, mesmo fora do Patrimônio de São
Pedro, legislando e julgando em outros casos: quando se tratasse de causas conexas, ligadas a um dos sacramentos; de
causas anexas, ou de algo anexo à esfera espiritual, como a
ruptura de um tratado de paz celebrado entre príncipes cristãos sob juramento; quando as autoridades seculares negligenciassem o bem-estar material e espititual de seus súditos;
quando um crime considerado pecado fosse denunciado ao
tribunal eclesiástico.
23
Os casos em que podia se dar essa intervenção eram: “quando o Império estivesse vacante e não fosse possível recorrer a uma instância superior; quando os juízes seculares fossem suspeitos de parcialidade;
quando as causas fossem ambíguas e os juízes não estivessem seguros quanto à maneira de as julgar; e ratione peccati”. In: SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 114.
215
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
“Tudo conduzia para a consideração de que uma mesma comunidade com duas cabeças era uma espécie de monstro (quasi monstrum)”, resumem Souza e Barbosa.
E o primado do espiritual sobre o material, conjugado
aqui com o imperativo neoplatônico de redução da
multiplicidade (dos reinos temporais) à unidade (do poder papal) viria a impor o Sumo Pontífice como chefe único
da Ecclesia-Christianitas, vendo-se no Imperador o simples braço armado da Igreja, para sua defesa e advocacia.24
Embora o papado ainda não dispusesse de uma teoria
organizada da supremacia do poder espiritual sobre o temporal, como aquela que seria oferecida um século depois pelo
canonista Egídio Romano, por exemplo, os elementos necessários à reivindicação da plenitude de poder pelo pontífice já
estavam colocados. Não havia mais dúvidas de que o papa
constituía a única autoridade legítima para decidir em assuntos religiosos. A pretensão agora era mostrar que sua
auctoritas se estendia também à esfera da dominação temporal. Papas, reis e imperadores pareciam cada vez mais distantes da paz e da pretendida unidade dos cristãos.
Inocêncio III foi também o tutor de Frederico II (121250), filho do imperador Henrique VI e de Constança da Sicília,
e neto do Barba-Ruiva. Criado sob os cuidados do pontífice,
Frederico foi sagrado por ele imperador em 1215. Em troca,
prometia abdicar do trono da Sicília em favor de seu filho
Conrado. Com a morte do pontífice um ano mais tarde, contudo, Frederico não cumpriu o prometido. Na qualidade de
rei siciliano e imperador germânico, os Hohenstaufen cercavam agora o Patrimônio de São Pedro tanto ao sul quanto ao
24
Ibid., p. 116.
216
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
norte, ameaçando assim os reinos italianos e a própria supremacia do papado sobre a Santa Sé. Além disso, Frederico
prometera a dois papas organizar uma Cruzada contra os
turcos seljúcidas, que haviam retirado aos latinos a Terra
Santa e impediam suas peregrinações ao local.
Em vez da luta pelas armas, Frederico II negociou um
tratado com o sultão do Egito, Malik el Kamil, em 1229, comprometendo-se a ajudá-lo contra o sultão de Damasco e a
impedir os ataques de príncipes ocidentais a seus territórios.
Em troca, Malik lhe assegurava a posse do reino de Jerusalém – recebido por ele como dote de casamento com a filha de
João de Brienne –, além da liberdade de trânsito para os
peregrinos cristãos. Tais acontecimentos, somados às inúmeras promessas não cumpridas de realizar Cruzadas em
nome da Ecclesia, levaram o então papa Gregório IX (122741) a excomungá-lo. O imperador, em represália, passou a
perseguir religiosos, a confiscar os bens eclesiásticos em seus
territórios e, em 1239, tentou conquistar Roma, com o objetivo de capturar o pontífice.
Gregório IX, para sustentar sua posição, reintroduziu
no debate sobre os dois poderes o tema da Doação de
Constantino.25 De acordo com a explicação de Gregório, o
imperador Constantino julgara inoportuno conceder ao pontífice apenas o governo das almas e, por isso, lhe teria concedido também jurisdição em assuntos temporais.26 O papa
ressaltava o status do doador afirmando que Constantino
era detentor plenipotenciário da supremacia imperial exercida
sobre seu território e que, portanto, a doação constituía uma
sua legítima decisão. Mencionava ainda o consensus dos en25
26
Cf. Capítulo 1, p. 79-81.
“Constantino, julgando oportuno que o Vigário de Cristo não devesse
governar apenas as almas e os eclesiásticos, reconheceu que ele tinha
de ampliar sua jurisdição sobre os corpos e os bens materiais de todas
as pessoas”. In: SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 118.
217
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
volvidos em favor da decisão.27 Tais idéias do pontífice eram
resultado não só de seus conhecimentos acerca do direito
romano e canônico, mas também do espaço político cada vez
mais amplo reclamado pela emergente burguesia das
Comunas e cidades italianas, ferrenha adversária das pretensões e do centralismo imperiais.
Já os partidários do imperador defendiam que Deus,
ao estabelecer os dois poderes, assim o fizera para que cada
qual governasse os seres humanos em seus campos específicos de atuação, a fim de obter com maior facilidade a realização de seus fins.28 Para Frederico II, os dois poderes tinham
a mesma origem divina e, por isso, estavam em pé de igualdade. Não negava, contudo, que o poder sacerdotal desfrutasse de maior dignidade, dada sua finalidade transcendente.
Mas a felicidade última, a vida eterna, dizia ele, jamais seria
alcançada sem que o regnum, por meio de seu titular, proporcionasse à comunidade humana a ordem, a justiça e a
paz, condições necessárias para a felicidade terrena. Para
tanto, eram fundamentais o respeito às leis e a reta execução
da justiça, cuja transgressão pelos homens gerava sofrimento, como aquele que havia resultado do pecado original.29
27
28
29
“Em segundo lugar, Gregório IX destacou enfaticamente a importância
da aquiescência dos senadores, dos romanos e de todos os habitantes
do Império àquela medida tomada pelo Imperador, querendo insinuar
que o consenso popular era uma garantia da legitimidade do ato de
doação”. Ibid., p. 118-9.
“Ambas [as luminárias, sol e lua] deviam completar-se mutuamente,
mas cada uma delas tinha de proceder de tal modo no cumprimento de
sua função que não atrapalhasse a outra [...]. Semelhantemente, a Providência também quis que neste mundo houvesse dois governos, o sacerdotal e o imperial, para que o homem, que tinha sido dividido em
dois componentes, fosse moderado por dois governos”. In: FREDERICO II.
Documento 33. In: SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 139.
Segundo Frederico, “respeitar a justiça equivalia a prestar uma homenagem a Deus. Tal respeito consubstanciava-se no cumprimento rigoroso das leis, explicitação da própria justiça e espelho visível da justiça
218
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
Frederico reforçava assim a velha máxima medieval
segundo a qual a lex facit regem. O imperador, detentor da
autoridade suprema neste mundo, tinha portanto o dever de
intervir pessoalmente em qualquer questão sempre que a
desordem se manifestasse, ou ainda por meio de seus oficiais, leigos ou religiosos, a fim de restabelecer a ordem e,
deste modo, a justiça. E porque ungido com óleos divinos, o
imperador era o mais apto para discernir o justo do injusto e,
assim, fazer prevalecer o interesse comum sobre as aspirações individuais. Nenhum outro homem tinha competência
para reivindicar o direito de interferir em seu âmbito de atuação, nem mesmo para oferecer sugestões.
Considerava-se a lex animata in terris, assim como seu
guardião e executor. Embora tivesse sido criado – ironicamente, e talvez até por isso – sob os cuidados de um pontífice, ele não admitia que seu poder proviesse do papa ou até
mesmo de Cristo: derivava direta e exclusivamente de Deus.
Afirmava ainda que a intromissão do papa na esfera temporal era a maior causadora da desordem no mundo, embora
não deprezasse nem ignorasse o papel relevante exercido pelos
sacerdotes, que conduziam os homens para a salvação eterna, por meio da pregação do Evangelho, cujo alcance social e
político não devia ser desprezado.
A base dessas reivindicações de Frederico assentavase em boa medida no Decretum, no qual se afirmava que a
autoridade suprema do imperador era indivisível e inalienável, pois o imperador era a legalidade e a justiça personificaeterna. Ademais, aplicando ao mundo os princípios de causalidade e de
necessidade, constatava-se que os males da humanidade tinham por
causa última a transgressão da justiça; o mal passou a dominar o mundo quando os nossos primeiros pais, movidos pelo orgulho, violaram a
ordem do Criador. Portanto, o desrespeito pela justiça gerava uma desordem que, pelo sofrimento dela emanado, era a antítese da felicidade”. In: SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 120.
219
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
das (lex animata). Toda criatura humana estaria sujeita à
sua vontade. Mas não só os juristas leigos lhe atribuíam tal
poder. Até mesmo alguns canonistas reconheciam ao imperador essa supremacia universal. João Teutônico, de Bolonha, por exemplo, sugeriu numa de suas glosas que o
imperador deteria, em princípio, a supremacia sobre o universo e seria dominus mundi, com autoridade jurisdicional
sobre todo rei, a menos que um rei provasse estar isento da
suserania do imperador.30
Mas seria contudo a distinção entre independência de
facto e de iure, introduzida por Bernardo Compostelano Antigo, que daria consistência jurídica à causa pontifícia, bem
como, mais tarde, à real. Expressava-se na fórmula de que
os reinos eram dependentes do império na sua estrutura
política e jurídica, mas de facto podiam não reconhecer a
superioridade imperial. Essa distinção entre “dependência
de iure” e “não-reconhecimento de fato” facilitava o trabalho
dos juristas que tinham de explicar a decretal de Inocêncio
III, de 1202, na qual sustentava não reconhecer o rei franco
um superior no âmbito temporal. Fortalecia também aqueles
que desejavam banir o domínio universal do imperador. Ou
seja, o argumento era relevante para as pretensões tanto dos
reis quanto dos papas.31
Com a eleição de Inocêncio IV (1243-54), Frederico II,
que havia sido excomungado e se encontrava em conflito
aberto com o papado, foi chamado pelo novo pontífice para a
30
31
Cf. ULLMANN, Walter. The development of the medieval idea of sovereignty.
The English Historical Review, v. 64, n. 250, p. 3, jan. de 1949.
Em França, cuja situação era muito peculiar, apenas a minoria dos
juristas reconhecia nestes termos a distinção entre independência de
fato e de direito. A maioria dos franceses tendia a defender a “independência de fato e de direito” do rei francês. Esta segunda opinião foi a que
prevaleceu na França, como se veria mais tarde. Cf. ULLMANN, op. cit.,
1949, p. 5.
220
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
mesa de negociação. O imperador deveria justificar-se junto
à curia romana, mas negou-se a fazê-lo. Apesar das sucessivas tentativas de ambos os lados, não foi possível um acordo
entre as duas autoridades. Finalmente, no Concílio de 1245,
Inocêncio IV depôs Frederico, acusado de perjúrio, sacrilégio, de manter relações amistosas com os infiéis, de violar a
paz entre papado e império, de ser omisso no cumprimento
de seus deveres como minister Ecclesiae e “outros crimes”,
conforme consta na “Sentença de deposição do Imperador
Frederico”.32
O imperador, em resposta, escreveu e divulgou em toda
a cristandade a Encyclica contra depositionis sententiam, na
qual se defendia. Inocêncio IV respondeu então, na bula papal Aeger cui lenia, a cada uma das críticas feitas por Frederico
II. Segundo especialistas, esse pode ser considerado talvez o
mais enfático documento de Inocêncio IV em favor da
hierocracia.33 Nela o pontífice afirmava ser o sumo sacerdote
o vigário terreno de Cristo – “Rei dos reis” – e o sucessor de
São Pedro. Nessa condição teria recebido do filho de Deus
uma generatis legatio, que lhe conferiria jurisdição plena sobre todos os homens, inclusive sobre os governantes terrenos, o que lhe permitia dar ordens quando e a quem
desejasse.34 Apesar de todas as acusações que lhe pesavam,
32
33
34
Cf. INOCÊNCIO IV. Sentença de deposição do imperador Frederico. In: SOUZA & BARBOSA, Documento 34, op. cit., p. 140-4.
Cf. PACAUT, M. La théocracie. Paris: Desclée, 1989. p. 30.
Transcreveu-se aqui parte da bula, traduzida por SOUZA & BARBOSA, devido à relevância atribuída por inúmeros especialistas ao documento:
“[...] Na verdade, exercemos uma delegação geral sobre a terra, a qual
foi recebida do Rei dos reis. Entende-se, relativamente a ela, que ninguém nem quaisquer assuntos ou negócios devem estar isentos do seu
controle. Tal delegação abarca amplamente o universo, porque foi enunciada no gênero neutro, pois o Senhor atribuiu ao Príncipe dos Apóstolos e, na sua pessoa, a nós mesmos, a plenitude do poder, tanto para
ligar como para desligar tudo do que está sobre a face da terra. Daí o
221
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Frederico manteve-se no trono até a morte, em 1250. Pouco
antes de morrer, enviou a toda a cristandade uma carta na
qual declarava a intenção de o pontífice assassiná-lo.
Os sacerdotes do Antigo Testamento, argumentava Inocêncio IV, teriam recebido de Deus semelhante poder, fato que
lhes tinha permitido depor os maus governantes de Israel. Como
resumem, de maneira acurada, Souza & Barbosa:
Assim também, o Sumo Pontífice na Nova Aliança podia
agir casualiter, quando os príncipes seculares ratione
Apóstolo dos Gentios, ao querer comprovar que tal plenitude de poder
não devia ter limites, afirmar: ‘Não sabeis que julgaremos os Anjos?
Quanto mais as coisas deste mundo?’ [...]
[...] Lemos na Escritura, a respeito desse poder, que um bom número de
Pontífices da Antiga Aliança o exerceram graças à autoridade divina
que lhes foi concedida ao deporem do trono real muitos monarcas que
se tinham tornado indignos de governar. Portanto, daí resulta que o
Papa pode exercer, ao menos casualmente, o seu julgamento pontifício
sobre qualquer cristão, seja ele quem for, principalmente se não houver
outra pessoa capaz de reparar a falta cometida pelo mesmo ou não
queira fazer justiça e, sobretudo, em razão do pecado [...].
De fato, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus e homem verdadeiro, agindo também como autêntico rei e sacerdote, segundo a ordem de
Melquisedeque, igualmente revelou de modo claro aos homens, ora usando a honorabilidade da sua majestade real, ora exercendo perante os
mesmos a dignidade pontifícia, recebidas do Pai, que estabeleceu na Sé
Apostólica uma monarquia não apenas sacerdotal, mas também real,
ao confiar ao bem-aventurado Pedro e aos seus sucessores as rédeas
dos impérios celeste e terreste, como se pode notar de modo evidente
em razão da pluralidade das chaves, de maneira que através de uma
recebemos o poder sobre a terra e as questões seculares e, pela outra,
no céu e a respeito dos assuntos espirituais, a fim de que se entenda
que o Vigário de Cristo obteve o direito de julgar. [...]
Portanto, se o poder está potencialmente incluído no seu interior, ele
torna-se ativo quando é transferido ao príncipe. Com efeito, aquele rito
pelo qual o Sumo Pontífice apresenta a espada embainhada a César,
que por ele, Pontífice, vai ser coroado, demonstra-o claramente, pois o
Imperador, após a receber, a retira da bainha e brandindo-a, comprova
que recebeu da Igreja o direito de usá-la [...]”. Cf. INOCÊNCIO IV. Aeger cui
lenia. In: SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 144-5.
222
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
peccati deixassem de cumprir com seus deveres para com
Deus e a Igreja, pois Cristo, obedecendo ao desígnio da
Providência, estabeleceu na Sé Apostólica um principado
sacerdotal e real, visto Ele ser simultaneamente Sacerdote e Rei. É por esse motivo que as chaves para abrir e
fechar o reino dos céus e as espadas para ferir e cortar
espiritual e temporalmente se encontram na posse da
Igreja e só o Papa, na condição de chefe máximo da
Ecclesia-Christianitas, pode confiar as funções seculares
aos príncipes, porque fora da Igreja não existe poder legítimo.35
O canonista Guido de Baysio, por exemplo, iria estender a fórmula papal a um princípio jurídico: o de que o rex
detinha em seu reino os mesmos poderes que imperador em
seus domínios, conferindo novo fundamento à conhecida máxima romana do rex in regno suo imperator est. O rei, portanto, desfrutaria em seu território do mesmo status jurídico e
político que o imperador em seu império e teria poder supremo sobre todos os que habitavam o reino. Idéia semelhante
defendia Guilherme Durando, em sua obra sobre o crime de
lesa-majestade, na qual se perguntava se os barões, ao se
insurgirem contra o rei da França, estariam cometendo crime de lesa-majetade. À questão Durando respondia positivamente, alegando que “o rex francorum era princeps em seu
reino”. A noção do rei como majestas, tal como afirmaria Bodin
séculos mais tarde, ganhava assim os primeiros adeptos.36
Inocêncio IV, seguindo a trilha de seu antecessor, defendia não apenas a independência de fato e de direito do rei
dos francos em relação ao imperador, mas também sustentava que os reis detinham o poder de criar tabeliões públicos,
35
36
“A cerimônia da outorga da espada, efetuada pelo Papa ao Imperador”,
completam, “comprova muito bem que ele é um minister sacerdotis e
que o Império de jure et de facto está subordinado ao Papado”. In: SOUZA
& BARBOSA, op. cit., p. 123.
Cf. ULLMANN, op. cit., 1949, p. 9-10.
223
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
como o podia fazer o próprio papa. Outra questão intimamente ligada à disputa pela supremacia era a da possibilidade – ou não – de apelação ao imperador de uma sentença do
rei. Segundo Durando, uma sentença do rei francês era
inapelável. Mas no resto da cristandade, completava ele, o
imperador era o dominus mundi, e, por isso, a apelação era
possível em outros reinos. O debate, portanto, avançava na
direção de uma negação da supremacia universal do imperador in temporalibus. Cinqüenta anos mais tarde, quando da
querela entre o rei francês e o pontífice, a plenitude de poder
do rei franco em seu território já constituía matéria indiscutível, fosse em relação ao papa ou ao imperador.
Nesse momento, contudo, a causa papal ainda ganhava reforço. Henrique Bartolomeu de Susa, o Ostiense, por
exemplo, sustentava que a primazia do sacerdotium sobre o
regnum era apoiada também pelo direito civil romano. A Doação de Constantino não constituía apenas um fato verídico,
mas era também um documento autêntico que confirmava a
existência de uma só cabeça à frente da cristandade e reparava um abuso cometido por imperadores pagãos que faziam
uso de um poder ilegítimo. Constantino, por inspiração divina, apenas tinha se limitado a devolver a São Silvestre um
poder que de direito já lhe pertencia, dado que era vigário do
Filho de Deus sobre toda a terra. Por fim, o Ostiense definia
ainda os casos em que o pontífice teria o direito de intervir no
governo secular: quando sua interferência fosse requerida e
não prejudicasse o direito de outrem; quando se fazia justiça
em favor dos oprimidos; quando um suserano tratava ou julgava injustamente o seu vassalo; e nas cidades onde não
havia um juiz secular.37
A teoria gelasiana da independência das duas espadas
continuaria a ser defendida ao longo do século XIII, mas sus37
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 126.
224
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
tentada agora na preeminência moral do poder espiritual
sobre o temporal. De maneira geral, não havia discordância
quanto à afirmação de que aos sacerdotes cabia zelar pela
bem-aventurança dos fiéis e conduzi-los à vida eterna. E aos
reis cabia zelar pelo bem-estar material de seus súditos, promovendo, coordenando e executando a justiça, punindo os
malfeitores e libertando pela espada os oprimidos. Sob esse
pano de fundo repousavam posições políticas e concepções
de mundo as mais diversas, como aquelas encontradas nas
obras de inúmeros pensadores ilustres do século XIII, de
Alberto Magno a Tomás de Aquino. Uma bipartição que não
sobreviveria por muito tempo ante as tendências de centralização do poder presentes em toda parte, fosse na Ecclesia ou
no regnum.
É possível assegurar com alguma convicção, portanto,
que as questões vinculadas à noção de soberania eram simultaneamente políticas e jurídicas. Eram políticas porque
envolviam a construção de um sistema de poder, fosse ele
hierocrático ou estatal. A imagem do rex in regno suo imperator
est – que viria a ser muito em breve reivindicada pelos governantes dos Estados territoriais emergentes – evocava, ao
mesmo tempo, a concentração do comando territorial (relações internas) e a pretensão de independência em face de
potências externas, fossem elas os não-cristãos ou os territórios vizinhos. E jurídicas porque todas as pretensões eram
apresentadas como legais.
O que se refazia, nesse período, não era apenas uma
constelação de forças, mas toda uma ordem normativa. Uma
das faces mais importantes da produção cultural, entre os
séculos XII e XIV, foi indubitavelmente a reflexão jurídica.
Armados com a disciplina fornecida pelo redescoberto direito
romano, os juristas não se limitaram a recuperar conceitos.
Repensaram o direito costumeiro, as instituições tradicionais, ordenaram e codificaram as normas comuns e cons225
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
truíram respostas para problemas novos. No campo internacional, por exemplo, a criatividade de Sassoferrato é conhecida por trabalhos como a determinação de águas territoriais.
A noção de soberania era forjada, portanto, não por
autores distanciados do mundo e recolhidos ao trabalho acadêmico. Era uma idéia construída polemicamente, num processo em que se misturavam o interesse no conflito imediato
e a reflexão abstrata. A idéia nascente de soberania podia ser
captada em suas diferentes funções: 1) como direito reivindicado e, portanto, objeto de controvérsia jurídica; 2) como atributo do poder, qualidade política que se manifestava,
simultaneamente, como suprema autoridade interna e como
autonomia externa.
Esquematicamente, a construção da idéia de soberania ocorria em dois momentos. No primeiro, o grande tema
era a distribuição das jurisdições num sentido restrito. Tratava-se de saber sobretudo quem fazia cumprir as leis. Isso
envolvia tanto a questão do domínio territorial quanto a divisão da autoridade entre as esferas temporal e espiritual. A
autoridade era principalmente judiciária. No segundo, emergiria o problema do poder legislativo, tal como entendido
modernamente, a começar dos “clássicos”. Jurisdição, a partir daí, passaria a incluir também o direito de criar, de mudar e de revogar normas. A imagem de um legislador legibus
solutus, oriunda do direito romano, já reaparecera em
glosadores como o italiano Azzone e o inglês Alan, no fim do
século XII.
Depois da redescoberta do Digesto, de Justiniano, os
juristas ocuparam-se em examinar a fonte da autoridade legislativa na comunidade e a relação entre o monarca e a velha lei. Um dos problemas relevantes era conciliar a autoridade
legislativa do princeps – que agora substituía o imperador do
antigo Estado romano – com o poder do costume legal. Azzone
afirmava que o costume mantinha, fazia, ab-rogava e inter226
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
pretava a lei. Muitos legistas entendiam, assentados na tradição medieval da filosofia natural, que a produção de uma
nova lei era função natural da sociedade. Havia também pontos de vista diferentes, como os de alguns civilistas, que definiam a lei como vontade do príncipe, promulgada por razões
justas e necessárias e temperada pelo costume.38
A idéia da lei como expressão de uma vontade soberana, fonte única de validade da norma civil, só se cristalizaria,
no entanto, com alguma lentidão. A noção do princeps legibus
solutus deve ser entendida de forma variável entre as primeiras grandes discussões, no século XI, e sua tradução radical
na obra hobbesiana. De modo esquemático, seria possível
descrever esse desenvolvimento como um percurso entre dois
extremos. Num deles, a lei (natural, divina, costumeira,
estatuída ou positiva) se sobrepunha totalmente ao príncipe
(lex facit regem). No outro, a vontade soberana era fonte criadora, tansformadora e revogadora da lei (auctoritas, non
veritas, facit legem).
Como todo esquematismo, esse deve ser considerado
com reserva, porque o voluntarismo já apareceria no século
XIV e a noção de uma ordem anterior e superior à vontade
ainda seria visível na literatura política moderna. Mas aquela
38
Black recorda como os textos do direito romano foram utilizados para
atender a múltiplos interesses. A lei romana era “mais específica sobre
a extensão dos poderes à disposição de um princeps ou imperator”, mas
deles se apropriaram os canonistas para expressar a autoridade papal.
“Então, os legistas seculares, trabalhando em meios nacionais ou locais, mas empregando a linguagem da lei imperial romana, começaram
a aplicá-la, firmemente, a todas as monarquias seculares existentes na
Europa, começando pela França e pelo reino da Sicília. Isso acompanhou uma ampla adoção da linguagem imperial por reis e duques, que
implicava que os poderes atribuídos ao imperador romano pertenciam
propriamente a todo governante vis-à-vis seus próprios súditos (rex est
imperator in regno suo)”. In: BLACK, Antony. Political thought in Europe
1250-1450. Cambridge: University Press, 1992. p. 139.
227
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ressalva, a da evolução, é indispensável. Ela acentua a idéia
de um processo formador. Desse modo, legitima a pretensão
de falar em Estado territorial moderno e em soberania, na
Idade Média, desde que se saiba que não se trata nem do fato
nem do conceito nas formas plenamente amadurecidas.
Nas várias universidades, o desenvolvimento da jurisprudência e da reflexão jurídico-política respondia, com freqüência, a interesses opostos e, no entanto, com resultados
convergentes. Alguns aspectos desse desenvolvimento podem
surpreender. A formulação mais radical da idéia de poder
absoluto pertenceu, provavelmente, aos canonistas. Acabou
incorporada, porém, pelos mais severos defensores do poder
secular, imperial ou do reino.
A idéia de que a vontade do soberano, e não a justiça,
constituía o elemento essencial da lei foi posta por um canonista do século XIII, Laurêncio Hispano, contra uma das mais
firmes tradições da política medieval. Separando a vontade
do príncipe do conteúdo da lei, Hispano tornava a lei plenamente caracterizável sem referência à moralidade ou a qualquer conceito transcendente de justiça. Esse é um exemplo
de como, aos poucos, delineava-se a noção da vontade
(auctoritas) como fonte da lei.
Embora a idéia do predomínio da norma (e da justiça)
tenha permanecido como ideologia dominante no século XIII,
a questão das relações entre o príncipe e a lei já vinha sendo
revista desde o século XII, como se tentou demonstrar. No
final deste, os canonistas já utilizavam o termo ius positivum
para indicar a lei promulgada pelo legislador humano, como
indica, entre outros, Pennington.39 Desde meados daquele
39
Pennington chama atenção para a dificuldade de interpretar a relação
entre príncipe e lei a partir da tradição romana. Justiniano tanto sustentara a idéia de um poder imperial absoluto (Digesto), quanto defendera a
noção de um imperador que legisla mas deve subordinar-se à lei (Digna
Vox, cod. I.14.4), como os governantes constitucionais. Cf. PENNINGTON,
228
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
século, quando o Decretum de Graciano havia determinado
às escolas o estudo da lei canônica, havia-se intensificado o
esforço de refinamento conceitual.
Ao indicar a vontade do príncipe como fonte da lei, separando lei e justiça e, portanto, vontade legisladora e razão,
Laurêncio Hispano abria uma perspectiva nova para a
concepção do poder. No entanto, mesmo o exercício “não razoável” do poder teria de ser legal. Outros canonistas o acompanhavam, distinguindo a autoridade do príncipe da “moralidade” da lei. Mas, ao mesmo tempo, enfatizavam a obrigação
do príncipe de se sujeitar à norma por ele estatuída. Dante
refletia essa concepção ao fazer do monarca (o imperador, na
sua proposta política) um legislador e um servo da lei.40
Embora os canonistas tenham mantido essa idéia de governo legal (apesar do poder de mudar ou revogar a lei), eles
contribuíram de modo significativo, não importa o alcance
de sua intenção, para aliviar a noção de plenitudo potestatis
dos entraves da moralidade, da razão e dos antigos costumes.
Pennington lembra que os canonistas utilizaram essas
idéias para estabelecer os limites constitucionais da autoridade papal. O alcance dessa autoridade era definido pela
noção de plenitudo potestatis, que em pouco tempo seria adotada também para descrever o poder legítimo – pouco depois
denominado soberano – da monarquia secular. O próprio
papado, em alguns momentos, contribuiu para fortalecer
juridicamente as pretensões dos reis. Um bom exemplo disso
era a declaração, já mencionada, do papa Inocêncio III, em
1202, de que o rei da França não reconhecia superior em
questões temporais. Ele deixara, com isso, um problema para
40
K. Law, legislative authority and theories of government, 1150-1300.
In: BURNS, op. cit., 1991, p. 424-53.
ALIGHIERI, Dante. Monarchia. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 1988.
Livro I, XII, p. 195.
229
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
os canonistas, que se empenharam em esclarecer o assunto.
Segundo alguns, os reis não estariam sujeitos de facto ao
imperador, mas sim de iure, enquanto outros afirmavam a
completa independência do rei em relação ao Império.
Tal como Hispano, também o Ostiense, partidário da
causa papal, terminou desenvolvendo a noção de plenitudo
potestatis, contribuindo para o refinamento do conceito. Também segundo ele, a vontade do princeps – em sua concepção
o pontífice, como se viu – era a fonte da lei. Não se limitava
pelo rigor da razão e da moralidade, e, sob certas circunstâncias, o monarca poderia violar os preceitos de justiça. Dados
todos esses pontos, conclui Pennington, estavam presentes
os elementos necessários para pensar o que mais tarde se
chamou razão de Estado.41
Entre 1150 e 1300, legistas e glosadores fixaram as
principais teorias a respeito da auctoritas do príncipe. Alguns deles mantinham a ênfase na supremacia da lei, eventualmente confundida com a supremacia da comunidade.
Outros acentuavam, já, a idéia do príncipe legislador. De modo
geral, porém, não se negava a idéia do governo fundado no
bem público. Desses dois modelos seria possível derivar, com
alguns acertos, tanto as doutrinas da monarquia absoluta
quanto a do governo constitucional.
Grande parte dessas noções que lentamente se desenvolviam e ganhavam refinamento conceitual já era conhecida
dos autores medievais. Do mesmo modo, parte das noções
aristotélicas acerca da filosofia natural e da política já circulava pela Europa, antes mesmo da completa tradução de suas
obras, o que só ocorreria na segunda metade do século XIII.
Mas o material que se tornou disponível depois de realizadas
as traduções latinas do que havia sobrado da obra do Filósofo podia ser agora muito mais bem ordenado, a partir de uma
41
Cf. PENNINGTON, op. cit., p. 436.
230
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
leitura sistemática de seus inúmeros textos e dos de outros
tantos autores antigos, gregos, árabes e judeus, agora disponíveis.
Com as restrições já discutidas no capítulo anterior,
pode-se dizer que apenas depois da tradução dos últimos
textos de Aristóteles – entre eles a Política, que ganhou uma
versão latina por volta de 1263 –, foi possível fazer uma reconstrução organizada de seu pensamento, possibilitando
assim um novo uso e uma nova sistematização do material
disponível. Tornava-se necessária a construção de uma filosofia que oferecesse instrumentos mais adequados para a
superação dos impasses – teóricos e práticos – nos quais se
encontrava mergulhada a cristandade. Afinal, a polis de Aristóteles não era parte do mundo medieval latino. E tanto Tomás de Aquino quanto seus predecessores tinham ciência
disso.
III O CORPUS ARISTOTÉLICO DOS LATINOS
Os livros de Aristóteles sobre a ordem da natureza
formavam a base da filosofia natural nas universidades medievais. Eles forneciam um fundamento adequado e sistemático para a especulação a respeito da idéia de natureza
no contexto do pensamento político, assim como no da metafísica e da ciência. Era por meio deles que se pensava a
estrutura e a operação do cosmo. Pelo uso de suas assunções, de seus princípios demonstráveis e aparentemente
auto-evidentes, a leitura de Aristóteles impôs um forte senso de ordem e coerência sobre um mundo até então intensamente povoado por alegorias, epítetos e metáforas.42 E
quais eram essas idéias?
42
Cf. GRANT, op. cit., p. 54.
231
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
1. Filosofia natural e a base da investigação científica
Um dos pilares fundamentais de toda a construção
aristotélica repousava na asserção de que o mundo era eterno: não teria tido nem início nem fim. O universo físico,
como explicava Aristóteles em Dos céus, era espacialmente
finito, mas temporalmente infinito. Ou seja, o mundo constituía uma vasta, porém limitada, esfera que existia sem
princípio e continuaria existindo sem fim, idéia que se opunha frontalmente à da criação divina do orbe.43 Se o mundo
aristotélico era eterno e, por isso, suspeito aos medievais, a
insistência no seu caráter único, entretanto, o colocava plenamente de acordo com as sagradas escrituras das três grandes religiões. Segundo o Filósofo, o universo era uma grande
esfera finita para além da qual nada poderia existir. Toda
matéria existente estava nele contida, dentro dessa imensa
esfera.44
43
44
A idéia de que a matéria poderia ter um começo parecia impossível aos
gregos antigos. Sem um começo, portanto, o mundo não poderia ter
sido criado: esta asserção opunha o Filósofo aos teólogos das grandes
religiões monoteístas (judaísmo, cristinianismo, islamismo). Por essa
razão, a questão da eternidade do mundo constituía um dos temas mais
complexos, para os teólogos do Ocidente medieval no século XIII, a respeito de filosofia natural e teologia. Cf. GRANT, op. cit., p. 54.
Um corpo constituía sempre, para Aristóteles, a superfície mais íntima de outro corpo imediatamente circundante que estava em contato
direto com o corpo contido. Um lugar era algo, um espaço, no qual um
corpo deveria estar presente. De modo similar, um vazio constituía
algo em que a existência de um corpo era possível, embora não atual.
Finalmente, tempo era a medida de movimento. Sem corpo, não poderia haver movimento e, por isso, não poderia haver tempo. De onde
Aristóteles concluía que toda a existência repousava dentro de nosso
cosmo, e coisa alguma além dele. Cf. ARISTOTLE. On the heavens
(I:268b11-268b26). Trad. de J. L. Stocks. In: BARNES, Jonathan (Ed.).
Aristotle: the complete works. The Revised Oxford Translation. New
Jersey: Princeton University Press, 1991. v. I e II, p. 448. Todas as
citações oriundas de edições inglesas foram retiradas desta versão da
obra completa de Aristóteles.
232
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
Esse mundo dividia-se, segundo ele, em duas circunferências radicalmente diferentes: uma terrestre, que se estendia do centro da terra até a esfera lunar; e outra celeste, que
envolvia tudo o que existia entre a lua e as estrelas fixas.45
Boa parte da filosofia natural de Aristóteles constituía uma
tentativa de identificar e explicar os princípios de transformação na região terrestre.46 Natureza, no reino terrestre, nada
mais era do que um termo coletivo para a totalidade dos corpos existentes, compostos de forma e matéria.47 Aristóteles
atribuía assim aos corpos terrestres o poder de agir de acordo com suas capacidades naturais. Este raciocínio lhe permitia supor causações secundárias: os corpos eram capazes
de ação, e com isso de efeitos, sobre outros corpos.48
Aristóteles tinha uma concepção teleológica da natureza. Isto é, explicava todos os fenômenos que ocorriam no
mundo por meio de suas causas finais. As causas finais,
45
46
47
48
Na região terrestre, a observação e a experiência tornavam óbvio que a
mudança era incessante, enquanto na região celeste a transformação
não existia.
Aristóteles distinguia basicamente três tipos de transformações que
podiam ser promovidas pelo movimento das quatro causas fundamentais: 1) mudança qualitativa, como quando a cor de uma folha se altera
do verde para o marrom na mesma matéria subjacente; 2) mudança de
quantidade, como quando um corpo cresce ou diminui, retendo sua
identidade de outra maneira; e 3) mudança de lugar, quando um corpo
se move de um lugar para outro. Localizava ainda um outro tipo de
mudança que, contudo, não implicava movimento: a mudança substancial, onde uma forma suplanta a outra na matéria subjacente, como
quando o fogo reduzia um tronco a cinzas (cf. Physics, V:225a37-225b16).
Cada um desses corpos pertencia a uma espécie própria e possuía as
propriedades e as características – isto é, a forma – dela. Se desimpedido, agiria em conformidade com essas propriedades.
Aristóteles acreditava que cada efeito era produzido por quatro causas
agindo simultaneamente: uma causa material, ou a coisa a partir da
qual algo era feito; uma causa formal, ou a estrutura básica a ser imposta sobre algo; uma causa eficiente, ou o agente de uma ação; e uma
causa final, ou o propósito pelo qual a ação era empreendida.
233
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
portanto, não eram menos importantes para explicar os produtos da habilidade humana. A explicação em termos de
causas finais constituía, para o Filósofo, a explicação em
termos do “bem”: as causas finais eram causas primeiras
porque equivaliam à descrição da coisa. Ou seja, os patos,
pelo fato de nadarem, exemplificava, tinham as patas palmilhadas. Então era bom – para os patos – ter patas palmilhadas, pois ser nadador era parte da essência de um pato.
E uma descrição adequada do que era ser um pato requeria
uma referência ao nadar. As causas finais, portanto, não se
impunham à natureza por meio de considerações teóricas,
e sim eram concebidas como se fossem observadas na natureza.49
Uma explicação teleológica era, portanto, uma explicação que recorria a objetivos ou causas finais. Por vezes, a
teleologia de Aristóteles se resumia no lema: “a natureza nada
faz em vão”. Isto é, o comportamento natural e sua estrutura
devem ter causas finais, já que a natureza nada produzia em
vão: fazia o melhor que podia em cada circunstância. Se as
“artes eram imitações da natureza”, então também podia haver
causas finais nos produtos da habilidade humana. Em várias passagens, Aristóteles falava da natureza como o artífice
inteligente do mundo natural. Para isso, recorria à noção de
função: associava a explicação “com o objetivo de” à função,
e via função na natureza. “A natureza nada faz em vão” constituía sem dúvida um princípio regulador fundamental da
investigação científica para Aristóteles: a captação da função
era crucial para a compreensão da natureza.50
As ciências, portanto, se diferenciavam pelos objetivos
práticos que cada uma delas perseguia. Tal como descrevia
na Metafísica, o conhecimento era dividido em três tipos prin49
50
Cf. ARISTOTLE. Parts of animals (694a22-694b12). Trad. de W. Olgle. In:
BARNES, op. cit., 1991, p. 1081.
Cf. BARNES, Jonathan. Aristóteles. Madrid: Cátedra, 1987. p. 128.
234
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
cipais: 1) as ciências teóricas ou contemplativas, que diziam
respeito ao conhecimento, e tinham como objetivo a busca
da verdade, contendo a maior parte do conhecimento humano (teologia, matemática, física); 2) as ciências práticas, que
tratavam da ação e atuação humanas em diversas circunstâncias (ética, política, economia); e 3) as ciências produtivas, que lidavam com a feitura de objetos úteis, isto é,
ocupavam-se da produção das coisas (agricultura, engenharia, arte).
O conhecimento teórico ou contemplativo subdividiase em três espécies de filosofias ou ciências teóricas: A) a
teologia (ou metafísica), que considerava as coisas ou substâncias puras que existiam independentemente de qualquer
relação com a matéria e eram imutáveis,51 B) a matemática,
que também tratava das coisas imutáveis, mas só daquelas
que eram abstraídas dos corpos físicos e, por isso, não tinham existência separada, tais como números e figuras geométricas; e C) a física,52 que tratava das coisas que não
somente desfrutavam de uma existência autônoma, mas eram
também mutáveis e tinham uma fonte inata de movimento e
descanso, e, portanto, aplicável tanto a corpos animados
quanto inanimados. A ciência suprema entre todas, segundo
Aristóteles, era aquela que tratava das “substâncias imutáveis”, divinas, e consistia no estudo teórico dos primeiros
princípios e causas das coisas.53
51
52
53
“O seu nome”, explica Ross, “deve-se ao fato de a primeira dessas substâncias puras ser Deus”. In: ROSS, Sir David. Aristóteles. Lisboa: Dom
Quixote, 1987. p. 71.
Do grego, physiké, que se traduz como “ciência natural”.
“Therefore, if all thought is either practical or productive or theoretical
[...]. There must, then, be three theoretical philosophies, mathematics,
natural science, and theology, since it is obvious that if the divine is
present anywhere, it is present in things of this sort. And the highest
science must deal with the highest genus, so that the theoretical sciences are superior to the other sciences, and this to the other theoretical
235
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O objetivo da investigação científica era servir de instrumento para a sistematização do conhecimento de cada
matéria. Partindo dessa concepção, Aristóteles percorria um
longo caminho no qual tentava dar conta de uma visão do
mundo. Assim como a teologia era a ciência superior entre as
formas de investigação teóricas, no ramo das ciências práticas esse papel cabia ao conhecimento da política, a ciência
suprema entre todas, que subordinava as demais. Essa ciência prática aristotélica também se subdividia em três partes:
o estudo da ética ou das questões morais pensadas a partir
do indivíduo; a economia, que dizia respeito à administração
da ordem doméstica; e a política propriamente dita, ou o estudo da organização civil dos grupos humanos, que supunha a ética, já que a justiça coletiva emergia da qualidade
moral da ações individuais.
2. Ética e a constituição do justo
A ética, dizia o Filósofo, se ocupava das formas de excelência moral, as quais eram produzidas e destruídas pelas
mesmas causas e pelos mesmos meios:
pelos atos que praticamos em nossas relações com os
homens nos tornamos justos ou injustos; pelo que fazemos em presença do perigo e pelo hábito do medo ou da
ousadia, nos tornamos valentes ou covardes. [...] Numa
palavra: as diferenças de caráter nascem de atividades
semelhantes. É preciso, pois, atentar para a qualidade
sciences. [...] if there is no substance other than those which are formed
by nature, natural science will be the first science; but if there is an
immovable substance, the science of this must be prior and must be
first philosophy, and universal in this way, because it is first. And it will
belong to this to consider being qua being – both what it is and the
attributes which belong to it qua being.” In: ARISTOTLE. Methaphisics
(VI:1025b19-1026a33). Trad. de W. D. Ross. In: BARNES, op. cit., 1991,
p. 1619.
236
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
dos atos que praticamos, porquanto da sua diferença se
pode aquilatar a diferença de caracteres.54
Por essa razão, Aristóteles podia afirmar que a investigação no campo da ética pretendia conhecer como os homens se tornavam bons e, conseqüentemente, justos. Pois
as ações determinavam a natureza das disposições morais
criadas. O princípio geral a ser presumido era o de que se
agiria segundo uma regra justa.
Sua intenção era, portanto, estabelecer uma teoria da
conduta que se detivesse nas regras gerais, e não nos casos
particulares – que, como ele avisava, variavam de acordo com
as circunstâncias em que ocorriam. Um médico, exemplificava, devia tratar cada paciente de acordo com as suas necessidades e condições, não podendo prescrever sempre o mesmo
tratamento para todos. Da mesma forma que o vigor e a saúde, a excelência moral era constituída de modo a ser destruída
pelo excesso e pela deficiência: “a temperança e a coragem,
pois, são destruídas pelo excesso e pela falta, e preservadas
pela mediana [mesotes]” (Ética, 1104b). No meio-termo, portanto, repousava a suprema virtude. Na Ética,55 portanto, a
questão do bem era tratada do ponto de vista do indivíduo:
consistia numa discussão sobre o tipo de caráter – aretê56 –
que os homens “bons” deveriam cultivar a fim de atingir o
“bem viver” – eudaimonia.57
54
55
56
57
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de L. Vallandro e G. Bornheim, 1103b.
São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 267-8.
Do grego, ethika, que quer dizer “questões relacionadas ao caráter”. Por
consistir num conhecimento prático, assim como a política, a finalidade
da ética era afetar a ação.
Em grego, aretê, significa algo como “bondade”, “excelência” ou ainda
“virtude”. Optou-se aqui pela tradução de Barnes, que utiliza o conceito
“excelência” para designá-la. Cf. BARNES, op. cit., 1987, p. 130 et seq.
A palavra grega eudaimonia, geralmente traduzida por “felicidade”, é
mais bem expressa pela idéia de “atividade em concordância com a
excelência”, “boa vida” ou ainda “bem-estar”, “bem viver”.
237
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A excelência moral, continuava, relaciona-se com o deleite e com o sofrimento: “é por causa do prazer que praticamos más ações, e por causa da dor que nos abstemos de
ações nobres” (1104b). E explicava adiante: “Essa é também
a razão por que tanto a virtude como a ciência política giram
sempre em torno de prazeres e dores, de vez que o homem
que lhes der bom uso será bom e o que lhes der mau uso será
mau” (1105a). Como o bem constituía o fim de toda ação e
indagação, ele consistia no fim último ao qual todas as coisas, humanas ou naturais, visavam. Este bem, escrevia ele,
era o objeto da ciência “mais imperativa e predominante sobre tudo”, a ciência da política.58 A Ética – ou o estudo de
como um único homem atingia a finalidade suprema da sua
existência, o bem – era anunciada portanto como uma espécie de preâmbulo ao estudo de como uma ou várias cidades
atingiam esse mesmo fim, isto é, o estudo da política.
O mais alto bem que poderia levar à ação era, portanto,
segundo Aristóteles, a eudaimonia, ou o “bem viver”, comumente identificada – até mesmo pelas pessoas mais qualificadas – à felicidade. As divergências, explicava, se davam em
torno do que realmente seria esse “bem viver”, para uns o
prazer ou a riqueza, para outros a saúde ou as honrarias.59 A
58
59
“Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla
sobre o que devemos e sobre o que não devemos fazer, a finalidade dessa
ciência deve abranger a das outras, de modo que essa finalidade será o
bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o
indivíduo como para o Estado, o deste último parece ser algo maior e mais
completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena
atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais divino alcançálo para uma nação ou para as cidades-Estados. Tais são, por conseguinte, os fins visados pela nossa investigação, pois que isso pertence à ciência
política numa das acepções do termo” (Ética, 1094b – grifos meus).
Aristóteles admitia que virtudes como honra, prazer, razão e outras
eram escolhidas porque se acreditava poder atingir por meio delas a
felicidade (eudaimonia), o único fim supremo da ação. Eudaimonia sig
nificava a boa vida e, como tal, era composta, e não simples. Honra,
238
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
virtude por meio da qual se podia atingir esse fim era a aretê,
a excelência moral. Ser eudaimon equivalia a florescer, fazer
da própria vida um êxito. Sua filosofia ética se traduzia na
busca dessa eudaimonia. Pois, assegurava Aristóteles, todos
desejavam florescer ou fazer as coisas bem. E todas as nossas ações, na medida em que eram racionais, dirigiam-se a
essa finalidade última.60 Por essa razão ele podia dizer que a
eudaimonia constituía uma “certa atividade da alma em concordância com a excelência” (1099b).
O que se dizia do indivíduo, explicava o Filósofo, condizia com tudo o que valia a respeito da cidade. Isto é, “que o
objetivo da vida política é o melhor dos fins, e essa ciência
dedica o melhor de seus esforços a fazer com que os cidadãos
sejam bons e capazes de ações nobres” (1099b). O florescimento humano, portanto, ou fazer as coisas certas de um
modo excelente ou bom, requeria o exercício de certas faculdades que definiam a vida.61 Assim, um homem que as exercia ou cultivava mal não estava fazendo de sua vida um êxito.
60
61
prazer e o resto podiam ser partes da boa vida porque constituíam valores intrínsecos. Para conduzir uma vida feliz, era necessário reconhecer
tanto as coisas que tinham valor quanto unificar sua busca num todo
coerente. Isso requeria o exercício do que Aristóteles chamava de
phronesis, “sabedoria prática”, isto é, de uma “disposição racional para
agir em relação aos bens humanos” (1097a-b). Cf. BARNES, J. Introdução. In: ARISTOTLE. The politics. The politics and the constitution of Athens.
Ed. S. Everson, Cambridge: University Press, 1996. p. xxviii-xxix.
Cf. BARNES, op. cit., 1987, p. 131.
Aristóteles distinguia entre duas excelências: 1) a do caráter, entre as
quais se encontravam as chamadas virtudes morais (como a generosidade e a equanimidade), e também aquelas disposições a respeito de si
mesmo (como um grau adequado de ostentação e de engenho); e 2) a do
intelecto, que incluía coisas como o conhecimento, o bom juízo, a “sabedoria prática”. Esta requeria experiência e tempo e devia tanto seu nascimento quanto crescimento à instrução. Já a primeira, a excelência
moral, era produto do hábito e nada tinha que ver com a natureza: a
natureza nos dava apenas a capacidade de recebê-la; mas essa capacidade se aperfeiçoava com o hábito, tal como as artes (cf. Ética, 1103a).
239
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
“Isto é confirmado pelo que acontece nos Estados: os legisladores tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhes
incutem. Esse é o propósito de todo legislador, e quem não
logra tal desiderato falha no desempenho de sua missão. Nisso, precisamente, reside a diferença entre as boas e as más
constituições” (1103b).
A excelência moral, portanto, que se caracterizava por
constituir um meio-termo entre duas deficiências morais – o
excesso e a falta – e visava às situações intermediárias nas
emoções e nas ações, só podia ser atingida no meio-termo, o
qual, admitia ele, era muito difícil se alcançar. Para atingi-lo,
era preciso primeiro evitar seu extremo mais contrário, pois,
de dois extremos, dizia, um induzia mais ao erro e outro
menos. Se não era possível atingir o objetivo mais desejável,
devia-se escolher então o menor dos males. E aconselhava:
“em todas as coisas o agradável e o prazer é aquilo de que
mais devemos defender-nos, pois não podemos julgá-lo com
imparcialidade. A atitude a tomar em face do prazer é, portanto, a dos anciãos do povo para com Helena [...]; porque, se
não dermos ouvidos ao prazer, corremos menos perigo de
errar. Em resumo, é procedendo dessa forma que teremos
mais probabilidades de acertar com o meio-termo” (1109b).
O estudo desse meio-termo, quando aplicado às noções de justiça e injustiça, constituía peça fundamental para
a investigação da ciência que tratava a política. A palavra
injusto, segundo ele, aplicava-se tanto às pessoas que infringiam a lei quanto àquelas iníquas e ambiciosas, que desejavam mais do que aquilo a que tinham direito. Por oposição,
as pessoas que cumpriam a lei e aquelas que eram corretas
deviam ser consideradas justas.62 De onde concluía que todos os atos conformes à lei eram, num certo sentido, justos.
Pois as leis, em seus preceitos, visavam ao interesse comum
62
“O justo é, portanto”, escrevia, “o respeitador da lei e o probo, e o injusto
é o homem sem lei e ímprobo” (1129a).
240
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
de todas as pessoas.63 Por isso, devia-se nomear justos aqueles
atos que tendiam “a produzir e a preservar, para a sociedade
política, a felicidade e os elementos que a compõem” (1129b).
A lei era aquilo que determinava como se devia agir,
impondo a prática de certos atos e restringindo outros. Essa
concepção lhe permitia dizer que a justiça era
a virtude [aretê] completa no pleno sentido do termo por
ser o exercício atual da virtude completa. É completa porque aquele que a possui pode exercer sua virtude não só
sobre si mesmo, mas também sobre o seu próximo. (1130a)
E era no exercício do poder que o homem se revelava,
constatava o Filósofo, “pois necessariamente quem governa
está em relação com outros homens e é um membro da sociedade” (1130a). Pela mesma razão, entre todas as formas
de excelência moral, somente a justiça constituía o “bem dos
outros”. Excelência moral e justiça, portanto, podiam ser tratadas como equivalentes, embora tivessem essências diferentes.64 A injustiça, por sua vez, associava-se geralmente ao
exercício de uma deficiência moral em relação ao próximo.
Justiça, definia Aristóteles, consistia naquela qualidade que nos permitia dizer estar uma pessoa predisposta a
fazer, por sua própria escolha, aquilo que fosse justo.65 No
sentido político, o justo se apresentava entre
63
64
65
U. Charpa chama a atenção para um ponto interessante: ao comentar o
papel da ação justa em Aristóteles, o autor observa que ela não tinha
seu fundamento nem nos costumes dos ancestrais nem em qualquer
base divina: era um produto exclusivamente humano. Pois caracterizava-se, segundo o Filósofo, pelo fato de permitir uma reconstrução
argumentativa do que deveria ser o “bom direito”, o justo de cada pessoa. Cf. CHARPA, Ulrich. Aristoteles. Frankfurt am Main: Campus Verlag,
1991. p. 96.
“Aquilo que, em relação ao nosso próximo, é justiça, como uma determinada disposição de caráter e em si mesmo, é virtude” (1130a).
“E justiça é aquilo em virtude do qual se diz que o homem justo pratica,
por escolha própria, o que é justo, e que distribui, seja entre si mesmo
241
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
homens que vivem em comum tendo em vista a auto-suficiência, homens que são livres e iguais, quer proporcionalmente, quer aritmeticamente, de modo que entre os
que não preenchem esta condição não existe justiça política [...]. Com efeito, a justiça existe apenas entre homens
cujas relações mútuas são governadas pela lei; e a lei existe para os homens entre os quais há injustiça, pois a justiça legal é a discriminação do justo e do injusto. (1134a)
Ao governante cabia, portanto, na qualidade de guardião
da justiça comum, agir de acordo com as leis.66
Por estarem consubstanciadas na lei, a justiça e a injustiça existiam entre as pessoas cujas relações eram naturalmente regidas por meio da lei. Quer dizer, pessoas que
alternadamente participavam do governo e eram governadas.
Uma parte da justiça política era natural, outra legal: “natural
aquela que tem a mesma força onde quer que seja e não existe
em razão de pensarem os homens deste ou daquele modo;
legal, a que de início é indiferente, mas deixa de sê-lo depois
que foi estabelecida” (1134b7). Ou seja, havia coisas que eram
tais por natureza e outras que não eram naturais, e sim legais
e convencionais. Agir justamente significava escolher voluntariamente o justo, com base na excelência moral.
66
e um outro, seja entre outros dois, não de maneira a dar mais do que
convém a si mesmo e menos ao seu próximo (e inversamente no relativo
ao que não convém), mas de maneira a dar o que é igual de acordo com
a proporção; e da mesma forma quando se trata de distribuir entre
duas outras pessoas. A injustiça, por outro lado, guarda uma relação
semelhante com o injusto, que é excesso e deficiência, contrários à proporção, do útil ou do nocivo” (1134a).
E completava adiante: “Aí está por que não permitimos que um homem
governe, mas o princípio racional [a lei], pois que um homem o faz no seu
próprio interesse e converte-se num tirano. O magistrado, por outro
lado, é um protetor da justiça e, por conseguinte, também da igualdade.
E visto supor-se que ele não possua mais do que a sua parte, se é justo
[...], ele deve, portanto, ser recompensado, e sua recompensa é a honra
e o privilégio; mas aqueles que não se contentam com essas coisas tornam-se tiranos” (1134a-b).
242
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
A vida feliz, dizia Aristóteles, era aquela que estava em
conformidade com a aretê e requeria diligência. O caráter de
uma pessoa, portanto, devia estar previamente provido de
alguma afinidade com a excelência moral, amando o nobre e
detestando o aviltante. Assim, para ser boa, uma pessoa devia ser acostumada e exercitada, durante toda vida, em atividades concordantes com a excelência moral, abstendo-se de
praticar ações más.67 Esse objetivo podia ser alcançado sempre que as pessoas vivessem de acordo com a reta razão num
sistema correto dotado de poder coercitivo. Era a lei, e não a
autoridade paterna, esclarecia Aristóteles, que tinha o poder
de compulsão, constituindo ao mesmo tempo uma norma
originada de um tipo de sabedoria e razão prática. Por isso, o
mais correto era tratar questões de educação e de trabalho
como tarefas públicas (1180a).
As pessoas executariam melhor essa tarefa, explicava,
se se tornassem capazes de legislar.
Porque o controle público é evidentemente exercido pelas
leis, e o bom controle por boas leis. Que sejam escritas ou
não, parece não vir ao caso, nem tampouco que sejam leis
provendo à educação de indivíduos ou de grupos – assim
como isso também não importa no caso da música, da
ginástica e de outras ocupações semelhantes. (1180b)
Era por isso que estudar como se constituíam as leis, e
sobretudo as boas leis, os tipos de influências que construíam
67
“[...] pois levar uma vida temperante e esforçada não seduz a maioria
das pessoas, especialmente quando são jovens. Por essa razão, tanto a
maneira de criá-los como as suas ocupações deveriam ser fixadas pela
lei; pois essas coisas deixam de ser penosas quando se tornaram habituais. Mas não basta, certamente, que recebam a criação e os cuidados
adequados quando são jovens; já que mesmo em adultos devem praticálas e estar habituados a elas, precisamos de leis que cubram também
essa idade e, de modo geral, a vida inteira; porque a maioria das pessoas obedece mais à necessidade do que aos argumentos, e aos castigos
mais do que ao sentimento nobre” (1180a).
243
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
e destruíam os Estados, as boas e as más constituições e
suas causas etc., era imprescindível para a construção da
boa polis e da boa vida – e tarefa do estudo da arte e ciência
da política.68 A justiça, fundamento de toda vida coletiva, por
constituir uma relação, não podia ser praticada por indivíduos isoladamente. Tampouco podiam as excelências humanas ser exercidas por eremitas.
O homem, esclarecia Aristóteles, era por natureza um
animal civil (zoon politikon).69 Essa afirmação derivava de sua
teoria da natureza humana, segundo a qual os animais propriamente sociais eram todos aqueles que exerciam alguma
atividade particular comum, como as abelhas, os homens,
as formigas etc. Ou seja, não bastava serem animais gregários:
era preciso que repartissem também um objetivo comum. E
a particularidade dos seres humanos residia no fato de, diferentemente dos outros animais sociais e gregários, discernirem entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Participar dessas
coisas era o que caracterizava “uma família e um Estado”.
Comunidade e Estado não eram ligações artificiais impostas
ao homem natural: constituíam manifestações da própria
natureza humana. E isso era o que ele pretendia demonstrar
na Política.
3. Da primazia do bem comum: a especificidade
da política
Mas, afinal, o que significava conhecer a política? Alcançar a compreensão de algo, dizia Aristóteles, era ser ca68
69
“Após estudar essas coisas”, escrevia o Filósofo, “teremos uma perspectiva mais ampla, dentro da qual talvez possamos distinguir qual é a
melhor constituição, como deve ser ordenada cada uma e que leis e
costumes lhe convém utilizar a fim de ser a melhor possível” (1181b).
O termo abrangia, em grego, tanto a dimensão propriamente política
quanto a social.
244
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
paz de fornecer certas explicações básicas para o objeto em
questão: qual era sua forma, de que era feito e para que servia. No caso de um Estado, definia ele, sua forma era a constituição de que dispunha; sua matéria, os seus cidadãos; e
seu propósito, o bem-estar destes. A investigação política,
entretanto, diferentemente da física, por exemplo, não constituía apenas uma “ciência” (episteme), mas também uma
“arte” (techne).70 Isto é, embora tivesse princípios gerais de
funcionamento, tinha também de ser praticada, como a música, pois somente a experiência – ou a sabedoria prática –
podia fornecer “obras de arte” como as boas leis.
Assim, o pensador político devia considerar não apenas o melhor governo e de que tipo ele devia ser para mais
concordar com as aspirações de seus cidadãos, mas precisava saber também qual seria o melhor tipo de Estado em circunstâncias particulares, quando estas não eram ideais. O
objetivo do estudioso da política, portanto, era produzir um
tipo de Estado que tornasse seus membros capazes de alcançar a eudaimonia. Para isso, precisava conhecer como os
Estados funcionavam e, em particular, as causas de sua geração, preservação e destruição. Sem esse conhecimento, ele
não seria capaz de produzir estruturas constitucionais que
permitissem a um Estado criado sobreviver. Para dar conta
desse programa de pesquisa, Aristóteles explicava que toda
polis71 era uma espécie de comunidade. Como toda comuni70
71
Cf. ARISTÓTELES. Ética (1180b-1181a). Na Ética, esclarece Barnes, uma
techne era definida como uma “disposição produtiva envolvendo um
resultado verdadeiro” (1140a10). Isto é, adquirir a arte política equivalia a obter uma disposição para produzir algo. A aquisição dessa disposição era o resultado do processo de entendimento da relevância do
objeto, razão pela qual uma arte envolvia a posse de um resultado verdadeiro. O cientista político, portanto, precisava dar conta de seu objeto, o Estado, conhecer seu significado e sobretudo seu propósito. Cf.
BARNES, op. cit., 1996, p. xxxii.
O termo “polis” designava a cidade-Estado grega, que se caracterizava
como uma unidade política autônoma e auto-suficiente, voltada para a
245
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
dade se formava com vistas a algum bem – fim de todas as
ações praticadas pelos seres humanos –, então a mais importante delas, que incluía as demais, era a polis ou a comunidade política.
Para examinar como se davam a relação de mando e os
elementos que compunham a polis, Aristóteles dizia que era
preciso primeiro decompor o conjunto até chegar a seus
elementos mais simples.72 (1252a), critério fundante de seu
método explicativo. Assim procedendo, concluía que os elementos básicos da menor unidade existente, a família, eram
o senhor, a mulher e o escravo.73 A comunidade de várias
famílias formava um povoado, constituído para a satisfação
de algo mais do que as simples necessidades diárias. À comunidade que se constituía a partir de diversos povoados e
72
73
satisfação das necessidades e interesses dos seus membros, os cidadãos. Muitos são os vocábulos utilizados para expressá-la: é freqüente
encontrar a noção traduzida por “cidade”, “Estado”, “cidade-Estado”,
“comunidade política”, entre outras. Neste texto, a palavra grega será
mantida. Onde houver citações de outros autores, será mantido o vocábulo empregado pelo tradutor para designá-la.
As citações da Política aqui constantes foram retiradas de duas edições,
uma brasileira: ARISTÓTELES. Política. Trad. de Mário da Gama Kury.
Brasília: Editora da UnB, 1988; e outra inglesa: ARISTOTLE. The politics.
Ed. S. Everson. Cambridge: University Press, 1996. A indicação das
passagens, contudo, continuará obedecendo ao sistema internacional,
constante em quase todas as traduções contemporâneas.
Como unidades naturais, o senhor e a mulher se uniam para a perpetuação da espécie. E da união entre um comandante e um comandado
naturais (senhor e escravo) – união que visava à preservação recíproca
– resultava a satisfação das necessidades diárias de uma casa. De onde
decorria que todos os membros dessa unidade básica compartilhavam
dos mesmos interesses (1252b). A função do chefe da família se
desmembrava nas partes correspondentes aos elementos que a formavam: a relação matrimonial, a de paternidade e a de posse. Os bens
eram um dos elementos constituintes da família, e “a arte de enriquecer” fazia parte da função do chefe, já que os bens, entre os quais estavam os escravos, constituíam um instrumento para assegurar a vida
(1254a).
246
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
se unia num único grupo completo grande o bastante para
ser auto-suficiente, ele chamava polis. Além de assegurar a
vida de seus membros, a polis era constituída para lhes proporcionar uma vida melhor – a “boa vida” ou eudaimonia – e
constituía o estágio final do desenvolvimento natural da unidade primeira, a família (1253a).
Como se podia afirmar a naturalidade da polis? O ser
humano, explicava o Filósofo, era um animal naturalmente
civil, a quem a natureza, que nada fazia em vão, concedeu o
dom da fala. E um homem que, por alguma razão, não fizesse parte da polis, seria um monstro, dizia, ou um super-homem acima da humanidade. Pois o homem era um animal
naturalmente gregário. Em comparação com outros animais,
sua característica específica residia no fato de que apenas ele
tinha o senso do bem e do mal, do justo e do injusto, e outras
qualidades morais (1252b-1253a). A associação de seres viventes com tais sentimentos constituía unidades comuns,
como a família e a polis.74 A justiça era, portanto, o laço que
unia os homens em uma polis, pois a administração da justiça, isto é, a determinação do justo, constituía o princípio
ordenador de uma sociedade política (1253a35).
Em todas as coisas compostas, continuava, sempre
haveria alguém para mandar e outro para obedecer. Essa
particularidade dos seres humanos decorria da filosofia natural como um todo, pois, “mesmo em coisas que não têm
vida, há um princípio dominante, como no caso da harmonia
musical” (1254a). Um ser vivo, prosseguia, era constituído
de alma e corpo: a primeira era por natureza dominante; o
último, dominado. Mas era apenas no homem, que possuía o
mais perfeito estado de ambos, que se podia distinguir a natureza do comando do senhor e o do legislador. Em todas as
74
Mas avisava: quando destituído de excelência, isto é, das qualidades
morais que produziam o bem, o homem tornava-se o mais impiedoso e
selvagem dos animais (1253a15).
247
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
criaturas viventes era observável uma regra despótica e outra constitucional: assim, a alma governava o corpo com uma
regra despótica, enquanto o intelecto regia os apetites por
meio de uma regra constitucional e real (1254b).
Aquele que fosse suscetível de pertencer a outrem era
escravo por natureza. Por isso, só participava da razão até o
ponto de apreender essa participação, mas não ia além. A
autoridade de um senhor sobre os escravos, portanto, não
era comparável à autoridade do governante sobre seus súditos. Pois nem todas as formas de mando eram iguais: havia
um tipo de autoridade aplicável sobre os homens naturalmente livres, que diferia daquela aplicável aos escravos.75 A
autoridade do chefe de família era de tipo patriarcal, já que
cada família era governada por um chefe. Já a autoridade
especificamente política, aquela característica da polis, era
exercida sobre homens livres e iguais (1255b).
Uma das marcas distintivas dessa comunidade política, que era mais do que uma coleção de aldeias, consistia no
fato de dispor de uma constituição resultante de deliberação
e escolha. Nesse sentido, era mais um artifício do que uma
natureza. Mesmo sendo matéria de deliberação, argumentava o Filósofo, o Estado não deixava de ser natural, pois constituía o objetivo último (telos) do processo de desenvolvimento
social, cuja raiz era natural – assim como o fim da larva era
tornar-se borboleta. Ou seja, o Estado plenamente constituído era natural. Mas devia ser mantido pelos homens, isto é,
75
Mas havia, por natureza, vários tipos de comandantes e comandados,
já que o homem livre comandava o escravo diferentemente do modo
como comandava a fêmea e a criança. Todos possuíam as várias partes
da alma, mas de formas diferentes: o escravo não detinha a faculdade
da deliberação; a mulher a tinha, mas sem autoridade plena; e a criança também, mas ainda em formação. “Deve-se necessariamente supor
que o mesmo ocorra quanto às excelências [ou qualidades morais]: todos devem partilhá-las, mas apenas de maneira e no nível exigido de
cada um para o cumprimento de sua função” (1260a).
248
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
por cidadãos que escolhiam e deliberavam, de modo a preservar ao máximo o fim para o qual existia, o bem da comunidade. Sua degeneração ou corrupção seria mais ou menos
rápida de acordo com a capacidade de seus membros de cultivar a forma constitucional mais adequada ao seu Estado.76
O que determinava os atributos de uma polis era, portanto, a forma de sua constituição (1276b). Como essa polis
– objeto da atividade do estadista ou legislador – era uma
espécie de reunião de cidadãos sob um mesmo governo, escrevia Aristóteles, qualquer alteração na forma desse governo modificava também a configuração de sua estrutura. Os
cidadãos podiam diferir entre si, mas repartiam, todos, uma
preocupação: a segurança da comunidade que habitavam. E
se a comunidade equivalia à sua constituição, então a excelência do cidadão deveria relacionar-se à excelência da constituição da qual ele participava. Como havia várias formas de
governo (ou constituições), não podia existir apenas uma excelência que fosse a única perfeita de um bom cidadão: a
bondade do cidadão não era uma só, pois a polis era constituída de pessoas dissímiles (1277a).77
76
77
A natureza de uma substância era para o Filósofo um princípio interno
de mudança. Por isso ele podia dizer que o Estado era natural: porque
constituía o fim do processo de desenvolvimento social. Aqui ele estava
apenas aplicando sua explicação geral da transformação natural à teoria do Estado. A idéia de fim era teleológica: a transformação natural
não seria propriamente explicada a menos que seu propósito se tornasse claro. O telos não era o ponto no qual o processo de crescimento
terminava, e sim era o ponto que justificava todo o processo. Cf. BARNES,
op. cit., 1996, p. xxi-xxiii.
Como toda polis era composta de uma multidão de cidadãos (em número suficiente para assegurar sua independência), era preciso investigar
primeiro a natureza do cidadão, e o tipo de pessoa que devia ser assim
denominada. O cidadão no sentido estrito, afirmava, tinha como característica especial dividir a administração da justiça e o exercício das
funções públicas. Isto é, participava das funções deliberativa e judicial
numa comunidade. Mas essa definição de cidadão, alertava Aristóteles,
249
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Se havia diversos tipos de cidadãos, era lógico que existissem várias formas de governo. Uma constituição era definida pelo ordenamento dos magistrados de uma cidade – isto
é, das diversas funções de governo –, especialmente do maior
deles. O governo exercia em toda parte a supremacia na polis,
e a constituição era o próprio governo. Nas democracias, por
exemplo, dizia ele, o povo detinha o poder supremo.78 Já numa
oligarquia apenas uns poucos e numa monarquia apenas
um homem ou uma família. Daí serem as formas constitucionais diversas (1278a-b). A forma de governo de uma polis
era definida, portanto, segundo o tipo de ordenamento do
poder: se era exercido por um (monarquia), por poucos (aristocracia) ou por uma multidão (governo constitucional).79 Por
isso, podia afirmar que constituição e governo eram dois vocábulos que tinham o mesmo significado.
Os homens eram, por natureza, animais políticos e tendiam à vida em sociedade por repartirem interesses comuns,
os quais permitiam a cada um deles alcançar um certo nível
de bem-estar. Esse era certamente “o fim principal tanto dos
78
79
aplicava-se especificamente a uma politéia. O cidadão seria diferente
sob cada forma particular de constituição da polis (1275a-b).
A melhor forma de governo, argumentava Aristóteles, parecia ser aquela na qual a maioria dos cidadãos exercia o poder supremo. Pois, embora os integrantes da maioria pudessem, isoladamente, não ser bons,
quando reunidos eram em geral melhores do que os poucos individualmente bons. Ou seja, porque cada indivíduo, entre os muitos, “tem uma
porção de excelência e de sabedoria prática, e quando eles se reúnem é
como se de alguma maneira se tornassem um só homem, o qual tem
muitos pés, e mãos, e sentidos; assim também ocorre em relação ao seu
caráter [ou faculdades morais] e pensamento [ou intelecto]”. Mas nem
sempre a superioridade coletiva da maioria excedia em excelência os
poucos homens: por isso, havia várias formas de governo que visavam
ao bem comum (1281b).
As perversões dessas formas, prosseguia, eram respectivamente a tirania (que visava apenas ao interesse do monarca), a oligarquia (que visava ao interesse dos ricos) e a democracia (que perseguia somente o
interesse dos pobres) (1279a-b).
250
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
indivíduos quanto do Estado” (1278b). Uma polis, portanto,
era formada não apenas para assegurar a vida, mas também
para proporcionar a boa vida (eudaimonia). Por isso, ela constituía mais do que uma mera reunião de pessoas num lugar
comum, com o objetivo de evitar ofensas recíprocas e trocar
produtos. Embora fossem pré-requisitos para a sua existência, esses fins não bastavam para constituir uma polis, que
devia ser perfeita e auto-suficiente. Suas instituições eram os
instrumentos que a conduziam para seu fim. E, por ser essa
maneira de viver feliz e enobrecedora, a sociedade política
devia existir para a prática de ações nobres (1281a).
Tanto as instituições quanto as ações nobres requeriam definições do “justo e do injusto”. Embora a capacidade
para adquirir esse senso fosse de fato natural e inata, explicava o Filósofo, conferir-lhe efetividade requeria a participação num agrupamento cujo “princípio fundamental de
ordenação” era a administração da justiça. Apenas os seres
humanos, assegurava ele, partilhavam tanto as relações sociais quanto a habilidade para regular seu comportamento
segundo a virtude. O melhor governo, portanto, seria aquele
cujos membros estivessem mais bem equipados para saber
como preencher o propósito do Estado: permitir aos cidadãos alcançar a eudaimonia. Mas, quer o governo estivesse
nas mãos de uma pessoa, de poucas ou muitas, sua função
era sempre a mesma. O crucial não era quem governava,
mas que se governasse de maneira justa. Isto é, de acordo
com o interesse comum.
Para assegurar a justiça, esclarecia o Filósofo, os homens procuravam um instrumento: a lei (1287b). E as leis,
que regulavam a vida de uma polis, seriam boas ou más, justas ou injustas, segundo a forma do governo. As leis tinham
de ser adaptadas às diferentes constituições, de acordo com a
natureza de cada uma delas.80 Quando isso acontecia, as for80
“Um povo capaz por natureza de produzir uma estirpe excelente nas
qualidades necessárias ao comando político é um povo feito para a mo251
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mas verdadeiras de governo deveriam necessariamente ter
leis justas, e as formas degeneradas de governo teriam leis
injustas. Uma constituição era pervertida quando os governantes legislavam mais em seu próprio interesse do que no
interesse dos cidadãos como um todo, o que constituía injustiça. Em todas as ciências e artes, continuava ele, o fim era
um bem; e o bem supremo e mais elevado entre todos era a
ciência política,81 cujo fim era a justiça comum – ou, dito de
outro modo, o interesse comum (1282b).
Ou seja, segundo Aristóteles, as comunidades políticas
apareciam sob formas diferentes. A polis, especificamente,
constituía uma reunião de cidadãos. E um cidadão se definia
melhor “por sua participação nas funções judiciais e encargos políticos”. Os assuntos de um Estado deviam, sempre
que possível, ser geridos diretamente pelos cidadãos, cada
qual membro da assembléia ou corpo deliberativo da nação.
81
narquia; um povo cujos componentes se sujeitam, como homens livres,
a ser governados por homens cujas qualidades os credenciam para o
comando político é feito para a aristocracia, e o povo feito para o governo constitucional é aquele entre cujos componentes existe uma maioria
combativa, constituída de homens capazes de mandar e obedecer
alternadamente sob uma lei que distribui as funções de governo entre
os homens de posses de acordo com seus méritos” (1288a).
“It would seem to belong to the most authoritative art and that which is
most truly the master art. And politics appears to be of this nature; for it
is this that ordains which of the sciences should be studied in a state,
and which each class of citizens should learn and up to what point they
should learn them; and we see even the most highly esteemed of capacities
to fall under this, e.g. strategy, economics, rhetoric; now, since politics
uses the rest of the sciences, and since, again, it legislates as to what we
are to do and what we are to abstain from, the end of this science must
include those of the others, so that this end must be the good for man. For
even if the end is the same for a single man and for a state, that of the
state seems at all events something greater and more complete both to
attain and to preserve; for though it is worth while to attain the end merely
for one man, it is finer and more godlike to attain it for a nation or for citystates. These, then, are the ends at which our inquiry, being concerned
with politics, aims” (1094a18-1094b11).
252
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
O poder político detido por um cidadão variava de acordo
com o tipo de constituição de que desfrutava a sua cidade: as
diferentes constituições confiavam a pessoas ou instituições
diversas a autoridade de legislar e de determinar a política de
governo.
Uma polis, qualquer que fosse a sua constituição, devia ser auto-suficiente e conseguir alcançar o objetivo para o
qual existia: a “boa vida”. A meta do Estado, o bem viver,
identificava-se portanto à eudaimonia, a meta dos indivíduos.82 Esse objetivo da polis vinculava-se a outro ideal elevado: a liberdade, “princípio fundamental das constituições”,
pois só um indivíduo livre era capaz de escolher e deliberar.
Essa liberdade, contudo, era limitada aos cidadãos, categoria que excluía mulheres, crianças e escravos. O Estado devia regular de diversas formas a vida de seus membros, já
que “todos os cidadãos pertenciam ao Estado”.83 Como cabia
ao Estado fomentar a “boa vida”, este podia, com o objetivo
de melhorar a condição dos homens, intervir devidamente
em qualquer aspecto da existência humana e obrigar os seus
súditos a tudo que os tornasse “felizes”.
O bom governante, portanto, tinha de ser capaz de respeitar as circunstâncias particulares de seu povo, sem ignorar as diversas constituições nem as possíveis combinações
entre elas. O mesmo discernimento político, dizia, iria permitir a um homem conhecer as melhores leis, e aquelas apropriadas às diferentes formas de governo. Pois as leis eram – e
tinham de ser – moldadas com vistas à constituição, e não o
82
83
As cidades-Estados, que eram entidades naturais, tinham, como outros objetos da natureza, uma meta ou fim: a teleologia era um traço
não apenas da filosofia natural de Aristóteles, mas também de sua teoria política. Cf. BARNES, op. cit., 1987, p. 135-7.
“Neither must we suppose that anyone of the citizens belongs to himself,
for they all belong to the state, and are each of them a part of the state,
and the care of each part is inseparable from the care of the whole”
(1337a30).
253
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
contrário. A forma de governo era a organização das funções
dentro de uma polis e determinava o que devia ser o corpo
governante e qual o fim de cada comunidade.84 As leis, contudo, alertava, não deviam ser confundidas com os princípios da constituição: elas eram as regras segundo as quais
os magistrados deviam administrar a polis e proceder contra
os ofensores. O legislador devia, portanto, conhecer as diferentes espécies de leis e formas de governo (1289a).85
As formas “puras” de governo, definia o Filósofo, eram:
a monarquia, a mais extraordinária de todas quando visava
ao interesse comum, mas que passava a ser a pior entre todas quando degenerava em tirania; a aristocracia, que, quando
corrompida em oligarquia, seguia-se à tirania em matéria de
mau governo; e o governo constitucional, que, quando pervertido, apresentava o desvio mais moderado: a democracia
(1289b). Partindo dessas formas puras, inúmeras formas
mistas podiam ser construídas, combinando elementos variados. E a razão para a existência de várias formas constitucionais repousava na diversidade que compunha a polis,
formada de camadas sociais diversas. Aristóteles localizava
duas classes fundamentais numa comunidade política: ricos
e pobres. As demais oscilavam entre esses dois pólos.86 A
84
85
86
E eram necessárias tantas formas constitucionais quantos eram os
modos de ordenamento das funções numa comunidade política (1290a).
Toda forma de governo era composta de três partes que deviam sempre
ser conhecidas pelo bom legislador: a deliberação dos assuntos públicos; as funções públicas; e o poder judicial. O elemento deliberativo
detinha autoridade em matéria de guerra e paz e de fazer e desfazer
alianças; aprovava leis, infligia a morte, exilava, confiscava, elegia magistrados e auditava suas contas (1298a).
Mas, de fato, as várias polis eram constituídas basicamente de oito partes: a massa dos agricultores, a classe dos artesãos, a comercial (que
comprava e vendia), a dos trabalhadores braçais, a dos defensores da
cidade na guerra (militares), aquela encarregada de administrar a justiça, a dos ricos (que eram contribuintes) e, por fim, a dos servidores
públicos e dos administradores (1291a-b).
254
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
predominância de cada uma dessas partes era o que determinava a forma de governo.
Depois de discutir detalhadamente algumas de suas
variações, Aristóteles concluía que a tirania era a menos constitucional das formas de governo. E a mais devastadora entre
as tiranias, especificava, era a monarquia absoluta, pois nela
a lei se submetia à vontade do monarca e visava aos seus
interesses particulares.87 Seguindo um princípio básico de
sua filosofia natural, Aristóteles aplicava à política a tendência à virtude do meio-termo. A moderação, dizia ele, era geralmente tida como o melhor, pois na posição intermediária
era mais fácil obedecer à razão do que nos extremos, nos
quais se tendia ou à não-obediência ou ao governo despótico.88 Por isso, afirmava, uma polis composta de cidadãos de
classe média era necessariamente mais bem constituída no
que dizia respeito aos seus elementos (1295a-b).89
Embora a condição média fosse a mais desejável, conhecer a melhor forma de governo para uma determinada
87
88
89
“E a regra da lei, argumenta-se, é preferível àquela de qualquer indivíduo. Segundo o mesmo princípio, mesmo que fosse melhor ter certos
indivíduos a governar, eles devem ser apenas nomeados guardiões e
servidores da lei. Pois [...] é injusto dar autoridade a um único homem
quando todos são iguais” (1287a).
Os governantes, embora não precisassem sempre governar segundo as
normas escritas, deviam estar imbuídos do princípio geral existente na
lei. Pois a lei, diferentemente da alma humana, lembrava o Filósofo, não
estava sujeita às paixões humanas, sendo-lhe por isso superior (1286b).
Essa era também a classe de cidadãos mais segura, esclarecia, pois não
cobiçavam, como os pobres, os bens alheios, nem eram objeto da cobiça
de terceiros; e, dado que não tramavam contra outros, nem outros contra eles, passavam pela vida de maneira segura (1295b). A condição
média da polis era claramente a melhor também por outra razão: onde
a classe média era numerosa, dizia, havia menos probabilidade de existir facções e partidos. Também por isso as democracias eram mais seguras e duradouras do que as oligarquias. Pois tinham uma classe média
mais numerosa e, com isso, uma maior porção do governo (1295b1296a).
255
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
polis, insistia Aristóteles, implicava decidir primeiro qual era
a forma de vida mais desejável. Para chegar a um consenso
sobre ela, argumentava, era preciso começar falando da felicidade. Todo homem feliz, dizia, possuía três tipos de bens:
os exteriores, os do corpo e os da alma (1323a). Os homens
adquiriam e preservavam os bens exteriores graças às suas
excelências (ou qualidades morais). A felicidade, consistisse
ela no prazer ou na excelência, ou em ambos, era mais comumente encontrada entre aqueles mais cultivados em suas
mentes e em seu caráter, e que detinham somente uma porção moderada de bens exteriores (1323b).
A felicidade de cada um era assim proporcional à sua
excelência e sabedoria e à sua conduta moral e sensatez.
Conseqüentemente, podia-se demonstrar que a polis feliz era
aquela na qual os cidadãos agiam corretamente; e eles não
podiam agir de modo reto sem executar ações corretas. E
nem o indivíduo nem o Estado podiam agir corretamente sem
excelência e sabedoria. Portanto, a melhor vida, tanto para
os indivíduos quanto para a polis, era a vida da excelência,
quando esta detinha bens externos o suficiente para a prática de ações (moralmente) boas (1324a).
A felicidade da polis era assim a mesma de cada homem, pois, se os indivíduos eram virtuosos em razão de suas
excelências, ou qualidades morais, também a cidade moralmente mais excelente seria a mais feliz (1324a). E o bom
legislador, esclarecia, devia examinar como os Estados e os
“tipos” de homens e comunidades podiam participar da boa
vida e da felicidade a ser alcançada. Pois a felicidade, definia
Aristóteles, como a política, era atividade. E as ações das
pessoas justas e sábias conduziam à realização de muitas
das coisas nobres. Por isso, se existia uma pessoa superior a
nós em excelência e em capacidade, capaz de praticar as melhores ações, esta era a que se devia seguir e obedecer, desde
que desfrutasse tanto de capacidade para a ação quanto de
256
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
excelência moral. Pois ser bem-sucedido constituía o objetivo da felicidade. E o sucesso era fundamentalmente uma
atividade, uma forma de ação (1235b).
Quais eram então as bases para a constituição de uma
polis que estivesse em concordância com nossos desejos?,
perguntava o Filósofo. E respondia: como outros artesãos, o
estadista ou legislador também precisava ter os materias
adequados à sua função. O primeiro desses materiais requeridos pelo estadista era a população: era preciso considerar
qual devia ser o número e a característica dos cidadãos. Uma
polis constituída de poucos habitantes não poderia ser autosuficiente; mas também não seria fácil dotá-la de um governo constitucional se fosse muito grande e numerosa. Pois a
lei era ordem, e boa lei era boa ordem. Uma multidão muito
numerosa não podia ser mantida em boa ordem (1326a). Uma
polis, portanto, só passava a existir quando atingia um número suficientemente grande de habitantes para a realização
da boa vida na comunidade política.
Já as qualidades naturais da população de cidadãos,
constatava o Filósofo, podiam ser de vários tipos, cabendo a
cada qual formas diferentes de governo. Havia povos inteligentes e inventivos, mas que careciam de coragem, vivendo
por isso escravizados, como os nativos da Ásia. Outros tinham excesso de coragem, mas lhes faltava inteligência e
habilidade, como no caso dos povos dos lugares frios. Outros
ainda, como os helênicos, participavam de ambas as características e, por isso, conservavam-se livres e tinham as melhores instituições políticas. Mas, quando comparados entre
si, também os povos helênicos apresentavam certa diversidade. Aqueles povos que o legislador poderia conduzir mais
facilmente à excelência deviam ser considerados tanto inteligentes quanto corajosos (1328a).
As terras, continuava, deviam pertencer aos proprietários de armas e aos detentores do direito de tomar parte no
257
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
governo. Mas, embora a terra devesse ser propriedade privada, advogava Aristóteles, seu uso devia ser comum, organizado por meio de um consenso amistoso no qual nenhum
cidadão fosse privado dos meios de subsistência. Para isso,
as terras deviam ser divididas em duas partes: uma pública, para uso comum; e outra privada (1330a). Desse conjunto de atributos decorria que algumas características
deviam ser preexistentes à formação de uma polis – como a
população – e outras deviam ser supridas pelo legislador –
como a distribuição da propriedade. Ou seja, a boa polis era
produto tanto da ciência da política quanto de um certo
acaso (1132a).
Como o estadista tinha a tarefa de tornar os cidadãos
aptos para a felicidade, era preciso que soubesse neles desenvolver aquelas qualidades morais que nos levavam a
chamá-los de bons.90 Como a alma dos homens dividia-se
numa parte racional e noutra irracional, explicava Aristóteles, o estadista devia legislar tendo isso em vista, e assim
considerar as partes da alma e suas funções e, acima de
tudo, o melhor e o fim.91 Por isso, a educação devia ser necessariamente uma só e a mesma para todos. E devia ser
pública, não privada. Pois o aprendizado das coisas que eram
de interesse comum devia ser igual para todos. Como o cuidado das partes era inseparável do cuidado do todo, a educa90
91
Três coisas tornavam os homens bons e excelentes: a natureza, pois
nasciam com certas qualidades de corpo e alma; o hábito, que os guiava; e a razão, faculdade exclusiva dos seres humanos, a qual permitia
distinguir o justo do injusto. A harmonização dessas três características proporcionava a felicidade (1332a).
“O mesmo princípio se aplica aos modos de vida e à escolha das ocupações”, escrevia ele, “pois um homem deve ser capaz de dedicar-se aos
negócios e à guerra, mas ainda mais capaz de viver em paz e no lazer;
ele deve fazer o que é necessário e útil, mas deve preferir o ótimo. Este
deve ser o escopo quanto à educação dos cidadãos, seja em sua infância, seja mais tarde, quando se torna imperativo instruí-los” (1333a-b).
258
CAP. 3 - A POLÍTICA EM TRANSFORMAÇÃO
ção constituía um assunto de Estado e devia ser regulamentada por lei (1337a).
Mas, antes de ter cidadãos deste ou daquele tipo, portanto, uma polis tinha de ser dotada de uma constituição.
Isto é, tinha de ser unificada sob um governo. Pois ser um
cidadão era ser um membro de alguma polis particular.92 A
polis era, portanto, anterior aos seus cidadãos, do mesmo
modo que “o todo precedia necessariamente a parte”. Esse
raciocínio lhe permitia sustentar que o Estado era “anterior
por natureza à família e ao indivíduo” (1253a18-19). E exatamente porque o Estado constituía aquele todo que precedia
as partes, era uma sua tarefa, e não dos pais, cuidar da instrução das crianças. Pois a “negligência na educação fere a
constituição” (1137a12).
Ou seja, para além da naturalidade, a manutenção da
comunidade política dependia também da ação reguladora.
Essa era uma idéia que iria inspirar fortemente tanto os pensadores políticos medievais quanto os modernos. Nas palavras de Aristóteles:
E por isso só podemos desejar ser nossa polis constituída
de maneira tal que seja abençoada com os bens de que
dispõe a fortuna (pois reconhecemos seu poder); excelência e bondade no Estado, entretanto, não constituem uma
matéria do acaso, mas o resultado de conhecimento e
escolha (1332a).93
92
93
Era isso, aliás, o que explicava que aquele que era cidadão num governo
constitucional amiúde não podia ser considerado tal numa oligarquia
(1275a3-5).
Optou-se aqui pela tradução da versão inglesa. Consta da versão brasileira: “Por isto devemos desejar que a organização da cidade seja beneficiada com aquelas qualidades das quais a sorte é a senhora
(reconhecemos que ela exerce este domínio); mas não é por obra da
sorte que a cidade age de acordo com as qualidades morais, e sim da
ciência e da premeditação” (1132a).
259
Era esse conjunto de idéias, sistematizadas de maneira extremamente coerente, que passava a estar agora integralmente disponível – e não mais apenas de forma indireta
ou em fragmentos – aos pensadores ocidentais latinos. O
material não apenas permitia a revisão e ordenação das leituras feitas ao longo de toda a Idade Média, mas também
fornecia, como conjunto, um sistema de pensamento mais
adequado ao caminho de naturalização e secularização das
idéias e argumentos em curso desde pelo menos meados do
século XI.
Mas era preciso também acomodar o Aristóteles grego
à realidade medieval do burgo. E mais complicado ainda:
adaptá-lo ao imaginário medieval, profundamente marcado
pela presença e pela crença inquestionável na existência de
um Deus supremo, ordenador do natural e do sobrenatural.
Esse trabalho de reinterpretação – que já vinha sendo realizado tanto por teólogos como por juristas e filósofos naturais
– ganharia nova síntese na obra do dominicano Tomás de
Aquino, que, por ter tido à disposição não somente traduções completas do que havia restado da obra do Filósofo,
mas ainda boa parte da produção científica e teológica da
época, pôde conferir a esse material nova roupagem e adequálo aos cânones da época.
Essa nova síntese, embora viesse de dentro dos muros
da Ecclesia, não deixava contudo de contribuir de modo fundamental para a secularização e naturalização do pensamento, fosse no raciocínio dos homens comuns, fosse naquele
dos teóricos da política, disciplina cujas categorias básicas
encontravam-se em franco processo de autonomização. A
natureza passava, paulatinamente, a se impor como mediadora entre o divino e o humano. Tornava-se a instância que
operava as ações, relegando a idéia de Deus a um papel cada
vez mais abstrato. Isso era o que se podia perceber, por exemplo, nos trabalhos de Alberto Magno ou de Tomás de Aquino,
dois profundos conhecedores da filosofia grega.
CAPÍTULO 4
TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E
COMENTADOR DOS ANTIGOS
I OS FUNDAMENTOS ARISTOTÉLICOS
DA METAFÍSICA TOMISTA
O grande feito de Tomás de Aquino, escreve Ullmann,
foi realizar uma síntese entre a filosofia pagã aristotélica e a
cosmologia cristã, despojando a primeira daqueles elementos inaceitáveis a um crente.1 Pode haver, é claro, algum exagero na formulação. Mas a ordenação conceitual produzida
por Tomás de Aquino, que incluía não apenas autores pagãos como Aristóteles, mas também as Escrituras e boa parte da tradição medieval cristã acumulada ao longo dos séculos, permitiria pôr num novo patamar de fundamentação
filosófica os vários desenvolvimentos ocorridos até então nos
campos da filosofia natural, do pensamento político, da jurisprudência e da própria teologia. Mais do que cristianizar
os antigos, Tomás de Aquino conferiu à filosofia clássica grecoromana uma nova roupagem, apropriando-a aqui, transformando-a acolá, à moda dos mais respeitáveis pensadores
medievais.
A grande identificação, entretanto, é comumente associada à filosofia aristotélica: é muito freqüente entre os comentadores a designação “aristotélico-tomista” para
caracterizar a filosofia produzida pelo Aquinate. Sem entrar
no mérito desse debate – o que nos conduziria muito além
dos propósitos imediatos deste trabalho, a discussão das categorias propriamente políticas –, cabe talvez, no entanto,
1
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 167.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mostrar de maneira cuidadosa alguns pontos relevantes em
que esses estes dois corpos filosóficos se aproximam e se
distanciam. À primeira vista, a doutrina do Doutor Angélico
parece excessivamente próxima da do seu mestre grego. Mas
há entre elas diferenças fundamentais.2
De maneira genérica, podem-se apontar primeiro algumas semelhanças mais evidentes: Tomás de Aquino utilizava
a lógica formal aristotélica. Ambos os pensadores raciocinavam em termos de atualidade e potencialidade; de causas
final, eficiente, material e formal; da divisão do pensamento
científico entre teórico (ou especulativo), prático e produtivo.
Também para os dois o objetivo supremo do esforço humano
era a contemplação intelectual. A livre escolha constituía,
em ambos, a origem da ação moral. Distinguiam ainda o
material do imaterial, a sensação da cognição, o temporal do
eterno, o corpo da alma. Ambos fundavam todo conhecimento humano naturalmente atingível nas coisas sensíveis exteriores. Os dois entendiam a cognição como um modo de ser,
no qual aquele que conhecia e a coisa conhecida eram uma e
a mesma coisa no que dizia respeito à realidade da cognição.
Todos esses princípios são, de maneira geral, reconhecíveis tanto em Tomás de Aquino quanto em Aristóteles. Essas coincidências básicas, alerta Owens, foram suficientemente impressionantes para ocasionar uma ampla aceitação
das duas filosofias como similares. “Mas quando se procura
a correspondência entre pontos específicos de ambas as doutrinas acaba-se tropeçando em sérias dificuldades.” A melhor maneira de resolvê-las, entretanto, não é evitando-as,
como fazem muitos autores quando rotulam uma proposição de “aristotélico-tomista”, sugere o comentador, mas sim
procurando compreendê-las a partir das premissas de cada
2
Cf. o ensaio de OWENS, J. Aristóteles e Aquino. In: KRETZMANN, N.; STUMP,
E. (Ed.). The Cambridge companion to Aquinas. Cambridge: University
Press, 1995. p. 38-59.
264
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
pensador.3 O aviso é, com certeza, útil para evitar a simplificação nebulosa e merece atenção.
Para Aristóteles, por exemplo, ser e essência eram idênticos em cada caso particular. Quando muito, podia existir
uma diferenciação conceitual entre eles, embora fosse mais
vantajoso para propósitos práticos enxergá-los como idênticos.4 Ser e essência eram conhecidos por meio da mesma
atividade intelectual. Já Tomás de Aquino reivindicava explicitamente a existência de uma distinção real, em todas as
criaturas, entre a coisa e o seu esse: ser e essência (ou
qüididade) seriam conhecidos por atos intelectuais radicalmente diferentes.5 Essa distinção era o ponto nevrálgico da
diferenciação tomista entre Deus e as criaturas.6
3
4
5
6
Cf. OWENS, op. cit., p. 38-9.
“If, now, being and unity are the same and are one thing in the sense that
they are implied in one another as principle and cause are, not in the
sense that they are explained by the same formula [...]; for one man and
a man are the same thing and existent man and a man are the same
thing, and the doubling of the words in ‘one man’ and ‘one existent man’
does not give any new meaning (it is clear that they are not separated
either in coming to be or in ceasing to be); and similarly with ‘one’, so that
it is obvious that the addition in these cases means the same thing, and
unity is nothing apart from being; and if, further, the essence of each
thing is one in no merely accidental way, and similarly is from its very
nature something that is: – all this being so, there must be exactly as
many species of being as of unity”. In: ARISTOTLE. Metaphysics (l. IV,
1003b23). Trad. de D. Ross. In: BARNES, op. cit., 1991, p. 1585.
“In the thing there are both the quiddity of the thing and its being. So in
the intellect there is a double activity corresponding to those two. One
activity, which is called ‘formation’ by the philosophers, is that by which
the intellect apprehends the quiddities of things, and which is also called
by the Philosopher in De Anima III ‘the understanding of indivisibles’.
But the other activity comprehends the thing’s being, by compounding an
affirmation”. In: AQUINO. Scriptum super libros Sententiarum, l. I, stç. 38,
I.3. In: KRETZMANN & STUMP, op. cit., p. 58.
Constituía também a base para a demonstração de uma diferença real
entre natureza e faculdades nas criaturas. Por isso, era essencial para a
265
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Um outro ponto merece atenção: a metafísica de Aristóteles partia da afirmação da eternidade dos processos cósmicos e da esfera celeste para então passar às substâncias
separadas (ou seres espirituais) e imóveis como causas finais. Se essa substância separada era única ou uma pluralidade parecia não ter relevância para o Filósofo: era um
assunto que deixava para os astrônomos. O próprio Tomás
de Aquino alertava seus leitores para a firme crença aristotélica na eternidade do movimento cósmico e do tempo.7 O
problema residia no fato de que a posição aristotélica não
permitia considerar a criação do mundo, que para o Filósofo teria existido desde todo o sempre. Não havia menção,
em Aristóteles, de uma causalidade eficiente da parte de
substâncias separadas, espirituais: cada qual estava consciente apenas de si mesma e era incapaz de produzir qualquer realidade fora de si.
Essa perspectiva apontava para uma diferença radical
entre o pensamento filosófico de ambos – o que não impedia
o Aquinate de utilizar amplamente o vocabulário do mestre
grego. O sentido atribuído por cada um a esses termos e
conceitos podia ser bastante diferente num e noutro corpus.
7
prova da indestrutibilidade da alma humana, em contraste com o caráter perecível da alma em outros animais e plantas. Cf. OWENS, op. cit.,
p. 39.
Tomás de Aquino comentava essa passagem de Aristóteles nos seguintes termos: “He concludes in this way last because of the question which
he will next raise. From this reasoning, then, it is evident that here Aristotle
firmly thought and believed that motion must be eternal and also time;
otherwise he would not have based his plan of investigating immaterial
substances on this conviction”. In: AQUINO. Commentary on the Metaphysics
of Aristotle (In Libros Metaphysicorum), v. 2, l. 12, lição 5, stç. 2496.
Trad. de J. P. Rowan. Library of Living Catholic Thought, Chicago: Henry
Regnery Co., 1961. p. 878. Todas as edições em língua inglesa dos trabalhos de Tomás de Aquino aqui citados foram retiradas da compilação
feita por GRYCZ, Czeslaw Jan; DEELY, J. The collected works of St. Thomas
Aquinas. Berkeley: University of California Press, 1985.
266
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
É claro que, quando levamos em consideração os diferentes
contextos e épocas em que viveram os dois pensadores, um
tal uso dos conceitos torna-se compreensível. Afinal, não é
de esperar que a noção de polis de um autor grego do século
IV a.C. possa corresponder totalmente à noção de civitas de
um pensador latino do século XIII. Ou que ambos pudessem
entender por “democracia” uma mesma realidade.8 Tais “equívocos” do raciocínio, justificava Tomás de Aquino, deviam
ser atribuídos ao fato de que Deus, no tempo em que escreviam os antigos, ainda não havia se revelado aos homens.
A tradição medieval, de Agostinho a Pedro Lombardo,
aceitava a afirmação agostiniana de que toda doutrina (ou
filosofia) tratava ou de coisas ou de signos. No esquema de
Tomás de Aquino, as coisas deviam ser consideradas de acordo
com o caminho de sua procedência de Deus como sua fonte
e retornando a ele como seu fim (salvação e expiação). Esse
esquema de exitus e reditus, derivado do neoplatonismo, desempenhava um papel fundamental no pensamento de Tomás de Aquino.9 A origem e o fim das coisas eram uma e a
mesma: o Deus criador. Como havia movimento no universo,
e todas as coisas deveriam retornar ao seu princípio, a dinâmica da realidade tinha de ser um movimento circular
(circulatio).
Como tudo o mais no orbe, também o movimento tinha
uma causa, que deveria ser exterior ao ser que estava em
movimento. Pois a algo não era possível ser simultaneamente o princípio motor e a coisa movida. Um motor devia ser
impulsionado por um outro motor, e assim por diante. Essa
série de causas, contudo, deveria ter um primeiro termo que
causaria todos os demais. Essa causa primeira era, para o
8
9
Cf. OWENS, op. cit., p. 40.
Cf. AERTSEN, Jan A. A Filosofia de Aquino em sua perspectiva histórica.
In: KRETZMANN & STUMP, op. cit., p.12-37.
267
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Angélico, Deus. E o que se dizia da causa do movimento devia ser estendido às causas em geral: nada podia ser causa
eficiente de si mesmo. Desse modo, toda causa eficiente supunha outra, e assim por diante.
Essas causas, contudo, não mantinham entre si uma
relação acidental, alerta Gilson: pelo contrário, condicionavam-se segundo uma ordem determinada, de modo que cada
causa eficiente dava conta da seguinte.10 E a primeira causa
eficiente, que impulsionava as causas intermediárias e as
causas finais, era Deus. Nesse raciocínio, portanto, aquilo
que era necessário, o era justamente por ser necessário e
existir por si mesmo, não precisando de uma causa antecedente para sua existência. O meramente possível ou contingente não continha em si mesmo a razão suficiente de sua
existência. Esse ser necessário por si, não contingente, era
Deus, que era para que todo resto pudesse ser. Existia uma
verdade, um bem em si, um ente que era causa de todos os
demais seres, e que não podia ser outro senão Deus, causa
primeira de todas as coisas.
O ser das criaturas, portanto, era necessariamente diferente de sua essência (ou natureza): era conferido por Deus,
como causa eficiente primeira, por meio da criação, conservação e concordância na atividade de cada ser criado. Essa
outorgância da existência por Deus se estendia aos mínimos
detalhes. Nessa leitura, a aplicação da filosofia aristotélica à
esfera do sagrado não afetava a sublimidade da essência do
objeto divino. Mas Tomás de Aquino percorreu seu próprio
caminho: leu no Livro Sagrado que o nome próprio de Deus
era o ser – nome que distinguia a essência de Deus da essência de todas as demais criaturas. O ser, portanto, não podia
proceder da natureza da própria coisa criada. Pois sem existência não haveria criatura para produzi-lo.11 Na criação,
10
11
Cf. GILSON, Étienne. La filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos, 1989.
p. 493.
Cf. OWENS, op. cit., p. 46-7.
268
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
proclamada no “Gênesis”, nada havia antes para receber a
existência.12 Por isso, o ser das coisas criadas tinha de vir de
alguma outra coisa: da causa eficiente primeira.
Esse raciocínio constituía um desenvolvimento razoável em relação à noção de causalidade eficiente encontrada
no Estagirita: Tomás de Aquino continuava reconhecendo a
forma aristotélica como causa do ser, mas só sob a atividade
de uma causa eficiente. Nas palavras de Tomás de Aquino:
“A existência, em si, resulta da forma da criatura, suposto
contudo o influxo de Deus”.13 Isso tornava a causalidade eficiente anterior a todas as formas finitas.14 ela passava a atuar agora sobre a totalidade da coisa finita e se estendia à
produção tanto de matéria quanto de forma, por meio do ato
criador, mais por conferir existência a algo do que por iniciar
o movimento. Em Aristóteles, matéria se relacionava à forma
como potencialidade à realidade. Em Tomás de Aquino, toda
coisa finita era vista como uma potencialidade para sua própria existência.
12
13
14
“Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e
vazia, e havia treva na superfície do abismo”. In: Gênesis, 1: 1-2. In: A
Bíblia, op. cit., p. 11.
AQUINO. Suma teológica, I, I, q. 104, 1, ad 1. Ed. bilíngüe. Trad. de Alexandre Corrêa. Porto Alegre: Livraria Sulina Editora,1980. v. I-XI, p.
902. Todas as citações da Suma teológica foram retiradas dessa edição.
As passagens estão indicadas segundo o padrão internacional de referência, que enuncia o número do livro, parte, questão, artigo, solução e,
quando for o caso, objeção e/ou réplica.
“That which is most imperfect should not be ascribed to God who is most
perfect. Now existence is most imperfect like primal matter: for just as
primal matter may be determined by any form, so being, inasmuch as it
is most imperfect, may be determinated by all the proper predicaments.
Therefore as primal matter is not in God, so neither should existence be
an attribute of the divine substance”. In: AQUINO. On the power of God
(Quaestiones disputatae de potentia), l. 3, q. 7, a. 2, obj. 9. Trad. dos
English Dominican Fathers. London: Burns, Oates and Washbourne,
1932-4. p. 9.
269
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Para o Aquinate, o ser estava presente como essência
apenas em Deus. Todas as outras coisas tinham de recebê-lo
como uma atualidade que vinha de fora, de uma causa eficiente. Assim armado, Tomás de Aquino podia seguir a estrutura do raciocínio aristotélico acerca das coisas sensíveis
enquanto ato e potência até chegar a uma atualidade que
não dispunha de potencialidade alguma. Mas, enquanto para
Aristóteles a realidade alcançada era a forma finita, para Tomás de Aquino ela era a existência infinita. Essa diferença
emergia do modo pelo qual a atualidade era concebida nas
coisas sensíveis: para o Filósofo, as coisas eram atuais por
meio de sua forma; para o Angélico, o composto de forma e
matéria era tornado atual pela existência. Nesse sentido, existência era a realidade máxima de cada coisa finita, e sempre
distinta da essência da coisa.15
Por essa razão, somente em Deus a essência e a existência podiam ser uma e a mesma coisa: “Ego sum qui sum”.16
No restante das coisas criadas, a essência ou natureza era
distinta da sua existência – que era recebida de Deus. Deus
era, nessa perspectiva, o ato puro de existir, e não uma essência qualquer: aquilo que se chamava essência nos outros
seres era, em Deus, o ato mesmo de existir. E, por consistir
no puro existir, Deus era a plenitude absoluta do ser, em si
infinita. Sendo Deus um ser infinito, nada podia lhe faltar
que devesse adquirir e, portanto, nenhuma transformação
era concebível n’Ele: era imutável, eterno e perfeito.
O Estagirita não mostrava preocupação especial no que
dizia respeito à existência como noção filosófica. Não havia,
para ele, distinção real entre coisa e ser: ambos eram conhecidos pela mesma atividade mental. O ser de algo e o que ele
era coincidiam. O problema da necessidade de um criador
para fazer o mundo existir não se colocava. O movimento era
15
16
Cf. OWENS, op. cit., p. 48.
Cf. Êxodo 3: 14. In: A Bíblia, op. cit., p. 72.
270
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
o motor de tudo que havia no universo: a noção de causa
eficiente mais explicava a origem do movimento do que lhe
conferia existência. Por ser imutável, a forma separada (ou
espiritual) tinha em si e por si mesma a natureza do ser.
Todas as outras coisas dependiam dela por meio de causalidade final para sua permanência e, por conseqüência, para o
seu ser. Neste sentido, a forma separada era a instância primária do ser.17
Para Tomás de Aquino, a concepção do ser era profundamente diferente. Como leitor da Sagrada Escritura, o Angélico tinha de aceitar a afirmação nela contida de que Deus
criou o mundo, o céu e a terra. Na linguagem filosófica, isso
significava dizer que Deus era a primeira causa eficiente de
todas as outras coisas. Isto é, Deus era a instância primeira
do ser. Provinha de Deus a natureza à qual todos os outros
entes se referiam como seres. No “Êxodo” (3: 14), Deus revelara a Moisés o seu nome: “Eu sou aquele que é” (Ego sum qui
sum). Essa era, para o Aquinate, a “verdade sublime” que os
cristãos conheciam sobre o ser, a própria natureza e nome
de Deus.18
Em linguagem aristotélica, significava dizer que a instância primária do ser era Deus, que havia sido revelado. E
que sua causalidade eficiente se estendia a todas as coisas
17
18
Cf. OWENS, op. cit., p. 45.
“Nenhuma coisa cuja essência não é o seu ser”, escrevia Tomás de
Aquino, “é pela sua essência, mas o é pela participação de outro, isto é,
do ser. O que é por participação de outro não pode ser o primeiro ente,
porque aquilo de que uma coisa participa para poder ser lhe é anterior.
Ora, Deus é o primeiro ente, ao qual nada é anterior. Logo a essência de
Deus é o seu ser”. E acrescentava adiante, comentando a passagem do
“Êxodo”: “O Senhor se deu a conhecer pelo seu nome próprio: Aquele
que é. Ora, todo nome é imposto para designar a natureza da essência
de uma coisa. Donde também concluir-se que o ser divino é a sua essência ou natureza”. In: AQUINO. Suma contra os gentios, I, 22. Trad. de
D. Odilão Moura O. S. B. Porto Alegre: Livraria Sulina Editora, 1990. v. I.
271
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
existentes: ele concordava, como causa primária, com todas
as coisas feitas por suas criaturas e as conservava – todas –
na existência. Embora esse ponto de vista não fosse, propriamente falando, aristotélico, as noções do Filósofo eram suficientemente flexíveis para se adaptarem ao conteúdo enriquecido da revelação – ao menos para o Angélico. Deus era
por natureza esse: este o nome e natureza próprios a ele.
Ninguém além d’Ele podia ter o ser como sua essência, já
que, segundo as Escrituras, deuses estranhos não deviam
ser tolerados. Filosoficamente, estava indicada a unicidade
de Deus, a existência subsistente.19
A relação entre criatura e Criador, tal como proposta
por Tomás de Aquino, era pensada em termos de “participação”, conceito introduzido por Platão – e duramente criticado
por Aristóteles – para expressar a ligação entre as coisas sensíveis e as formas. O Angélico descrevia os platonistas como
aqueles que queriam reduzir toda coisa composta a simples,
a princípios abstratos. Essa, explicava Tomás de Aquino, era
a razão pela qual eles postulavam a existência de formas separadas ou ideais das coisas. E aplicavam essa abordagem
não apenas às espécies de coisas naturais, continuava, mas
também àquelas que eram mais comuns: bom, único e ser.
Sustentavam que havia um princípio primeiro, o qual era a
essência da bondade, da unidade e do ser – um princípio,
dizia o Aquinate, que chamamos Deus. Outras coisas podiam ser chamadas bom, único ou ser simplesmente por
derivarem do primeiro princípio.20
19
20
Cf. OWENS, op. cit., p. 45-6.
A discussão tomista a respeito da filosofia platônica pode ser encontrada,
entre outras passagens, no 3° artigo de seu tratado Das criaturas intelectuais. Cf. AQUINO. On spiritual creatures (Quaestiones disputatae de
spiritualibus creaturis), art. 3. Trad. de M. C. Fitzpatrick. Milwaukee:
Marquette University Press, 1951. In: GRYCZ & DEELY, op. cit., p. 41 et seq.
272
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Tomás de Aquino rejeitava a aplicação do método platônico subscrevendo a crítica aristotélica de que os platonistas
projetavam nosso modo abstrato de conhecimento no modo
de ser das coisas. Mas, em relação ao primeiro princípio em
si, reconhecia a legitimidade da abordagem platônica. A redução a princípios abstratos só era justificada no nível daquilo que era mais simples: ser, único e bom. Essas propriedades gerais foram chamadas, na filosofia medieval,
“transcendentais”, porque transcendiam as categorias aristotélicas. O primeiro princípio “separado” (ou criatura espiritual) era, segundo o Angélico, o próprio ser: as outras coisas
dele participavam ao existirem. Para ele, todas as coisas criadas eram marcadas pela relação entre essência e esse. As
coisas tinham recebido sua existência daquilo que era, ele
mesmo, o ser: Deus, causa primeira de todas as coisas. A
relação do resto das coisas existentes com essa causa que as
antecedia e criava era, assim, a de participação no ser.
Tomás de Aquino precisava elaborar uma teoria da
essência das “substâncias separadas” (ou criaturas espirituais), tais como os anjos, para justificar a estrutura ontológica que construíra para as substâncias finitas. Essa estrutura
não podia consistir, como em Aristóteles, na composição de
forma e matéria. Pois substâncias separadas, espirituais,
embora fossem criaturas, eram separadas da matéria. E apesar de constituir formas puras, tais substâncias não tinham
simplicidade completa. Pois recebiam o seu ser (esse) não de
si mesmas, mas de outra coisa: segundo o Angélico, todas as
criaturas eram marcadas pela não-identidade de sua essência e seu esse.21
21
“E porque, ademais, tudo aquilo que tem ser vindo de outro reduz-se
àquilo que existe por si, como a uma causa primeira, é necessário que
haja alguma coisa que seja a causa do ser a todas as demais, justamente porque tal coisa é tão-somente ser. Se assim não fosse, induzir-se-ia,
nas causas, um processo ao infinito, visto que, como foi dito, toda coisa
que não é somente ser, deve ter causa de seu ser. Logo, é evidente que
273
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Por acreditar na criação do mundo por Deus, o orbe
tinha, para Tomás de Aquino, um início. E o problema era
saber se o mundo poderia ter sempre existido. Aqui o Angélico se opunha a Boaventura e outros, que sustentavam ser
a idéia de uma “criação eterna” do mundo contraditória em
seu conteúdo interno: a criação a partir do nada (ex nihilo)
implicava necessariamente um começo temporal, argumentavam esses autores.22 De acordo com Tomás, entretanto,
criação “do nada” significava serem as coisas causadas por
Deus, em seu ser completo. Mas essa dependência ontológica, contudo, não implicava necessariamente um início temporal: uma causa não necessariamente precedia seu efeito
na duração, explicava, mas podia ser simultânea ao efeito.
Uma criação eterna era, portanto, possível.23
Embora o mundo, para o Aquinate, pudesse ter uma
duração eterna, explica Nascimento, ele dependia totalmente
22
23
a inteligência é forma e ser, e que recebe este ser do primeiro ente, que
é somente ser. Este ente é a causa primeira, que é Deus”. In: AQUINO. O
ente e a essência. Trad. de D. Odilão Moura. Rio Janeiro: Presença,
1981. cap. 5, p. 81-2.
Tomás de Aquino punha a questão dos contemporâneos nos seguintes
termos: “God can do in the creature whatever is not inconsistent with the
notion of a created thing: else he were not omnipotent. Now it is not
inconsistent with the notion of a created thing, considered as made, that
it should always have existed, otherwise to say that creatures always
existed would be the same as to say that they were not made, which is
clearly false. For Augustine (De Civ. Dei xi, 4; x, 31) distinguishes two
opinions, one asserting that the world always existed in suchwise that it
was not made by God; the other stating that the world always was and
that nevertheless God made it. Therefore God can do this so that something
made by him should always have been”. In: AQUINO. On the power of God
(Quaestiones disputatae de potentia), I, q. 3, a. 14, obj. 8. In: GRYCZ &
DEELY, op. cit., p. 195.
Replicava o Angélico: “This argument proves nothing more than that to
be made and to be always are not incompatible considered in themselves:
so that it considers that which is possible absolutely”. In: ibid., I, q. 3, a.
14, p. 8.
274
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
de Deus para ser.24 Por isso, tinha sido criado. O Angélico
acreditava que os argumentos do Filósofo a favor da eternidade do mundo eram pouco convincentes: podia-se advogar com igual probabilidade tanto a favor da tese de que o
mundo sempre existiu como a favor da tese de que o mundo
teria começado a existir. Pois os argumentos aristotélicos
sobre essa questão não eram demonstrativos nem conclusivos, mas apenas prováveis. E, de fato, só saberíamos que
a segunda hipótese era verdadeira se aderíssemos à fé bíblica. Os antigos não haviam conhecido o Livro Sagrado e,
portanto, não poderiam sabê-lo. Que o mundo teve um início, sustentava o Angélico, sabemos apenas pela revelação
divina.25
Em outras palavras: dado que Deus era o existir absoluto e infinito, ele continha virtualmente o ser e as perfeições
de todas as criaturas. E o modo segundo o qual todo ser
emanava da causa primeira e universal chamava-se criação.
Por isso, dizer que a criação provinha do totius esse significava afirmar que ela se dava a partir do nada (ex nihilo): Deus
criava, por um ato livre da vontade, todas as criaturas. E
essa relação entre criatura e Criador chamava-se, em Tomás
de Aquino, participação. Esta expressava o laço que unia o
ser criado ao Criador, tornando inteligíveis a criação e a separação: participar era ter seu próprio ser e, ao mesmo tempo, recebê-lo de outro ser. O universo, produto de uma
inteligência superior e de uma vontade livre, derivava assim
24
25
Cf. NASCIMENTO, C. A. R. Santo Tomás de Aquino: o boi mudo da Sicília.
São Paulo: Educ, 1992. p. 49.
E solucionava: “It belongs to the notion of eternity to have no beginning of
duration: while it belongs to the notion of a created thing to have a
beginning of its origin but not of duration: unless we take creation
according to the teaching of faith” (grifos meus). In: AQUINO. On the
power of God (Quaestiones disputatae de potentia), l. 3, q. 3 a. 14, sol. 8.
In: GRYCZ & DEELY, op. cit., p. 195.
275
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
de Deus. E Deus nos manifestara sua vontade por meio da
revelação, na qual se fundava a fé.26
Esse era um corte filosófico básico: significava dizer que
o conhecimento humano da qüididade ou essência e o da
existência tinham duas origens radicalmente diferentes. Contrariamente ao princípio aristotélico, para Tomás de Aquino
o ser de uma coisa e sua essência não eram entendidos pela
mesma atividade intelectual. Saber o que uma coisa era jamais forneceria o conhecimento de sua existência, dizia.27
No procedimento do Angélico, o recebimento da existência
pelas coisas no mundo real originava-se, em última instância, da existência que subsistia. E a existência subsistente
era a natureza ou qüididade de Deus.28 O existir, nesse sentido, era pressuposto pela e incluído na noção de Deus, tal
como era filosoficamente sustentada por Tomás de Aquino.
Mas nenhum conjunto de raciocínios baseados no que as
coisas eram podia conduzir a qualquer conclusão a respeito
da existência subsistente.
26
27
28
Cf. GILSON, op. cit., p. 496-7.
Essa era a razão pela qual a definição do que era Deus, para o Aquinate,
não podia servir como base de raciocínio para a sua existência num
argumento ontológico: ele evitava assim ter de assumir a premissa do
raciocínio de Anselmo, de que Deus existia de fato.
“5 – E como aquilo pelo que a coisa é constituída no próprio gênero ou
espécie é também o que é significado pela definição que indica o que a
coisa é (quid res est), disso se conclui a razão por que o nome da essência foi mudado pelos filósofos para o nome de qüididade (quidditas). É
isto que o Filósofo freqüentemente denomina aquilo que era ser (quod
quid erat esse), isto é, aquilo por meio do qual uma coisa tem o ser algo
[...]. Além desses nomes, a essência é ainda designada por outro, o de
natureza [...]. Segundo este sentido, por natureza denomina-se tudo
aquilo que possa ser de algum modo apreendido pela inteligência. Ora,
uma coisa não é inteligível senão pela sua definição e pela sua essência.
E, assim, o Filósofo também afirma, no Livro V da Metafísica, que toda
substância é natureza”. In: AQUINO. O ente e a essência, op. cit., p. 64.
276
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Tomás de Aquino tinha assim de dar conta de duas
formas de conhecimento, uma natural, outra revelada. Para
tanto, adotou do mestre grego alguns pontos importantes de
sua teoria do conhecimento.29 O Angélico rejeitava a visão,
corrente no medievo, de que o ser humano tinha idéias inatas. A base de todo conhecimento humano era para ele –
como para Aristóteles – a experiência sensível: era natural ao
ser humano atingir o inteligível por meio dos objetos do sentido, porque nosso conhecimento se originava das sensações.
O caminho para a cognição intelectiva, portanto, passava da
apreensão sensorial para a abstração: o intelecto separava o
conteúdo inteligível das imagens sensíveis.30
Tomás de Aquino rejeitava ainda a idéia agostiniana de
que as criaturas humanas precisavam de iluminação divina
para atingir certo conhecimento: o intelecto humano, sustentava ele, dispunha de uma “luz natural” que era em si
mesma suficiente para o conhecimento das verdades.31 Aristóteles afirmava que todos os seres humanos desejavam por
natureza conhecer. Tomás de Aquino não apenas concorda29
30
31
Sobre esse assunto, cf. tb. WIPPEL, J. Thomas Aquinas’s derivation of the
Aristotelian categories (predicaments). Journal of the History of Philosophy, v. 25, n. 1, jan. 1987.
“[...] provendo Deus a todos, segundo a natureza de cada um, e sendo
natural ao homem chegar pelos sensíveis aos inteligíveis – pois todo o
nosso conhecimento começa pelos sentidos – convenientemente, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas espirituais por comparações
metafóricas com as corpóreas” (ST Ia, 1, 9).
“Ora, a forma do intelecto humano é o lume inteligível, suficiente, em si
mesmo, para conhecer certos inteligíveis, a saber aqueles cujo conhecimento podemos obter por meio dos sensíveis. O que, porém, é superior
à sua capacidade o intelecto humano não pode conhecer senão fortalecido pelo lume da graça [...], por ser acrescentado à natureza”. E mais
adiante: “[...] para conhecer qualquer verdade o homem precisa do auxílio de Deus que o move ao seu ato. Não precisa, porém, para conhecer
a verdade, em todos os casos, de nova iluminação acrescentada à iluminação natural, mas só nos casos que lhe excedem o conhecimento natural” (ST I, II, 109, 1).
277
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
va com a afirmação do Filósofo, como ainda fundamentava
aquilo que no Estagirita era mera asserção. O desejo natural
de conhecer, segundo o Aquinate, podia ser explicado: toda
coisa desejava naturalmente sua perfeição. Algo era perfeito
na medida em que fosse completamente atualizado – e não
quando se encontrava num estado de potencialidade. O desejo de perfeição de uma coisa consistia no anseio de realização de suas potencialidades naturalmente essenciais.
O que tornava humano um ser era o fato de possuir
intelecto. Por meio de seus poderes cognitivos, uma pessoa
tinha acesso a todas as coisas, mas apenas potencialmente.
Seres humanos não detinham conhecimento inato da realidade: conhecimento constituía a atualização das potencialidades humanas naturais, a perfeição do ser humano. Essa
era a razão pela qual os seres humanos desejavam naturalmente conhecer. Baseado nesse argumento, Tomás de Aquino
concluía que todo conhecimento sistemático ou científico era
bom. Pois no conhecimento consistia a perfeição do ser humano como tal, o preenchimento de seus desejos naturais.
Por isso, para o Angélico, o desejo humano de conhecer
não era, como defendia Agostinho, uma curiosidade vã. Para
Agostinho, curiosidade era a tentação de procurar conhecimento em vista de seus próprios fins. Conhecimento devia
ter apenas um sentido instrumental: servir à salvação humana e ser orientado para a fé. Deus e a alma humana, dizia
Agostinho, eram as únicas coisas dignas de serem conhecidas. Já para Tomás de Aquino, o desejo de conhecer era natural: provinha da natureza humana e era direcionado para
a perfeição dos seres.
E a perfeição de cada criatura consistia, segundo o
Aquinate, na união de toda coisa ao seu princípio ou fonte.
Por essa razão, podia-se afirmar que o movimento circular
era, entre todos, o mais perfeito. Porque o seu término estava
unido ao seu começo. No caso dos seres humanos, essa união
ao seu princípio se dava apenas por meio do intelecto. “Por
278
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
isso, o ser humano deseja naturalmente conhecer”. A perfeição de um efeito consistia em retornar ao seu princípio. Aquilo
do que as coisas derivavam vinha a ser o seu fim. Dessa
perspectiva, fonte e objetivo, começo e fim eram idênticos.
Deus, como criador, era a origem imediata de todas as coisas. E, porque era o ser mais perfeito, cada criatura naturalmente retornava para o seu princípio. O fim correspondia
assim ao começo.
Por essa razão, o fim último das coisas não podia ser
uma substância criada, mas unicamente Deus. No processo
de retorno das criaturas ao Criador, a criatura humana ocupava uma posição especial: apenas a natureza racional tinha
a capacidade de voltar “expressamente” à sua origem.32 Por
isso, entre as substâncias materiais, somente os seres humanos eram capazes de alcançar Deus por meio da atividade
da razão. Esse retorno era promulgado no desejo humano
natural de conhecer. Conhecimento perfeito, dizia Tomás de
Aquino citando Aristóteles, era o conhecimento da causa primeira. E acrescentava: o motor de todas as coisas era Deus.
Por isso, o fim último para os seres humanos consistia em
conhecer Deus, a felicidade ou beatitude eterna.33
32
33
Deus constituía o princípio do qual procediam todas as coisas, e também o fim para o qual tendiam todas as criaturas. Nos seres inanimados, recorda Rassam, esse impulso se manifestava pelo apetite natural.
Isto é, pelos movimentos próprios da natureza. Os seres vivos, por meio
da captação dos bens particulares, participavam mais diretamente da
bondade divina. Mas só os seres dotados de razão procuram Deus por
meio do conhecimento e do amor. “Assim o homem, graças ao seu intelecto e à sua vontade, tende diretamente para Deus, como Primeiro
princípio de todas as coisas”. In: RASSAM, Joseph. Tomás de Aquino.
Lisboa: Edições 70, 1980. p. 46. Cf. tb. AQUINO, ST I, II, q. 1, a. 8.
“No entanto, é claramente manifesto que o fim de qualquer substância
intelectual, mesmo ínfima, é conhecer a Deus. Com efeito, [...] o último
fim, para o qual tendem todos os entes, é Deus. Ora, o intelecto humano não obstante ser ínfimo na ordem das substâncias intelectuais, é
superior a todas as coisas destituídas de intelecto. Se pois uma subs279
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A razão era assim, num certo sentido, indispensável à
fé, lembra Rassam: se a razão só se efetivava “com o concurso da graça e à luz da fé”, existia no entanto um conhecimento natural de Deus que era como que o preâmbulo da fé. “Se
a fé é uma graça de Deus, é também um ato do homem. [...]
Para que a fé em Deus, gratuita no dom que dela nos é feito,
não seja uma operação cega e perfeitamente irracional”, explica Rassam, “é preciso que a palavra de Deus tenha algum
sentido para a razão. Não existe fé para um ser privado de
razão, tal como não há conhecimento sobrenatural sem a
possibilidade de um conhecimento natural”.34 Pois “a fé”, dizia Tomás de Aquino, “implica o assentimento do intelecto
àquilo que cremos” (ST II, II, 1, 4).
Ou, dito de outra maneira, se o universo tinha sido
criado por uma causa inteligente e perfeita, sua imperfeição
não podia ser imputada ao Criador. A criação supunha, desde o primeiro momento, uma separação infinita entre Deus e
as coisas criadas: nenhuma criatura recebia a plenitude da
perfeição divina. Pois as perfeições só passavam de Deus para
as criaturas por meio de uma espécie de descendência, cuja
ordenação era o próprio arranjo do universo. Todas as criaturas estavam nele dispostas segundo uma ordem hierárquica de perfeição, que seguia dos mais perfeitos, os anjos,
para os menos perfeitos, os corpos.
34
tância mais elevada não pode ter um fim mais elevado, será Deus o fim
também do intelecto humano. Ora, todo ente inteligente alcança o seu
fim conhecendo-o. Logo, pela intelecção o intelecto humano atinge Deus
como fim”. E adiante: “13. Com efeito, o fim último do homem, e de toda
substância intelectual, chama-se felicidade ou beatitude. É isto que
toda substância intelectual deseja como fim último e unicamente por
isto mesmo. Logo, a beatitude e felicidade última de toda substância
intelectual é conhecer a Deus”. In: AQUINO. Suma contra os gentios, III,
25, op. cit., p. 419-20 e 422.
RASSAM, op. cit., p. 21-2.
280
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
No topo da criação, portanto, estavam os anjos, seres
não-corpóreos e imateriais. Careciam, por isso, de um princípio de individuação. Essa hierarquia descendente dos seres marcava o homem: por ter alma, ele pertencia à espécie
dos seres imateriais. Sua alma, contudo, não era uma inteligência pura, como nos anjos, e sim um simples intelecto. Ao
mesmo tempo, era também corpo: constituía um composto
físico que compartilhava da materialidade. O homem era assim composto de forma e matéria. Do ponto de vista da forma, por ser constituído de matéria, ocupava o último grau
das criaturas inteligentes. Mas, por ter um corpo que partilhava de alma, era superior a todos os outros corpos: situava-se na linha divisória entre o reino das inteligências puras
e o dos corpos.
A função mais elevada do entendimento consistia na
apreensão dos princípios primeiros, próximos de Deus. Mas
o ser humano só podia chegar a eles a partir das espécies
abstratas das coisas sensíveis. Explicar o conhecimento humano, esclarece Gilson, era definir a colaboração que se estabelecia entre as coisas materiais, os sentidos e o entendimento.35 O elemento universal dos corpos era sua forma; o
que os particularizava e individualizava, a sua matéria. Conhecer consistia em separar das coisas singulares o universal que nelas estava contido: essa operação o Angélico denominava abstração. Era tarefa do intelecto cognitivo despojar
a abstração de toda a materialidade e particularidade que
carregava dos objetos sensíveis. O conhecimento podia nos
levar à afirmação da existência de Deus, mas não nos permitia chegar jamais à sua essência. Não havia caminho direto
para o conhecimento de Deus: ele só era acessível aos homens pela graça e pela revelação.
35
Cf. GILSON, op. cit., p. 498-9.
281
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
No que respeitava à cognição intelectiva, dizia Tomás
de Aquino, os seres humanos dependiam da experiência sensível. Conhecimento sistemático (ou científico) se estendia
apenas até os limites da cognição sensorial. Os sentidos forneciam o material indispensável a partir do qual o intelecto
abstraía o conteúdo inteligível. Disso seguia-se que as criaturas humanas não podiam conhecer a essência de uma
substância que não fosse perceptível aos sentidos. Dessa forma, o único conhecimento possível de Deus ao alcance dos
filósofos era aquele baseado nos efeitos do Criador em nosso
mundo: o conhecimento da essência divina permanecia vedado aos seres humanos. Tomás de Aquino argumentava que
nossa felicidade perfeita, o preenchimento de nosso desejo
natural, só podia consistir na contemplação da essência de
Deus, na visão de Deus (visio Dei). A completude da vida
humana, portanto, não podia ser alcançada pela filosofia:
apenas pela revelação de Deus o cristão poderia ser libertado
dessa sua angústia.
Essa concepção do conhecimento permitia a Tomás de
Aquino conceber a relação entre filosofia e teologia em termos de continuidade e harmonia: a primeira era guiada pela
luz da razão natural; a segunda, pela luz da fé. Dizia o Angélico: “[...] a fé pressupõe o conhecimento natural, [assim como]
a graça pressupõe a natureza, e a perfeição, o perfectível”36
(grifos meus). O conhecimento natural era portanto primeiro
e fundamental, já que os dons da graça eram adicionados à
natureza.37 A filosofia não devia assim ser reduzida à teologia,
36
37
AQUINO, Suma teológica, I, Q. 2, A. 2, ad 1, op. cit., p. 18.
Segundo a crença cristã, somente por meio da graça divina se podia
alcançar essa contemplação, e não apenas por meio do mero esforço
humano. Isso significava que o objetivo mais importante era promover o
ensinamento e o caráter da Igreja, e não as próprias convicções – o que
era, aliás, o pecado da soberba. Nesse sentido, o trabalho de Tomás de
282
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
pois tinha sua própria função a cumprir: dirigir os homens,
no seu desejo natural de conhecer, para o fim último, a contemplação de Deus. E a fé, por sua vez, constituía a perfeição
do conhecimento natural: a graça, dizia o Angélico, não destruía, e sim aperfeiçoava a natureza.38
Como comentava o próprio Angélico, a água da filosofia
não devia ser misturada, e sim transformada no vinho da
teologia.39 O conhecimento filosófico, portanto, era essencial
ao seu pensamento teológico. A força comprobatória do raciocínio filosófico, argumentava Tomás de Aquino, tinha de
se basear somente em fundamentos naturalmente acessíveis
à mente humana. Nenhuma premissa revelada divinamente
podia ser usada para propósitos de demonstração em filosofia. Mas o que tinha sido revelado era em si bom, verdadeiro,
existia e era caracterizado por outros numerosos traços naturalmente conhecíveis. E podia ser objeto de estudo sob os
aspectos naturalmente acessíveis à razão: era nesse sentido
que as verdades divinamente reveladas se tornavam um objeto de estudo filosófico.40
38
39
40
Aquino era o de um teólogo, e não o de um filósofo. De todo modo, era
inegável que uma formação filosófica acentuada, de base fundamentalmente aristotélica, permeava todo o seu trabalho teológico.
“Pois como a graça não tolhe [tollat], mas aperfeiçoa a natureza, importa
que a razão humana preste serviços à fé, assim como a inclinação natural da vontade está às ordens da caridade” (ST I, q. 1, 8, ad 2).
“So those who use the works of the philosophers in sacred doctrine, by
bringing them into the service of faith, do not mix water with wine, but
rather change water into wine”. In: AQUINO. Faith, reason and theology,
Questions I-IV of the Commentary on Boethius’ De Trinitate (In Librum
Boeth. de Trinitate), q. 2, a. 3, rp. 5. Trad. de Armand Maurer. Toronto:
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1986. p. 51.
Não havia, para o Angélico, contradição entre crer e saber, diz Cassirer.
Dado que a razão e a revelação eram duas expressões diferentes da
mesma verdade, a de Deus, não era possível desacordo entre elas. Se
houvesse qualquer discrepância, esta se deveria a causas subjetivas. E
caberia à filosofia descobrir e afastar essas causas, pois a razão podia
283
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
“Um filósofo”, explica Gilson,
argumenta sempre buscando na razão os princípios de
sua argumentação; um teólogo argumenta sempre buscando seus princípios primeiros na revelação [...]. Nem a
razão – quando a usamos corretamente – nem a revelação – dado que tem sua origem em Deus – podem nos
enganar. [...] a verdade da filosofia se ajustaria à verdade
da revelação por meio de uma cadeia ininterrupta de laços de união verdadeiros e inteligíveis, se nosso espírito
pudesse compreender plenamente os dados da fé. Daí
resulta que, sempre que uma conclusão filosófica contradiz o dogma, achamo-nos diante de um sinal correto
de que tal conclusão é falsa.41
Este é, sem dúvida, um excelente resumo da relação
entre filosofia e teologia, tal como a concebia o Doutor Angélico.
Assim, na linguagem tomista, as coisas sensíveis eram
conhecidas, do ponto de vista de suas essências, pela simples
apreensão ou conceitualização. Do ponto de vista do seu ser,
eram compreendidas por meio de julgamento. O primeiro desses modos de conhecimento estava no reino estritamente filosófico: não era algo revelado divinamente, mas algo disponível
à razão humana por si só. O avanço de Tomás de Aquino aqui
residia na maneira de explicar como as questões da essência e
da existência estavam relacionadas uma à outra: a existência
era vista como a atualidade da essência, a atualidade de todas
as atualidades e a perfeição de todas as perfeições.42
41
42
errar, mas a revelação era infalível. A razão, contudo, deveria confiar
nas suas próprias forças. “Razão e revelação, portanto, tornavam-se
esferas distintas: não podia existir mais confusão entre os reinos da
natureza e o da graça”. Cada qual tinha agora seus objetos próprios e
seus direitos. Cf. CASSIRER, Ernst. O mito do Estado. Rio Janeiro: Zahar,
1976. p. 129.
GILSON, op. cit., p. 491.
Esse desenvolvimento puramente filosófico, argumenta Owens, não procurava qualquer fonte revelada para suas noções de essência e existên284
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Nesse sentido, a função da crença religiosa era comparável ao papel atribuído por Aristóteles à dialética, que conduzia aos primeiros princípios do raciocínio filosófico.43 ela
permitia que se enxergassem os princípios, mas não entrava
nos procedimentos demonstrativos em si. Aristóteles, entretanto, enxergava a forma finita nas coisas sensíveis como a
realidade suprema. Tomás de Aquino via a existência como
aquela realidade. Por causa de similaridades enganosas como
essas, as duas filosofias devem ser cuidadosamente mantidas
como distintas uma da outra, alerta Owens – apesar dos
muitos pontos de contato entre elas. Pois a filosofia do Estagirita se fundava em essências sensíveis, enquanto a do Aquinate se baseava em existências sensíveis. Amontoá-las, diz
Owens, é confundir seus procedimentos distintos e privar
cada uma de sua vida característica.44
II A ÉTICA E O PRINCÍPIO DA AÇÃO MORAL
Em seus trabalhos éticos, Aristóteles insistia na importância crucial do hábito para a “modelagem” do conhecimento prático das pessoas: era por meio desse hábito que se
adquiria os pontos de partida – ou primeiros princípios – da
filosofia moral. O restante do pensamento moral provinha
43
44
cia e suas inter-relações. Visava apenas às coisas sensíveis. Nessa visão, as essências eram conhecidas e universalizadas por meio da
conceitualização, enquanto suas existências eram compreendidas em
cada instância por meio de julgamento. Partindo desses aspectos, tal
como conhecidos nas coisas sensíveis, esse pensamento conduzia ao
ser infinitamente perfeito, que era a causa de toda e qualquer outra
existência. O raciocínio não se baseava em nada além daquilo que se
podia ver nas próprias coisas sensíveis. Cf. OWENS, op. cit., p. 55.
“[...] for dialectic is a process of criticism wherein lies the path to the principles of all inquiries”. In: ARISTOTLE. Topics, I, 2, 101b3-4. Trad. W. A.
Pickard-Cambridge. In: BARNES, op. cit., 1991, p. 168.
Cf. OWENS, op. cit., p. 57.
285
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
desses primeiros princípios socialmente incutidos. Também
no que dizia respeito ao conhecimento teórico ou especulativo, havia bons argumentos para crer que o hábito ou o costume fossem fundamentais para o desenvolvimento das
criaturas humanas, além de serem relevantes para a
cumulatividade do saber: os seres, dizia Aristóteles, absorverão a instrução de acordo com os hábitos que adquirirem.45
Entre as fortes crenças aristotélicas estava a na eternidade do mundo, estranha aos pensadores cristãos medievais. O orbe encontrava-se diante dos olhos e sua existência
não trazia problemas. Havia um amplo consenso sobre a tese
de Parmênides de que coisa alguma poderia surgir a partir
do nada (ex nihilo). Por isso, os processos cósmicos não tinham começo temporal e jamais chegariam ao fim. A perpétua ascensão e queda das civilizações assegurava assim a
continuidade do treino moral requerido pela sabedoria prática. A atividade humana como um todo era direcionada para
objetivos últimos realizáveis neste mundo. A ênfase sobre a
felicidade a ser alcançada na terra era predominante.46
45
46
“The effect which lectures produce on a hearer depends on his habits; for
we demand the language we are accustomed to, and that which is different
from this seems not in keeping but somewhat unintelligible and foreign
because it is not customary. For the customary is more intelligible. The
force of custom is shown by the laws, in whose case, with regard to the
legendary and childish elements in them, habit has more influence than
our knowledge about them. [...] Therefore one must be already trained to
know how to take each sort of argument, since it is absurd to seek at the
same time knowledge and the way of attaining knowledge; and neither
is easy to get”. In: ARISTOTLE. Methaphysics, l. 2, 994b32-995a14. In:
BARNES, op. cit., 1991, p. 1572.
“A felicidade humana”, resume Owens, podia ser, segundo Aristóteles,
“completamente atingida no tempo de vida sobre a terra por meio da
contemplação intelectual dos objetos mais elevados da mente; ou, numa
versão secundária, pelo exercício das virtudes práticas que tornam essa
contemplação possível”. In: OWENS, op. cit., p. 42.
286
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Já para os cristãos do medievo, o foco concentrava-se
na promessa de felicidade eterna ao lado do Pai na vida post
mortem. Fazia parte do imaginário cristão da época a idéia de
que a felicidade humana residia na vida depois da morte. O
objetivo realmente importante era o esforço de cada um na
direção de uma felicidade eterna na outra vida, de acordo
com os ensinamentos da fé católica. O destino sobrenatural
a ser atingido no outro mundo consistia, para Tomás de
Aquino, na contemplação intelectual – fim supremo da vida
terrena para Aristóteles. Essas premissas marcavam não
apenas a metafísica tomista, mas também sua concepção
ética e política, fortemente consoante com aquela.
Segundo o Filósofo, ética e política eram modos interrelacionados de conhecimento prático, asserção que Tomás
de Aquino e boa parte dos medievais de seu tempo assumiam. O estudo desses campos não tinha valor por si mesmo, mas visava a algo mais: o aperfeiçoamento da ação
humana tanto na esfera coletiva (tarefa da política) quanto
na individual (tarefa própria da ética) – o que modernamente
se denominou âmbitos público e privado. Esse objetivo exigia tanto algum tipo de teoria moral capaz de ensinar as pessoas a desenvolver características que as conduzissem à
execução de atos virtuosos, quanto uma teoria do governo da
cidade. E o instrumento capaz de promover esse aperfeiçoamento moral tanto dos habitantes como dos cidadãos era a
idéia de legislação.
Para o Angélico, a doutrina moral, tivesse ela caráter
filosófico ou teológico, derivava da reflexão sobre as ações
executadas pelos agentes humanos. Tomás de Aquino sustentava que os atos levados a cabo pelos seres humanos constituíam ações morais, razão pela qual o estudo a respeito
deles constituía uma doutrina moral. Mas seu exame requeria a distinção entre ações dos seres humanos (actiones
humanae) e atos do homem (actiones hominis). Assim, àque287
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
las atividades que, embora atribuídas verdadeiramente aos
humanos, não podiam ser atribuídas apenas aos homens
(comer, beber, dormir) – isto é, não eram atributos per se –,
Tomás de Aquino negava o status de ações humanas. Apenas aquelas atividades executadas racional e voluntariamente,
ou ainda que se ocupavam da vontade, contavam como próprias dos seres humanos. Pois os atos humanos tinham sua
origem na vontade e na razão (ou livre-arbítrio), faculdade
exclusiva dos seres humanos.47
Tomás, como seu mestre grego, dividia a filosofia prática em três campos: ética, economia e política. Os atos humanos (humanae), dizia o Angélico seguindo o Filósofo,
constituíam a ordem moral.48 Descrevia o objeto da filosofia
moral como a “atuação humana ordenada para um fim, ou
ainda o homem [ser humano], na medida em que ele é um
agente atuando voluntariamente para um fim”. Toda ação
propriamente humana, portanto, conduzia à filosofia moral.
A ação humana visava a um fim. E só se agia em consideração a um fim na medida em que se tinha uma razão para
47
48
“Das ações feitas pelo homem só se chamam propriamente humanas as
que lhe são próprias enquanto homem. Ora, este difere das criaturas
irracionais, por ser senhor dos seus atos. Por onde chamam-se propriamente ações humanas [humanae] só aquelas de que o homem é senhor.
Ora, senhor das suas ações o homem o é pela razão e pela vontade,
sendo por isso o livre-arbítrio chamado a faculdade da vontade e da
razão. Portanto, chamam-se ações propriamente humanas as procedentes da vontade deliberada; e se há outras que convêm ao homem,
essas podem, por certo, chamar-se ações do homem [hominis actiones],
mas não propriamente humanas [humanae], pois não procedem dele
como tal” (ST I, II, q. 1, 1).
“The order of voluntary actions pertains to the consideration of moral
philosophy. [...] it is proper to moral philosophy, to which our attention is
at present directed, to consider human operations insofar as they are
ordered to one another and to an end”. In: AQUINO. Commentary on the
Nichomachean Ethics (CEN). (Sententia Libri Ethicorum. I, I, 3). Trad.
de C. I. Litzinger. Library of Living Catholic Thought, Chicago: Henry
Regnery Co., 1964. p. 7.
288
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
agir. A ação tipicamente humana procederia, assim, do intelecto e da vontade. Isto é, o agente direcionaria a si mesmo,
conscientemente, para um certo fim. E o faria livremente.49
Diferentemente dos atos de um homem, os atos humanos eram aqueles sobre os quais tínhamos domínio graças à
razão e à vontade. Nem todos os atos de um ser humano podiam se tornar elementos de uma ação humana nesse sentido. Mas aqueles que podiam nos mostravam a extensão da
moral. Apenas na medida em que era levado a produzir algo
livremente ou deixava algo ocorrer desimpedidamente, o ser
humano se tornava responsável por isso. Só assim o agir dos
homens podia ser levado em conta como um ato humano.
Isolado do fim em razão do qual a ação era executada, esse
uso de nossa liberdade era, para o Aquinate, ininteligível.
Para Aristóteles, havia um bem ou fim amplo, compreensivo e último em tudo o que os seres humanos faziam.
Tomás de Aquino caminhava na mesma direção, mas o fazia
por uma série de passos. O primeiro deles era a afirmação de
que toda e qualquer ação humana visava a algo bom como
seu fim. Essa asserção era tomada como uma propriedade
da ação humana, a qual emanava da razão e da vontade. A
ação só podia ser um ato humano por causa do objetivo que
o agente tinha em mente quando a executava. Por isso, qualquer ação individual caracterizava-se como um ato de um
determinado tipo. E o tipo derivava de seu fim ou objetivo.
O segundo passo consistia em mostrar que se podia
falar de um fim superior em razão do qual um objetivo era
49
“3. I am talking about human operations, those springing from man’s will
following the order of reason. But if some operations are found in man
that are not subject to the will and reason, they are not properly called
human but natural, as clearly appears in operations of the vegetative
soul. These in no way fall under the consideration of moral philosophy.
As the subject of natural philosophy is motion, or mobile being, so the
subject of moral philosophy is human action ordered to an end, or even
man, as he is an agent voluntarily acting for an end” (CEN I, I, 3).
289
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
perseguido. Muitos tipos diferentes de atos podiam ser ordenados para o mesmo fim remoto, como o do bem-estar físico
(aquecer a casa no inverno, comer adequadamente etc.). Essa
era a origem da noção de fim último: um objetivo ao qual os
alvos das outras ações estariam subordinados. Distinguindo
entre a ordem da intenção e a da execução, o Angélico avisava que em cada um desses casos era preciso visar a algo
primeiro ou último. Ao se tencionar um certo fim, tornavamse claros na mente os passos que precisavam ser dados para
alcançá-lo. O objetivo último projetado ordenava o pensar
para o que devia ser feito. Assim também, do ponto de vista
da seqüência de execução, davam-se passos cuja racionalidade provinha do fim em vista.50
Daí decorria a pergunta: existiria algum objetivo último
ao qual os fins de todas as ações humanas deveriam estar
subordinados? Aristóteles afirmava que havia um fim último
da vida humana a ser considerado em dois aspectos. Primeiro, o de que os governantes procuravam regular o máximo
possível as ações humanas numa comunidade em vista do
bem comum de seus membros. E, porque era o bem comum
de todos os cidadãos, ele podia coincidir com o fim último de
cada um deles isoladamente. Segundo, o de que havia um
nome para esse bem compartilhado: felicidade ou bem viver
(eudaimonia). Tudo o que fazemos, executamos para ser felizes. Pois a felicidade constituía o fim último da vida humana.
Tomás de Aquino certamente tinha o modelo de Aristóteles em mente quando discutia essa questão, mas sua abordagem era diferente. Segundo o Angélico,
50
“Ora, há dupla ordem de fins: a da intenção e a da execução, e em
ambas é necessário haver algo de primordial. Pois o primordial, na ordem da intenção, é como o princípio motor do apetite, o qual eliminado
o apetite por nada seria movido. E quanto à execução, é primordial o
princípio que faz a operação começar, subtraído o qual, nada começaria
a operar nada. Ora, o princípio da intenção é o fim último; e o da execução é o primeiro dos meios conducentes ao fim” (ST I, II, q. 1, 4).
290
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
tudo quanto o homem deseja, há-de forçosamente desejar por causa do último fim. E isso ressalta de dupla razão. – A primeira é que tudo quanto o homem deseja está
compreendido na noção de bem [sub ratione boni]. E se
não é desejado como bem perfeito, que é o fim último, háde necessariamente sê-lo como tendendo para esse bem;
pois sempre o que é incoativo [começado] se ordena para
a própria consumação, como é patente tanto nas obras
da natureza como nas de arte. (ST I, II, I, 6)
Isto é, algo era visto como bom – e atraía a vontade – na
medida em que constituía um componente do bem perfeito e
completo do agente.
A afirmação tomista, explica McInerny, repousava em
duas pressuposições: 1) a de que não se podia desejar algo
mau ou demoníaco, pois tais coisas constituíam o oposto do
desejável. Só podíamos desejar algo na medida em que o víamos como bom para nós, isto é, quando enxergávamos o ter
ou fazer a coisa como preferível ao não tê-la ou não fazê-la; 2)
a de que havia uma distinção entre a coisa almejada e a razão para desejá-la, o aspecto sob o qual ela era procurada.
As coisas que buscávamos eram inumeráveis. Mas cada uma
delas era procurada por causa de seu bem, pois era vista sob
o aspecto da bondade. Nosso bem era aquilo que nos preenchia e completava. Assim, qualquer objeto da ação devia ser
visto ao menos como uma parte do nosso bem abrangente:
por exemplo, come-se não apenas para agradar ao paladar,
mas também para o bem-estar físico, o qual é parte do nosso
bem abrangente.51
Quando Tomás de Aquino afirmava que todos os agentes humanos procuravam o mesmo fim último, estava dizendo que cada agente humano, o que quer que fizesse sob a
afirmação de que o que fizera era bom, ele o fazia completando o tipo de agente que era. A noção de um bem humano
51
Cf. MCINERNY, Ralph. Ethics. In: KRETZMANN & STUMP, op. cit., p. 200.
291
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
estava assim implícita em qualquer ação humana. Quando
um agente executava um ato propriamente humano, podiase dizer que a ação era empreendida sob a asserção implícita
de que agir, nesse sentido, era perfectivo do agente (no sentido de atingir um ato perfeito). Essa era a base da qual partia
o Aquinate para afirmar que todos os agentes humanos perseguiam, de fato, o mesmo fim último.52
Mas os seres humanos, percebia Tomás, estruturavam
suas vidas de maneiras diferentes: ordenavam seus dias e
atividades de modos diversos. As sociedades humanas também diferiam em sua organização: uns viviam de modo mais
“primitivo”, outros estavam mais próximos do ideal. As pessoas, contudo, em suas ações individuais, podiam estar erradas sobre o que era bom para elas, e podiam equivocar-se
quanto aos fins últimos e subordinados que escolhiam para
si. Por isso, a felicidade consistia em atingir aquilo que verdadeiramente tornava efetiva a razão do bem (ratio boni). Desse
modo, Tomás de Aquino podia dar conta – e este é um ponto
relevante que teria reflexos na sua concepção de sociedade
política – tanto de como as coisas teriam de ser quanto de
como elas de fato eram. Essa separação conceitual permitiria
um avanço notável das idéias políticas: a realidade humana,
tal como era, deixava de ser mero fruto de um castigo imposto pelo pecado original e tornava-se um objeto legítimo da
investigação sobre o mundo terreno.
52
“11. [...] [all] things by a natural desire tend to good, not as knowing the
good, but because they are moved to it by something cognitive, that is,
under the direction of the divine intellect in the way an arrow speeds
towards a target by the aim of the archer. This very tendency to good is
the desiring of good. Hence, he says [o Filósofo], all beings desire good
insofar as they tend to good. But there is not one good to which all tend;
this will be explained later [...]. However, because nothing is good except
insofar as it is a likeness and participation of the highest good, the highest
good itself is in some way desired in every particular good. Thus it can be
said that the true good is what all desire” (CEN I, I, 7).
292
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Havia uma tal propensão ao fim último que nenhum
agente humano podia fracassar em buscá-lo, pois ele se fundava na asserção verdadeira e auto-evidente de que nenhuma pessoa podia agir senão em razão daquilo que tomava
como bom. Mas, assim como as criaturas humanas podiam
se enganar sobre o bem numa instância particular de ação,
também podiam estar erradas sobre o que constituía um
objetivo – supra-ordenado ou subordinado – digno de seus
atos.53 O agente humano, explicava o Angélico seguindo Aristóteles, era precisamente aquele que executava as ações ditas humanas em vista do bem. Quando se desejava determinar
se algo ou alguém era bom, devia-se perguntar qual era a
sua função. Essa tinha sido a grande contribuição aristotélica para a análise moral: dizia-se que um olho era bom se ele
cumpria a sua função de enxergar bem. O órgão era dito bom
por executar bem a ação que lhe era própria.54
A atividade racional consistia, num sentido primário,
naquela própria à faculdade da razão. Esta era subdividida
nos usos teórico (ou especulativo) e prático da ratio. Num
segundo sentido, uma atividade podia ser chamada racional
53
54
Se por algum motivo as pessoas passavam a achar que não fazer A era
melhor do que fazê-lo, elas aprendiam que seu julgamento estava errado. Os seres humanos, necessariamente e de fato, desejavam o que
pensavam ser bom para eles. E agora viam que fazer A não era bom. E
quando havia discordância, esta não dizia respeito ao fato de que os
seres humanos tinham de fazer o que os completava ou aperfeiçoava,
mas sim discordavam a respeito de onde essa completude ou perfeição
devia ser buscada. Cf. MCINERNY, op. cit., p. 201-3.
Ou seja, o bem de uma ação era o fundamento da virtude. E a virtude de
algo consistia em exercer bem sua função natural ou tarefa própria. O
ato humano só podia ser levado a cabo pelo agente humano, como no
Filósofo. O que caracterizava o agir dos homens era a atividade racional
– o ter domínio sobre as ações graças à razão e à vontade. E a virtude
dessa atividade tornava o agente humano bom. Aqui, o Aquinate apenas aplicava ao agir humano os princípios derivados de sua metafísica,
segundo a qual todas as coisas tendiam inevitavelmente para o seu fim
último, que era necessariamente bom.
293
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
por se encontrar sob o domínio da razão, mesmo que fosse
um ato de uma outra faculdade humana, como o apetite.55
Se havia um conjunto ordenado de tipos de atividades racionais, e se executar bem cada um desses tipos constituía uma
forma distinta de virtude, seguia-se então que o bem humano consistia nos atos de uma pluralidade de virtudes.
Como o bem era objeto também do apetite,56 seguia-se
que as disposições perfectivas da ação racional eram, no sentido participativo do termo, mais propriamente denominadas virtudes.57 Pois as virtudes perfectivas do intelecto especulativo – a atividade humana característica por excelência –
constituíam virtudes apenas num sentido aumentado e reduzido do termo: a geometria podia aperfeiçoar nosso pensar
sobre quantidades aumentadas. Mas chamar alguém de um
bom geômetra não consistia numa avaliação dele como pessoa. Pois, se geometria era uma virtude intelectiva, não era
contudo uma vontade moral.58
55
56
57
58
“Assim pois, para agirmos retamente é necessário, não só a razão estar
bem disposta pelo hábito da virtude intelectual, mas também a potência apetitiva o estar pelo hábito da virtude moral. Portanto, assim como
o apetite se distingue da razão, a virtude moral se distingue da intelectual. Logo, assim como o apetite é o princípio dos atos humanos enquanto participa, de certo modo, da razão, assim o hábito moral realiza
a noção de virtude humana na medida em que se conforma com a razão” (ST I, II, 58, 2).
Sobre esse assunto, cf. GALLAGHER, D. Thomas Aquinas on will as rational
appetite”. Journal of the History of Philosophy, v. 29, n. 4, p. 559-84, oct.
1991.
Tomás de Aquino distinguia três tipos de virtudes: as intelectuais, as
morais e as teologais. As virtudes intelectuais eram: inteligência, sabedoria, ciência, técnica e discernimento. Consistiam virtudes morais: a
prudência ou discernimento, justiça, coragem e moderação ou temperança. Por fim, as virtudes teologais eram: a fé, a caridade e a esperança. Cf. NASCIMENTO, op. cit., p. 74-6.
“A virtude humana é um hábito que aperfeiçoa o homem para obrar
retamente. Ora, os atos humanos só têm dois princípios: o intelecto, ou
razão, e o apetite; estes são os dois princípios motores no homem [...].
294
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
McInerny aponta dois sentidos em que se deveria considerar a virtude: em sentido próprio e estrito, a virtude assegurava um firme e constante amor pelo bem. Envolvia assim
essencialmente a vontade: o bem constituía o objeto e o amor,
o ato da vontade. Num sentido secundário do termo, a virtude apenas dotava de uma capacidade, que podia ser usada
de forma boa ou má, dependendo da disposição de nossa
vontade.59 Mas Tomás de Aquino dispensava duas virtudes
intelectuais dessa limitação: a prudência e o intelecto. Virtudes intelectuais, por poderem ser usadas de forma boa ou
má, não eram virtudes no sentido pleno do termo. Apenas os
hábitos que dispunham o apetite conferiam as duas coisas: a
capacidade e a inclinação para usar bem essa capacidade.
A prudência (ou sabedoria prática) era uma virtude do
intelecto prático, que, por se ligar também à razão, e desse
modo ao intelecto especulativo, se relacionava de forma especial com as outras virtudes morais. Assim, o bem para um
ser humano era formado por uma pluralidade de virtudes ou
disposições intelectuais e morais. Nenhuma virtude particular poderia tornar o agente humano bom, pois o funcionamento humano não era algo unívoco. Para ser moralmente
bom, era preciso ser dotado de virtudes morais, as quais dependiam daquela disposição da razão prática que Tomás de
Aquino chamava de prudência. As virtudes morais permitiam a ordenação dos bens do apetite sensorial ao bem abrangente do agente. E vontade ou apetite racional era matéria da
justiça.60
59
60
Por onde, toda virtude humana há-de forçosamente ser perfectiva de
um desses dois princípios. Se o for do intelecto especulativo ou prático,
a virtude será intelectual; e moral, se da parte apetitiva. Donde se conclui que toda virtude humana ou é intelectual ou moral”. (ST, I, II,
58, 3).
Cf. MCINERNY, op. cit., p. 203.
“Não há dúvida que as virtudes morais podem existir sem certas virtudes intelectuais, como a sabedoria, a ciência e a arte; não o podem
295
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A virtude moral inclinava para o fim e permitia à prudência decidir de forma eficaz sobre os meios a serem escolhidos. O julgamento da prudência era conhecimento de um
tipo diferente daquele expresso em princípios.61 O pensar
prático (ou razão prática) principiava com o fim buscado e
visava aos meios de atingi-lo, movendo-se dos meios remotos
aos próximos, chegando por último ao que se podia fazer
aqui e agora. Isso era o que significava para Tomás de Aquino
a ordem da intenção. Já a ordem da execução, de maneira
oposta, começava pelo ato que se podia executar aqui e agora
para depois passar ao alcance do fim.
A análise desses atos internos conduzia a uma relação
entre os atos do intelecto e os da vontade. As ações, na ordem da intenção, diziam respeito ao fim: isto é, àquilo que a
mente concebia como bom e, portanto, como um objetivo a
ser perseguido. Ao considerar um objeto como bom, na ordem da intenção, a mente procedia a três atos da vontade:
61
porém sem o intelecto e a prudência. Assim, não podem existir sem a
prudência, por ser a virtude moral um hábito eletivo, i. é, que torna boa
a escolha. Ora, para esta ser boa se exigem duas condições. A primeira
é haver a devida intenção do fim; e isto se dá pela virtude moral, que
inclina a potência apetitiva ao bem conveniente com a razão, que é o fim
devido. A segunda é que nos sirvamos retamente dos meios, o que não
pode se dar senão pela razão, que aconselha retamente, no julgar e no
ordenar, o que pertence à prudência e às virtudes anexas [...]. Por onde,
a virtude moral não pode existir sem a prudência. E, por conseqüência,
sem o intelecto. Pois, por este é que conhecemos os princípios evidentes, tanto na ordem especulativa como na operativa. Por onde, assim
como a razão reta, na ordem especulativa, enquanto procede de princípios naturalmente conhecidos, pressupõe o intelecto dos princípios,
assim também a prudência, que é a razão reta dos atos” (ST I, II, 58, 4).
Às vezes, observa McInerny, Tomás de Aquino opunha conhecimento
geral ao tipo de conhecimento exigido pela prudência, descrevendo o
primeiro como conhecimento racional (per modum rationis) e o último
como conhecimento conatural (per modum connaturalitatis). Esse conhecimento da prudência pelo modo da inclinação natural equivalia à
virtude. Cf. MCINERNY, op. cit., p. 206.
296
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
volição (pois acreditava-se que esse objeto preencheria nossas necessidades); prazer (pois pensar em obtê-lo nos agradaria); e intenção (pois passaria a ser intencionado ou desejado, embora o caminho para tal ainda não fosse claro).
Quando o ato interno passava a mover na direção da escolha dos meios, agora portanto na ordem da execução, outros três atos da vontade se manifestavam: consenso, escolha e uso.62
Tomás de Aquino havia adotado um traço da filosofia
aristotélica quando afirmava existirem pontos de partida ou
princípios do pensar humano acessíveis a todos. Entendia
como princípios aquelas verdades mínimas encravadas no
curso moral dos seres humanos. Os preceitos básicos da
moralidade vinham à tona quando do confronto com outros
seres que pensavam de maneira diferente da nossa, pois tornava-se necessário explicar-lhes sobre que bases pensávamos a nós mesmos. O nome conferido pelo Aquinate aos
princípios subjacentes à prática moral e ao discurso que tinham implicação fora da reflexão era lei natural.
Por lei o Angélico entendia uma ordenação racional para
o bem comum, promulgada por aquele a quem competia o
governo da comunidade. O objetivo desse constrangimento
de certas liberdades dos homens residia na preservação do
bem comum dos cidadãos. Estas leis, agora com caráter civil, funcionavam como guias para a ação e não podiam estar
em conflito com verdades morais fundamentais, pois não eram
uma matéria arbitrária. Os julgamentos morais emergiam
no discurso como leis não-escritas. A mente compreendia os
bens humanos como aqueles aos quais todos as pessoas eram
naturalmente inclinadas. A virtude, como uma segunda na62
Como geralmente podia haver uma pluralidade de meios atraentes pelos quais podemos chegar ao fim desejado, o consenso sobre eles precederia a escolha. Cf. MCINERNY, op. cit., p. 207-8.
297
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tureza, constituía a perfeição de uma inclinação natural em
direção ao bem.63
Deste modo, o julgamento sobre bens aos quais os seres humanos naturalmente se inclinavam formava os pontos
de partida ou princípios do discurso moral. E o conjunto desses princípios morais constiuía o que Tomás denominava lei
natural. Esses julgamentos primeiros não podiam ser recusados. Nesse sentido, eles se assemelhavam aos primeiros
princípios gerais da razão, os quais não podiam ser objeto de
demonstração. Na ordem moral, o equivalente desse princípio da não-contradição era a premissa básica de que “o bem
devia ser perseguido e o mal evitado”,64 fundamento de toda
justiça. Inclinações naturais, portanto, eram necessariamente
aquelas que tínhamos: não podiam ser objeto de escolha. E a
ordem moral consistia em direcionar a mente para a
persecução dos objetos das inclinações naturais, fazendo-o
bem.65
63
64
65
“Porque é próprio da virtude moral, que é um hábito eletivo, fazer uma
eleição reta; e para isso não basta só a inclinação para o fim devido [...],
mas é também preciso escolhermos diretamente os meios; e isto se realiza pela prudência, que aconselha, julga e preceitua sobre eles. E
semelhantemente, a prudência não a podemos ter sem que tenhamos
as virtudes morais; pois ela é a razão reta do que devemos fazer, e
procede dos fins das ações, como de princípios, em relação aos quais
nos avimos retamente por meio das virtudes morais” (ST I, II, 65, 1).
“[...] o bem é o primeiro objeto da apreensão da razão prática, ordenada
para a ação; pois todo agente obra em vista de um fim que é, por essência, um bem. Por onde, o primeiro princípio da razão prática é fundado
na noção do bem, que assim se formula: o bem é o que todos desejam.
Logo, o primeiro preceito da lei é: deve-se fazer e buscar o bem e evitar o
mal. E este é o fundamento de todos os outros preceitos da lei natural;
de modo que tudo quanto a razão prática naturalmente apreende como
bens humanos, e que deve ser feito ou evitado, pertence aos preceitos
da lei da natureza” (ST I, II, 94, 2).
A capacidade de fazer julgamentos morais rápidos e corretos, lembra
Boyle, tinha algumas condições. Uma delas era a consciência dos princípios universais da lei natural, conhecidos por todos por meio de uma
298
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Lei natural segundo a concepção do Aquinate era, assim, uma teoria que tratava do raciocínio moral: existiam
certas verdades inegáveis sobre aquilo que podíamos e sobre
o que não podíamos fazer. Essas verdades eram descritas
como princípios conhecidos por si. Todo agente humano tinha acesso a esses princípios fundamentais da lei natural. O
comportamento dos homens, para Tomás de Aquino, era
marcado pelo pecado e pela perversidade. Mas a natureza
não havia sido destruída pelo vício: se assim fosse, a graça
nada teria para o que se dirigir. “Embora a graça seja mais
eficaz do que a natureza”, escrevia o Angélico, “a natureza
contudo é mais essencial ao homem, e portanto mais permanente” (ST I, II, 94, 6, ad 2).
Tomás de Aquino, de modo arguto, chamava a atenção
para o fato – muito útil à sua argumentação – de Aristóteles
não acreditar que a noção de fim último pudesse ser completamente alcançada por agentes humanos. A felicidade humana constituía, para a maioria dos homens, apenas uma
realização imperfeita da noção de fim último: a muito poucos
estaria reservado atingir o ideal da contemplação perfeita, a
completa eudaimonia.66 Esta idéia se traduzia, para Tomás
de Aquino, numa distinção entre uma realização perfeita e
imperfeita do fim último. Nesta interpretação, o ideal filosófico do mestre grego não conflitava com o cristão: ambos eram
doutrinas a respeito daquilo que realizava perfeitamente o
ideal humano da felicidade.
66
disposição racional que Tomás de Aquino denominava synderesis. A
outra era uma base para valorar racionalmente as peculiaridades das
possibilidades concretas de ação que alguém enfrentava: a pessoa precisava ser capaz de avaliar e controlar suas respostas emocionais às
singularidades das alternativas disponíveis para que suas ações estivessem de acordo com o que era bom. Ser totalmente racional na ação
requeria, portanto, prudência, virtude máxima da ação moral. Cf. BOYLE,
J. Natural law and the Ethics of tradition. In: GEORGE, Robert (Ed.). Natural law theory. Oxford: Clarendon Press, 1995. p. 13-4.
Cf. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, l. 1, 10 (1101a14-21).
299
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A percepção pelo filósofo pagão de que nosso alcance
conceitual era superior à nossa compreensão prática fornecia a base para que Tomás de Aquino pudesse falar de complementaridade – mais do que de oposição – entre o filosófico
e o teológico. Pelo contrário: o estudo da moral, fosse para
fins religiosos ou práticos, pressupunha o conhecimento fornecido pela doutrina natural, e seria no fundo inconcebível
sem um forte grau de confiança nas realizações da filosofia
como método do pensar. E o mesmo raciocínio valia para o
estudo da política, a ciência suprema entre as que compunham o conhecimento prático.
“A estrutura do mundo moral”, escreve Cassirer comentando Tomás de Aquino, “é do mesmo tipo que a do mundo
físico. Deus não é somente o criador do universo físico; é,
primeiro e principalmente, o legislador, a fonte da lei moral.
[...] Mas a ordem moral é uma ordem humana que só pode
ser levada a cabo por uma livre cooperação do homem. Não
lhe foi imposta por um poder super-humano; depende simplesmente de nossos atos livres”.
A ordem social – e neste ponto Tomás de Aquino seguia
de perto o Filósofo – deveria derivar de um princípio empírico.
“O Estado”, na visão do Angélico, sintetiza Cassirer,
nasce do instinto social do homem. É esse instinto que
primeiro leva à constituição da família, e, a partir daí, por
um desenvolvimento constante, às outras formas mais
complexas de comunidade. Contudo, não é necessário
nem possível relacionar a origem do Estado com nehum
fato sobrenatural. O instinto social é comum aos homens
e aos animais; mas no homem assume uma forma nova,
[...] dependente de uma atividade livre e consciente. Decerto, Deus continua, num sentido, a ser causa do Estado; mas aqui, tal como no mundo físico, ele age
simplesmente como uma causa remota ou causa impulsiva. Esse impulso original não liberta o homem da sua
obrigação fundamental. Deve ele pelos seus próprios es300
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
forços erguer uma ordem de direito e de justiça. É através dessa organização do mundo moral e do Estado que
ele prova a sua liberdade.67
Nessa concepção, a comunidade política terrena e a
Cidade de Deus passavam a se relacionar e completar-se.
Como “a graça não destrói a natureza, e sim a aperfeiçoa”, os
dois reinos estavam agora fundidos numa unidade perfeita.
Nascimento conta que M-D. Chenu chamou essa segunda
parte da Suma de teologia – que trata do movimento da criatura racional na direção d’Ele – de uma “ontologia da graça”.
Pois nela Tomás de Aquino não fazia moral no sentido usual
de estabelecer os limites do lícito e do ilícito: “sua preocupação fundamental é descrever um organismo vivo que permite
ao ser humano agir como tal e como cristão”.68 É justamente
essa separação entre homem e cristão e entre cristão e cidadão que iria permitir o avanço de conceitos e noções laicas
nas idéias políticas. Tomás de Aquino primeiro fundamentou
essa separação no âmbito ético, ou seja, no campo da ação
individual. E, somente num passo seguinte, estendeu-a ao
campo da política, isto é, à ação coletiva. A explicação para
as diferenças repousava agora mais na natureza do que na
revelação ou castigo divinos.
III LEI E DIREITO: A NATUREZA MEDIADA PELA RAZÃO
Dois aspectos dessa ampla doutrina moral construída
por Tomás de Aquino merecem uma observação mais deta67
68
Cf. CASSIRER, op. cit., p. 132 – grifos meus. Vale a pena reter de seu
comentário a idéia de que “não é necessário” relacionar a naturalidade
da comunidade política ao Criador. Pois isso era o que mostrariam em
breve alguns dos leitores de Tomás de Aquino, como João Quidort ou
Dante, entre outros.
NASCIMENTO, op. cit., p. 79.
301
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
lhada: as noções de lei e de direito. Pois, embora fizessem
parte do movimento do seres humanos na direção de Deus,
as duas idéias, tal como definidas e explicadas pelo Angélico,
forneciam um elevado grau de compreensão a respeito de
sua visão da organização da vida coletiva na terra. Além disso, elas seriam a base dos avanços registrados nas idéias
políticas, proporcionando uma nova sustentação para a teoria da lei e do direito natural que se desenvolveria nos séculos seguintes. No Aquinate, a noção de lei vinculava-se a um
modo específico de conhecimento: aquele que se dava por
meio da razão humana.
Como já se viu, nenhuma verdade podia, do ponto de
vista da razão, ser contrária à fé. Do mesmo modo, nenhuma
verdade da fé podia negar a natural. Embora a verdade fosse
uma só, havia, segundo Tomás de Aquino, duas vias para
alcançá-la: a fé e a razão. Mas a razão, pelo fato de seus princípios operativos partirem das coisas sensíveis, não podia ter
pretensões à infalibilidade – já que os sentidos podiam
falhar. A fé consistia na obediência às palavras de Deus, mas
exigia, para o conhecimento de suas verdades, o intelecto.69
A razão, por sua vez, era de certo modo indispensável à fé: o
poder de conhecer certas verdades concernentes a Deus era
inerente à natureza da razão humana.70
A fé era simultaneamente uma graça divina e um ato
do homem, pois a palavra de Deus tinha de fazer algum senti69
70
A fé garantia às verdades divinas, escreve Rassam, “o equilíbrio interior
sem o qual a natureza humana seria quase incapaz de usar corretamente a razão. Efetivamente, longe de alienar a razão, a fé ajuda a
encontrar a sua integridade natural”. Cf. RASSAM, op. cit., p. 21.
“Mas também, naquilo que de Deus pode ser investigado pela razão
humana, foi necessário ser o homem instruído pela revelação divina.
Porque a verdade sobre Deus, exarada [investigata] pela razão, por poucos chegaria aos homens, depois de longo tempo e de mistura com muitos
erros, se bem do conhecer essa verdade depende toda a salvação humana, que em Deus consiste” (ST I, q. 1, 1).
302
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
do para a razão.71 Fé e saber, portanto, podiam existir numa
mesma pessoa, ao mesmo tempo, mas sob perspectivas diferentes (ST II, II, 1, 2), do mesmo modo que uma mesma
realidade era estudada por ciências diversas sob os seus
diferentes aspectos. Assim, a essência da razão não era alienada sob os auspícios da fé, pois seu triunfo consistia em
conservar a razão ou a eficácia própria das suas leis. A autoridade da fé, por sua vez, era aumentada, e não diminuída,
pela sustentação que encontrava na luz natural da razão.72
Era por meio do conhecimento das leis que a razão ou o intelecto humano podia apreender as verdades do intelecto divino.
1. Lei: uma ordenação hierárquica da razão com
vistas ao bem comum
Isso era o que o Angélico mostrava ao responder às
questões 90 a 108 da Suma teológica (I, II), as quais tratam
da lei e compõem o livro comumente conhecido como o Tratado da Lei. Nele, como lembra o renomado medievalista Souza
Neto, Tomás de Aquino dizia que continuava abordando o
mesmo assunto, Deus, agora, porém, visto como princípio
exterior que movia o homem na direção do bem,73 instruin71
72
73
A fé, portanto, não era contrária à razão, pois exigia a adesão do intelecto: “a fé implica o assentimento do intelecto àquilo em que cremos” (ST
II, II, 1, 4).
“A perfeição do intelecto e da ciência excede o conhecimento da fé, por
ter maior clareza, não porém por ter mais certa a adesão. Pois toda a
certeza do intelecto ou da ciência, enquanto dons, procede da certeza
da fé, assim como a do conhecimento, das conclusões, da certeza dos
princípios. Enquanto porém virtudes intelectuais, a ciência, a sapiência
e o intelecto se apóiam na luz natural da razão, que não tem a certeza
da palavra de Deus, em que se baseia a fé” (ST II, II, 5, 1).
SOUZA NETO, Francisco Benjamin. Introdução. In: AQUINO. Escritos políticos. Trad. de F. B. Souza Neto. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 9.
303
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
do-o por meio da lei e ajudando-o por meio da graça.74 E o
papel atribuído pelo Angélico à razão, no que respeitava à determinação da lei, era sem dúvida nada pequeno: como a lei
preceituasse e proibisse, e ordenar era algo próprio da razão,
concluía o Aquinate que “a lei é algo da razão” (TL I, II, 90, 1).
A lei, definia Tomás de Aquino, “é certa regra e medida
dos atos, segundo a qual é alguém inclinado a agir ou é afastado de certa ação”. Regra e medida dos atos humanos, a
razão constituía primeiro princípio do agir dos homens. Pois
cabia a ela ordenar para o fim, explicava o Angélico citando
Aristóteles, que era o primeiro princípio do agir. “Com efeito,
em cada gênero, o que é princípio, é medida e regra do referido gênero [...]. Donde seguir-se que a lei é algo pertinente à
razão” (TL I, II, 90, 1). Por meio da vontade de alguém,
a razão ordenava para um fim. À razão, portanto, resume
Souza Neto, o Aquinate atribuía “a dignidade de mediadora
imanente de toda legislação, sem detrimento de seu princípio transcendente, Deus”.75
Quando definia lei como “um ordenamento da razão”,
Tomás de Aquino tinha em mente um tipo específico de razão, um raciocinar que era orientado para um fim: o Deus
criador. E sempre que alguém desejava um fim, a razão comandava o que devia ser feito para alcançá-lo (TL I, II, 90, 1).
Esse comando racional não era um mero ato da vontade,
pois seria puro arbítrio. Por isso, quando a lei romana dizia
74
75
“O princípio externo a inclinar para o mal é o Diabo”, escrevia Tomás de
Aquino logo no início, na introdução à questão 90. E “o princípio externo que move ao Bem”, continuava, “é Deus, que nos instrui mediante a
lei, auxilia mediante a graça. Donde deve-se discorrer primeiro sobre
a lei e em seguida sobre a graça” (TL I, II, 90, 1). Especificamente no que
respeita ao Tratado da lei (questões 90 a 97), foi usada aqui a edição
recentemente traduzida por Souza Neto, acima mencionada. As citações retiradas dessa edição serão indicadas pela abreviação (TL), seguida da codificação-padrão utilizada para a Suma teológica.
SOUZA NETO, op. cit., p. 9.
304
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
que “a vontade do príncipe tinha força de lei”, devia-se entender que essa vontade tinha de ser guiada pela razão. “A vontade concernente ao que é ordenado”, escrevia Tomás de
Aquino, “para que tenha a razão de lei, deve ser regulada por
certa razão. É neste sentido que se entende ter a vontade do
príncipe vigor e lei: de outro modo, ela seria mais iniqüidade
do que lei” (TL I, II, 90, 1, ad 3).
A lei, continuava,
pertence ao que é princípio dos atos humanos, por ser
regra e medida. Mas, como a razão é princípio dos atos
humanos, há algo inerente à própria razão que é o princípio em relação a todo o restante [...]. Ora, o primeiro
princípio no que concerne ao operar, o qual compete à
razão prática, é o fim último. Por sua vez, o fim último da
vida humana é a felicidade ou beatitude [...]. Donde ser
necessário que a lei vise sobretudo à ordenação para a
beatitude. De resto, dado qualquer parte ordenar-se para
o todo como o imperfeito ao perfeito e ser cada homem
parte de uma comunidade perfeita, é necessário que a lei
vise à ordenação para a felicidade comum como o que lhe
é próprio. (TL I, II, 90, 2)
O objetivo da lei, portanto, dizia Tomás de Aquino, era
a ordenação para o bem comum. “Ora, ordenar algo para o
bem comum compete a toda a multidão ou a alguém a quem
cabe gerir fazendo as vezes de toda a multidão. Portanto,
estabelecer a lei pertence a toda a multidão ou à pessoa pública à qual compete cuidar de toda a multidão”. Qualquer pessoa privada, advertia, podia dar conselhos. “Mas se seu conselho não é aceito, não tem força, o que deve possuir a lei,
para induzir eficazmente à virtude”. Também aquele que governava uma família podia ser autor de certos preceitos ou
estatutos. Mas estes não tinham, em sentido estrito, razão
de lei. “Esta força coativa tem a multidão ou a pessoa pública,
à qual compete infligir as penas como se dirá adiante. Eis por
que só a ela cabe legislar” (TL I, II, 90, 3 – grifos meus).
305
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Da leitura aristotélica, como se vê, Tomás de Aquino
adotou a noção de governo sobre homens livres, capazes de
dirigirem a si mesmos. Fundamentava ainda o princípio da
representação, ao atribuir ao povo (populus) a capacidade
legislativa: na multidão repousava a fonte última da autoridade. Essas eram idéias que fariam escola no pensamento
político. A lei era imposta aos outros, continuava Tomás de
Aquino no artigo 4°, pelo modo da regra e da medida. Para
que a aplicação da lei obtivesse o vigor de obrigar, que lhe era
próprio, ela devia tornar-se conhecida por meio da promulgação: “Donde ser a promulgação necessária para que a lei
venha a ter o seu vigor”. E resumia: a lei “não é senão certa
ordenação da razão para o bem comum, promulgada por
aquele a quem cabe cuidar da comunidade” (TL I, II, 90, 4).
Ou seja, a lei constituía apenas um
certo ditame da razão prática no príncipe, que governa
alguma comunidade perfeita. Ora, é manifesto, suposto
ser o mundo regido pela divina providência, [...] que toda
a comunidade do universo é governada pela razão divina.
Assim pois, a própria razão do governo existente, em Deus,
como príncipe do universo, compreende a razão de lei. E
porque a divina razão nada concebe a partir do tempo,
mas é dotada de conceito eterno, [...] segue-se que tal lei
deve dizer-se eterna. (TL I, II, 91, 1)
Isto é, a primeira forma da lei era a lei eterna (lex aeterna), da qual participavam as demais formas de lei, e baseava-se na razão divina.
Segundo a hierarquia das leis, à lei eterna seguia-se a
lei natural (lex naturalis): todo ser participava “de algum modo
da lei eterna, em razão de sua natureza”. Nesse sentido, cada
ente era dotado de uma lei natural, escreve Souza Neto explicando Tomás de Aquino, que era para ele regra e medida e,
como certa impressão da lei eterna, fazia com que se inclinasse para seus próprios atos e fins. Essa participação ocor306
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
ria de forma específica e diferenciada. No ser humano, “criatura racional, se eleva a uma verdadeira participação na providência, na medida em que cabe à razão ser providente para
o homem e os demais entes”.76 Essa participação da lei eterna na criatura racional constituía o que se chamava em sentido pleno lex naturalis77 e valia-se de uma luz própria à razão,
que a levava ao discernimento natural do bem (TL I, II, 91, 2).
À lei natural, seguia-se naturalmente a lei humana (lex
humana), que era um ditame da razão prática e decorria do
fato de seu procedimento guardar um certo paralelismo com
o da razão especulativa: ambas partiam de certos princípios
indemonstráveis para produzir as suas conclusões (esta das
diversas ciências, aquela das disposições particulares). A lei
humana, assumindo como princípios os preceitos da lei natural, “destes faz derivar disposições mais particulares, as
quais, em seu conjunto, são chamadas de lei humanas, respeitadas todas as condições inerentes à razão de lei”.78 Por
versar sobre obras a realizar, pertencentes portanto à esfera
do singular e do contingente, a razão prática não procedia
com o mesmo rigor e infabilibidade da razão especulativa
nas conclusões demonstrativas da ciência (TL I, II, 91, 3,
ad 3).
A lei divina (lex divina) devia regular as relações entre
Deus e homem pelo fato de ter o Criador se revelado às criaturas e as ter chamado a participar de sua vida eterna. Ou
seja, a vocação humana à beatitude constituía o fundamento
76
77
78
Ibid., p. 10.
“[...] também os animais irracionais participam da razão eterna, como a
criatura racional, mas de um modo que lhes é próprio. Mas, como
a criatura racional dela participa intelectual e racionalmente, por esta
razão a participação da lei eterna na criatura racional chama-se em
sentido próprio lei: pois é a lei algo da razão [...]. Com efeito, na criatura
irracional tal participação não se faz mediante a razão, donde não pode
dizer-se lei senão por semelhança” (TL I, II, 90, 2, ad 3).
SOUZA NETO, op. cit., p. 11.
307
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
que exigia uma lei divina (o bem consistente na comunhão
com Deus). A lei humana, dizia Tomás de Aquino historiando,
“não foi suficiente para coibir e ordenar os atos interiores,
mas foi necessário que para isto sobreviesse a lei divina”. E,
como “a lei humana não pode punir ou proibir todos os males que se praticam, [...] para que nenhum mal permaneça
sem proibição ou punição, foi necessário sobrevir a lei divina, pela qual são proibidos todos os pecados” (TL I, II, 91, 4).
E à questão de haver – ou não – uma única lei divina, o
Angélico respondia que, assim como o imperfeito caminhava
para o perfeito, também a lei antiga (Velho Testamento), que
ordenava para o bem comum terreno e sensível, se distinguia da lei nova (Novo Testamento), que ordenava para o inteligível e celeste, sendo por isso dupla.79
Por ser universal, aquilo que se estabelecia na lei era
fundamental para a compreensão das relações entre governantes e governados. Tomás de Aquino afirmava, seguindo o
mestre grego, que era efeito da lei tornar os homens bons,
fazendo-os obedientes àquele que governava nos termos por
ela prescritos. Se a lei visasse ao bem comum, ela tornava
bom, na medida em que fosse observada, todo aquele que a
79
“[...] algo pode distinguir-se de dois modos”, escrevia Tomás: “como o
perfeito e o imperfeito dentro da mesma espécie [...]. É deste modo que
a lei divina se distingue em lei antiga e lei nova. [...] em primeiro lugar,
cabe à lei ordenar ao bem comum como a seu fim, [...] e este pode ser
duplo: o bem sensível e terreno e a tal bem ordenava diretamente a lei
antiga: eis porque, em “Êxodo” 3: 8; 17, logo no princípio da lei, é o povo
chamado a conquistar o reino terreno dos cananeus; há, em seguida, o
bem inteligível e celeste e a este ordena a lei nova. [...] As promessas das
coisas temporais estão contidas no Antigo Testamento, eis porque chama-se antigo; todavia, a promessa da vida eterna pertence ao Novo Testamento. Cabe à lei, em segundo lugar, dirigir o saber humano segundo
a ordem da justiça. [...] Em terceiro lugar, cabe à lei conduzir os homens
às observâncias dos preceitos. Isto fazia a lei antiga mediante o temor
das penas; ao contrário, a lei nova o faz pelo Amor que é infundido em
nossos corações pela graça do Cristo, que na lei nova é conferida, e na
lei antiga era figurada” (TL I, II, 91, 5 – grifos meus).
308
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
ela se sujeitava pura e simplesmente.80 Senão, tornava o
homem bom apenas na medida em que lhe incutia certa ordem:
a lei tirânica, por não ser segundo a razão, não é lei pura
e simplesmente, mas antes certa perversão da lei. E, todavia, na medida em que preserva algo da razão de lei,
intenciona que os cidadãos sejam bons. Pois nada tem
da razão de lei senão na medida em que é o ditame de
alguém que preside seus súditos e intenciona que os súditos obedeçam bem à lei; nisto, são eles bons, não pura
e simplesmente, mas enquanto ordenados a tal regime.
(TL I, II, 92, 1, ad 4)
Seu raciocínio aqui era estritamente aristotélico.
Os atos da lei eram quatro: ordenar, proibir, permitir e
punir. A lei eterna, razão da sabedoria divina, fazia-se conhecer por sua irradiação. Isso assegurava a vigência da lei eterna no âmbito de todas as criaturas inteligentes. E assim como
toda criatura participava do ser divino, assim também todo
aquele que se movia recebia de Deus a moção preliminar e, a
esse título, tinha nele sua lei eterna. Nas palavras de Tomás
de Aquino:
80
“[...] a lei não é senão o ditame da razão naquele que preside e por quem
são governados os súditos. Ora, é virtude de qualquer súdito sujeitar-se
bem àquele por quem é governado. [...] é próprio da lei induzir os súditos à virtude que lhes é própria. Sendo, pois, a virtude ‘aquilo que faz
bom o que a possui’, segue-se que é efeito próprio da lei fazer bons
aqueles aos quais é dada, de modo absoluto ou relativo. Assim, se a
intenção de quem promulga a lei tende para o verdadeiro bem, que é o
bem comum regulado segundo a divina justiça, segue-se que pela lei os
homens se tornam bons pura e simplesmente. Se, porém, a intenção do
legislador for algo que não seja o bem pura e simplesmente, mas o que
lhe é útil ou agradável, ou o que repugna à justiça divina, então a lei não
faz os homens bons pura e simplesmente, mas de certo modo, ou seja,
em conformidade com um tal regime. Dessa forma, encontra-se algum
bem mesmo no que é por si mal, como se diz ser alguém um bom ladrão
por agir adequadamente para o seu fim” (TL I, II, 92, 1 – grifos meus).
309
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
[...] a lei importa certa razão diretiva dos atos para os
fins. Ora, em todos os motores ordenados é mister que a
força do motor segundo derive da força do motor primeiro [...]. Donde divisarmos em todos os governantes o mesmo, isto é, que a razão de governo deriva do primeiro ao
segundo governante, como na cidade, a razão do que deve
ser executado mediante o preceito deriva do rei aos administradores inferiores.81 (TL I, II, 93, 3)
Só não estava sujeito à lei eterna, portanto, aquilo que
era inerente à essência divina. Todo o restante lhe era submisso, fossem criaturas irracionais ou partícipes da razão.
Quanto à lei natural, o Aquinate esclarecia que ela não
constituía um “hábito”: “o que” alguém fazia diferia do “por
que” o fazia. O hábito era aquilo “por que” uma pessoa agia.
Entretanto, por estar habitualmente na razão, ela podia dizer-se hábito, já que a razão nem sempre considerava a lei
natural um ato. Essa lei natural continha um único princípio: a razão prática partia do bem, que era o que ela primeiro
concebia. Nele, a razão prática fundava o seu primeiro princípio: o bem devia ser praticado e o mal evitado. E deste derivava os demais princípios ou leis. Essa derivação se perfazia
segundo a tríplice inclinação do homem: aquela que tinha
em comum com todas as substâncias; a que repartia com os
animais; e a que tinha como própria à natureza da razão,
como a inclinação natural para o conhecimento de Deus e
para a vida em sociedade (TL I, II, 94, 2).
A lei natural prescrevia os atos de todas as virtudes,
pois pertencia a tal lei tudo aquilo para o que o homem naturalmente se inclinava. Contudo, nem todos os atos das virtu81
E adiante: “Sendo, pois, a lei eterna a razão de governo no supremo
governante, é necessário que todas as razões de governo inerentes
aos governantes inferiores derivem da lei eterna. Ora, tais razões inerentes aos governantes inferiores são quaisquer outras leis, excetuada
a lei eterna. Donde todas as leis derivam da lei eterna na mesma medida em que participam da reta razão” (idem).
310
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
des eram da lei de natureza: isto é, a lei de natureza não
inclinava de imediato para as virtudes, pois alguns dos atos
virtuosos eram descobertos por meio de pesquisa da razão. A
razão contemplativa trabalhava com o rigor da lógica, partindo de premissas fundadas em princípios ou neles consistentes, podendo chegar por isso sem falha às mais extremas
conclusões. Já a razão prática, por operar com o contingente, era sempre a mesma para todos quanto aos princípios
comuns e quanto ao seu conhecimento.82 Mas podia falhar
em suas conclusões (quanto à retidão da ação prescrita e às
vezes até mesmo quanto ao conhecimento). Pois a força da
paixão ou de um mau costume podia depravar a razão.83
Podia então a lei natural ser mudada? Tomás de Aquino admitia que sim, e explicava os dois modos pelos quais
isso podia ocorrer: por acréscimo e por subtração. Mudá-la
para acrescentar, desde que visasse à utilidade da vida humana, era sempre admissível.84 Já subtrair constituía uma
exceção na aplicação da lei. No que respeitava aos primeiros
princípios, a lei de natureza não podia ser abolida nem suprimida do coração dos homens:
[...] quanto a tais princípios comuns, a lei natural de nenhum modo pode ser abolida do coração humano de for82
83
84
Cf. SOUZA NETO, op. cit., p. 14.
“Assim, deve dizer-se que a lei da natureza, quanto aos primeiros princípios comuns, é a mesma em todos, tanto segundo a retidão, quanto
segundo o conhecimento. [...] em poucos casos pode ela falhar, seja
quanto à retidão, por causa de alguns impedimentos [...] seja quanto ao
conhecimento. Isto ocorre porque alguns têm a razão depravada pela
paixão, por um mal costume ou por uma disposição má da natureza,
como p. ex. entre os antigos germanos o latrocínio não era reputado
iníquo, embora seja expressamente contra a lei da natureza” (TL I, II,
94, 4).
“Dessa forma, nada proíbe ser a lei natural mudada, pois muito foi
acrescentado à lei natural, tanto pela lei divina, quanto por leis humanas para utilidade da vida humana” (TL I, II, 94, 5).
311
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ma universal. É abolida, porém, em algo de operável, na
medida em que a razão é impedida de aplicar o princípio
geral ao operável particular por óbice da concupiscência
ou de alguma outra paixão [...]. Quanto aos preceitos segundos, entretanto, pode ser a lei natural abolida dos corações dos homens, ou por força das más persuasões, do
mesmo modo que, no especulativo, ocorrem erros a respeito das conclusões necessárias, ou ainda por causa dos
maus costumes e hábitos. (TL I, II, 94, 6)
Ao examinar a lei humana, Tomás de Aquino insistia
não só na utilidade, mas também na necessidade de o homem promulgar leis: assim como a natureza não dotou o
homem de todas as coisas necessárias à sua sobrevivência,
deixando muito à incumbência da razão e das mãos, também no que respeitava à virtude dotou-o de certa aptidão,
mas “deixou a perfeição nesta à incumbência de certa disciplina”: à disciplina que obriga pelo medo da pena, a da lei.85
E, como era mais fácil encontrar uns poucos virtuosos para
promulgar as leis do que muitos para arbitrar com fundamento na justiça, que era inerente às leis, Tomás de Aquino
concluía que era necessário que “a lei determine o que deve
ser julgado e deixar pouquíssimos [casos] ao arbítrio dos homens” (TL I, II, 95, 1, ad 2), confiando aos juízes apenas
aquilo que não podia ser compreendido pela lei.
A lei humana, entretanto, derivava da lei natural. E
uma lei só podia ser verdadeiramente denominada como tal
se fosse justa, tal como havia mostrado Agostinho.86 Dois
modos de derivação da lei natural eram possíveis: o da conclusão que se seguia ao princípio; e o da determinação do
85
86
Cf. SOUZA NETO, op. cit., p. 15.
No âmbito humano, algo só se dizia justo “por ser reto segundo a regra
da razão. Ora, por sua vez, a primeira regra da razão é a lei da natureza
[...]. Donde, toda lei humanamente imposta tanto tem razão de lei, quanto
deriva da lei natural. Se, pois, em algo discorda da lei natural, já não
será lei, mas corrupção da lei” (TL I, II, 95, 2).
312
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
que era geral.87 “Não matarás”, por exemplo, constituía um
preceito que derivava dos princípios gerais da lei da natureza
sob a forma de conclusão. Pois prescrevia que “não se podia
fazer mal a quem quer que fosse”. Já a pena a ser aplicada a
alguém era uma lei que derivava segundo o modo da determinação, a partir do princípio de “que seja punido aquele
que peca”, prescrição que a lei natural deixara indeterminada.
Aquilo que “pertence ao primeiro modo, está contido na lei
humana não só como imposto por esta, mas tem também
algum vigor de lei natural. Mas o que pertence ao segundo
modo, tem vigor tão-somente por força da lei humana” (TL I,
II, 95, 2).
Quais eram então as condições dessa lei positiva? Aqui
o Angélico, seguindo Isidoro, reduzia a três todas as suas
condições: 1) “ser congruente à religião”, enquanto proporcionada à lei divina; 2) “ser adequada à disciplina”, quando
proporcionada pela lei de natureza; 3) “ser proveitosa à salvação pública”, enquanto proporcionada à utilidade humana.
Com efeito, a disciplina humana visa primeiro à ordem
da razão, o que importa dizer-se ela “justa”. Visa em segundo lugar à faculdade dos “agentes” e deve, por isso,
ser uma disciplina adequada a cada qual segundo a sua
possibilidade, observada também a possibilidade da natureza [...]. Deve ser ela também conforme ao costume
humano: com efeito, o homem não pode viver isolado na
sociedade, sem ajustar-se aos costumes dos demais. (TL
I, II, 95, 3)
Assim, a lei humana derivava da natural e dava origem
a dois tipos de jurisprudência: o direito das gentes e o civil.
87
O primeiro modo era semelhante à demonstração a partir dos princípios, tal como nas ciências. O segundo era semelhante ao modo de
acordo com o qual, nas artes, as formas gerais eram determinadas de
maneira a se produzir certa obra singular.
313
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
É, primeiro, da razão da lei humana ser derivada da lei
da natureza [...]. E segundo isto o direito positivo dividese em direito das gentes e direito civil, segundo os dois
modos pelos quais algo deriva da lei da natureza [...]. Pois
pertence ao direito das gentes o que deriva da lei da natureza como conclusões de princípios [...]. O que deriva
da lei da natureza segundo o modo de uma determinação
particular pertence ao direito civil, consoante o qual cada
cidade [civitas] determina o que a ela melhor se acomoda.
(TL I, II, 95, 4)
“Em segundo lugar”, prosseguia o Angélico,
é da razão da lei humana ser ordenada para o bem comum da cidade. Em conformidade com isto, a lei humana pode ser dividida segundo a diversidade daqueles que
prestam um serviço especial ao bem comum: assim, os sacerdotes, que oram pelo povo de Deus, os príncipes, que
governam o povo, e os soldados, que lutam por sua defesa. (idem – grifos meus)
A mesma fórmula que aqui servia para indicar as funções específicas de cada poder seria invocada, algumas décadas depois, por alguns dos mais árduos defensores da
autonomia do governante secular, contra a ingerência do bispo
de Roma em assuntos terrenos. Seus ecos ainda seriam ouvidos em teóricos como Hobbes.
E continuava:
Em terceiro lugar é da razão da lei humana ser instituída
pelo governante da comunidade da cidade [...]. E, quanto
a isto, distinguem-se as leis humanas segundo os diversos regimes das cidades. Desses, o primeiro é, segundo o
Filósofo (Política, III, 5), o reino, no qual a cidade é governada por um só e neste caso que se fala e das constituições dos príncipes. Um outro regime é a aristocracia, ou
seja, o principado dos melhores e superiores, caso em
que fala dos pareceres dos prudentes e das resoluções do
senado. Outro regime é ainda a oligarquia, o principado
314
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
de uns poucos, ricos e poderosos; é a esta que se atribui
o direito pretório, dito também honorário. Um outro regime é também o de todo o povo e este denomina-se democracia [democratia]: são-lhe atribuídos os plebiscitos. Há
ainda um outro, o tirânico, de todo corrupto, do qual não
deriva nenhuma lei. Há, enfim, um regime que é a mescla de todos estes, o qual é o melhor e dele deriva a lei que
os maiores por nascimento sancionaram juntamente com
as plebes. (idem)
“Em quarto lugar, pertence à razão da lei humana ser
diretiva dos atos humanos. Em conformidade com isto, distinguem-se as leis segundo a diversidade daquilo em vista do
que são promulgadas” (idem). Para Tomás de Aquino, portanto, o melhor regime consistia naquele em que um era preferido segundo a virtude e presidia a todos. Mas, sob sua
autoridade, havia alguns que exerciam o principado virtuosamente. Tal principado, porém, pertencia a todos, fosse porque tais membros eram eleitos dentre todos, fosse porque
ainda o eram por todos. Ou seja, o Aquinate, tal como seu
mestre grego, defendia um governo misto. Em tal politia, lembra Souza Neto, “salva-se o bem da unidade, assegurado pela
presidência de um único, mas também o da aristocracia, pois
o principado é compartilhado por muitos, bem como o da
democracia, pois respeita-se o poder do povo, na medida em
que dentre os populares podem ser eleitos os príncipes e ao
povo pertence a eleição do príncipe.”88
Segundo Tomás de Aquino, a lei humana devia coibir
apenas os vícios mais graves, pois a perfeição pressupunha o
hábito da virtude, o que a lei não podia fazer:89 ela apenas
88
89
SOUZA NETO, op. cit., p. 19.
“Ora, a lei humana impõe-se à multidão dos homens, cuja maior parte
é de homens não perfeitos na virtude. Eis porque não são proibidos pela
lei humana todos os vícios dos quais os virtuosos se abstêm, mas só os
mais graves, dos quais é possível abster-se a maior parte da multidão e
315
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tencionava induzir, gradualmente, todos os homens à virtude. A lei não preceituava os atos de todas as virtudes, mas
somente aqueles que podiam ordenar-se ao bem comum. As
leis humanas, quando eram justas, obrigavam no “foro de
consciência”, por derivarem da lei eterna.90 Todos estavam
sujeitos à competência de quem promulgava a lei, do mesmo
modo como o que era regulado estava sujeito à regra. O príncipe, por promulgar a lei, dela estava isento. Mas devia
observá-la voluntariamente, pois estaria sujeito à sua força
diretiva diante do juízo divino. Se o príncipe julgasse últil ao
bem de todos, era-lhe lícito agir contra a letra da lei. O consenso de uma multidão livre, contudo, tinha maior poder
que o príncipe, pois seu poder derivava daquela.
Nos termos de Tomás de Aquino:
[...] se diz ser o príncipe isento da lei quanto à força coativa
da lei, pois ninguém, em sentido próprio, é coagido por si
mesmo; ora, a lei só tem força coativa em razão do poder
do príncipe. [...]. Mas quanto à força diretiva da lei, está o
príncipe sujeito à lei por sua própria vontade [...]. Seguese, pois, não estar o príncipe isento da lei quanto ao vigor
90
sobretudo os que são em detrimento dos outros, sem cuja proibição a
sociedade humana não poderia conservar-se, como são proibidos por
lei humana os homicídios, os furtos e outros semelhantes” (TL I, II, 96,
2).
“Deve dizer-se que as leis humanamente impostas são justas ou injustas. Se justas, têm a força de obrigar no foro da consciência por causa
da lei eterna da qual derivam [...]. Nesses termos, as leis que, segundo a
devida proporção, impõem encargos são justas e obrigam no foro da
consciência e são leis legais”. As leis injustas, continua adiante, “não
obrigam no foro da consciência, a não ser, talvez, em vista de se evitar o
escândalo ou a perturbação, causa também de o homem dever ceder
em seu direito [...]” (TL I, II, 96, 4). Pois às leis que impõem aos súditos
um encargo injusto, explica o Angélico na réplica, “não se estende a
ordenação do poder divinamente concedido. Donde, não ser o homem,
em tais casos, obrigado a obedecer à lei, se, como se disse, pode resistirlhe sem escândalo ou maior prejuízo” (TL I, II, 96, 4, ad 3).
316
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
diretivo desta perante o juízo de Deus, mas deve cumprir
a lei voluntariamente e não por coação. Está também o
príncipe acima da lei na medida em que, se for isto vantajoso, pode mudá-la e dela dispensar, segundo o tempo
e o lugar. (TL I, II, 96, 3)
E acrescentava a seguir:
se a observância literal da lei não constitui perigo imediato, ao qual seja necessário fazer frente, não é da
competência de ninguém interpretar o que é útil ou
inútil à cidade, mas isto cabe apenas aos príncipes,
que têm a autoridade de dispensar da lei em vista de
tais casos [...] pois a necessidade não é sujeita à lei.
(TL I, II, 96, 6)
Mudar a lei, entretanto, esclarecia Tomás de Aquino,
era tarefa complexa e exigia cautela:
[...] a lei humana é corretamente mudada na medida em
que por sua mudança se provê à utilidade comum. Contudo, a mudança da lei constitui em si mesma certo prejuízo das salvaguardas comuns. [...] quando se muda a
lei, diminui o vigor coercitivo da mesma, na medida em
que é abolido o costume. Eis porque nunca se deve mudar a lei humana a não ser quando, de um lado, se favorece tanto a salvaguarda comum, quanto de outro lado
se derroga, o que ocorre, ou porque alguma utilidade
máxima e evidentíssima provém do novo estatuto, ou
porque é máxima a necessidade, seja por conter a lei costumeira manifesta iniqüidade, seja por sua observância
ser sobremodo nociva. (TL I, II, 97, 2)
Tomás de Aquino estabelecia aí um paralelo – importante – entre Deus e o príncipe, quando dizia que “[...] toda lei
emana da razão e da vontade do legislador: a lei divina e a
natural da vontade racional de Deus. Já a lei humana, da
vontade do homem regulada pela razão”. Como a razão
e a vontade do homem se modificavam ao longo do tempo,
essas mudanças podiam se nos aparecer como um costume,
317
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
e até adquirirem vigor de lei. “Pois quando algo se faz muitas
vezes, parece provir de um deliberado juízo da razão. E, nesses termos, o costume possui vigor de lei, ab-roga a lei e é o
intérprete das leis” (TL I, II, 97, 3).
E remover o costume da multidão, dizia Tomás de
Aquino, era tarefa árdua:
[...] deve dizer-se que a multidão, na qual se introduz o
costume, pode ser de dupla condição. Se é uma multidão
livre, que possa fazer a própria lei, maior é o consenso de
toda a multidão quanto à observância de algo, que o costume manifesta, do que a autoridade do príncipe, que não
tem poder de edificar a lei, a não ser enquanto age na
pessoa da multidão. Donde, ainda que as pessoas singulares não possam instaurar a lei, pode-o contudo todo o
povo [populus]. (TL I, II, 97, 3, ad 3 – grifos meus)
A importância atribuída pelo Angélico à vontade do povo
como fator de consentimento político seria decisiva. Ao partir
dessa perspectiva, o Aquinate recolocava num novo patamar
o antigo princípio da representação: o governante passava
agora a “personificar” a comunidade política ou civitas. Também à questão da autoridade política uma nova base era
fornecida: a noção de populus como fonte do poder.
E explicava adiante:
Eis porque aquele a quem cabe reger a multidão tem o
poder de dispensar da lei humana, no que repousa sobre
sua autoridade, ou seja, que, quanto às pessoas e em
casos em que a lei é falha, dê a licença para que a lei não
seja observada. Se, porém, sem esta razão, por mera vontade, dá a licença, não será fiel na dispensa, ou será imprudente; isto é, infiel, se não intenciona o bem comum,
imprudente se ignora a razão de dispensar. [...] Ora, qualquer homem está para a lei divina, como o está a pessoa
privada para a lei pública à qual está subordinada. Donde, assim como na lei humana pública não pode dispensar a não ser aquele de quem a lei tira a autoridade ou
aquele a quem o confiar, igualmente, nos preceitos do
318
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
direito divino, que têm Deus por origem, ninguém pode
dispensar senão Deus ou alguém a quem este especialmente o confiar. (TL I, II, 97, 4 e ad 3)
A partir da questão 98, Tomás passava a considerar as
diferenças entre a lei antiga e a lei nova e suas causas. Essa
parte do Tratado da lei é geralmente pouco abordada, mas
importa aqui sobretudo pela sua caracterização da noção de
preceito. Iniciava a discussão definindo o objetivo da lei humana: “Ora, como sabemos, um é o fim da lei humana, e
outro, o da divina. O fim da lei humana é a tranqüilidade
temporal da cidade. E esse fim a lei consegue coibindo os
atos exteriores, excluindo os males capazes de perturbar a
paz civil”. Essa tinha sido, segundo ele, a razão pela qual
Deus havia instituído a lei antiga que, por meio de seus preceitos rigorosos, deveria ordenar a convivência humana.91 A
lei antiga, contudo, dizia Tomás de Aquino, obrigava apenas
o povo judeu.92 Assim, entre a lei da natureza e a da graça,
foi necessário ser dada a lei antiga (ST I, II, 98, 6).
O tipo de comunidade para a qual se ordenava a lei
humana, a comunidade dos homens, diferia daquela para a
qual se voltava a lei divina, a comunidade dos crentes.
91
92
Os preceitos do decálogo, expressos pela lei antiga contida no Velho
Testamento, exprimiam a intenção mesma de Deus legislador. “Pois, os
da primeira tábua, que ordenam para ele, contêm a ordem mesma para
o bem comum e final, que é Deus. E os da segunda, a ordem da justiça
a ser observada entre os homens, de modo que, p. ex., a ninguém se lhe
faça o que se lhe não deve fazer, e a cada um lhe seja pago o devido” (ST
I, II, 100, 8). A partir dessa questão 98, voltaremos a utilizar a edição
completa da Suma teológica (ST), acima citada, a qual contém a tradução completa do assim chamado Tratado da lei.
“A lei antiga manifestava os preceitos da lei da natureza, acrescentando-lhes certos preceitos próprios. Por onde, todos estavam obrigados a
observar todos os preceitos da lei antiga, que também o eram da lei
natural; não por serem daquela, mas por pertencerem a esta. Mas ninguém, a não ser o povo judaico, estava obrigado a observar os preceitos
que a lei antiga acrescentou” (ST I, II, 98, 5).
319
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Pois, a lei humana se ordena à comunidade civil, a[quela]
constituída pelos homens entre si; e estes se ordenam
uns para os outros pelos seus atos exteriores, com que se
entrecomunicam. E essa comunicação pertence essencialmente à justiça, que é propriamente diretiva da comunidade humana. Por onde, a lei humana só propõe
preceitos referentes aos atos de justiça; e se ordenar outros atos de virtude, não será senão enquanto se revestem da essência da justiça, como está claro no Filósofo.
(ST I, II, 100, 2 – grifos meus)
Como certos preceitos de qualquer lei, em virtude de
um ditame da razão, tinham força obrigatória pelo fato de a
razão natural ditar que fosse tal ato praticado ou evitado,
esses preceitos se chamavam morais, por fundarem na razão
os costumes humanos.
Se portanto forem determinados preceitos morais, por
instituição divina, relativos à ordenação do homem para
Deus, esses preceitos se chamarão cerimoniais. Se relativos à ordenação dos homens uns para os outros, chamar-se-ão judiciais. Logo, dois fundamentos têm a razão
dos preceitos judiciais: concernirem à ordenação dos homens uns para os outros; e terem força obrigatória fundada, não só na razão, mas na instituição. (ST I, II,
104, 1)
Com a instituição da lei nova, decorrente da vinda de
Cristo, estes preceitos teriam perdido a sua validade.93
93
“[...] os preceitos cerimoniais são figurativos, primariamente e em si
mesmos, como tendo sido principalmente instituídos para figurar os
mistérios futuros de Cristo. Portanto, a observância mesmo deles prejudica à verdade da fé, pela qual confessamos esses mistérios já se
terem cumprido. Ao passo que os preceitos judiciais não foram instituídos para figurar, mas para dispor o estado do povo judeu, que se ordenava para Cristo. Por onde, mudado o estado desse povo, com o advento
de Cristo, os preceitos judiciais perderam a força obrigatória; pois a lei
era um pedagogo conducente a Cristo, como diz o Apóstolo” (ST I, II,
104, 3).
320
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
E arrematava:
Ora, ao príncipe pertence não só ordenar sobre os litígios, mas também sobre os contratos voluntários dos homens entre si, e de tudo o atinente à comunidade do povo
e ao regime. Por onde, os preceitos judiciais não são somente os concernentes às lides judiciais, mas todos os
que respeitam à ordenação mútua dos homens, sujeita à
ordenação do príncipe como juiz supremo. (ST I, II, 104,
1, ad 1)
A justiça há de ser observada perpetuamente; mas a determinação do que é justo, por instituição humana ou
divina, há de necessariamente variar segundo os diversos estados dos homens. (ST I, II, 104, 3, ad 1)
A lei, comparava o Aquinate, assemelhava-se a uma
arte, cujo objetivo era instituir e ordenar a vida humana.
Ora, cada arte tem uma certa divisão nas suas regras.
Portanto, toda lei deve conter uma certa divisão nos seus
preceitos; do contrário, a confusão viria aniquilar-lhe a
utilidade. Por onde devemos concluir que os preceitos
judiciais da lei antiga, que ordenavam os homens uns
para os outros, comportam uma distinção fundada na
ordenação humana. Ora, em qualquer povo, podemos
descobrir quádrupla ordem. Uma, a dos chefes em relação aos súditos; outra, a dos súditos entre si; a terceira,
a dos indivíduos desse povo para com os estranhos; a
quarta, a dos membros da sociedade doméstica, como a
do pai para o filho, da esposa para o esposo, do senhor
para o escravo. (ST I, II, 104, 4)
Mas o que se devia entender então por populus? Para
definir o conceito, Tomás de Aquino usava a citação de Túlio
por Agostinho:
um “populus” é associação de muitos indivíduos, baseada
no consenso jurídico e na utilidade comum. Por onde, a
noção de povo implica uma comunhão de homens ordenada por justos preceitos legais. Ora, há duas espécies
de comunhão entre os homens. Uma fundada na autori321
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
dade do príncipe; outra, na vontade própria dos indivíduos. E como cada um pode dispor do que lhe pertence,
é necessário que, pela vontade do príncipe, a justiça se
exerça entre seus súditos e penas sejam infligidas aos
malfeitores. Por outro lado, aos indivíduos lhes pertence
o que possuem; e portanto, por autoridade própria, podem dispor disso, uns em relação aos outros, por compra, venda, doação e modos semelhantes. (ST I, II, 105,
2)
Ou seja, o Angélico distinguia aqui entre uma relação
que se baseava num acordo comum a respeito de certas regras de justiça, cuja garantia cabia ao princeps, e outra fundada nas trocas e acordos entre os particulares. Estavam
apontados aqui os fundamentos e os elementos daquele pacto que viria a constituir a teoria do contrato social.
E, por fim, por que a lei nova não havia sido dada desde
o princípio do mundo? As razões, respondia Tomás de Aquino,
eram três:
A primeira é que, como já dissemos, a lei nova consiste
principalmente na graça do Espírito Santo, que não devia
ser dada abundantemente, antes de ter sido o gênero humano livrado do pecado, depois de consumada a redenção
de Cristo [...]. A segunda razão pode ser tirada da perfeição
da lei nova. Pois nada alcança imediatamente, desde a
origem, um estado perfeito senão depois de uma certa ordem sucessiva no tempo. Assim, primeiro a criança, e depois o homem. [...] A terceira se funda em ser a lei nova a
lei da graça. Por onde, era primeiro necessário fosse o homem abandonado a si mesmo, no regime da lei antiga,
para que, caindo no pecado e conhecendo a sua fraqueza,
reconhecesse a necessidade da graça. (ST I, II, 106, 3)
Assim, o Angélico fundava todas as diferenças entre a
lei nova e a velha nas idéias de perfeito e de imperfeito.94
94
“[...] a lei nova está para a antiga como o perfeito para o imperfeito. Ora,
o perfeito completa o que falta ao imperfeito. E assim, a lei nova completa a antiga, suprindo-a no que lhe faltava” (ST I, II, 107, 2).
322
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Ora, para praticar tais atos [virtuosos], os imperfeitos,
ainda sem o hábito da virtude, agem de um modo, e de
outro os que já são perfeitos por esse hábito. [...] Por isso
a lei antiga, dada para imperfeitos, i. é, que ainda não
tinham conseguido a graça espiritual, era chamada lei
do temor, porque levava à observância dos preceitos pela
cominação de determinadas penas, e dela se diz que fazia certas promessas temporais. Os que têm virtude, porém, são levados a praticá-la por amor da mesma, e não
por qualquer pena ou remuneração extrínseca. Por onde,
a lei nova, que é a principal, por consistir na graça espiritual mesma, infundida nos corações, chama-se lei do
amor. (ST I, II, 107, 1, ad 2)
Uma vez domesticadas as paixões pelo amor à virtude
ensinado aos homens pelo filho de Deus que os redimira do
pecado, os seres humanos podiam ser deixados à direção de
suas consciências, agora capazes de determinar por si os
preceitos judiciais – e com isso a idéia geral de justiça – que
deviam lhes guiar.95
2. Justiça: um critério de ordenação dos iguais
com vistas ao bem comum
Uma vez explicado o papel da lei no movimento das
criaturas em direção a Deus, o Aquinate podia então passar
95
Por essa razão o Senhor havia deixado a aplicação dos preceitos judiciais àqueles encarregados de dirigir os homens. “Os preceitos morais
deviam absolutamente permanecer na lei nova, pois em si mesmos se
incluem na essência da virtude. Enquanto que os preceitos judiciais
não deviam necessariamente continuar, do modo pelo qual a lei os
determinou, mas foram deixados ao arbítrio humano, que os determinassem de um ou de outro modo. [...] Quanto à observação dos preceitos cerimoniais, ela desapareceu totalmente, com a aplicação da lei
nova” (ST I, II, 108, 3, ad 3), nada mais tendo sido observado sobre a
matéria.
323
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
à discussão sobre a justiça,96 que tinha como objeto o direito
[ius], estabelecendo a diferença entre os conceitos.
Assim como o artista tem na mente o plano do que faz
com a sua arte, [...] assim também na mente preexiste
uma idéia da obra justa que a razão determina, idéia que
é como que a regra da prudência. E esta, quando redigida
por escrito, chama-se lei; pois a lei, segundo Isidoro, é
uma “constituição escrita”. Por onde, a lei, propriamente
falando, não é o direito mesmo, mas, uma certa razão do
direito. (ST II, II, 57, 1, ad 2 – grifos meus)
Ou seja, a lei propunha as normas de ação humanas. A
moral e o direito as reconheciam e aplicavam às várias ações
dos homens.97
A justiça constituía o objeto de estudo das questões 57
a 122 da Suma teológica (II, II). Para tratar o assunto, Tomás
de Aquino dividiu esse bloco em três seções, conforme aponta Nascimento: 1ª) estudava as espécies de justiça propriamente ditas: a comutativa, que regulava as relações entre
particulares; a distributiva, que ordenava as relações entre o
todo social e o cidadão; e a geral ou legal, que organizava as
relações entre os particulares e o todo social; 2ª) estudava as
partes como integrantes da justiça, que considerava ser duas:
fazer o bem e afastar-se do mal (q. 79); e 3ª) estudava as
virtudes anexas à justiça, em que estava em questão o relacionamento humano.98
Era próprio da justiça, escrevia Tomás de Aquino, ordenar os nossos atos que diziam respeito a outrem, pois a
96
97
98
As questões que tratam especificamente das noções de direito e justiça
estão contidas naquela parte da Suma teológica que se convencionou
chamar de Tratado da justiça, o qual se estende das questões 57 a 122,
II, II.
Cf. MOURA, D. Odilão. A doutrina do direito natural em Tomás de Aquino.
In: DE BONI, L. A. (Org.). Idade Média: ética e política. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1996. p. 223.
Cf. NASCIMENTO, op. cit., p. 78-9.
324
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
justiça implicava uma certa igualdade. “Ora, a igualdade
supõe relação com outrem. Ao passo que as demais virtudes
aperfeiçoam o homem só no referente a si próprio.” A virtude da justiça, diversamente, supõe a retidão na relação com
o outro.99
Por onde, chama-se justo o ato que, por assim dizer,
implica a retidão da justiça, e no qual termina a atividade desta, mesmo sem considerarmos de que modo
ela é feita pelo agente. Ao passo que, nas outras virtudes, um ato não é considerado reto senão levando-se
em conta o modo que o pratica o agente. E, por isso, a
justiça, especialmente e de preferência às outras virtudes, tem o seu objeto em si mesmo determinado, e que
é chamado justo. E este certamente é o direito. Por
onde, é manifesto que o direito é o objeto da justiça.
(ST II, II, 57, 1)
O que significava então ius? O direito, dizia Tomás,
implicava uma obra que se adequava a outra por algum modo
de igualdade. Quando esse modo estava na natureza mesma
da coisa, por exemplo, dar tanto para receber tanto, chamava-se direito natural (ius naturale). Quando uma coisa se
adequava a outra, fosse por conveção ou comum acordo particular, como quando pessoas privadas firmavam entre si um
pacto, ou convenção ou comum acordo público, como quando todo o povo consentia que uma coisa fosse tida como adequada à outra ou quando o princípe assim o ordenava, na
pessoa do representante do povo, chamava-se então direito
positivo (ius positivum). E a lei escrita continha e instituía o
99
“Assim, pois, a retidão nas obras das demais virtudes, para o que tende
a operação da virtude, como seu objeto próprio, só é considerada relativamente ao agente. A retidão, porém, que implica a obra da justiça,
além da relação com o agente, supõe relação com outrem. Pois, consideramos justa uma ação nossa, quando corresponde, segundo uma
certa igualdade, a uma ação de outro; assim, a paga da recompensa
devida por um serviço prestado” (ST II, III, 57, 1).
325
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
direito positivo, conferindo-lhe a força da autoridade, desde
que não discordasse da lei natural.100
Ou seja, o direito natural era promulgado e instituído
por Deus, o qual possibilitava ao homem, por meio de sua
natureza racional, conhecê-lo. Já o direito positivo, firmado
por convenção humana, era promulgado, anulado ou modificado, se preciso fosse, pelo homem.101 A vontade humana,
em razão de um consentimento comum, podia determinar o
justo em coisas que por si não repugnavam à justiça natural,
tal como ocorria com o direito positivo.102
Ora, a matéria própria da justiça são os actos relativos a
outrem [...]. Por onde, o ato de justiça é determinado relativamente a sua matéria própria e ao seu objecto, quando
se diz: dar a cada um o que lhe pertence; porque, como
100
Escrevia Tomás de Aquino noutra passagem: “Ora, de dois modos pode
uma coisa ser justa: por sua própria natureza, e tal é o justo natural;
ou, por uma convenção humana, e tal se chama direito positivo [...].
Ora, as leis se escrevem para declarar o que é justo, num e noutro
desses sentidos. De maneiras diversas, porém. Pois, a lei escrita contém o direito natural, mas, não institui: porque não tira a sua força, da
lei, senão, da natureza. Mas, o direito positivo a lei escrita o contém e o
institui, dando-lhe a força da autoridade. Por onde, é necessário que o
juízo seja feito de acordo com a lei escrita; do contrário se desviaria ou
do justo natural ou do justo positivo” (ST II, II, 60, 5).
101
Para compreender a doutrina do direito natural de Tomás de Aquino,
avisa Moura, é preciso levar em conta sua premissa: “o reconhecimento
da existência de uma natureza humana essencialmente estruturada
por Deus e regida por preceitos dela originados, segundo disposição
divina. O direito natural, conseqüentemente, obedece a dois princípios:
o divino, por ser participação da lei eterna pela qual o criador dirige
todas as coisas; e o humano, enquanto necessariamente vinculado à
criatura racional”. Cf. MOURA, op. cit., p. 225-6.
102
“Por isso, o Filósofo diz, que o justo legal é o que, ao princípio, pode ser
indiferentemente de um modo ou outro; mas, uma vez estabelecido, deve
permanecer no que é. Mas, o que em si mesmo repugna ao direito natural não pode a vontade humana torná-lo justo. Por exemplo, se estuísse
que é lícito furtar ou adulterar” (ST II, II, 57, 2, ad 2).
326
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Isidoro diz, chama-se justo aquele que observa a justiça.
[...]. E quem quisesse reduzir essa definição à sua forma
devida, poderia dizer: a justiça é um hábito pelo qual, com
vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um o que
lhe pertence. (ST II, II, 58, 1)
Como nada podia ser igual a si mesmo, mas apenas a
outrem, e como era próprio da justiça retificar os atos humanos, então era necessário que essa relação com outrem exigida
pela justiça dissesse respeito a agentes que podiam agir diversamente. Por isso, a justiça que atribuía a cada parte do
homem o que lhe convinha, de maneira universal, era chamada metafórica.103 Era próprio da justiça tornar bons o ato
humano virtuoso e o agente que o praticava. “Pois, os actos
humanos são bons por se sujeitarem à regra da razão, que os
retifica. Por onde, a justiça, retificando as ações humanas, é
claro que as torna boas” (ST II, II, 58, 3). Isso permitia a
Tomás de Aquino dizer que o sujeito da justiça não era o
intelecto ou a razão, o qual só constituía uma potência cognitiva, e sim o ato de vontade.104
103
“Por onde, a justiça propriamente dita exige diversidade de supostos e,
portanto, não pode ser senão de um homem para com outro. Mas, por
semelhança, admitimos, num mesmo homem, diversos princípios ativos, como se fossem agentes diversos; assim, a razão, o irascível e o
concupiscível. Por onde, metaforicamente, dizemos que há justiça, num
mesmo homem, quando a razão governa o irascível e o concupiscível e
quando estas potências obedecem à razão. E universalmente, quando a
cada parte do homem é atribuído o que lhe convém. Por isso, diz o
Filósofo, que essa justiça é chamada metafórica” (ST II, II, 58, 2).
104
“[...] como somos considerados justos por agirmos retamente, e o princípio próximo do agir é a potência apetitiva, necessariamente a justiça
tem nalguma potência apetitiva o seu sujeito. Ora, há um duplo apetite,
a saber: a vontade, que se funda na razão, e o sensitivo, conseqüente à
apreensão sensível, que se divide em irascível e concupiscível [...]. Ora,
dar a cada um o que lhe pertence não pode proceder do apetite sensitivo, porque a apreensão sensitiva não pode chegar até a consideração da
proporcionabilidade entre uma coisa e outra, o que é próprio da razão.
Por isso, a justiça não pode ter como sujeito o irascível ou o concupiscível,
mas só a vontade” (ST II, II, 58, 4).
327
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A justiça, portanto, constituía uma virtude geral, pois
ordenava para o bem comum. E, como ordenar para o bem
comum cabia à lei, essa justiça era chamada justiça legal.
Pois “por meio dela, o ser humano se harmoniza com a lei
que ordena os atos de todas as virtudes para o bem comum”.105 A justiça legal consistia assim, em sua essência,
numa espécie de virtude particular cujo objeto era o bem
comum. Movia, por comando, todas as outras virtudes e, por
isso, era denominada geral. Essa virtude se encontrava, como
principal e de maneira arquitetônica, no princeps; e, de maneira secundária e como ministra, nos súditos.
Nas palavras do Angélico:
Ora, por tudo o que é, a parte pertence ao todo; por onde,
qualquer bem da parte se ordena ao bem do todo. Portanto, assim sendo, o bem de qualquer virtude, quer o da
que ordena o homem para consigo mesmo, quer o da que
o ordena a qualquer outra pessoa singular, é referível ao
bem comum, para o qual a justiça ordena. E, a esta luz,
os actos de todas as virtudes podem pertencer à justiça,
enquanto esta ordena o homem para o bem comum. Por
onde, a justiça é considerada uma virtude geral. E como
o próprio da lei é ordenar o homem para o bem comum,
[...] daí resulta que essa justiça geral [...] chama-se justiça legal, porque, obedecendo-lhe, o homem procede de
acordo com a lei, ordenadora de todos os atos para o bem
comum. (ST II, II, 58, 5)
E acrescentava mais adiante: “E assim, está no chefe,
como principal e arquitetonicamente; nos súditos, porém,
secundariamente e como ministra” (ST II, II, 58, 6).106 Ao dis105
NASCIMENTO. A justiça geral em Tomás de Aquino. In: DE BONI, op. cit.,
1996, p. 213.
106
No original: “Et, sic, est in principe principaliter et quasi architectonice; in
subditis autem, secundario et quase ministrative”. Mais adiante, repetia
essa distinção nos seguintes termos: “A justiça, no chefe, é a virtude
como que arquitetônica, quase a que ordena e manda o que é justo; nos
328
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
cutir a perversão de um juízo usurpado, entretanto, Tomás
de Aquino inseria a figura do príncipe na totalidade do seu
sistema a partir do princípio de que as coisas terrenas se
ordenavam do imperfeito ao perfeito, como já foi dito. Esse
raciocínio o levava a afirmar que
o poder secular está sujeito ao espiritual, como o corpo à
alma. Por onde, não é usurpado o juízo do prelado espiritual que se intromete com as coisas temporais, na medida em que o poder secular lhe está sujeito, ou que lhe são
confiadas coisas da alçada desse poder. (ST II, II, 60, 6,
ad 3)
Esclarecido esse ponto, considerava então as demais
virtudes morais, as quais regulavam principalmente as paixões. A justiça legal ordenava o homem imediatamente para
o bem comum da cidade, mas não para o bem privado.107
“Pois uma é a noção do todo e outra a da parte”. Assim, constituía matéria da virtude moral – que era definida pela razão
reta – tudo aquilo que podia ser retificado pela razão (ST, II,
II, 58, 7 e 8). Tratava ainda do juízo e das partes da justiça, à
qual dedicou uma longa seção.
Nascimento mostrou com notável clareza a distinção
entre Tomás de Aquino e Aristóteles, no que respeitava às
partes integrantes da justiça. Para isso, usou um esquema
didático, que resume de maneira precisa as duas concepções
e que será reproduzido aqui. Nele pode-se ver como o Aquisúditos, porém, é virtude como que executiva e serviente. Por onde, o
juízo, implicado na definição do justo, é próprio da justiça, enquanto
existente, de modo principal, no chefe” (ST II, II, 60, 1, ad 4).
107
Enquanto a justiça e o direito visavam ao bem do outro, as outras virtudes morais visavam ao bem do próprio homem. A diferenciação entre
direito e moral, lembra Moura, vigorava não apenas no plano da sociedade juridicamente estruturada dos povos civilizados, mas também entre
os povos primitivos. “Por isso, jamais o direito positivo anulará o direito
natural”. Cf. MOURA, op. cit., p. 222.
329
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
nate ampliou a noção aristotélica de justiça, definida da seguinte maneira na Ética a Nicômaco, l. V:
| GERAL – idêntica ao conjunto das virtudes
JUSTIÇA
|
| DISTRIBUTIVA
| PARTICULAR |
|
| COMUTATIVA
Este esquema, diz Nascimento, foi ocultamente transformado por Tomás de Aquino no seguinte:
| GERAL – idêntica ao conjunto das virtudes: toda
|
JUSTIÇA
virtude é uma forma de justeza ou retidão
|
| GERAL (legal) – ordenação do homem
|
| imediatamente ao bem comum;
| ESPECIAL
|
|
| PARTICULAR (cardeal)
| DISTRIBUTIVA
|
| – ordenação do homem
|
|
| a bens particulares
| COMUTATIVA
Ou seja, o Aquinate incorporou uma forma particular
de justiça, como explica Nascimento, que
tem por objeto o bem comum da coletividade e pode mobilizar em vista deste qualquer virtude que se ocupa de
um bem que é parte deste bem comum. Essa caracterização da justiça geral ou legal permite que ela seja relacionada coerentemente com a lei (“ordenação da razão
em vista do bem comum”) e com as funções da autoridade e dos membros da coletividade.108
108
NASCIMENTO. A justiça geral em Tomás de Aquino. In: DE BONI, op. cit.,
1996, p. 217.
330
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Assim, matar um malfeitor só seria lícito se esse ato se
ordenasse à salvação de toda comunidade. Como zelar pela
comunidade cabia ao governante, somente a ele competia a
execução da pena: fazê-lo
pertence só àquele que foi incumbido de zelar pela conservação da comunidade, assim como ao médico pertence amputar um membro gangrenado, quando estiver
incumbido de zelar pela conservação de todo o corpo de
alguém. Ora, cuidar do bem comum pertence ao chefe
investido da autoridade pública. Logo, só a eles é lícito
matar os malfeitores, e não aos particulares. (ST II, II,
64, 3)
Tudo aquilo que era possuído em comum se fundava
no direito natural, enquanto tudo o que se possuía em separado se fundava numa convenção humana e dizia respeito
ao direito positivo (ST II, II, 66, 2, ad 1). As determinações do
direito humano, que era inferior, não podiam abolir as
do direito natural:
As disposições de direito humano não podem derrogar as
do direito natural ou do direito divino. Ora, pela ordem
natural, instituída pela providência divina, as coisas inferiores são ordenadas à satisfação das necessidades
humanas. Por onde, a divisão e a apropriação das coisas
permitidas pelo direito humano não obstam a que essas
coisas se destinem a satisfazer às necessidades do homem. E portanto as coisas que possuímos com superabundância são devidas, pelo direito natural, ao sustento
dos pobres. (ST II, II, 66, 7)
Por fim, o bem, apenas como correlato da noção de
dever, era propriamente objeto da justiça especial.
Se se trata do bem e do mal em geral, fazer aquele e evitar
este é próprio a todas as virtudes. E, assim sendo, não
podem fazer parte da justiça, salvo se esta for considerada como a virtude total. [...]. Mas, a justiça, enquanto
331
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
virtude especial, visa o bem considerado como um dever para com o próximo. E sendo assim, da justiça especial é próprio fazer o bem, considerado como um dever
relativo ao próximo, e evitar o mal oposto, i. é, o que
lhe é nocivo; ao passo que da justiça geral é próprio
fazer o bem, como um dever relativo à comunidade ou
a Deus, e evitar o mal oposto. (ST II, II, 79, 1)
E esclarecia em seguida:
E esses dois atos são considerados como partes integrantes da justiça geral ou da especial, porque ambos
os exige a perfeição do ato de justiça. Pois, a esta pertence estabelecer a igualdade nos atos relativos a outrem [...]. Porque ao mesmo princípio constitutivo de
uma coisa compete também conservá-la. Ora, a igualdade da justiça nós a constituímos fazendo o bem, i. é,
dando a outrem o que lhe é devido; e conservamos a
igualdade da justiça já constituída desviando-nos do
mal, i. é, não causando nenhum dano ao próximo.
(idem)
A posse e o exercício dessa justiça legal proporcionavam a amizade civil que, do mesmo modo que para Aristóteles, fortalecia a solidariedade entre os membros da comunidade, fomentando a “boa vida”.
Mas e o direito divino, como se enquadrava nesse esquema? Para o Angélico, não havia, propriamente falando,
um direito divino.109 Pois o direito fundamentava-se “na igualdade do que é devido pelo devedor com a satisfação exigida
pelo outro [...]. Não havendo possibilidade de igualdade entre
o homem e Deus, disto resulta a negação de um direito divino”. O direito natural concebido por Tomás de Aquino era
exclusivamente natural, explica Moura, prescindindo da revelação. O pensamento tomista sobre o direito natural, con109
Cf. MOURA, op. cit., p. 231.
332
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
clui, afastava-se da vinculação com a religião e se limitava a
ligá-lo a Deus como Criador.110
Talvez haja algum exagero nessa formulação. Pois, para
um católico fervoroso como era o Angélico, uma desvinculação entre as duas esferas, natural e sobrenatural, não se
colocava. Mas é certo que, ao conferir um elevado grau de
autonomia ao mundo natural, Tomás de Aquino preparava
bases firmes e sólidas sobre as quais seus sucessores, estes
sim, o fariam. De todo modo, estavam dadas as condições
conceituais que permitiriam conceber o mundo natural – do
qual faziam parte a polis e os assuntos políticos – independentemente da existência de um Deus criador. E tanto a sua
noção de lei quanto a de justiça serviam para organizar esse
orbe no qual os homens estavam naturalmente inseridos. O
brilho dos modernos, sem dúvida, deveu muito, neste ponto,
aos pensadores medievais.
IV A POLÍTICA DO DOUTOR ANGÉLICO
Pode-se dizer, com algum grau de segurança, que o
opúsculo De regno – ad regem Cypri e o texto Sententia libri
politicorum, ambos inacabados, constituem as duas únicas
obras nas quais Tomás de Aquino tematizou de maneira direta a doutrina da política. O De regno – também conhecido
como De regimine principum – foi escrito a pedido do rei de
Chipre, como fica claro pelo subtítulo. A parte atribuída a
Tomás de Aquino parece ter sido escrita entre 1265 e 1267.
O trabalho foi concluído pelo discípulo e fiel amigo, Tolomeu
110
“E por isso a lei divina não se chama propriamente direito [ius], mas fas
[o lícito divino], porque basta, para Deus, o cumprirmos com o que
podemos. Pois a justiça visa fazer com que o homem pague o seu débito
para com Deus, o quanto pode, sujeitando-se-lhe de toda sua alma” (ST
II, II, 57, 1, ad 3).
333
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
de Luca, logo depois da sua morte. Também o Sententia libri
politicorum – divulgado sob o nome Comentários à “Política”
de Aristóteles – ficou inacabado e foi concluído por outro discípulo, Pedro de Alvérnia. Nos Comentários Tomás de Aquino
trabalhou de 1269 a 1272, chegando a abordar o início do
livro terceiro. Pouco depois foi acometido de uma maladia
inexplicável que o levaria à morte prematura em 1274.
Já o Tratado da lei e o Tratado da justiça, comentados
na seção anterior, não devem ser tomados como obras propriamente políticas, embora forneçam uma boa idéia de como
o Angélico pensava e fundamentava o ideal de vida coletiva
entre as criaturas humanas. Não se pode perder de vista que
esses dois tratados foram escritos para compor a segunda
parte da Suma teológica, cujo objetivo era explicar o movimento dos seres humanos na direção de Deus. Para desenvolver essa relação das criaturas com seu Criador, o Angélico
não precisava falar especificamente da política enquanto ciência, mas apenas das formas de organização da vida coletiva
dos agentes humanos, que, frisava ele, “podiam ser bastante
diversas, segundo o lugar e o tempo”.
Mesmo os textos especificamente dirigidos à política
constituíam, de certo modo, apenas trabalhos parciais: o De
regno, opúsculo encomendado, tratava sobretudo do regime
monárquico e sua perversão, a tirania. O texto se inseria na
tradição dos “espelhos do príncipe”, em voga à época – uma
espécie de manual do príncipe virtuoso.111 E os Comentários
constituíam um tipo de lectio sobre a obra política do mestre
grego. Apesar disso, Tomás de Aquino escreveu para esse
comentário um Prólogo bastante útil, no qual revelava e fundamentava algumas de suas posições a respeito do tipo de
conhecimento no qual consistiria a política, ciência que tinha como objeto imediato o estudo da civitas. É sem dúvida
111
O gênero seria popularizado dois séculos mais tarde com o “espelho”
escrito por Maquiavel, O príncipe, dedicado a Lorenzo de Médici.
334
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
por essa ausência de um corpo consistente de argumentação
a respeito da política que autores conceituados, como Souza
Neto, entre muitos outros, afirmam que, “em sua obra, não
encontramos nenhum tratado sistemático de Filosofia Política”.112
Essa constatação não nos impede, contudo, de tratar
os textos mencionados como peças importantes para a compreensão do que o Angélico concebia como sendo relativo à
política. E também não diminui a importância de sua síntese
conceitual para o desenvolvimento que ocorreria logo depois
em quase todos os campos do saber, inclusive no do pensamento político. A vigorosa base filosófica e analítica sintetizada pelo Aquinate – cuja paternidade contudo deve ser compartilhada tanto com os mestres que o antecederam, como
Alberto Magno, quanto com os inúmeros discípulos influentes e talentosos que o sucederam –, serviria como matériaprima para numerosas inovações, umas ainda por vir, como
as monarquias absolutas e o movimento de reforma da Igreja, outras já a caminho, como a noção de soberania e os
desenvolvimentos de filosofia natural. É essa contribuição
que se pretende aqui recuperar.
Paul Sigmund, outro estudioso do pensamento de Tomás de Aquino, afirma que a concepção política do Angélico
foi importante por pelo menos três motivos:
1) porque reafirmava o valor da vida política, tal como
defendida em Aristóteles: Tomás de Aquino argumentava serem a política e a vida política atividades moralmente positivas, que estavam de acordo com a intenção de Deus em relação
ao homem;
2) porque sua visão combinava as concepções feudal e
hierárquica tradicional da estrutura da sociedade e da políti112
SOUZA NETO, op. cit., p. 8.
335
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ca à emergência de noções incipientemente igualitárias e comunitariamente orientadas da ordenação social;
3) porque desenvolveu uma teoria da lei natural coerente e logicamente integrada, que continua sendo uma fonte importante de normas legais, políticas e morais. Só por
isso, escreve Sigmund, já se teria de considerá-lo parte do
patrimônio intelectual do Ocidente.113
Operando com a asserção básica “de que a graça não
contradiz a natureza, e sim a aperfeiçoa”, o Aquinate combinou tradição, as Escrituras, práticas contemporâneas e métodos filosóficos para produzir uma síntese influente e
duradoura na teoria legal. Um dos pontos centrais desse esforço foi a sua adesão à noção aristotélica de teleologia ou
causas finais. Essa idéia passou a ser, no pensamento do
Angélico, a formulação do propósito de Deus na essência do
universo e da humanidade que Ele criara.
Não se pode esquecer que Tomás de Aquino era, em
primeiro lugar, um teólogo cristão que acreditava no pecado
original e na Criação divina. Contudo, diferentemente dos
autores de linha agostiniana – para os quais o governo temporal tinha sua ratio no pecado original, lembram Souza e
Barbosa –, para o Aquinate a justificação do governo secular
tinha seu fundamento na “sociabilidade natural do homem”.
Ao homem, um animal social e político, era natural o viver
em comunidade. Pois somente por meio de sua razão individual o ser humano não alcançaria os objetivos que tinha em
vista.114
A humanidade consistia numa comunidade com um
fim último neste mundo: o bem comum. Esse objetivo impunha a necessidade da existência de um governante que conduzisse para esse fim o corpo social e cada um de seus
113
114
Cf. SIGMUND, Paul E. Lei e política. In: KRETZMANN & STUMP, op. cit., p. 217.
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 128.
336
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
membros. O rei e a comunidade humana constituíam apenas um meio para a fruição futura de Deus, fim último da
vida humana e felicidade por excelência. Embora não fosse
otimista com relação à criação de uma comunidade política
ideal, o Angélico era bastante receptivo às possibilidades de
uma engenharia institucional. Pois tinha noção da ampla variação das estruturas políticas das 158 constituições gregas
estudadas por Aristóteles. Esse projeto de construção cabia
a uma ciência específica, afirmava Tomás de Aquino seguindo o Filósofo: a ciência civil, cujo estatuto o autor definia no
“Prólogo” aos Comentários sobre a “Política” de Aristóteles.
“Como ensina o Filósofo no livro II da Física”, escrevia o
Angélico,
a arte imita a natureza. [...] Ora, o princípio das coisas
que são feitas segundo a arte é o intelecto humano, que
deriva segundo certa similitude do intelecto divino, o qual
é o princípio das coisas naturais. Donde é necessário que
as obras da arte imitem as obras da natureza, e aquelas
[coisas] que existem segundo a arte imitem aquelas que
existem na natureza. [...] E por isso o intelecto humano,
cujo lume inteligível é derivado do intelecto divino, tem
necessariamente de se formar nas coisas que faz a partir
do exame das coisas que foram feitas naturalmente, para
que opere de maneira similar.115
A natureza, contudo, não executava as obras da arte.
Por isso, podia apenas prover aos artistas certos princípios
segundo os quais eles deviam operar. Já a arte, continuava
Tomás de Aquino, podia examinar as obras da natureza e
usá-las para aperfeiçoar seu próprio trabalho. Por isso, as
115
Todas as passagens referentes a esse texto foram traduzidas de: AQUINO.
Sententia libri politicorum (Comentários), l. 1, “Prólogo” (A 69) (minha
tradução). In: AQUINO. Opera omnia (iussu Leonis XII P.M. edita). Roma:
Ad Sancta Sabinae, 1971. t. 48. Uma tradução completa do “Prólogo”,
acompanhada do original latino, pode ser encontrada no “Apêndice”
deste trabalho.
337
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ciências que lidavam com as coisas feitas pelo homem constituíam ciências práticas ou operativas, segundo a imitação
da natureza. Como a natureza em sua operação procedia do
simples ao composto, nas coisas que ocorriam pela operação
da natureza a mais complexa era perfeita e total, e constituía
o fim das outras coisas, como se podia notar no caso de quaisquer todos em relação às suas partes. Assim também a razão
humana, dizia ele, procedia imperfeito ao perfeito.
A razão humana, que ordenava não apenas as coisas
usadas pelos homens, mas também os próprios homens, os
quais eram governados pela razão, procedia em cada caso do
simples ao complexo: por exemplo, os homens construíam o
navio para seu uso a partir da madeira; ou, entre si, ordenavam-se de modo a formar uma comunidade a partir da família. Entre essas comunidades existiam vários graus e ordens.
A mais alta delas era a comunidade da cidade (communitas
civitatis), a qual era ordenada para a satisfação de todas as
necessidades da vida humana, sendo por isso a mais perfeita. E porque as coisas usadas pelo homem eram ordenadas
como para o seu fim, o qual era superior aos demais, aquele
todo (totum) que constituía a civitas [cidade] era por isso necessariamente superior a quaisquer outros “todos” que pudessem ser conhecidos e construídos pela razão humana.
De tudo o que fora dito, prosseguia Tomás de Aquino,
quatro coisas podiam ser apreendidas. Primeiro, a necessidade dessa ciência (da política). Pois, para se chegar à perfeição da sabedoria humana, a filosofia, era preciso ensinar
algo sobre toda coisa que podia ser conhecida por meio da
razão. Como aquele todo que constituía a civitas estava sujeito a um certo julgamento da razão, era necessário, para
complemento da filosofia, instituir uma disciplina que tratasse da civitas. E essa doutrina era chamada política, isto é,
ciência civil (civilis scientia).
Segundo, podia-se inferir o gênero dessa ciência. Pois
as ciências práticas se distinguiam das ciências especulati338
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
vas: as últimas eram ordenadas exclusivamente para o conhecimento da verdade, enquanto as primeiras, por serem
ordenadas para alguma obra ou ato, tinham de ser compreendidas sob a filosofia prática, na medida em que a civitas
era um certo todo que a razão humana não apenas conhecia,
mas também produzia.116 Era óbvio, dizia ele, que a ciência
política, que se ocupava da ordenação dos homens, não estava compreendida sob as ciências que pertenciam ao fazer ou
às artes mecânicas, mas sim sob aquelas que pertenciam à
ação, que eram as ciências morais.
Terceiro, podiam-se inferir a dignidade e a ordem da ciência política em relação às demais ciências práticas. A civitas
era a mais importante das coisas que podiam ser constituídas
pela razão humana, repetia o Aquinate. Pois todas as outras
comunidades humanas a ela se referiam. Se a ciência mais
importante era aquela que tratava do mais nobre e perfeito,
então era necessário que, entre todas as ciências práticas, a
política fosse a mais importante e arquitetônica em relação às
demais, na medida em que dizia respeito ao bem último e
perfeito nos assuntos humanos. E essa era a causa de o Filósofo dizer, no fim do livro X da Ética, esclarecia Tomás de
Aquino seguindo Aristóteles, que a filosofia que tratava dos
assuntos humanos encontrava sua completude na política.
Quarto, do que foi dito, podiam-se deduzir o modo e a
ordem dessa ciência. Pois, como as ciências especulativas,
116
A razão produzia certas coisas, distinguia Tomás de Aquino, de dois
modos: 1) pelo modo do fazer, caso no qual a operação se transformava
em matéria exterior, que pertencia propriamente às artes chamadas
mecânicas, como a do forjador e do construtor de navio; 2) pelo modo
da ação: neste caso, a operação permanecia dentro do agente, como
quando alguém deliberava, escolhia, desejava e executava outros atos
similares pertencentes à ciência moral. Nas palavras do Angélico: “[...] é
manifesto que a ciência política, que considera a ordenação dos homens, não está contida sob as ciências do fazer, que são as artes mecânicas, mas sob a das ações, que são ciências morais”. In: AQUINO.
Sententia, op. cit., A 69-70 (minha tradução).
339
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
que consideravam algum todo, chegavam ao conhecimento
do todo pela manifestação de suas propriedades a partir de
um exame de suas partes e seus princípios, assim também
essa ciência examinava as partes e os princípios da civitas
(principia et partes civitatis), e nos fornecia um conhecimento
deles pela manifestação de suas partes, das suas paixões e
das suas operações. E porque era uma ciência prática, completava, ela apontava ainda o modo como cada coisa podia
chegar à sua realização, como era necessário em toda ciência
prática.117
A exposição feita pelo Aquinate não deixava dúvidas
quanto ao fato de que ele havia tomado de empréstimo do
mestre grego a concepção teleológica ou finalista da política.
E também o seu status científico. Mas ia adiante quando
dizia que esse fim último a ser alcançado por todas as coisas
encontrava-se na esfera do sobrenatural, e não na terrena,
como defendia o Estagirita. Isto é, como a razão humana
recebia seus princípios do intelecto divino, era preciso distinguir entre o fim intrínseco da cidade, o “bem viver” ou a vida
virtuosa (eudaimonia), e um fim exterior a ela, a visão de
Deus (visio Dei).
Se para Aristóteles a política era a ciência suprema entre todas as que se subordinavam ao saber prático, recorda
Garcia-Cuadrado, para Tomás de Aquino ela constituía um
fim último, mas numa ordem dada, já que a ciência do divino
era a ciência mestra a respeito do universo todo. O fim último da ciência política visava assim, na ordem natural, à ordenação dos homens em vista do bem viver. Mas essa “boa
117
Foi consultada ainda uma versão inglesa desse texto que, por motivos
técnicos, não pôde ser aproveitada nesta tradução. Cf. Commentary on
Aristotle’s politics. Trad. de Ernest Fortin and Peter O’Neill. In: LERNER,
Ralph (Ed.). Medieval political philosophy: a sourcebook. New York: Free
Press of Glencoe, 1963.
340
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
vida” era apenas o meio para atingir uma ordem superior, a
ordenação divina, que constituía a única perfeita e completa.
Desse modo, a política não era a ciência do fim supremo
absoluto, e sim a ciência do meio supremo para alcançar o
fim último.118
A política, portanto, era simultaneamente um fim último na ordem natural e um fim relativo no que dizia respeito
ao fim supremo sobrenatural: constituía o meio mais adequado para a consecução do fim último primeiro, a visão de
Deus. Nesse sentido, não havia em Tomás de Aquino uma
contraposição entre o fim da cidade terrena e o da cidade de
Deus. Pois era precisamente na cidade terrena que o homem
deveria se desenvolver em sua plenitude, de modo a estar
apto para alcançar a beatitude celeste. Era por essa razão
que o Angélico podia afirmar sem constrangimentos ser a
ciência política principal e arquitetônica entre todas as que
compunham o conhecimento prático. Essa era uma interpretação bastante nova do “lugar” da política e faria escola
no pensamento político que sucedeu o Aquinate.
Os princípios apontados por Tomás de Aquino constituíam uma base bem diferente daquela da qual partiam os
cristãos tradicionais, no que respeitava à concepção da política: para os Pais da Igreja e para os cristãos da Alta Idade
Média, a vida política havia sido corrompida pela inclinação
hereditária do homem ao mal. Política era, de modo geral,
associada a formas corruptas e degeneradas de existência. O
regnum consistia para os cristãos medievais numa instituição coercitiva (“braço armado”) cujo objetivo era manter um
mínimo de ordem num mundo pecaminoso. O governante,
118
Cf. GARCIA-CUADRADO, José Angel. Ética e política: Tomás de Aquino comenta Aristóteles. REVISTA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. As relações de poder no pensamento político
da Baixa Idade Média. Homenagem a João Morais Barbosa. Lisboa:
Universidade Nova Lisboa, v. I, 1994. p. 102.
341
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mesmo que fosse um cristão, podia apenas se esforçar para
moderar os impulsos do poder temporal humano e para impor uma justiça mínima na cidade terrena, de modo a tornar
viável aos futuros membros da cidade celeste a conquista de
sua recompensa eterna, a justiça perfeita ao lado de Deus.
Tomás de Aquino enfrentou essa tradição ao afirmar,
seguindo os passos do Filósofo, que o homem era um animal
naturalmente orientado para a polis, isto é, um zoon politikon.
E que a vida política constituía uma parte necessária para o
seu completo desenvolvimento. Tomás ampliou a definição
aristotélica, traduzindo-a para o latim nas seguintes palavras: “É o homem, por natureza, um animal sociável [gregale]
e civil” (De regno, 1, 2, 2).119 Um animal que usava a sua razão e a faculdade da fala para cooperar na construção de
comunidades políticas que respondiam às necessidades do
grupo e dos membros que a compunham. A comunidade
política, união de homens livres sob a direção de um governante, visava à promoção do bem comum. Definido dessa
maneira, o governar assumia uma conotação positiva e ganhava uma justificação moral.120
Para os homens que viviam no século XIII, é preciso
lembrar, o regnum não apenas constituía a melhor forma de
governo, mas era também a única que estava de acordo com
a intenção divina – não está em discussão aqui se a espada
temporal deveria caber apenas ao imperador ou submeter-se
ao papa. Também para o Aquinate a monarquia era, de modo
absoluto, a melhor forma de governo, embora defendesse o
governo misto. E justificava: quanto mais eficazmente um
119
No Sententia: “[...] ergo homo est naturaliter animal domesticum et civile”
(Sententia A 79).
120
Sobre a contraposição das visões agostiniana e tomista a respeito da
política, conferir WEITHMAN, Paul J. Augustine and Aquinas on original
Sin and the function of political authority. Journal of the History of Philosophy, v. 30, n. 3. p. 353-76, jul. 1992.
342
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
governo alcançava a unidade, tanto mais útil ele era à comunidade. E quanto maior fosse a unidade dentro dele, tanto
mais eficaz ele seria. Relevante em seu raciocínio portanto
era o princípio, o da unidade, que se seguia de sua concepção metafísica da unicidade de Deus. Por isso podia afirmar
que o governo monárquico, dada a unidade do governante,
constituía, entre todas as formas justas de governo, a mais
apta para dirigir a comunidade política.121
O homem era, por natureza, um animal social e político que, mais do que os outros animais, vivia em multidão por
não estar apto a satisfazer sozinho todas as suas necessidades naturais.122 Diferentemente dos animais, que tinham discernimento natural inato, o homem só dispunha do
conhecimento natural, tendo de partir dos princípios primeiros universais para atingir o conhecimento das coisas particulares necessárias à sua vida. Como um homem sozinho
não podia abarcar todas essas coisas, era necessário que vivesse em multidão, de modo a se ajudar mutuamente e dividir o saber que cabia a cada um. “Isto se patenteia com muita
121
“Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, [...] é mister haver
algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. [...] ora,
tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação,
porquanto age pelo intelecto, que opera manifestamente em vista do
fim. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do
fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanos patenteia. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Tem todo
homem, dada naturalmente, a luz da razão, pela qual é dirigido ao fim,
nos seus atos. E, se conviesse ao homem viver separadamente, [...] não
precisaria de quem o dirigisse para o fim”. In: AQUINO. De regno (DR), l. 1,
cap.2, 2. In: AQUINO, Escritos políticos, op. cit., p. 126.
122
“Foi, porém, o homem criado sem a preparação de nada disso [dentes,
chifres, velocidade para fuga] pela natureza, e, em lugar de tudo, coubelhe a razão, pela qual pudesse granjear, por meio das próprias mãos,
todas essas coisas, para o que é insuficiente um homem só. Por cuja
causa, não poderia um homem levar suficientemente a vida por si. Logo,
é natural ao homem viver na sociedade de muitos” (DR 1, 2, 2).
343
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
evidência no ser próprio do homem usar da linguagem, pela
qual pode exprimir totalmente a outrem o seu conceito” (DR
1, 2, 3).
De onde Tomás de Aquino deduzia que, se era natural
ao homem “o viver em sociedade de muitos, cumpre haja,
entre os homens, algo pelo que seja governada a multidão”,
um princípio diretivo que garantisse ao grupo, em meio a
tanta diversidade, o governo daquilo que era comum.123 Para
isso, era preciso que houvesse, em toda multidão, um regente capaz de assegurar que a comunidade alcançasse o fim
para o qual tinha sido constituída:124 o bem-estar coletivo.
Se, pois, a multidão dos livres é ordenada pelo governante ao bem comum da multidão, o regime será reto e justo,
como aos livres convém. Se, contudo, o governo se ordenar não ao bem comum da multidão, mas ao bem privado do governante, será injusto e perverso o governo. (DR
1, 2, 5)
A um tal governante injusto chamar-se-ia tirano,
nome derivado de força, porque oprime pelo poder, ao
invés de governar pela justiça [...]. Fazendo-se [o regime
123
“Que, se houvera muitos homens e tratasse cada um do que lhe conviesse, dispersar-se-ia a multidão em diversidade, caso também não houvesse algo cuidando do que pertence ao bem da multidão, assim como
se corromperia o corpo do homem e de qualquer animal, se não existira
alguma potência regedora comum, visando ao bem comum de todos os
membros [...]. E, por certo, é razoável, pois não são idênticos o próprio e
o comum. O que é próprio divide, e o comum une. Aos diversos correspondem causas diversas. Assim, importa existir, além do que move ao
bem particular de cada um, o que mova ao bem comum de muitos” (DR
1, 2, 4).
124
“Assim como sucede em certas coisas ordenadas a um fim, andar direito ou não, também no governo da multidão se dá o reto e o não-reto.
Uma coisa dirige-se retamente, quando vai para o fim conveniente; nãoretamente, porém, quando vai para o fim não conveniente. Um, porém,
é o fim conveniente à multidão dos livres, e outro à dos escravos [...]”
(DR 1, 2, 5).
344
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
iníquo], entretanto, não por um só, senão por vários, se
bem que poucos, chama-se oligarquia, isto é, principado
de poucos [...]. Se, porém, o regime iníquo se exerce por
muitos, nomeia-se democracia, quer dizer, poder do povo,
sempre que o povo dos plebeus oprime os ricos pelo poder da multidão [...]. Semelhantemente se há de também
fazer distinção quanto ao regime justo. Se a administração está com uma multidão, se lhe chama com o nome
comum de politia [...]. E, se administram poucos, mas
virtuosos, chama-se aristocracia tal governo [...]. Pertencendo, porém, a um só o governo justo, chama-se ele,
propriamente, reii. (DR 1, 2, 6)
Aqui o Angélico repetia o mestre: sua divisão das formas de governo era rigorosamente aristotélica.
Rex, portanto, era aquele que presidia único, buscando o bem comum da multidão. E a sociedade da multidão
seria tanto mais perfeita quanto mais auto-suficiente fosse
para suprir as necessidades da vida coletiva. A civitas era,
entre todas, a associação mais perfeita. Também o desenvolvimento da vida social seguia em Tomás de Aquino o esquema aristotélico: o núcleo básico era a família (domus), seguida
pela aldeia (vicus) e depois pela cidade (civitas). A intenção do
governante reto, escrevia ele, era buscar a salvação dos súditos, do mesmo modo que competia ao piloto conduzir a nau
em segurança até o porto. Como o bem da multidão associada era a conservação da unidade, útil à vida social, o intento
do governante devia ser por isso cuidar da unidade, isto é, da
paz. E o governo que melhor realizava essa unidade era aquele
de um só: a monarquia.125
125
“Deve ser a intenção de qualquer governante o procurar a salvação daquele cujo governo recebeu. [...] Ora, o bem e salvamento da multidão
consorciada é conservar-lhe a unidade, dita paz, perdida a qual, perece
a utilidade da vida social, uma vez que é onerosa a si mesma a multidão
dissensiosa. Por conseguinte, o máximo intento do governante deve ser
o cuidar da unidade da paz. Nem é reto deliberar ele a não ser que
produza a paz na multidão a ele sujeita [...]. Realmente, ninguém deli345
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
E, para sustentar sua argumentação, o Aquinate acrescentava:
Mais ainda: o mais bem ordenado é o natural; pois, em
cada coisa, opera a natureza o melhor. E todo regime
natural é de um só. Assim, na multidão dos membros, há
um primeiro que move, isto é, o coração; e, nas partes da
alma, preside uma faculdade principal, que é a razão.
Têm as abelhas um só rei, e em todo o universo há um só
Deus, criador e governador de tudo. E isto é razoável. De
fato, toda multidão deriva de um só. Por onde, se as coisas de arte imitam as da natureza e tanto melhor é a obra
de arte quanto mais busca a semelhança da que é da
natureza, importa seja o melhor, na multidão humana, o
governar-se por um só. (DR 1, 3, 9)
Recorria ainda à experiência para mostrar que o governo de muitos produzia o dissenso: um governo dos muitos,
no qual o poder fosse compartilhado, degenerava com mais
freqüência num regime tirânico do que o governo de um só
monarca, a exemplo da república romana. E o que tornava
injusto um governo, “é o tratar-se, nele, do bem particular do
governante, com menosprezo do bem comum da multidão.
Logo, quanto mais se afasta do bem comum, tanto mais injusto é o regime” (DR 1, 4, 11). De todas as formas de governo, a mais injusta era a tirania. Pois, assim como o bem
proveniente de uma só causa era mais forte, a exemplo de
Deus, também mais devastador era o mal que advinha de
uma causa única.126
bera do fim que deve perseguir, mas sim do que se ordena ao fim [...].
Assim, tanto mais útil será um regime, quanto mais eficaz for para
conservar a unidade da paz [...]. Ora, manifesto é poder melhor realizar
unidade o que é de per si um só, que muitos, tal como a mais eficiente
causa de calor é aquilo que de si mesmo é quente. Logo, é o governo de
um só mais útil que o de muitos” (DR 1, 3, 8).
126
“É, pois, o governo do tirano o mais injusto. Semelhantemente se tornará evidente a quem considerar a ordem da divina providência, que tudo
346
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Até aqui, Tomás de Aquino seguia Aristóteles. Mais
adiante, contudo, argumentava que, no governo de muitos,
ocorria com mais freqüência o domínio da tirania: quando
muitos governavam, inúmeros ódios e dissensões eram despertados, permitindo a instauração de tiranias cruéis. Por
isso, insistia, melhor era o governo de um só.127 E, quando
era preciso decidir entre dois governantes perigosos, deviase escolher aquele do qual derivava mal menor. E justificava
adiante, recorrendo à experiência histórica:
se alguém considerar diligentemente, em todo o mundo,
os fatos passados e os que ora se dão, há de achar ter
havido mais tiranos nas terras governadas por muitos,
do que nas governadas por um só. Se, portanto, a realeza, que é o melhor governo de todos, pareça dever evitarse por causa da tirania; e se a tirania costuma dar-se não
menos, porém mais, no governo de muitos que no de um
dispõe pelo melhor. Pois, nas coisas, o bem provém duma única causa
perfeita, congregando-se tudo aquilo que pode coadjuvar ao bem, enquanto o mal, em particular, provém dos defeitos particulares [...]. E
assim é que, por modos vários, procede a feiúra de muitas causas, enquanto a beleza por um só modo e de uma só causa perfeita. E assim se
dá com todos os bens e males, como que por providência de Deus, a fim
de que o bem proveniente de uma só causa seja mais forte, entretanto,
o mal, proveniente de muitas causas, seja mais fraco. Releva, pois, que
o governo justo seja de um só, para ser mais forte. Porque, caso se
afaste da justiça, mais convém seja de muitos, que entre si se atrapalhem, para ser mais fraco. Entre os regimes injustos é, portanto, o mais
suportável a democracia, e o pior, a tirania” (DR 1, 4, 11).
127
“Ora, da monarquia que em tirania se converte”, escrevia Tomás de
Aquino corrigindo o mestre, “segue-se menor mal do que do governo de
muitos nobres, ao se corromper. Verdadeiramente, a dissensão que, o
mais das vezes, deriva do governo de muitos, contraria o bem da paz,
que é o princípio na multidão social, bem esse que pela tirania não se
perde, mas somente se impedem alguns dos bens dos homens particulares, salvo se há excesso de tirania, que se agrave contra toda a comunidade. Portanto, há de se decidir de preferência pelo governo de um só
do que pelo de muitos, se bem que de ambos decorram perigos” (DR 1,
6, 15).
347
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
só, resta simplesmente ser de mais conveniência viver sob
um rei, do que sob o governo de muitos. (DR 1, 6, 15 e 16)
Convinha assim que se escolhesse para a função de rei
um homem com pouca probabilidade de se inclinar à tirania.
E as instituições do reino deviam estar de tal forma estabelecidas, que dificultassem ao rei a ocasião de se tornar um tirano.
Se contudo uma tirania se instaurasse, e não fosse excessiva,
convinha mais que fosse tolerada por certo tempo do que,
na oposição ao tirano, ficar-se emaranhado em muitos
perigos mais graves do que a própria tirania. [...] Dá-se,
por vezes, o caso de, quando a multidão expele o tirano,
ajudada por alguém, este, apanhado o poder, assumir a
tirania e, temendo sofrer de outrem o que fez contra aquele,
oprimir os súditos em mais grave servidão. (DR 1, 7, 18)
Mas, se fosse legalmente possível livrar-se do tirano,
procedendo pela autoridade pública, devia então a multidão
destituí-lo.128 No caso de não se obter auxílio humano contra
o tirano, restava então recorrer ao rei supremo, Deus.129
Tomás de Aquino recusava o governo teocrático tradicional por acreditar que este conferia ao monarca a plenitudo
potestatis: ele não tinha de dar conta a ninguém de seus atos
de governo e podia colocar-se acima das leis. Isto, para o
128
“[...] não se deve proceder contra a perversidade do tirano por iniciativa
privada, mas sim pela autoridade pública. Primeiro, porque, competindo ao direito de qualquer multidão prover-se de rei, não injustamente
pode ela destituir o rei instituído ou refrear-lhe o poder, se abusar tiranicamente do poder real. Nem se há de julgar que tal multidão age com
infidelidade, destituindo o tirano, sem embargo de se lhe ter submetido
perpetuamente, porque mereceu não cumpram os súditos para com ele
o pactuado, não se portando ele fielmente, no governo do povo, como
exige o dever do rei” (DR 1, 7, 20).
129
“Mas, para que o povo mereça conseguir de Deus este benefício, deve
afastar-se dos pecados, por isso que, em punição do pecado, recebem os
ímpios o mando, por divina permissão [...]. Cumpre, por conseguinte,
suprimir a culpa, a fim de que cesse a peste dos tiranos” (DR 1, 7, 21).
348
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Angélico, caracterizava a tirania, a mais repugnante das formas de governo. Um governo propriamente político existia,
segundo ele, quando os poderes do governante estavam circunscritos às leis da comunidade política ou civitas. Por isso,
como lembra Ullmann, a defesa de um governo monárquico
por Tomás de Aquino não deve ser identificada à teocracia, já
que em seu modelo o governante estava sujeito às leis da
comunidade política natural e limitado à lei positiva.130 De
fato, o rei de Tomás de Aquino era limitado tanto pelas leis e
pelo julgamento de Deus, num certo nível, quanto, em outro
nível, pelo povo, a quem cabia o direito de resistir-lhe quando
seu governo degenerasse em tirania.
O príncipe, instituído para realizar grandes obras, devia
ter grandeza de alma, e jamais aspirar à glória humana, pois
essa aspiração o privava da primeira qualidade. Além do mais,
o homem bom tinha o dever de desprezar a honra, a glória e os
demais bens temporais. E justificava pragmaticamente a sua
oposição à tradição aristotélica:
O que, porém, transparece da intenção dos sábios doutores é que não determinaram a honra e glória como prêmio ao príncipe, como devendo dirigir-se principalmente
para elas a intenção do rei bom, mas sim como sendo
mais tolerável buscar ele a glória do que desejar o dinheiro ou seguir o prazer. [...] Tem a paixão da glória algum
vestígio da virtude, ao menos enquanto procura a aprovação dos bons e se recusa a desagradar-lhes. Uma vez,
portanto, que poucos chegam à verdadeira virtude, é mais
suportável, se for conduzido ao governo alguém que,
embora só por temor do juízo dos homens, pelo menos se
afasta dos males manifestos. (DR 1, 8, 24)
Apenas de Deus devia o rei esperar seu prêmio:
De fato, o servente espera do senhor a recompensa pelo
seu serviço; ora, o rei, governando o povo, é ministro de
130
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 170.
349
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Deus, na asserção do Apóstolo (Rm. 13: 1.4), de que “todo
poder vem do Senhor Deus e o ministro de Deus é vingador
iroso contra aquele que faz o mal” [...]. Devem os reis, por
isso, esperar de Deus a recompensa pelo seu governo. (DR
1, 9, 25)
O prêmio da virtude, tal como estava escrito nas mentes de todos os seres dotados de razão, era a felicidade, a
qual constituía o bem perfeito. E, como nada havia nas coisas terrenas que pudesse aquietar o desejo, nada do que era
terreno podia fazer feliz ao rei.131 A perfeição final e o bem
completo de qualquer criatura tendiam para aquele algo superior que lhes havia causado. E a única causa do espírito
humano era Deus, que o fizera à sua imagem e semelhança.132
Por isso, todos aqueles que exercessem o ofício régio de
maneira digna e louvável obteriam grau sublime e eminente
de beatitude celeste. Pois se requeria maior virtude daquele
que governava a cidade ou o reino do que daquele que governava apenas a si mesmo ou a sua família.133 Daí ser o prêmio
131
“Nada havendo de permanente nas coisas terrenas, nada há de terreno
que possa aquietar o desejo. Assim, nada do que é terreno pode fazer
feliz, para poder ser prêmio conveniente do rei” (DR 1, 9, 26).
132
“Até as próprias coisas corpóreas tornam-se melhores pela junção de
melhores, e piores, se se misturam com piores. [...] Ora, estão abaixo do
espírito humano todas as coisas terrenas: mas, a felicidade é a perfeição final e o bem completo do homem, a que desejam todos chegar;
logo, nada há de terreno que ao homem possa fazer feliz; pelo que, nada
de terreno é prêmio bastante do rei. [...] Com efeito, o desejo tido por
qualquer coisa tende para o seu princípio pelo qual o seu ser foi causado. Ora, é causa do espírito humano somente Deus, que o faz à sua
imagem. Logo, só Deus é quem pode aquietar o desejo do homem e fazêlo feliz e ser recompensa conveniente ao rei” (DR 1, 9, 27).
133
“[...] se cabe à virtude tornar boa a obra do homem, parece próprio da
virtude maior fazer com que se opere um bem maior. Ora, o bem da
multidão é maior e mais divino que o de um só; por essa causa, tolerase às vezes o mal de um só, se aproveita ao bem da multidão; por exemplo, mata-se o ladrão, para dar paz à multidão. [...] E, se ao ofício do rei
350
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
do rei a bem-aventurança. E, para não perderem a possibilidade da beatitude celeste, os reis deviam governar diligentemente e cuidar para não se tornarem tiranos. Pois os que
abandonavam a justiça, privavam-se de tal prêmio.
Do amor do rei pelos seus súditos advinha a estabilidade do governo. Pois, por ele, os súditos se expunham a qualquer perigo. Por essa razão também, não era fácil perturbar o
senhorio de um príncipe amado por seu povo. O domínio dos
tiranos, ao contrário, não podia durar muito por ser odioso à
multidão e se sustentar apenas no temor.134 Deus só permitia que tiranos governassem para punir os pecados dos seus
súditos. Mas, aplacada a sua ira, Ele os depunha. Dois séculos mais tarde, Maquiavel pouco acrescentara à idéia do consentimento e adesão do povo como base da autoridade política
estável e duradoura.
Como a arte imitava a natureza, e desta última recebíamos a capacidade de operar segundo a razão, daí decorria
que a função régia era derivada da forma de governo natural:
havia, nas coisas naturais, o governo universal e o particular. O universal competia a Deus, que tudo conhecia e podia.
O particular, o microcosmo, achava-se no homem. Mas, como
a parte estava para o todo, também no microcosmo se verificava a forma do governo universal. Como corpo e alma eram
regidos pela razão, essa existia no homem na mesma proporção em que Deus estava para o universo. Do mesmo modo
pertence procurar diligentemente o bem da multidão, por isso mesmo
ao rei se deve maior prêmio pelo bom governo, do que ao súdito pela
ação correta” (DR 1, 10, 29).
134
“Resta, portanto, que o governo do tirano só se sustente pelo temor,
razão por que procuram, com toda intenção, fazer-se temidos pelos súditos. O temor é, contudo, fundamento débil. Pois, os que se submetem
somente pelo temor, se ocorrer uma ocasião na qual possam esperar
impunidade, se insurgem contra os que presidem, tanto mais ardentemente, quanto mais contra a vontade eram coagidos unicamente pelo
medo. [...] Não pode, por conseguinte, ser de longa duração o domínio
do tirano” (DR 1, 11, 35).
351
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
era a multidão mais bem governada pela razão de um só homem.135
E, adiante, comparava a função do bom rei à de Deus,
numa formulação que nada deixaria a desejar aos mais ardorosos defensores daquilo que viria a ser chamado de direito
divino dos reis: “Saiba, por conseguinte, o rei que recebeu estes múnus a fim de ser no reino como a alma no corpo e Deus
para o mundo. Se diligentemente observar isso, acender-se-á
nele, por um lado, o zelo da justiça, ponderando ter sido destinado a exercer no reino o julgamento em lugar de Deus; por
outro lado, adquire, ao certo, a suavidade da mansidão e da
clemência, considerando cada um dos subordinados ao seu
governo, como seus próprios membros” (DR 1, 13, 40). A metáfora do corpo como representação do poder político, amplamente divulgada nos séculos XI e XII, ganhava aqui um
depositário concreto e indiscutível: o bom rei, que governava
no reino como a alma no corpo.
Invocando a criação do mundo por Deus,136 Tomás de
Aquino estabelecia, por similitude de funções, a instituição do
reino pelo príncipe.137
135
“Ora, na natureza das coisas, há o governo universal e o particular. O
universal é aquele segundo o qual tudo se sujeita ao governo de Deus,
que com sua providência governa todas as coisas. O governo particular,
muitíssimo semelhante ao divino, acha-se no homem, que por isso se
chama microcosmo, porque nele se encontra a forma do governo universal. [...] sendo o homem [...] animal naturalmente social, que vive em
multidão, acha-se nele a semelhança do governo divino, não somente
quanto ao fato de que a razão governa as demais partes do homem, mas
também no ser a multidão regida pela razão de um só homem, o que
compete sobretudo à função régia” (DR 1, 13, 40).
136
“[...] duas obras de Deus no mundo se hão de considerar, em geral:
uma, pela qual Ele cria o mundo; outra, pela qual governa o mundo
criado. Estas duas operações, tem-nas a alma no corpo. Primeiro, com
efeito, é o corpo formado pela virtude da alma; depois, é o corpo regido
e movido pela alma. Destas duas obras, a segunda é que pertence mais
propriamente à função real” (DR 1, 14, 41).
137
“Ora, a razão da instituição do reino se há de coligir do exemplo da
instituição do mundo no qual se considera, em primeiro lugar, a produ352
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Assim como a fundação da cidade ou do reino deriva convenientemente da forma da criação do mundo, assim também é do governo divino que se há de derivar a ordem do
governo. [...] governar é conduzir convenientemente ao
devido fim o que é governado. [...] Se, portanto, alguma
coisa está ordenada a um fim exterior a ela, como o navio
ao porto, caberá ao ofício do governo, não só conservar
perfeita a própria coisa, mas, além disso, conduzi-la ao
fim. (DR 1, 15, 43)
O fim último da multidão na terra era a boa vida segundo a virtude, meio pelo qual podia chegar à fruição divina, seu fim último no céu. Mas como essa visio Dei só podia
ser atingida por meio da virtude divina, conduzir a esse fim
último cabia não ao regime humano, mas ao governo divino.138
Ficava claro, nessa concepção, quanto o Angélico havia
avançado em relação à formulação aristotélica: partindo dos
mesmos princípios, estendia também ao sobrenatural a noção de governo, fornecendo assim munição para a revisão da
teoria gelasiana das duas espadas, como faria pouco depois,
por exemplo, Egídio Romano. Desse governo divino, continuava ele, derivava o sacerdócio real:
ção das próprias coisas, depois a distinção ordenada das partes do mundo” (DR 1, 14, 41).
138
Nas palavras de Tomás de Aquino: “Parece, no entanto, ser fim último
da multidão congregada o viver segundo a virtude. Pois, para isto se
congregam os homens: para em conjunto viverem bem, o que não pudera cada um, vivendo separadamente. Ora, boa é a vida segundo a virtude; portanto, a vida virtuosa é o fim da associação humana. [...] Visto
que, porém, o homem, vivendo segundo a virtude, é ordenado a um fim
ulterior, o qual consiste na fruição divina, como acima dissemos, cumpre seja o mesmo o fim da multidão humana, como o de um só homem.
Não é fim último da multidão associada viver segundo a virtude, mas
sim, pela vida virtuosa chegar à fruição divina. [...] Como, porém, o
homem não consegue o fim da fruição divina por virtude humana, senão divina, [...] conduzir àquele fim último não cabe ao governo humano, senão ao divino” (DR 1, 15, 45).
353
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A fim de ficar o espiritual distinto do terreno, foi, portanto, cometido o ministério desse reino não a reis terrenos,
mas a sacerdotes e, principalmente, ao Sumo Sacerdote,
sucessor de Pedro, Vigário de Cristo, o Romano Pontífice,
a quem importa serem sujeitos todos os reis dos povos cristãos, como ao próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, pois,
como já foi dito, a ele, a quem pertence o cuidado do fim
último, devem submeter-se aqueles a quem pertence o cuidado dos fins antecedentes, a ser dirigidos por seu comando. (DR 1, 15, 46 – grifos meus)
Depois de fazer a defesa explícita da supremacia da
espada espiritual sobre a temporal, entretanto, Tomás de
Aquino se via obrigado a explicar os argumentos dos defensores do regnum, que se apoiavam, entre outros, no Antigo
Testamento, para afirmar a superioridade do imperador sobre o sumo pontífice, e a antiguidade do reino em relação ao
sacerdócio. Deus havia prometido, na lei antiga, justificava o
Aquinate, bens terrenos ao povo religioso. Como o sacerdócio
dos gentios e todo culto das coisas divinas se ordenavam à
conquista de bens temporais, deviam os sacerdotes se submeter, naqueles tempos, ao rei, que a todos ordenava para o
bem comum da multidão.
Mas a vinda de Cristo, que instaurou a lei nova e redimiu
os pecadores por meio da graça, criou um sacerdócio mais
alto, “pelo qual os homens são levados aos bens celestes; daí,
na Lei de Cristo [Novo Testamento], os reis deve[re]m estar
sujeitos aos sacerdotes” (DR 15, 47). Essa formulação oferecia um argumento a mais – e de peso – aos defensores do
sacerdotium. Saranyana observa num de seus textos que o
De regno estava “contaminado” pela doutrina guelfa ou papalista, surgida como um desenvolvimento unilateral da doutrina gelasiana das duas espadas.139 Essa posição podia de
139
“Segundo os guelfos”, esclarece Saranyana, “toda autoridade, inclusive
aquela dos reis e imperador, deriva da autoridade do papa. Por isso,
podem os pontífices depor os governantes, como havia ocorrido em 1245,
354
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
fato ser encontrada não apenas no opúsculo, mas em vários
dos escritos do Angélico.
Na Suma teológica, por exemplo, quando o Aquinate
considerava o domínio ou governo já existentes, admitia que
governantes infiéis podiam governar justamente. Pois domínio e governo eram obras do direito humano, enquanto a
distinção entre crentes e não-crentes constituía matéria da
jurisdição divina. Como o direito divino não eliminava o humano, o governo dos reis infiéis podia existir. Mas a Ecclesia,
lembrava ele, por receber do próprio Deus sua autoridade,
podia ou não eliminar esse domínio ou governo. Ou seja, a
autonomia do governante temporal não era absoluta. Esse
era, no fundo, o argumento clássico dos defensores da primazia do sacerdotium sobre o regnum.
Nas palavras do Aquinate:
[...] devemos notar que o domínio e o governo [dominium
et praelatio] foram introduzidos por direito humano, ao
passo que a distinção entre fiéis e infiéis é de direito divino. Ora, o direito divino, fundado na graça, não elimina o
direito humano, fundado na natureza racional. Logo, a
distinção entre fiéis e infiéis, em si mesma considerada,
não elimina o domínio e o governo dos infiéis sobre os
fiéis. Pode porém justamente, por sentença ou ordem da
Igreja, que tem de Deus a sua autoridade, ser eliminado
esse direito de domínio ou governo. Porque os infiéis, como
castigo da sua infidelidade, merecem perder o governo
dos fiéis, transformados em filhos de Deus. Mas isto a
Igreja faz umas vezes e, outras, não. (ST II, II, 60, 6, ad 3)
O pensamento de Tomás de Aquino acerca da relação
entre a Ecclesia e os poderes temporais nem sempre era muito
quando Inocêncio IV depôs Frederico II. Pois para os guelfos o papa
havia recebido as duas espadas e delegava uma delas aos governantes
civis, conservando o direito de lhes retirar tal poder quando considerassem oportuno em razão de causas graves”. Cf. SARANYANA, Josep-Ignasi.
La ciencia politica de Tomás de Aquino. In: DE BONI, op. cit., 1996,
p. 242.
355
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
claro para quem toma os seus escritos isoladamente: na passagem acima, ele defendia a supremacia papal sobre todos
os governantes temporais,140 conferindo ao papa, inclusive,
o poder de destituir aqueles governantes que não considerasse “adequados” ao cargo, de acordo com a boa tradição
dos papas hierocráticos. Noutros lugares, contudo, ele asseverava estar o governante civil isento e acima da lei, devendo
contudo subordinar-se à sua força diretiva.141 À primeira vista,
o Angélico parecia oscilar entre a defesa de uma autonomia
do governante temporal em matérias concernentes ao bem
comum e a atruibuição ao papa, como representante máximo de Deus, de uma supremacia moral que o colocava acima
dos poderes seculares e lhe permitia deles dispor como e
quando lhe conviesse.
Uma resposta para o problema talvez possa ser parcialmente encontrada no capítulo 16, do De regno, no qual o
Aquinate tentava explicar a diferença entre os fins últimos e
os intermediários:
140
“O poder secular está sujeito ao espiritual, como o corpo à alma. Por
onde, não é usurpado o juízo do prelado espiritual que se intromete
com as coisas temporais, na medida em que o poder secular lhe está
sujeito, ou que lhe são confiadas coisas da alçada desse poder” (ST II, II,
60, 6, ad 3).
141
“No que concerne ao terceiro argumento, deve dizer-se que se diz ser o
príncipe isento da lei quanto à força coativa da lei, pois ninguém, em
sentido próprio, é coagido por si mesmo; ora, a lei só tem força coativa
em razão do poder do príncipe. Assim, pois, o príncipe diz-se isento da
lei porque ninguém pode pronunciar contra ele um juízo condenatório,
se vier a agir contra a lei [...]. Mas quanto à força diretiva da lei, está o
príncipe sujeito à lei por sua própria vontade nos termos em que se diz
[...] ‘Todo aquele que estatui um direito para outrem, deve usar o mesmo direito’. [...] Segue-se, pois, não estar o príncipe isento da lei quanto
ao vigor diretivo desta perante o juízo de Deus, mas deve cumprir a lei
voluntariamente e não por coação. Está também o príncipe acima da lei
na medida em que, se for isto vantajoso, pode mudá-la e dela dispensar,
segundo o tempo e o lugar” (TL I, II, 96, 5, ad 3).
356
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Assim como à vida feliz que esperamos no céu se ordena,
como ao fim, a vida pela qual os homens vivem bem aqui,
igualmente se ordenam à boa vida da multidão, como ao
fim, quaisquer bens particulares que o homem procura
[...]. Se, pois, como foi dito, quem cuida do fim último
deve ter prioridade sobre os que têm o cuidado do que é
ordenado ao fim e dirigi-los pelo seu comando, do que vai
dito se põe claro que o rei, assim como deve se sujeitar,
como ao Senhor, ao governo que se administra pelo ofício
sacerdotal, assim também deve presidir a todos os ofícios humanos e ordená-los com o comando do seu governo. (DR 1, 16, 48)
Ou seja, assim como o ferreiro devia fazer bem a espada de modo que conviesse à luta e o construtor devia edificar
bem a casa de modo que pudesse ser habitada com segurança, assim também,
sendo a beatitude celeste fim da vida presentemente bem
vivida, pertence à função régia, por essa razão, procurar
o bem da vida da multidão, segundo convém à consecução da beatitude celeste, isto é, preceituando o que leva à
bem-aventurança celeste e interdizendo o contrário, dentro do possível. (DR 1, 16, 48)
O caminho para a verdadeira beatitude se conhecia pela
lei divina, explicava Tomás, cujo saber e ensinamento pertenciam ao ofício dos sacerdotes.
Assim o monarca, depois de coroado, devia aplicar-se
ao esforço principal de governar instruído pela lei divina, “isto
é, como viva bem a multidão a ele sujeita; esforço esse que se
divide em três partes: primeira, a instauração da boa vida na
multidão a ele sujeita; segunda, a conservação dessa vida já
instaurada; terceira, o melhoramento dessa vida conservada”. Para que um homem pudesse alcançar a boa vida, continuava, duas coisas eram necessárias: 1) agir segundo a
virtude, pois a virtude era aquilo pelo qual se vivia bem; 2) a
suficiência dos bens corpóreos, cujo uso era necessário ao
exercício das virtudes (DR, 1, 16, 49).
357
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Mas a unidade do homem constituía uma inclinação
da natureza, enquanto a unidade da multidão, a paz, devia
ser buscada pela indústria do governante.
Assim, pois, três condições se exigem para instaurar a
boa vida da multidão. Primeira, que a multidão se estabeleça na unidade da paz. Segunda, ser essa multidão,
unida pelo vínculo da paz, dirigida a proceder bem. [...]
Terceira, requerer-se que, por indústria do dirigente, haja
abundância suficiente do necessário para o bem viver.
Por onde, constituída a boa vida na multidão por obra do
rei, segue-se que deva tratar da sua conservação. (DR 1,
16, 49)
Três cuidados devia ter o rei para garantir tais objetivos: zelar para que os que sucediam àqueles que vinham a
faltar conservassem o bem da multidão subordinada; desviar os súditos, por meio de sanções e recompensas, da iniqüidade e induzi-los a obras virtuosas; e, por fim, assegurar
a boa vida da multidão a ele sujeita contra os inimigos externos. Para que o governante temporal pudesse dar conta de
todas essas tarefas, portanto, era preciso conceder-lhe um
razoável grau de autonomia. E o Angélico, pragmático que
era, sabia bem disso. Assim, desde que visassem ao bem da
comunidade, as decisões do governante dispunham não apenas de força coativa, mas eram ainda sustentadas pelo assentimento divino. Contudo, se o governante se opusesse à
“razão do bem”, determinada em última instância pelo supremo pontífice, cessava a legitimidade de seu governo, agora transformado em tirania. E, se insistisse em conservar
seu domínio, a “ira de Deus” se abateria sobre ele até que
capitulasse.
Dito de outro modo: pode-se afirmar, com alguma certeza, que, para Tomás de Aquino, a função de qualquer governante devia ser a ordenação dos súditos à boa vida. Isto
valia tanto para os governantes fiéis quanto para os infiéis.
358
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
Até aqui, Tomás de Aquino era rigorosamente aristotélico: a
comunidade humana reunida na civitas continha, na sua
natureza, os princípios de sua operação. Mas o rei cristão,
por ser instruído de acordo com a graça divina, e compartilhar assim um fim superior, tinha a obrigação de tornar esse
fim terreno, a boa vida da multidão, um meio exeqüível para
atingir a felicidade celeste ou beatitude eterna, fim último de
toda e qualquer comunidade cristã.
Por essa razão, os governantes temporais da cristandade estavam sujeitos à autoridade última do sumo pontífice.
Aos reis cristãos cabia buscar e manter a boa vida da comunidade humana, de acordo com as regras do direito natural e
do ius humano. Quando esses governantes ultrapassavam a
“reta razão” das leis e se tornavam injustos, cabia ao sumo
sacerdote, como instância moral máxima, alertá-los e, se
necessário, puni-los, destituindo-os da função de governo.
Isso significava que, na prática, o sucessor de Pedro podia
legitimamente intervir em assuntos temporais em “razão do
pecado”. Pois aquele que agia contra a justiça agia contra
Deus e, por isso, merecia castigo.
Dessa perspectiva, a decisão do lícito e do ílicito era da
competência de um só homem: o vigário de Cristo na terra e
seu representante direto, o romano pontífice, como havia sido
determinado pela lei nova. Somente a ele cabia definir tal
“razão de pecado”. Pois ninguém conhecia melhor a lei divina
do que o representante de Deus. Os governantes infiéis, de
seu lado, deveriam ser “conquistados” pela cristandade, no
melhor espírito das Cruzadas. Aqueles pagãos que governavam justamente, acabariam conhecendo a verdade de Deus,
pois a “reta razão” os levaria à apreensão das normas do
Senhor, e seriam assim retirados de seu “estado primitivo na
natureza”. Já os infiéis que governavam injustamente experimentariam, cedo ou tarde, a ira do Senhor, que lhes subtrairia o poder: era justamente essa promessa que os cruzados
vinham tentando, com maior ou menor sucesso, cumprir
havia dois séculos.
359
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A idéia unitária, escreve Ullmann ao comentar as bases da doutrina hierocrática, pressupunha também um mando unitário para a corporação cristã, cuja cabeça era o papa,
que se situava acima dos povos e nações, e de cuja jurisdição
poucas coisas ou pessoas escapavam. Aos olhos da Ecclesia,
o governante temporal era designado pela divindade, que o
reconhecia por intermédio do papa. E, se aquele governava
cumprindo de fato a finalidade da Igreja, podia até chegar a
ser “a imagem da divindade”. A vontade do rei, nessa perspectiva, dependia da “lei de Deus”, dado ser a lei uma “dádiva divina e imagem da vontade do Senhor”.142 Em Tomás de
Aquino essa idéia se expressava na noção de que a lei natural era um “espelho da razão divina”. E, por derivação imperfeita, também a lei dos homens.
A lei, portanto, devia materializar a idéia de justiça.
Mas o problema, como constata Ullmann, permanecia: na
medida em que o princeps era a fonte da lei e a vontade do
príncipe proporcionava às leis seu caráter vinculante, não
havia recurso constitucional legal para derrotar o tirano.143
Essa perspectiva, contudo, expressa apenas parte do problema. Segundo o Aquinate, todas as associações humanas que
visavam a algum fim tinham como decorrência a criação de
uma figura de autoridade. Do mesmo modo, o agrupamento
numa civitas exigia a instauração de um governante a quem
cabia proporcionar à multidão a boa vida segundo a virtude,
preparando-a para a felicidade eterna ao lado de Deus.144 Ou
seja, a felicidade terrena constituía apenas uma felicidade
imperfeita, pois a perfeição estava na felicidade celeste ao
lado do Criador.
O mesmo raciocínio podia ser usado para explicar o
papel do príncipe e sua relação com a lei positiva. Cabe an142
ULLMANN, op. cit., 1983, p. 118.
Ibid., p. 119.
144
Sobre esse assunto, cf. STORCK, Alfredo C. O indivíduo e a ordem política
na dimensão da civitas. In: DE BONI, op. cit., 1996, p. 323-30.
143
360
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
tes, contudo, uma observação ao comentário de Ullmann:
para Tomás de Aquino, a tirania, em sentido absoluto, constituía um regime incompatível com a lei.145 Pois baseava-se
no puro arbítrio do governante, e não na razão: depô-lo era
uma questão de justiça, e não de direito. Mas a lei positiva
era, de fato, posta pelo governante, cujas disposições legais
tinham caráter obrigatório. Ora, ao definir a polis como condição indispensável à plena realização do homem, Aristóteles
se referia à essência do homem e à essência da polis, e não ao
que caracterizava o homem e a polis em qualquer circunstância.
Embora o fim natural coincidisse, em Aristóteles, com
o bem, o discurso descritivo e o normativo não se misturavam. A teleologia explicava o movimento e a transformação
como causados por finalidades naturais, constitutivas da
essência dos seres. Assim, a árvore era a perfeição da semente porque, ao tornar-se árvore, a semente havia completado o
seu ciclo de desenvolvimento. Mas nem toda planta se desenvolvia por completo, nem todo coração bombeava o sangue com a eficiência necessária, nem todo animal se tornava
adulto e nem todo grave realizava a condição de cair no rumo
do centro do mundo. Isso não nos impedia de classificá-los
como planta, coração, animal e grave. Tomás de Aquino fazia
o mesmo raciocínio quando afirmava que, nas coisas terrenas,
tudo caminhava do imperfeito ao perfeito.
Da mesma forma, o próprio da lei era ser uma ordem
racional e uma medida do justo; e o próprio do governante
era realizar o bem comum, na qualidade de instrumento da
comunidade política. Mas a sua imperfeição não os privava
de sua natureza de lei e de governante. Por essa razão Tomás
de Aquino podia afirmar sem problemas que
145
“Há ainda um outro [regime], o tirânico, de todo corrupto, do qual não
deriva nenhuma lei” (TL I, II, 95, 4).
361
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
é da razão da lei humana ser ordenada para o bem comum da cidade. Em conformidade com isto, a lei humana pode ser dividida segundo a diversidade daqueles que
prestam um serviço especial ao bem comum: assim, os
sacerdotes, que oram pelo povo de Deus, os príncipes,
que governam o povo, e os soldados que lutam por sua
defesa. (TL I, II, 95, 4)
E adiante:
Em terceiro lugar é da razão da lei humana ser instituída
pelo governante da comunidade da cidade [...]. E, quanto
a isto, distinguem-se as leis humanas segundo os diversos regimes das cidades. [...] Em quarto lugar, pertence à
razão da lei humana ser diretiva dos atos humanos. Em
conformidade com isto, distinguem-se as leis segundo a
diversidade daquilo em vista do que são promulgadas.
(idem)
Mesmo na hipótese de condições constantes, porém, a
alteração da lei podia convir, porque “à razão humana era
natural ascender gradualmente do imperfeito para o perfeito”. O mesmo valia assim para a lei humana posta pelo governante, a quem cabia, na ordem terrena, alterá-la,
interpretá-la ou derrogá-la segundo sua conveniência.
Assim, por ser a comunidade política um produto natural e a Igreja um produto sobrenatural, a civitas nada mais
era senão uma associação de homens, diferenciando-se da
Ecclesia, que consistia na associação dos crentes. Desse ponto
de vista, a comunidade política era uma entidade que dizia
respeito apenas ao homem ou ao cidadão: suas origens e seu
funcionamento nada tinham a ver com a autoria eclesiástica. Sua finalidade era o bem viver de seus membros: constituía um corpo político com fins morais, que devia levar em
conta os hábitos e costumes dos seus componentes. E por
ser a civitas um produto da natureza, também as suas regras dela tinham de derivar: as leis da comunidade política
362
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
constituíam os canais por meio dos quais a lei natural encontrava uma expressão articulada.
O Angélico superava o abismo existente entre a natureza e a graça divina, explica Ullmann, articulando o mundo
natural ao sobrenatural. A lei natural, tal como a concebia,
era dotada de eficácia natural. Pois podia atuar sem qualquer revelação, graça ou ajuda divina: o homem podia chegar a ela apenas por meio do uso da razão. No sistema tomista,
escreve ele, a dicotomia entre graça e natureza cedeu lugar a
“uma hierarquia de diferentes ordens, de modo que os dois
termos em oposição se apresentavam como duas ordens de
coisas situadas hierarquicamente em níveis distintos, o natural e o sobrenatural”.146 Os dois termos passavam a se
apresentar agora como complementares, já que “a graça aperfeiçoava a natureza”.
Ao homem na esfera individual correspondia o cidadão
na esfera pública. E ambos pertenciam à ordem natural terrena.
O complemento no âmbito sobrenatural era o crente cristão e
sua congregação, a Igreja. Tanto a Ecclesia quanto a civitas
constituíam manifestações de uma ordenação divina, uma no
nível do natural, outra no do sobrenatural. Esse dualismo colocava a discussão sobre as duas espadas num novo patamar.
A civitas, obra da natureza, estava, como tal, impregnada da
ordem divina. Por essa razão, Tomás de Aquino não podia
condenar os governos e povos infiéis. Pois, se a comunidade
política era uma entidade natural, esses governantes exerciam legitimamente seu domínio. A fonte do poder e da autoridade, comenta Ullmann, já não eram mais as chaves de Pedro,
e sim a própria comunidade natural, ainda derivada, em Tomás de Aquino, de Deus.147 Faltava pouco para que surgisse o
indivíduo livre, portador de direitos inalienáveis.
146
147
ULLMANN, op. cit., p. 173-4.
Ibid., p. 174-5.
363
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Wilks argumenta que, ao admitir a legitimidade do governo temporal numa época sacra, Tomás de Aquino dava
início a um processo de secularização que iria, ao final, destruir o poder ideológico e intelectual da Igreja Católica.148
Essa formulação talvez esteja hoje um pouco envelhecida: o
processo de secularização do pensamento cristão e, com ele,
o da política já vinha ocorrendo pelo menos desde o século
XI. Foi paralelo, portanto, à consolidação política e jurídica
da Ecclesia na Europa ocidental, e não oposto a ela. Mas é
certo que, a partir de uma rica tradição de conhecimento
acumulada ao longo dos séculos precedentes, o Aquinate
pudera sintetizar um novo aparato conceitual para pensar
as transformações de seu tempo, fornecendo material para a
defesa de pretensões e interesses tão variados quanto aqueles dos defensores de uma monarquia papal absoluta e os do
governo constitucional, como se veria a seguir com Egídio
Romano e João Quidort.
Aristóteles já havia fornecido uma justificação racional
para o governo diferente daquela da revelação. A separação
conceitual entre mundo natural e sobrenatural operada por
Tomás de Aquino, embora, no seu pensamento, não visasse
jamais à independência total de uma esfera em relação à outra, acabaria permitindo aos pósteros a interpretação de que
a Igreja constituía apenas um corpo místico, como diria mais
tarde por exemplo Marsílio de Pádua. Tomás de Aquino repunha com clareza a idéia de que os fatos políticos eram
naturais. Paulatinamente, a razão humana consolidava sua
jurisdição nas controvérsias políticas. Pouco faltava para que
fossem cortados os laços entre Deus e natureza e surgisse
uma teoria da lei natural suficientemente autônoma para
prescindir de qualquer noção cristã de divindade – ou, ao
148
Cf. WILKS, M. The problem of sovereignty in the Later Middle Ages.
Cambridge: University Press, 1964. p. 118-48.
364
CAP. 4 - TOMÁS DE AQUINO, LEITOR E COMENTADOR DOS ANTIGOS
menos, capaz de torná-la secundária e tão pouco funcional
que não conferisse ao papel do Deus criador mais do que um
caráter meramente figurativo.
Quando se levam em conta todas as ponderações feitas
aqui, talvez não seja excessivo admitir o comentário de Lorca
a respeito de certos aspectos do pensamento político do Aquinate:
Reticente a toda idéia de Império universal, [Tomás de
Aquino] não só silencia aqui [no De regno], como em outros escritos, a figura política do Imperador, como também observa com lucidez como o poder do príncipe tem
vigência unicamente dentro das fronteiras de seu Estado
ou reino. O mosaico dos nascentes reinos europeus do
medievo encontra assim uma acertada expressão jurídico-política.149
Feitas as devidas ressalvas, pode-se dizer que Tomás
de Aquino tinha uma boa idéia do que significava a fórmula
‘rex in regno suo imperator est’ quando escrevia: “Assim, os
que são de uma cidade ou reino não estão submetidos às leis
do príncipe de outra cidade ou reino e nem ao seu domínio”
(TL I, II, 96, 5). Filipe, o Belo, rei da França, deve ter lido com
muita atenção essa passagem.
149
LORCA, Andrés Martínez. El concepto de “civitas” en la teoria política de
Tomás de Aquino. Veritas, Porto Alegre, n. 150, v. 38, p. 258, jun.1993.
365
CAPÍTULO 5
A HORA DOS REIS
Com Tomás de Aquino, ficava bem estabelecido, portanto, um conjunto essencial de idéias que iriam moldar, na
filosofia política e na jurisprudência, a noção de soberania e
outros conceitos modernos. Muito do que ele produziu foi
habilmente incorporado pelos polemistas do fim do século
XIII e do início do XIV. João Quidort constituiu um bom exemplo de como o aristotelismo, não só o dos árabes, mas sobretudo aquele recuperado pelos filósofos naturais latinos e por
Santo Tomás, podia servir de arma nas grandes disputas da
época.
Esse aristotelismo se mesclava, na herança tomista,
com a noção de que o povo era a fonte imediata da autoridade temporal. Todo poder vinha de Deus, mas não chegava
diretamente aos governantes, como defendiam os partidários do regnum. Os governados passavam a constituir agora
uma instância intermediária na transmissão do poder. Se o
povo era livre e capaz de legislar, então o costume podia sobrepor-se à autoridade do chefe e derrubar a lei estabelecida.
Se o povo não tinha essa liberdade, ainda assim convinha ao
chefe observar suas práticas e levá-las em conta ao cuidar da
lei.
Esse ponto de vista ficou conhecido como “teoria do
poder ascendente”. Foi um dos dois grandes modelos de
legitimação presentes nos debates políticos medievais. O outro era o do poder “descendente”. Essas teses básicas apareciam, nas discussões, combinadas com outros critérios, como
o da anterioridade histórica do governo secular ou do governo eclesiástico. As duas teses coexistiram, com predominância de uma ou de outra segundo a época.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A teoria do poder ascendente era a mais antiga. Ullmann, citando Tácito, lembra ter sido baseada nessa idéia a
forma de governo das tribos germânicas. O povo elegia chefes para a guerra e para outras funções públicas e o líder
tinha apenas o poder concedido pela assembléia eleitoral.
Era considerado representante da comunidade e responsável perante a assembléia popular. Como conseqüência, existia um direito de resistência ao governante. Isso explicava a
facilidade com que se depunha e se afastava um rei, se, na
opinião do povo, tivesse deixado de representar sua vontade.
Segundo a concepção oposta, o poder residia originalmente
num ser supremo, identificado pelo cristianismo com a divindade. “Não há maior poder que o de Deus”, havia dito São
Paulo. Donde a conclusão: todo poder na terra só podia ser
delegado. Logo, a eleição pelo povo não constituía um requisito de legitimidade.
A doutrina do poder descendente, porém, tinha mais
de uma versão. A rigor, a idéia de Deus como fonte do poder
era funcional para mais de uma pretensão política:
1) na versão tradicional, mais útil aos papas, o sucessor de São Pedro era o transmissor da autoridade concedida
por Deus. Esse era o sentido da sagração dos governantes
seculares pelo papa;
2) numa versão alternativa, o poder era concedido por
Deus diretamente aos governantes. Essa doutrina, cujas raízes
remontavam à idéia da teocracia régia dos antigos, constituiria a base teológica do absolutismo nos séculos XVI e XVII,
mas derivava, claramente, das pretensões dos imperadores e
dos defensores do regnum.
Mesmo na doutrina do poder ascendente a idéia da origem divina era bastante importante, já que o poder era concedido por Deus ao povo e deste aos reis ou imperadores.
Essa doutrina foi retomada por autores do século XIV e reapareceria, nos séculos XVI e XVII, como uma das armas do
370
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
clero contra os monarcas absolutos, depois da Reforma. Era
a noção sustentada, por exemplo, por autores de inspiração
tomista como Bellarmino e Suarez e contestada por Filmer. A
maioria dos conflitos de legitimidade, portanto, podia ocorrer
sem necessidade de recurso a uma teoria ascendente pura,
que fizesse do povo a fonte absoluta do poder. Era mais funcional, ideologicamente, contestar as pretensões do papado
sem negar a noção de Deus como fonte original do poder.
No fundo, a grande questão era identificar o primeiro
comissário de Deus. A questão de quem representava Deus,
como primeiro portador do poder na terra, estava posta antes mesmo de discutir o problema da autoridade legislativa.
Enquanto se tomava a lei como dada, o sentido da autoridade necessariamente tinha de ser vinculado à idéia de comissão. Isto é, a autoridade seria um atributo daquele que
pudesse fazer cumprir a lei, não em nome próprio, mas em
nome do Legislador, que era Deus. Essa noção explica bem,
aliás, a posição do Aquinate sobre a relação entre a Ecclesia
e os governantes temporais. Quando se passou a discutir o
sentido e o alcance da lei humana, o significado da noção de
autoridade se ampliou. Passaria a indicar não só a atribuição de impor uma ordem, mas também a de construí-la.
I DESENVOLVIMENTOS DO PROCESSO DE
CENTRALIZAÇÃO MONÁRQUICA
Para enfrentar as grandes controvérsias do século XIV,
os escritores políticos disporiam de um arsenal de idéias
amplamente renovado. De um lado, estavam os desenvolvimentos filosóficos forjados por Tomás de Aquino e seus contemporâneos; de outro, o pensamento jurídico, enriquecido
no século XIII pelos estudos do direito romano e pelas tentativas de articular esse direito e as formas tradicionais de le371
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
gislação. A idéia de uma jurisdição nacional, com o rei como
instância superior de legislação e de justiça, acima dos barões e das cortes locais, aparecia na década de 1270 nos
escritos de Phillipe de Beaumanoir. Em seus Coutumes de
Beauvaisis já se empregava a palavra souverain, para designar dois níveis de autoridade.1 Por outro lado, existia todo o
aparato filosófico e científico renovado com a recuperação
dos pensadores antigos.
O aparecimento de estudiosos dos costumes, como
Henry de Bracton na Inglaterra e Beaumanoir na França,
indicava mais do que um novo interesse teórico. Eles contemplavam o direito costumeiro, isto é, a variedade, a partir
do ponto de vista da unidade política e legal, a unidade do
reino. Eram, em geral, profissionais treinados no direito romano e recrutados para o serviço da Coroa. Quando Bracton
escrevia o De legibus et consuetudinibus Angliae, entre 1220
e 1230, o poder já estava centralizado, na Inglaterra. A questão não era, mais, a afirmação da supremacia real. O jurista
inglês manteve a concepção do príncipe como subordinado à
lei (lex facit regem): havia uma definição legal das funções e
da autoridade reais, e, embora o rei não tivesse par no seu
reino, seu poder era constitucionalmente limitado. Havia entre
lei e rei uma relação de mútua dependência: “atribua o rei
à lei”, escrevia Bracton, “aquilo que a lei lhe atribui, a saber,
dominação e poder”.2
Para governar de modo reto, nos tempos de paz e de
guerra, escrevia o jurista no início de seu livro, o rei necessitava de duas coisas, “a saber, armas e leis”. Leis, para ele,
1
2
BEAUMANOIR, Philippe de. Coutumes de Beauvaisis. Paris: J. Picard, 1970.
v. 2, p. 1283.
No original: “attribuat rex legi, quod lex attribuit ei, videlicet dominationem
et potestatem”. In: BRACTON, Henry de. De legibus et consuetudinibus
Angliae. Ed. George E. Woodbine. New Haven: Yale University Press,
1922. v. II, p. 33.
372
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
eram não somente as normas escritas, mas também os costumes: “Nela torna-se direito tudo aquilo que vem do nãoescrito e que o uso comprovou”.3 O costume era entendido
como uma espécie de “segunda natureza”, razão pela qual
tinha força de lei. O costume, porém, seria corretamente chamado lei quando aprovado pelo consenso dos poderes do
Estado ou tivesse sido anteriormente definido como justo pelo
príncipe. Essa ressalva estabelecia uma relação bipolar entre a função de governo e a “base” social. O uso era a fonte da
lei, mas a lei era a norma reconhecida como tal pelas instituições de governo (rei publicae). Hobbes desequilibraria aquela
relação bipolar, pondo toda a ênfase no reconhecimento como
marca da soberania.
A ênfase na legalidade fez da obra de Henry de Bracton
uma referência fácil para o liberalismo e, mais geralmente,
para o pensamento constitucionalista.4 O que interessa ressaltar neste momento era, no entanto, a idéia de unidade
política em contraste com a diversidade dos costumes. Usos
diferentes ganhavam um caráter comum como leges Anglicanae. O elemento unificador era a instituição. Uma única ordem jurídica englobava a Coroa, as funções públicas e os
costumes.
Também na França, no século XIII, a reflexão sobre o
direito costumeiro acompanhara a afirmação do poder central. A Coroa não se opunha ao costume: continuava a
respeitá-lo. Normas locais ainda seriam mantidas em vigor
durante séculos. Mas a corte real iria assumindo, com amplitude crescente, o papel de última instância judicial e, quando necessário, o de fonte primária da lei. Um dos aspectos
3
4
“In ea quidem ex non scripto ius venit quod usus comprobavit”. Ibid.,
p. 19.
Locke mencionava o jurista medieval no capítulo 19 (“Da dissolução do
governo”) do Segundo tratado sobre o governo, ao discutir as circunstâncias que justificavam a resistência ao governo.
373
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mais importantes do trabalho de Beaumanoir foi o exame
das competências.
No condado de Clermont, onde ele era juiz, os senhores
feudais tinham a jurisdição imediata. Acima desse nível estava a justiça do conde. Em vários casos podia-se passar do
nível local ao do condado: apelo por falta de direito, por falso
julgamento, por petição de um nobre, por se tratar de assunto de interesse do rei, do conde ou do próprio juiz ou por se
tratar de questões relativas a tréguas.5 A jurisdição final era
a do rei, pois era “soberano acima de todos”.6 Morral lembra
que é importante notar o uso feito por Beaumanoir da noção
de soberania: não se tratava ainda de uma designação exclusiva da autoridade pública,7 como ocorreria mais tarde com
a consolidação do Estado moderno, e sim de uma jurisdição
exercida nos moldes feudais e amparada tanto pelo direito
canônico quanto pelo costumeiro.8
Tanto na França quanto na Inglaterra, no século XIII, o
controle real sobre as Igrejas do território já constituía a norma, até porque o papa precisava do apoio dos reis locais para
sustentar sua luta contra o império. Mesmo a taxação do
clero local pelos monarcas era geralmente consentida pelo
papa, apesar das disposições canônicas em contrário. A extensão dos poderes também era diversa: tanto o papado quanto o império tinham pretensões de domínio universal. Nesse
5
6
7
8
Cf. BEAUMANOIR, op. cit., §§ 295-308, p. 146-52.
No original: “Voirs est que li rois est souverains par dessus tous et a de
son droit la general garde de tou son royaume, par quoi il puet fere teus
establissemens comme il li plest pour le commun pourfit, et ce qu’il establist
doit estree tenu [...]. Et pour ce qu’il est souverains par desseur tous, nous
le nommons quant nous parlons d’aucune souveraineté qui a li appartient.”
In: BEAUMANOIR, op. cit., § 1043, p. 23-4.
Cf. MORRAL, John D. Political thought in medieval times. Toronto: Medieval Academy of America, 1980. p. 61.
Segundo Beaumanoir, “en tou les lieu la ou li rois n’est pas nommés,
nous entendons de ceus qui tienent en baronie, car chascuns barons est
souverain en sa baronie”. In: BEAUMANOIR, op. cit., p. 23.
374
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
ponto, não havia conflito imediato com os poderes locais (barões, instâncias judiciais etc.) nem com os nascentes Estados modernos.9 Um conflito aberto entre o poder real e o
sumo pontífice só ocorreria no final do século XIII, quando
Filipe, o Belo, rei da França, decidiu taxar o clero local à
revelia do bispo de Roma.
Ao longo do século XIII, ainda, o papado havia se concentrado na defesa de uma política de centralização por meio
da extensão de sua jurisdição, desenvolvendo-se amplamente como instituição legal e governamental. A longa tradição
de pontífices com forte formação jurídica apontava para a
transformação do papado num ofício legal sustentado em
pretensões monárquicas, no qual a cúria funcionava como a
sua corte: exercia funções executivas, financeiras, administrativas e judiciais e já constituía, desde o século XII, provavelmente o corpo governamental mais desenvolvido da
Europa.10 A partir do século XIII, o papado assegurou o direito de escolher os ocupantes dos cargos eclesiásticos mais
elevados – prerrogativa antes compartilhada com o imperador e com os grandes senhores locais –, o que tornou ainda
mais eficaz o controle de Roma sobre o clero local.11
9
10
11
E, apesar das tentativas de controle sobre poderes reais por meio da
vassalagem papal, como por exemplo sobre o reino da Sicília, nominalmente feudo do papado, a tentativa pontifícia de imiscuir-se nos assuntos temporais raramente floresceu entre os governantes locais.
Um texto bastante instigante a respeito do desenvolvimento do papado
como instituição de governo pode ser encontrado em: CANNING, J. A state
like any other? The fourteenth-century Papal Patrimony through the
eyes of Roman Law Jurists. In: WODD, Diana (Ed.). The church and
sovereignty (c. 590-1918) : essays in honour of Michael Wilks. Oxford:
Basil Blackwell, 1991.
A partir de Clemente V (1304-14), também a concessão de patriarcados, arcebispados e bispados passou a ser direito exclusivo da Santa
Sé. Essa crescente intervenção pontifícia em assuntos temporais conduziria a Igreja ao Grande Cisma, no qual o papado seria acusado de
obscurecer a sua missão espiritual.
375
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Assim, quando se fala na emergência de Estados modernos no final da Idade Média, o que se pretende afirmar é o
surgimento de comunidades politicamente organizadas em
territórios específicos e definidos, dentro dos quais os governos ou governantes haviam desenvolvido um controle
jurisdicional interno e externo com maior ou menor grau de
independência, que variava de acordo com os arranjos locais
e com a relação – nem sempre de completa submissão – de
cada uma dessas unidades com os dois “poderes universais”
da Europa ocidental.
No Estado moderno, tal como definido por Hobbes, a
autoridade soberana teria, em seu território, o monopólio da
feitura da lei e todos os cidadãos deveriam se sujeitar a ela.
Mas até que se chegasse a essa formulação, as comunidades
políticas que então emergiam teriam de se enfrentar com instituições e diferentes esferas de governo que reivindicavam
jurisdições competentes entre si (por exemplo, a feudal e a
eclesiástica). O completo controle e subordinação das várias
esferas jurisdicionais ao poder secular era ainda incipiente.
A mudança de rumo e a afirmação desse novo tipo de poder,
entretanto, se tornavam a cada dia mais visíveis.
Também o sentimento de pertencer a um povo, componente fundamental na noção de Estado moderno, naquele sentido definido por Strayer, crescia com rapidez. No
século XIII, tanto a Universidade de Bolonha quanto a de
Paris passaram a ser consideradas instituições nacionais,
fomentando ainda mais os laços de lealdade à Coroa. Ullmann chama a atenção para um fato significativo: durante
boa parte da Idade Média, o imperador foi chamado de
Imperator romanorum; também os reis medievais eram associados ao seu povo (Rex francorum, rex anglorum etc.). A
partir de fins do século XIII, início do XIV, essa denominação – que entre os bispos e cardeais já remontava ao século VII – passou a referir-se não mais ao povo sobre o qual a
376
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
jurisdição era exercida, e sim ao território: rex angliae, rex
franciae etc.12
As leis e sua ordenação tornavam-se também matéria
específica de um povo sobre determinado território, como pode
ser percebido no título da obra de Henry de Bracton. Essa
transformação conduzia a uma negação da idéia de “império
universal”, noção fundante para a organização da sociedade
medieval até então: “ser inglês” ou “ser francês” passava a
fazer sentido. Outro passo essencial para a construção de
uma clara noção de poder político secular fora a autonomia
crescente da esfera da natureza. Para isso contribuíram não
apenas os desenvolvimentos filosóficos, como aquele operado por Tomás de Aquino, mas também os avanços na jurisprudência, agora constituída de vários ramos. O estudo da
lei canônica, por exemplo, era essencial tanto para elaborar
as compilações legais oferecidas pelos decretos papais cada
vez mais numerosos, como também para sofisticar os argumentos políticos e jurídicos das várias pretensões em conflito.
Entre as inúmeras noções surgidas desses desenvolvimentos, pode-se apontar a de um Estado secular, produto
da natureza política do homem. O próprio conceito de natureza, recorda Canning, se alterava: passava a incluir a idéia
de uma esfera autônoma, dotada de capacidade de desenvolvimento, independente de Deus e de sua intervenção, mesmo admitindo-se ainda ter sido Deus o criador do mundo
natural. Para fins práticos, a vida política podia agora ser
analisada dentro de uma dimensão civil puramente natural.13 O reconhecimento de um âmbito político natural facili12
13
Cf. ULLMANN, W. Zur Entwicklung des Souveranitätsbegriffes im
Spätmittelalter. In: Scholarship and politics in the Middle Ages. London:
Variourom Reprints, 1978. p. 23.
Cf. CANNING, J. P. Introduction: politics, institutions, ideas. In: BURNS, op.
cit., 1991, esp. p. 355-66.
377
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tava, entre outras coisas, uma distinção mais clara entre
Ecclesia – identificada cada vez mais com a esfera puramente
espiritual – e os poderes temporais, cuja natureza era essencialmente secular.
Falar numa jurisdição eclesiástica, portanto, só fazia
sentido quando a Igreja era entendida como instituição governamental. Contudo, a adesão crescente à crença de que a
Ecclesia constituía um corpo místico dos fiéis unidos em comunhão espiritual poria cada vez mais em xeque sua reivindicação de uma plenitudo potestatis no âmbito temporal.
Marsílio de Pádua, por exemplo, afirmaria que apenas o “legislador humano” podia ter jurisdição em sentido pleno. Também contribuiriam para a compreensão da Igreja como corpo
unicamente espiritual movimentos religiosos como os dos
franciscanos, que defendiam a pobreza evangélica.14 Não se
deve, contudo, tirar conclusões precipitadas sobre a secularização do mundo em fins da Idade Média, alerta Canning.
Idéias como a naturalização do poder político secular conviviam e coexistiam com a noção de uma fonte divina do poder:
alcançar o mundo divino para seus súditos, tal como havia
escrito Tomás de Aquino, continuava a ser um dever do governante cristão.15
Foi ainda dos juristas, canonistas e civilistas, que vieram algumas das mais importantes fórmulas que sustentariam as pretensões de domínio e jurisdição territorial das
nascentes monarquias européias. No início do século XIII, o
canonista Azo já havia desenvolvido a conhecida máxima de
que o rex in regno suo est imperator regni sui, fornecendo
assim uma base jurídica à reivindicação de reconhecimento
da autoridade máxima do rei sobre seu território. A elaboração legal dessa autoridade real ganhou contornos ainda mais
claros com a fórmula canônica do rex qui superiorem non
14
15
Para um bom resumo desse assunto, cf. COLEMAN, Janet. Property and
poverty. In: BURNS, op. cit., 1991, p. 607-48.
Cf. CANNING. Introduction. In: BURNS, op. cit., 1991, p. 362-3.
378
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
recognoscit, incorporada pelo papa Inocêncio III na decretal
Per venerabilem16 (1202) e utilizada na defesa do rei da França Filipe Augusto contra o imperador.
A combinação desses dois princípios, desenvolvida pelos juristas franceses e napolitanos, passou a constituir o
núcleo legal para a defesa da tese de que o rex era a autoridade máxima em seu território.17 Exatamente porque o rei nada
podia desejar que não fosse racional e útil – dado que o fim
último de sua função consistia em assegurar o bem comum
da comunidade –, sua vontade podia, em caso de necessidade ou emergência, sobrepor-se à lei, como já afirmava a antiga máxima de Ulpiano (lex regia), constante também no Digesto, de Justiniano, e citada por Tomás de Aquino: Quod
principi placuit, legis habet vigorem. A figura do rei ia lentamente sendo igualada à do princeps dos juristas romanos,
fazendo emergir uma superioritas real, componente importante da noção de soberania que então se construía.
Na França, por exemplo, a identificação do princeps
perfeito com os sucessores de São Luís constituiu um elemento fundamental para a “sacralização” da figura do rex.
Os publicistas reais e os defensores da Coroa se esforçaram
para ligar – com sucesso – a idéia da “perfeição” do rei à
emergente nação francesa. Também a desobediência ao rei,
ou mesmo a insubmissão, passava a ser reprimida com castigos cada vez menos morais ou espirituais, tornando-se mais
e mais um crime a ser punido neste mundo: passava a cons16
17
Na bula papal, Inocêncio III afirma: “quum rex [Francorum] ipse
superiorem in temporalibus minime recognoscit” (In: Per venerabilem,
X.4.17.13). Cf. tradução brasileira do documento em SOUZA & BARBOSA,
op. cit., p. 134.
Bartolo de Sassoferrato, por exemplo, aplicaria esse último princípio às
cidades-repúblicas italianas, as quais não reconheciam superior: “civitas
quae superiorem non recognoscit”. E com isso concluiria: “civitas sibi
princeps”. Cf. CANNING, J. P. Law, sovereignty and corporation theory,
1300-1450. In: BURNS, op. cit., 1991, p. 471, nota 58.
379
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tituir o que os juristas iriam denominar “crime de lesa-majestade”. O monarca francês passava a desfrutar agora de
majestas. Nesse processo, concretizava-se também a idéia
de que, em matéria de lei, não havia direito de apelação além
do monarca.18
A consolidação dessa pessoa pública nos moldes agora
requeridos obrigava os juristas e pensadores políticos do período a rever os vínculos e as obrigações do monarca. Um
desses contextos óbvios aos quais se podia ligar a figura do
rei era o da Coroa, que desde de meados do século XII passara a ser associada ao reino como um todo. A diferenciação
entre as terras privadas do rei e aquelas do fisco (ou Coroa),
por exemplo, passou a abranger todos aqueles bens, poderes
e direitos reais herdados, e devia ser passada em seu conjunto para a próxima geração. Aos olhos dos juristas, a Coroa
constituía um conjunto de prerrogativas do rei – seus direitos jurisdicionais, poderes financeiros, assim como suas terras e riquezas –, as quais deveriam ser mantidas intactas
contra as reivindicações de qualquer outra parte ou mesmo contra um possível excesso de liberalidade por parte do
próprio monarca.
Conta Dunbabin que uma lenda surgida por volta de
1290 na França dizia terem se reunido em Montpellier os
reis da cristandade para declarar que a prescrição contra
direitos reais deveria ser declarada inválida. Também quaisquer alienações prévias feitas por governantes que tivessem
causado prejuízos aos direitos reais e às terras da Coroa de18
Embora a imagem do rei como autoridade suprema estivesse lentamente ganhando terreno, alerta Dunbabin, estava ainda bastante longe de
deter a força de que dispunha o soberano hobbesiano. Coagir nobres e
barões a mando do rei, por exemplo, poucas vezes era possível – e nem
mesmo era usual. Em geral, o rei era obrigado a negociar em termos
muito menos favoráveis do que aqueles sugeridos pelos discursos de
seus juristas. Cf. DUNBABIN, Jean. Government. In: BURNS, op. cit., 1991,
p. 497.
380
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
viam ser, do mesmo modo, anuladas. Verdadeira ou não, a
lenda oferecia um fundamento sobre o qual construir uma
noção distintiva do poder real: o princípio imperial romano
da inalienabilidade da Coroa e seus bens.19 A associação
desses poderes reais àquela noção do que viria a ser chamado “domínio público” servia assim para reforçar e consolidar
a estrutura dos emergentes Estados nacionais.
A aceitação do caráter público da autoridade real justificava ainda a necessidade de constituição de uma burocracia real, capaz de auxiliar e dar suporte às decisões do
monarca em cada estágio do processo político. Ou seja, ficava claro que para governar bem (taxar, julgar, legislar etc.) os
reis precisavam da ajuda de expertos. Pôr em relevo a utilidade de governar com conselheiros, ministros e outras formas de compartilhamento do poder não apenas contribuía
para maior eficiência das atividades governamentais, como
também era útil ainda para tornar constitucionais certos
poderes monárquicos: determinadas regras de organização
da vida coletiva deixavam de ser vistas como prerrogativas
da pessoa do dominador e passavam a ser entendidas como
um atributo do cargo e, mais tarde, da instituição.
Também avançava velozmente, desde pelo menos meados do século XII, a noção de que a autoridade última do rex
repousava no consentimento do povo, e não na figura do
imperador. Os costumes e as instituições, expressões do consentimento popular, não requeriam autorização superior. E
o exercício desse consentimento pelo povo podia levar até
mesmo ao não-reconhecimento de um superior, como argumentaria Bartolo de Sassoferrato. Sassoferrato tinha em
mente não o caso do rei inglês, mas a defesa da autonomia
das cidades-repúblicas italianas, expressa na sua conhecida
19
Quanto mais os juristas exaltavam os atributos legais da Coroa, alerta
Dunbabin, mais eles os subordinavam a ela, processo mais evidente no
caso inglês. Cf. DUNBABIN, ibid., p. 501.
381
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
fórmula civitas quae superiorem non recognoscit. A emergência de uma noção mais complexa tanto da cidade quanto do
reino acabava fornecendo elementos para o desenvolvimento
de uma teoria da corporação, cujas origens remontavam à
metáfora do corpo como organismo auto-suficiente formado
por seus membros.
Nessa perspectiva, o poder político secular – inicialmente
a civitas, mas depois também os emergentes Estados
territoriais – organizado em suas diferentes formas passava
a constituir um corpo composto de uma pluralidade de seres
humanos e, ao mesmo tempo, uma entidade unitária abstrata perceptível apenas por meio do intelecto. Esses componentes humanos não constituíam meros indivíduos isolados,
singulares, e sim homens corporados: isto é, homens unidos
de uma maneira específica num todo corporativo – uma imagem que mais tarde ilustraria uma das mais conhecidas representações do Estado moderno, o Leviathan hobbesiano.
O dado novo, portanto, era o de que a civitas ou o reino
territorialmente delimitado passavam a ser identificados a
uma entidade abstrata, distinta dos seus membros.
De um lado, enquanto corporação, essa entidade agia
por meio de seus membros físicos, os homens como tais. De
outro lado, ela era tomada como imortal e, nesse sentido, de
um modo distinto de seus componentes humanos, o que lhe
permitia ser concebida como uma persona legal.20 A projeção
dessa ficção jurídica aos nascentes Estados territoriais, concebidos como entidades corporativas abstratas, permitiria
dotá-los de uma personalidade legal. Ou seja, essas unidades teritoriais, enquanto pessoas propriamente jurídicas,
podiam ter existência legal e capacidades distintas daquelas
de seus membros. Baldo de Ubaldis, por exemplo, associou
essa entidade abstrata, capaz de agir e consentir por meio de
20
Cf. CANNING, J. P. Law, sovereignty and corporation theory, 1300-1450.
In: BURNS, op. cit., 1991, p. 474-5.
382
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
seus membros mortais organizados numa estrutura de conselhos e funcionários eleitos, ao regnum, o qual podia ser
identificado aos seus membros também na forma de uma
universitas.
Essa corporação perene instituía um ofício real imortal
e abstrato (ou uma dignitas) operado por cada indivíduo enquanto governante. Nos termos de Baldo:
E a pessoa do rei é órgão e instrumento daquela pessoa
intelectiva e pública; e a pessoa intelectiva e pública é
aquela que de modo principal fundamenta a execução,
porque maior atenção é conferida ao vigor do principal do
que ao vigor do órgão.21
Ao rei passava a ser concedido assim agir em nome dos
súditos, do ofício real e, em última instância, do próprio reino. Marsílio, por exemplo, iria aplicar essa idéia à sua noção
de “universitas civium”, que constituía para ele uma entidade
corporativa diferente dos cidadãos singulares.
II BONIFÁCIO VIII E FILIPE, O BELO:
PRINCÍPIOS EM DISPUTA
A consolidação da autoridade real constituía, dessa
perspectiva, um processo tanto de força quanto de legitimação.
De um lado, o rei mobilizava recursos militares e um discurso jurídico adequado às suas pretensões. De outro, havia
uma recomposição do quadro das lealdades, um dos fatores
21
“Et persona regis est organum et instrumentum illius personae
intellectualis et publicae; et illa persona intellectualis et publica est illa
quae principaliter fundat actus, quia magis attenditur virtus principalis
quam virtus organica” (Consilia, I.3.59, 1490, fol. 109v). In: CANNING, J.
The political thought of Baldus de Ubaldis. Cambridge: University Press,
1987. p. 216 e p. 268.
383
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
fundamentais apontados por Strayer. Esses elementos, a força, a autoridade legitimada internamente e o novo sentido de
lealdade se manifestaram plenamente no conflito entre Filipe
IV, o Belo, rei da França, e o papa Bonifácio VIII.22 A reunião
desses fatores torna esse caso especialmente significativo
quando se pretende examinar a constituição das unidades
de poder características do mundo moderno.
A controvérsia entre Filipe, o Belo, e Bonifácio VIII foi
deflagrada com a taxação do clero francês pelo rei, contestada pelo papa na bula Clericis laicos, em 1296. O papa foi
derrotado nessa disputa. Filipe acabou usando a força contra ele, mas esse não era o aspecto politicamente mais importante. Mais significativo foi o apoio obtido pelo rei não só
entre os súditos civis, mas também entre o clero. Os padres
acabaram assumindo o comportamento de padres franceses
e aceitaram a tributação como justa. A defesa da posição
papal, no entanto, enriqueceria a literatura política. A sustentação da supremacia papal por Egídio Romano constituiu
o último grande esforço de atribuir ao papa o controle das
duas espadas, a temporal e a espiritual.
A origem do confronto, recordam Souza e Barbosa, remontava à disputa, que já ocorria desde 1294, entre Filipe IV
e o rei inglês Eduardo I pelo controle dos territórios da Gasconha, Flandres e outras regiões nominalmente sob a suserania do rei francês. Para financiar a guerra, os monarcas
passaram a exigir do clero o pagamento de imposto à Coroa,
do qual estes eram isentos, de acordo com um cânone do IV
Concílio de Latrão (1215). O pontífice inicialmente ignorou o
fato, mas as constantes reclamações do clero francês levaram-no a promulgar, em 1296, a bula Clericis laicos, na qual
proibia os prelados e as pessoas eclesiásticas – religiosas ou
22
Para uma análise pormenorizada do conflito, cf. PASSOS, J. A. M. B. Bonifácio VIII e Filipe o Belo, de França, 1972. Tese (Doutorado) – Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.
384
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
seculares – de pagar qualquer tipo de contribuição ao rei sem
a expressa autorização da Santa Sé, sob pena de excomunhão.
O documento vedava ainda aos príncipes e seus auxiliares qualquer tipo de taxação sobre o clero e suas propriedades. “Se esse procedimento continuasse a ocorrer”,
comentam Souza e Barbosa, “o Papado ficaria numa situação financeira delicada, pois seus projetos e obras pias de
natureza diversa não poderiam ser levados a bom termo”.23
De fato, do ponto de vista do pontífice, usar os impostos clericais para financiar uma guerra entre dois governantes cristãos era escandaloso: no raciocínio papal, esse dinheiro
poderia ser, sem dúvida, mais bem empregado se fosse aplicado numa Cruzada para a recuperação da Terra Santa.
Filipe IV, por sua vez, mais interessado na conservação
das terras francesas, respondeu ao papa proibindo a saída
de qualquer soma em dinheiro e metais preciosos, como ouro
e prata, do território franco, medida que causou enormes
perdas para as rendas papais. Também expulsou os banqueiros italianos sediados em seu reino, os quais eram responsáveis pela arrecadação e transferência do óbolo de São
Pedro para Roma: com tais decisões, Filipe havia embargado
os dízimos cobrados pela Igreja de Roma e os benefícios eclesiásticos existentes. Sucederam-se então avanços e recuos
em ambas as posições. Filipe também mobilizou para sua
causa importantes juristas franceses, especialistas em direito romano, e publicistas do reino, que trataram de incendiar
a disputa, produzindo documentos e panfletos anônimos em
defesa do monarca.24
23
24
SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 151 et seq.
Sobre o tema, cf. FINKE, Heinrich. Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und
Forschungen. Münster, Druck und Verlag der Aschendorffschen
Buchhandlung, 1902. Reimpr. Roma: Ediz. Anastatica: Bardi Editore,
1964.
385
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Esses juristas e assessores reais, em grande parte oriundos da burguesia local emergente, enfatizam Souza e Barbosa, tinham especial interesse na centralização do poder político
nas mãos do monarca, em razão de seus interesses econômicos, voltados sobretudo para a produção manufatureira, para
o comércio e para as finanças. Pois, para essa camada, a
nobreza feudal e o clero constituíam graves entraves à expansão de suas atividades.
Um dos caminhos para essa centralização do poder era
sobrepor juridicamente os interesses nacionais aos de
particulares tomados isoladamente ou em grupo. Noutras palavras, o direito do reino devia estar acima tanto
dos costumes e direitos feudais quanto do canônico. Esse
processo começou com Filipe Augusto (1180-223), a quem
Inocêncio III (1198-1216) reconheceu, de acordo com o
que o próprio monarca tinha afirmado, que em seu reino
não havia ninguém com autoridade superior à sua. São
Luís (1226-70) prosseguiu na obra centralizadora de seu
avô.25
A base principal da argumentação dos juristas franceses, apoiados sobretudo no Código de Justiniano, e na Ética
e na Política de Aristóteles, assentava-se no princípio, enunciado no Digesto, segundo o qual o rei devia ser princeps,
fonte e origem de toda lei (Quod principi placuit, legis habet
vigorem) e, como chefe da comunidade política, dispunha dos
meios apropriados para proteger o interesse, a honra, o bem
e a liberdade de todos os seus súditos. Dado que o poder real
provinha diretamente de Deus, sem o intermédio da Igreja,
sustentavam os doutos com base no modelo do governante
teocrático romano, não podia haver limite ao poder do rex
nem no âmbito judiciário nem em quaisquer outras questões
ligadas ao governo das coisas temporais.
Como esse princípio havia sido aplicado até então apenas aos imperadores, os juristas franceses se esforçavam em
25
SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 152.
386
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
desvincular a França de uma subordinação ao Sacro Império
Romano Germânico. Ao mesmo tempo, adotaram o postulado, agora já popular, de que o “rex in regno suo imperator
est”. Desse modo, o rei era colocado no vértice da pirâmide
de poder existente no reino e, abaixo dele, estavam os barões
e a alta nobreza local, também soberana em seus domínios
como o rei no reino, tal como havia notado Beaumanoir três
décadas antes.
Uma outra frente de batalha adotada pelos propagandistas e estudiosos da corte residia na denúncia de que o
pontífice procurava estender sua esfera de atuação a áreas
sobre as quais não tinha competência nem autoridade legítima: aos assuntos seculares. Era preciso estabelecer uma clara
delimitação da esfera específica de atuação do poder eclesiástico, ao qual devia caber somente as atividades religiosas. Para isso, uma das táticas amplamente utilizadas pelos
defensores do reino consistiu em ressaltar as características
fundamentalmente terrenas, profanas e legais do poder secular, como ilustrava bem um documento anônimo da época, a Disputatio inter clericum et militem. O texto, segundo
Lewis, teria surgido na corte real francesa em 1296 ou 1297,
como reação à bula papal Clericis laicos.26
Num dos diálogos, o religioso argumentava que o pontífice teria o direito de julgar questões acerca do pecado e da
26
Uma tradução acessível e cuidadosa do diálogo – que consiste numa
disputa entre um soldado e um clérigo sobre o direito do rei francês de
taxar o clero – pode ser encontrada em: LEWIS, Ewart. Medieval political
ideas. London: Routledge & Kegan Paul, 1954. v. 2, p. 567-4. Uma
versão parcial traduzida para o português está disponível em SOUZA &
BARBOSA, op. cit., p. 181-4. O texto original pode ser encontrado na versão – atribuída a Guilherme de Ockham – editada por GOLDAST, Melchior
(Ed.). Monarchia sancti romani imperii. Reimpr. da ed. frankfurtiana de
1614. Graz: Akademische Druck u. Verlaganstalt, 1960. v. 1, p. 13-8.
Antes disso, há notícias do texto na edição de SACHARD, Simon. De
jurisdictione autoritate et praeeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica. Basel, 1566. p. 677-87.
387
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
injustiça, por terem elas caráter teológico. O soldado rebatia
a afirmação insistindo na diferenciação das funções sacerdotais e temporais com o seguinte argumento: o fato de os sacerdotes possuírem a cognitio de peccato, dizia ele, não lhes
dava competência pleno iure para proferir um iudicium acerca do que era justo e injusto. Por isso, os clérigos deveriam
restringir seu âmbito de atuação exclusivamente às transgressões ligadas aos preceitos morais e religiosos encontrados nos Dez Mandamentos. Ressaltava ainda, com base nas
Escrituras, a anterioridade do reino em relação à Igreja, e a
humanidade de Cristo, cujo poder, enquanto homem, “não
era deste mundo”.
E continuava o soldado adiante: como Pedro e seus sucessores não haviam recebido poder ou jurisdição no âmbito
secular, os papas, ao se intrometerem em assuntos exclusivamente temporais, como a taxação dos súditos pelo rei, estariam cometendo um grave abuso e causando dano a todos
os fiéis. O rei, argumentava o soldado, por governar para
todos dentro de seu reino, tinha a obrigação de proteger também o clero das ameaças e ataques de terceiros. Por isso,
nada mais justo do que eles também contribuírem para a
defesa do reino e de seus habitantes pagando impostos, como
fazia o povo.27 O clero era assim igualado aos demais membros da comunidade política e subordinado ao poder secular, a quem cabia a guarda do reino e de seus súditos.28
Estabelecer taxas e cobrar impostos constituía uma
prerrogativa do rei em território franco já desde o início do
27
28
Cf. SOUZA & BARBOSA, Documento 40, op. cit., p. 183.
Avaliando o documento, Souza & Barbosa escrevem: “De fato, é o Rei e
as leges humanae que determinam o que é justo e injusto, de modo que
apenas ele, monarca, soberano, legislador e juiz, pode em seu reino
estatuí-las e aplicá-las de acordo com as circunstâncias e necessidades
que se apresentarem. Compete-lhe ainda o direito de modificá-las ou
até mesmo revogá-las se for o caso, e todos os súditos, eclesiásticos ou
leigos, têm o dever de respeitá-las”. Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 156.
388
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
século XIII.29 Esse direito o monarca o tinha em razão da
tuitio regni, isto é, da responsabilidade de assegurar os “interesses do reino” e sua defesa. Tais “necessidades” eram definidas exclusivamente pelo monarca. Ullmann chama atenção
para o fato de que o princípio da utilitas publica tendia a
adquirir, na França, um caráter monárquico que, na Inglaterra, caberia à Common Law, e não ao rei. Esse traço constitucional era, segundo ele, um dos aspectos relevantes que
diferenciariam a teocracia real francesa – na qual o vínculo
jurídico entre o monarca e a comunidade era tênue – da realeza feudal inglesa, que se caracterizava por uma estreita
colaboração entre o rei e os barões locais.30
Ao longo da querela houve avanços e recuos por parte
tanto do papa quanto do rei: em dezembro de 1297, atendendo a um pedido do clero francês, que solicitava ao pontífice
autorização para pagar auxílio ao monarca, Bonifácio VIII
cedeu e permitiu então o pagamento de uma certa quantia
ao rei, já que este se encontrava em disputa aberta com o rei
inglês pela defesa do território franco. Dentro da Igreja, en29
30
A sustentação jurídica dessa prerrogativa era fornecida sobretudo pelo
Digesto, segundo o qual o estabelecimento de leis fiscais constituía um
direito do rei.
Ullmann mostra que o desenvolvimento constitucional francês diferiu
fundamentalmente do inglês: enquanto no primeiro caso o acento recaía na realeza teocrática, no segundo a tônica estava na nobreza feudal: “Em Inglaterra, forçou-se o rei a se reduzir de fato ao seu marco
feudal, o que trouxe como conseqüência a cooperação no funcionamento do governo no que diz respeito aos ‘negotia regni’: este esforço conjunto constituía a realização prática do contratualismo feudal. Sobre
esta base, o desenvolvimento posterior colocou a comunidade do reino
em primeiro plano, como órgão que assimilaria facilmente a idéia de
representação sem repercussões violentas”. Como o direito era resultado dessa atividade conjunta, ele era comum ao rei e à comunidade do
reino. Esse modelo impedia a instauração de qualquer forma “absolutista” de governo, como ocorreria na França. Cf. ULLMANN, W. Principios
de gobierno y política en la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 1985.
p. 210-1.
389
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tretanto, surgiam dissidências e disputas, principalmente
entre a família do pontífice, os Gaetani, e a de cardeais importantes, os irmãos Colonna, que acusavam o sumo sacerdote de favorecimento ilícito aos seus familiares, denúncias
essas com ampla sustentação nos fatos. A cúpula da Igreja,
que apoiava Bonifácio VIII, começou a rachar internamente,
chegando à insurgência por parte de alguns dos membros da
cúria romana contra o papa.
Filipe IV, por sua vez, como precisasse cada vez mais
de dinheiro para as despesas de guerra, aumentou progressivamente a taxa cobrada dos clérigos sem a autorização
papal, violando o acordo com o bispo de Roma, que decidiu
então revogar os privilégios fiscais concedidos à Coroa francesa, proibindo o clero de pagar-lhe qualquer imposto. Convocou ainda os prelados de toda a cristandade para uma
reunião na qual se discutiria o assunto. Filipe IV, em resposta, proibiu os religiosos, em abril de 1302, de se ausentar do
reino sem a expressa autorização real e incitou a opinião
pública francesa contra o papa e sua pretensão de jurisdição
temporal sobre o rei e sobre o povo francês. O conflito de
interesses e de posições irrompia agora com clareza, gerando
uma literatura que procurava sustentar as duas pretensões
em conflito.
Entre os vários textos produzidos, dois são de especial
significado para uma história do pensamento político: o De
ecclesiastica potestate, escrito em 1302 por Egídio Romano,
em defesa do sumo pontífice e da idéia de “monarquia papal”; e o De regia potestate et papali, elaborado no fim do
mesmo ano por João Quidort, em defesa do rei francês e de
uma monarquia de caráter constitucional, como se verá a
seguir.
A última disputa entre os dois protagonistas foi provavelmente a mais grave, mas também a mais significativa: Filipe acusou o bispo francês Bernardo Saisset, partidário do
390
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
papa, de traição e crime de lesa-mejestade e levou-o a julgamento diante do tribunal régio, que o condenou e ordenou
sua prisão. A atitude do monarca era inaceitável para o papado, já que segundo as leis canônicas um bispo não podia
ser julgado numa corte leiga. Em resposta ao desafio real,
Bonifácio VIII editou, em dezembro de 1302, a bula Ausculta
fili charissime, na qual advogava ser-lhe o rei franco subordinado e não dispor de autoridade para julgar pessoas eclesiásticas.
Consta que o jurista real Pierre Flotte, ao receber a bula,
destruiu-a e falsificou um novo documento, Deum time, no
qual se afirmava explicitamente deter o pontífice jurisdição
temporal sobre o rei e sobre todos os súditos franceses. Flotte
e seus colegas, entre os quais o assessor do rei, Guilherme de
Nogaret, ordenaram aos funcionários da Coroa a divulgação
da falsa “bula” em todo o território, com o objetivo de voltar a
opinião pública francesa contra o sumo pontífice. A querela
abarcava, de fato, duas visões conflitantes: para o rei francês, não era possível exercer um controle adequado sobre
seu território se não lhe fosse lícito, num caso de emergência
nacional, taxar seu clero ou levar um bispo local a julgamento. Para o papa, a autonomia da Igreja não poderia ser preservada se os governantes leigos pudessem taxar o clero ou
julgar bispos em cortes reais quando bem entendessem.
Os conselheiros do rei reclamaram, pouco depois, um
concílio geral da Igreja, a fim de depor o bispo de Roma por
heresia. O sumo sacerdote refugiou-se então no castelo de
Anagni. Emissários do rei francês, sob o comando de Nogaret,
foram enviados à fortaleza com ordens de deter o papa: era
agosto de 1303.31 O desfecho é conhecido e ilustra bem a
vitória das armas. Preso o pontífice, o apologista real, Pierre
31
Cf. MIETHKE, Jürgen. Der Weltanspruch des Papstes im späteren
Mittelalter. In: FETSCHER & MÜNKLER, op. cit., p. 372 et seq.
391
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Flotte, respondendo aos protestos indignados de Bonifácio,
teria dito: “O seu poder é verbal; o nosso, contudo, é real”.
Dias depois, morria Bonifácio VIII, provavelmente em razão
dos maus-tratos: começava a desmoronar o edifício construído
pela política papal hierocrática. Sucedeu-o Benedito XI (13034), que faleceu logo em seguida. Diante da ameça de Filipe IV
de proceder a um julgamento póstumo de Bonifácio no concílio geral, Clemente V (1304-14), o novo papa, anulou todas
as medidas de seu predecessor contra o rei francês. Mas os
frutos dessa acirrada contenda haveriam de atravessar os
séculos: nenhum escritor político podia mais ignorar a nova
força política que se afirmava na paisagem.
III EGÍDIO ROMANO E AS RAÍZES DO
ABSOLUTISMO MONÁRQUICO
A defesa da centralização do poder supremo nas mãos
de um único governante constituía uma reivindicação que,
sem dúvida, encontrava respaldo nos antigos textos pagãos
agora disponíveis. Entretanto, uma das mais sólidas defesas
da monarquia como a melhor forma de governo viria não de
um defensor do reino, e sim de um árduo militante do partido eclesiástico: o canonista Egídio Romano. A obra de Egídio
Romano, contudo, não constituía um elemento destoante na
paisagem: era muito mais o resultado visível de um longo
processo de consolidação e centralização do poder pontifício.
A teoria egidiana, minuciosamente exposta em seu Sobre o
poder eclesiástico,32 segundo a qual a Igreja subsumiria em
sua plenitudo potestatis todos os poderes inferiores, seria
32
ROMANO, Egídio. Do poder eclesiástico (DPE). Ed. L. A. De Boni, Petrópolis:
Vozes, 1989. As citações ao livro de Egídio Romano neste texto foram
todas retiradas dessa edição brasileira. Para consulta foi utilizada também a versão bilígüe (alemão-latim) produzida por R. Scholz.
392
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
apropriada e amplamente adaptada aos interesses de uma
formação política emergente, as monarquias absolutas européias e seus defensores.33
A defesa da centralização do poder nas mãos de um único
governante não representava uma novidade, como já foi visto:
os canonistas insistiam, desde pelo menos o século XII, que
um corpo com duas cabeças constituía uma monstruosidade.
E, embora o papado operasse teoricamente com o princípio
gelasiano das duas espadas, alerta Watt, esse princípio dualista
“era tão fundamentalmente condicionado por outro axioma, o
da superioridade do poder espiritual, que acabava sendo, de
fato, substituído por uma visão unitária dos dois poderes”.
Nessa lógica, continua Watt adiante, deixava de haver espaço
para uma autoridade leiga autônoma.34 E Egídio Romano expressava com clareza essa concepção.
À primeira vista, escreve De Boni na introdução ao livro, Egídio Romano parece “reeditar” a antiga querela das
investiduras entre o papa e o imperador. Mas essa impressão é enganosa, diz ele.
33
34
É curioso notar que o “espelho do príncipe” (De regimne principum) de
Egídio Romano, escrito para o futuro rei francês, Filipe IV, o Belo, entre
1277-9, quando o religioso trabalhou na corte real como preceptor do
infante, seria uma das obras – entre as do gênero – mais lidas e amplamente traduzidas de que se tem notícia, e haveria de inspirar inúmeros
partidos em disputa. Miethke conta que dele restaram 284 manuscritos em latim, além de 78 manuscritos traduzidos para o vernáculo em
diversos idiomas. Mas não é nesse texto de juventude que se vai encontrar a sua mais poderosa argumentação em favor da plenitude de poder
do papa em assuntos temporais, e sim no De ecclesiatica potestate,
escrito em 1301-2. Deste seu texto, contabiliza Miethke, restaram apenas seis manuscritos. Cf. MIETHKE, op. cit., p. 373.
WATT, J. A. Spiritual and temporal powers. In: BURNS, op. cit., 1991, p.
368 e 389. Também R. Stanka chama atenção para o fato de que a
reivindicação do controle das duas espadas por Bonifácio VIII mudara
de foco, passando a se concentrar agora na superioridade da autoridade espiritual sobre a temporal. Cf. STANKA, R. Die politische Philosophie
des Mittelalters, Band II. Viena: Verlag A. Sexl, 1957. p. 169 et seq.
393
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Os argumentos e os exemplos são os mesmos, mas o
mundo é outro: a questão posta não é mais a da relação
entre o papa e o imperador dentro de uma única cristandade; trata-se agora de definir qual a relação entre o poder eclesiástico e o civil na constituição de novos estados
soberanos; é necessário redefinir competências entre a
autoridade religiosa supranacional e as autoridades civis
nacionais que neste momento se afirmam. Se as roupas
do De ecclesiastica potestate são velhas, estão puídas, e
já mesmo carcomidas pelas traças que estavam destruindo a Idade Média, contudo não deixa de ser verdade que
as longas questões sobre o poder, a soberania, o direito
dos súditos, a propriedade etc. estavam abrindo caminho para o debate sobre o Estado moderno, e o renascimento.
Não deixa também de ser verdade”, arremata De Boni
lembrando opiniões de Carlyle e Scholz, “que Egídio ‘compôs
o primeiro tratado completo sobre o absolutismo’”.35
Se Egídio tinha ou não uma noção clara das transformações em curso não cabe aqui discutir. O que o Doctor
Fundatissimus parecia saber muito bem, contudo, era localizar o inimigo e o terreno no qual ele se movia. Ullmann alerta
para o fato de que a teoria desenvolvida por Egídio Romano
em defesa da hierocracia, ao concentrar-se na idéia de
renascimento pelo batismo como noção legal, isto é, na noção da graça como fundamento do direito, tornava claro seu
objetivo de conter o avanço do naturalismo político. A
regeneratio batismal defendida por ele servia, antes de mais
nada, para reafirmar os vínculos que implicava: apenas os
homines renati, seguindo as normas da “vida nova” concedida pela autoridade divinamente instituída, tinham direito ao
domínio e à propriedade legítimos. Nesse esquema, o elemento
humano, no estado puramente natural, não tinha papel algum a desempenhar: o homem natural permanecia relegado
35
DE BONI. Introdução. In: DPE, p. 13.
394
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
ao papel subordinado dentro do qual sempre se movera na
cosmologia cristã.36
Essa consciência Egídio Romano, bom conhecedor de
Aristóteles e de Tomás de Aquino, certamente tinha: nascido
nos arredores de Roma em meados do século XIII, de família
sem posses, iniciou seus estudos em 1258, ingressando na
Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Logo foi enviado à
Universidade de Paris para prosseguir os estudos. Lá provavelmente freqüentou as aulas de Tomás de Aquino e pôde
ampliar seu contato com os escritos averroístas e aristotélicos.37 Envolveu-se nos debates acadêmicos que agitaram Paris
à época, chegando a tomar a defesa do mestre por ocasião
das condenações do bispo parisiense Estêvão Tempier.38 Com
esse episódio, teve sua carreira interrompida e foi obrigado a
regressar à Itália.
36
37
38
A secularização do pensamento e a naturalização da política, possibilitada sobretudo pela recuperação dos antigos textos pagãos, argumenta
Ullamnn, tornavam desnecessária a autoridade pontifícia, e também a
figura da Ecclesia, na condução dos assuntos terrenos. Cf. ULLMANN, Die
Bulle Unam sanctam: Rückblick und Ausblick, VI: p. 45-77. Cf. tb. ULLMANN, Boniface VIII and his contemporary scholarship, VIII: p. 58-87. In:
ULLMANN. W. Scholarship and politics in the Middle Ages. London: Variorum
Reprints, 1978. (Collected Studies).
Sobre a influência averroísta de Egídio, cf. MCALEER, G. J. Disputing the
unity of the world: the importance of res and the influence of Averróis in
Giles of Rome’s critique of Thomas Aquinas concerning the unity of the
world. Journal of the History of Philosophy, v. 36, n. 1, p. 29-55, jan.
1998.
Essa censura eclesiástica, dirigida principalmente às teses averroístas
e aristotélicas, ficou conhecida como “As condenações de 1277”, quando Tempier censurou 219 proposições sustentadas pelos professores
da Faculdade de Artes. Várias dessas condenações ligavam-se, direta
ou indiretamente, às teses desenvolvidas por Tomás de Aquino. Sobre o
tema, cf. DE BONI, L. A. As condenações de 1277: os limites do diálogo
entre a filosofia e a teologia. In: DE BONI, L. A. (Org.). Lógica e linguagem
na Idade Média. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995.
395
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Retornando à França, pouco depois, foi convidado por
Filipe III para ser preceptor de seu herdeiro, Filipe IV, futuro
rei francês. Para seu pupilo Egídio Romano escreveu, entre
1277-9, o De regimine principum, no qual, seguindo Tomás
de Aquino e Tolomeu de Luca, fazia a defesa da forma
monárquica de governo. Em 1287, intelectual já influente e
íntimo de figuras importantes como Benedito Gaetani, futuro papa Bonifácio VIII, Egídio tornou-se mestre em teologia
pela Universidade de Paris e, em 1292, foi eleito superiorgeral da sua ordem. Três anos mais tarde era nomeado por
Bonifácio VIII (1294-1303), com a aquiescência do rei franco,
seu antigo aluno, arcebispo de Bourges e primaz da Aquitânia.
Nesse momento, as divergências entre o bispo de Roma
e o rei francês se acirravam e as acusações de ambas as
partes sucediam-se. Bonifácio VIII – que assumira o trono
pontifício em meio à polêmica sobre a legalidade da renúncia
de Celestino V (1294), seu antecessor,39 – não tardou a recorrer ao auxílio, que se mostraria precioso, de seu protegido. A
seu pedido, Egídio comentava textos e produzia pareceres
que serviam de suporte para as decisões papais.40 Também
sob encomenda do pontífice – que nesse momento precisava
de munição contra a decisão de Filipe IV de taxar o clero
francês sem autorização papal –, o Doutor Fundatíssimo produziu o De ecclesiastica potestate, escrito entre 1301 e 1302.
O livro era dedicado a mostrar que, assim como ao espírito
cabia comandar o corpo, competia à Igreja o direito de zelar,
em última instância, não só pela salvação espiritual como
também pela vida comunal dos homens. O texto de Egídio
39
40
Para uma descrição minuciosa dos eventos, cf. SOUZA, J. A. C. R. A eleição de Celestino V em 1294 e a crise da Igreja no final do século XIII.
Veritas, Porto Alegre, v. 39, n. 155, p. 481-98, set. 1994.
Um resumo das obras de Egídio pode ser encontrado no verbete de
MERLIN, N. Gilles de Rome. In: VACANT, A.; MANGENOT, E. Dictionnaire de
théologie catholique. Paris: Librarie Letouzey, 1920. p. 1358-66.
396
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Romano acabaria sendo usado pelo papa na confecção da
bula Unam sanctam,41 de 1302.
Para a defesa de suas posições, o Doutor Fundatíssimo,
profundo conhecedor das doutrinas tomista, averroísta, aristotélica e agostiniana, utilizou toda a tradição de pensamento disponível à época: da Sagrada Escritura ao direito
canônico, passando por Hugo de São Vítor, Dionísio, Agostinho, Aristóteles etc., nada foi desperdiçado.42 A organização
do poder temporal só aparece nessa obra de forma marginal.
Mas não apenas está ausente como tema – dado que o objeto
imediato do tratado era o poder eclesiático – como ainda,
quando aparece, está subsumida na ordem de dominação da
Igreja. Apesar do silêncio a respeito do poder secular aqui,
pode-se apontar entre essa obra e seu “espelho do príncipe”,
escrito duas décadas antes, um traço comum: a defesa da
41
42
Sobre este assunto, cf. BOER, Nicolas. A bula Unam sanctam de Bonifácio VIII sobre as relações entre a Igreja e o Estado. In: SOUZA, J. A. C. R.
(Org.). Pensamento medieval. X Semana de Filosofia da UnB. São Paulo:
Loyola, 1983. p. 125-44. Para uma comparação entre o texto da bula e
as passagens de Egídio, confere a “Introdução” de De Boni ao livro de
Egídio Romano citada acima, p. 26-28, notas a) e b). Uma tradução do
documento pode ser encontrada em SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 202-4.
Cf. tb. a versão integral inglesa, que contém ainda vários outros documentos do período, em HENDERSON, Ernest F. (Ed.). Selected historical
documents of the Middle Ages. Repr. of 1892. New York: AMS Press,
1968. p. 435-7.
Richard Scholz, o grande tradutor moderno de Egídio, enumerou as
citações das autoridades mencionadas no De ecclesiastica potestate,
chegando ao seguinte resultado: cerca de 238 citações provêm da Bíblia
com suas glosas; Agostinho é mencionado 41 vezes, o direito canônico
cerca de 33 vezes, Aristóteles e o Pseudo-Aristóteles trinta vezes, Hugo
de São Vítor 16 vezes, Pedro Comestor nove, Dionísio o Areopagita sete,
Bernardo de Claraval cinco, Averróis duas vezes, Isidoro de Sevilha uma
vez e o direito romano também uma única vez. Cf. SCHOLZ, R. “Einleitung”,
p. IX. In: ROMANUS, Aegidius. De ecclesiatica potestate. Ed. R. Scholz,
Weimar: Hermann Böhlaus, 1929. Uma tal estatística nada pode oferecer além de uma visão superficial da obra. Mas ajuda a ilustrar o grau
de preocupação do autor com certos pensadores.
397
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
monarquia como a forma excelente de governo político. Nesse ponto há mais continuidade do que ruptura entre as duas
obras.
O esquema do tratado De ecclesiastica potestate produzido por Egídio Romano pode ser resumido, grosso modo,
num princípio orientador e quatro pares de opostos: o fundamento que guiava todo o seu raciocínio repousava na afirmação – que remonta a Platão e Aristóteles – de que todo o
universo, e tudo o que nele se encontrava, se ordenava do
inferior ao superior, estando por essa razão as coisas inferiores subordinadas às superiores. Os pares de opostos utilizados para sustentar sua teoria sobre a correta ordenação
do mundo eram: imperfeito/perfeito, corpo/alma, particular/universal e poder temporal/poder eclesiástico.
A partir da identificação entre imperfeito, corpo, particular e poder temporal à ordem dos objetos inferiores, em
oposição a perfeito, alma, universal e poder eclesiástico à
ordem do superiores, Egídio Romano podia construir o edifício sobre o qual reivindicava a plenitude de poder do papa
sobre todas as coisas, materias e espirituais, e a primazia
do governo sacerdotal sobre o secular. Contudo, essas duas
esferas – a superior, próxima da perfeição divina, e a inferior, lugar das imperfeições terrenas – não seriam mais descritas como dois âmbitos autônomos, cada qual contendo
em si os princípios de seu próprio funcionamento, mas passariam a ser tratadas dentro de um único universo: a “cidade de Deus” deixava de ser um ideal situado numa outra
esfera cósmica e passava a existir na mesma dimensão da
“cidade dos homens”, constituindo, ambas, partes de um
todo hierárquico devidamente ordenado, no qual toda multiplicidade era reduzida à unidade, ao elemento uno, que
era Deus. Tal construção envolvia, contudo, além de poderosas vigas, andaimes bastante intrincados, como se verá a
seguir.
398
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
1. Do poder do príncipe eclesiástico
O Livro I era dedicado a mostrar que toda autoridade
temporal justa se subordinava à eclesiástica. Isto é, que a
autoridade – o dominium, quando diz respeito à relação entre
homens – pontifícia era superior às demais. Depois de oferecer a obra ao “santíssimo Padre e senhor” Bonifácio VIII, Egídio
introduzia o assunto dizendo que
compete ao sumo pontífice e à sua plenitude de poder
dispor o símbolo da fé e estabelecer as coisas que se relacionam com os bons costumes, porquanto, se surgir uma
questão, quer de fé, quer de costumes, compete a ele dar
uma sentença definitiva e estabelecer, como também dispor firmemente, o que os cristãos devem crer e que aspecto os fiéis devem evitar daquelas coisas de onde se
originam os litígios. (DPE, p. 37)
E adiante: “compete dirimir querelas e resolver questões somente àquele que atingiu o ápice de toda a Igreja; e
como somente o sumo pontífice é reconhecido como tal, somente a ele caberá determinar sobre tais questões surgidas e
outras semelhantes”. E, para que não restasse dúvida a respeito de sua afirmação, Egídio Romano especificava que o
poder espiritual do sumo sacerdote incluía também sua jurisdição sobre todas as coisas temporais. Porque ao poder
mais perfeito competia a plenitude de poder e a jurisdição
sobre as coisas.43 Como o espírito fosse superior à matéria, e
43
“As sentenças dos santos e dos doutores proclamam comumente que há
uma dupla perfeição: a pessoal e a de acordo com o estado. Parece que
estas duas perfeições se diferenciam pelo fato de que a perfeição pessoal
consiste na serenidade e pureza da consciência, enquanto a perfeição do
estado e principalmente do estado dos prelados e de todos aqueles que
no último dia, quando estiverem perante o tribunal de Cristo, prestarão
contas das almas dos fiéis, consiste na jurisdição e na plenitude do poder, de tal modo que é um estado mais perfeito aquele ao qual corresponde um poder mais amplo e jurisdição mais plena” (DPE, p. 38).
399
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
a alma ao corpo, explicava, e dado que o corpo tendia ao vício
e aos maus costumes, seguia-se daí que ao poder espiritual,
maior em perfeição, cabia julgar a todos e por ninguém ser
julgado.
Para fundamentar essa opinião, o autor distinguia a
perfeição pessoal daquela conferida pelo estado de graça,
única capaz de gerar a plenitude de poder:
De acordo, portanto, com a dupla perfeição e a dupla
espiritualidade, dizemos que há dupla elevação. Aquele
que é espiritual e pessoalmente perfeito está elevado acima do mundo e acima dos outros conforme o brilho da
consciência. E como está elevado acima do mundo poderá julgar o mundo, isto é, os homens mundanos, afirmando que suas obras são más. [...] Mas quem é perfeito
e santo e está espiritualmente de acordo com o estado,
principalmente de acordo com o estado prelatício [statum
prelatorum], é elevado segundo a jurisdição e a plenitude
do poder. [...] Tal é o sumo pontífice, cujo estado é
santíssimo e espiritualíssimo. [...] Se o estado do sumo
pontífice é santíssimo e espiritualíssimo e tal espiritualidade consiste na eminência do poder, foi bem dito que o
sumo pontífice, sendo de todo espiritual segundo o estado e a eminência do poder, julga e domina tudo e ele
mesmo não poderá ser julgado, dominado e igualado por
ninguém. (DPE, p. 39-40)
Até mesmo a autoridade temporal era instituída pelo
poder espiritual, afirmava Egídio Romano seguindo Hugo de
São Vítor. Pois o sacerdotium constituía o único poder capaz
de plantá-la, julgá-la e extirpá-la. Para sustentar essa reivindicação, ele recorria à Doação de Constantino – segundo a
qual o império havia sido trasladado para a Igreja – e à lei da
divindade (lex divinitatis) de Dionísio (o Pseudo-Areopagita),
segundo a qual as realidades inferiores se reduziam às superiores por meio das intermediárias:
Como ficou claro através de Hugo, a autoridade espiritual tem poder de instituir a terrena e de julgá-la se é
400
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
boa, o que não seria possível se não pudesse plantá-la e
extirpá-la. [...] Neste assunto não só os acontecimentos
concordam com a autoridade, porquanto Hugo afirma isto,
e a Igreja, transferindo o império, não só o fez de direito,
mas de fato. [...] Podemos, com efeito, declarar tranqüilamente que, pela ordem do universo, a Igreja deve ser constituída sobre nações e reinos, pois, segundo Dionísio [...],
é lei da divindade reduzir as coisas ínfimas às supremas
passando pelas intermediárias. (DPE, p. 44-5)
Os argumentos utilizados por Egídio Romano sustentavam a existência de uma hierarquia na ordem universal
dos seres, tal como se encontrava no Pseudo-Dionísio: as
realidades inferiores, de acordo com o grau hierárquico em
que se situavam, seriam também mais materiais do que as
que lhes eram superiores. Ao Uno correspondia o supremo
grau de espiritualidade. Dele emanavam as realidades superiores. As outras realidades delas provinham e a elas deviam
reduzir-se pela conversão da multiplicidade à unidade e da
materialidade à espiritualidade. Assim, cada hierarquia continha previamente em si, num grau superior, as inferiores
que, ao se lhe reduzirem, eram por elas reconduzidas a outra
hierarquia superior na ordem da unidade e da espiritualidade e, por meio deste processo de conversão, as hierarquias
intermediárias se reduziriam à hierarquia suprema, que era
Deus.44
Como as coisas inferiores se reduziam às superiores
não imediatamente, mas por meio das intermediárias, para
que o universo pudesse estar corretamente ordenado era preciso constatar que essas duas autoridades, espiritual e temporal, provinham imediatamente de Deus, causa primeira de
todas as coisas.45 Como todas as coisas no universo a Ele se
44
45
Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., p. 164-5.
Rezava a bula Unam sanctam, promulgada por Bonifácio VIII em novembro de 1302: “De fato, segundo o bem-aventurado Dionísio, é lei da
divindade que as realidades ínfimas se reduzam à superiores mediante
401
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ordenavam, também no que respeitava aos poderes era preciso que um gládio se reduzisse ao outro: “Conseqüentemente o
gládio temporal, enquanto inferior, deve ser reduzido, passando pelo espiritual, como se passasse pelo superior, e um deve
ser estabelecido sobre o outro, de modo que o inferior esteja
sob o superior” (DPE, p. 45).
Por essa razão, dizer que reis e príncipes estariam submetidos ao poder espiritual apenas nas coisas espirituais
equivalia a não compreender a força do argumento. E aqui
Egídio investia pesado contra o dualismo clássico:
Pois se só nas coisas espirituais os reis e os príncipes
estivessem sujeitos à Igreja, não haveria gládio sob gládio;
não haveria coisas temporais, sob coisas espirituais, não
haveria ordem nos poderes, não se reduziriam as coisas
ínfimas às superiores passando pelas intermediárias. [...]
Ora, quem por direito simplesmente domina no espiritual, por certa excelência também tem domínio sobre as
coisas temporais. Se alguns, porém, por temor dos príncipes seculares escreveram de outra maneira, não se deve
admitir a autoridade deles. A Igreja pode, pois, admoestar os príncipes nas coisas seculares, uma vez que o gládio
temporal está sob o gládio espiritual. (DPE, p. 46)
A conclusão lógica dessas premissas, como lembram
Souza e Barbosa, consistia na integração plena de todo e
qualquer poder na suprema autoridade da Igreja.46
Se o papa não utilizava diretamente o gládio material,
deixando seu emprego a cargo dos príncipes, dizia Egídio,
46
as intermediárias. Segundo a ordem do universo, não todas as realidades igual e imediatamente, mas as ínfimas pelas intermédias, as inferiores pelas superiores, devem ser reduzidas à ordem. Que a espiritual
ultrapassa em dignidade e nobreza qualquer poder terreno, somos obrigados a crer e igualmente proclamar com grande clareza, da mesma
forma que o espírito supera a matéria [...]; porque, segundo testemunha
a verdade, o poder espiritual institui o secular e deve julgá-lo se não for
bom”. Cf. SOUZA & BARBOSA, op. cit., Documento 50, p. 203.
Ibid., p. 165.
402
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
não era por não ter direito ao seu uso, mas para não ter de se
ocupar de um excesso de funções. O papa, segundo Egídio
Romano, tinha a espada temporal “à sua disposição”. “E, como
é muito mais excelente e importante o domínio sobre quem
exerce o gládio do que o poder sobre o próprio gládio, fica
claro, da parte do próprio poder, que é mais perfeito e mais
excelente ter o gládio material à disposição do que para uso”
(DPE, p. 66). Do mesmo modo também, o fim último daquele
que exercia o gládio temporal – induzir os homens à virtude
dispondo os cidadãos a obedecer ao poder espiritual – subordinava-se ao fim superior do poder sacerdotal, a salvação
dos homens.
2. Dominium e coerção: o dom de Deus e o
próprio dos homens
Expostos os princípios básicos de sua doutrina a respeito da superioridade da autoridade espiritual sobre a temporal, impunha-se a Egídio a tarefa de elaborar uma teoria
capaz de sustentar a legitimidade da reivindicação de uma
plenitude de poder do pontífice em ambas as esferas de dominação. O Livro II, a parte mais inovadora da obra, tratava
da relação entre o poder eclesiástico e as coisas temporais:
nele Egídio Romano pretendia mostrar que o sumo pontífice
tinha também o dominium – segundo ele, a relação do superior para com o inferior – sobre as coisas temporais.
O primeiro ponto abordado, se era ou não lícito à instituição eclesiástica possuir bens, constituía uma resposta tanto
a questões internas da Igreja (entre elas, a discussão acerca
da pobreza evangélica, encabeçada pelos monges franciscanos) quanto às investidas dos poderes temporais sobre os
negócios religiosos, especialmente por parte do rei francês.
Para justificar a posse de temporalia pela Igreja, Egídio precisava encontrar uma solução convincente para as passagens
403
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
bíblicas contraditórias sobre a questão. Para isso, recorria a
uma adequação histórica destes diferentes momentos – tal
como fizera Tomás de Aquino para justificar a preeminência
da lei nova sobre a lei antiga.
Cristo, nosso médico, esclarecia Egídio Romano, havia
concedido e retirado aos apóstolos, segundo as necessidades
de cada momento, o direito de levarem bolsa e alforje: em
tempos de paz ordenava-lhes nada portar; na guerra, aconselhava-os a munirem-se de proventos, como se podia ler
nas Sagradas Escrituras.47 Também para que a Igreja não
fosse vilipendiada pelos leigos, convinha que pudesse ter bens,
embora a posse de coisas terrenas não devesse constituir o
fim da existência humana nem tampouco dos poderes instaurados sobre o mundo.48
Também “historicizada” era a sua argumentação a respeito da constituição do poder político temporal e da posse
do justo dominium pelo poder eclesiástico. A construção
47
48
“Em nenhum tempo, portanto, as posses temporais foram em si mesmas lícitas aos clérigos, mas, conforme as circunstâncias, às vezes foram proIbidas, às vezes concedidas. [...] Digamos, portanto, que o auxílio
divino em si mesmo é bom, mas a retirada dele, temporariamente, pode
nos ser útil. Assim, as coisas temporais são boas, mas a proibição delas, temporariamente, pode nos ser de auxílio. [...] Mas, como ambos [os
tempos] são bons, nenhum deles devia ser perpetuamente proIbido ou
permitido. Por isso, deve haver um terceiro tempo, no qual agora estamos,
em que tanto as coisas temporais são concedidas aos homens da Igreja
como a mão do Senhor está colocada por baixo. Neste tempo, a Igreja
está dotada de ambos, porquanto goza de subsídio das coisas temporais e do auxílio divino, para que se possa conduzir e conservar no seu
estado. Com efeito, antes a Igreja teve início, depois incremento, agora
porém tem a perfeição e estado” (DPE, p. 82-3).
“Portanto, são coisas a que todos estamos obrigados: não apegar o coração às riquezas (isto é, não buscá-las como coisa principal, e como
coisa que seria um fim em si) e renunciar a tudo que possuímos, não
pondo nas riquezas nossa intenção final. Contudo, ter tais posses para
o domínio e para o sustento da vida é lícito tanto aos clérigos como aos
leigos” (DPE, p. 74).
404
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
egidiana sustentava-se em alicerces originais. Egídio Romano desenvolvera, em vários pontos de sua reflexão, uma interpretação própria, que desfrutava de razoável grau de
independência em relação às suas fontes inspiradoras. Isso
valia também para a sua noção de dominium, utilizada tanto
para designar a propriedade – na relação de superioridade
entre os homens e as coisas – quanto o senhorio, isto é, a
dominação de um homem sobre outro.49
Segundo Agostinho, no estado de inocência não havia
existido autoridade política coercitiva de um ser humano sobre outro: tal como Boaventura, Agostinho associava coerção à instituição da autoridade política e localizava sua
aparição na queda da humanidade em pecado. Já para Tomás de Aquino, o poder coercitivo também constituía uma
característica intrínseca da autoridade política, como para
Agostinho. Mas, dado que essa autoridade política era natural à condição humana, como havia ensinado Aristóteles, o
poder coercitivo de um homem sobre outro – ou o dominium
– tinha, portanto, de ter existido já no estado de inocência.
Egídio Romano, tal como Agostinho, defendia não ter
existido, antes do pecado original, autoridade política coercitiva (dominatio). Mas concordava com a afirmação tomasiana
de que teria havido senhorio (dominium) no estado de inocência. Para fundamentar essa sua posição, Egídio Romano argumentava, concordando com Tomás de Aquino, que a noção
de dominium não incluía necessariamente a idéia de servitus.
Isto é, não havia, segundo Egídio Romano, uma ligação intrínseca entre autoridade política e poder coercitivo, como
haviam sustentado Agostinho e Boaventura. Para o Doutor
Fundatíssimo, havia dominium – isto é, senhorio ou relação
49
Ullmann já chamava atenção para uma mudança semântica do termo
dominium. Com esse termo, observava o historiador, Egídio Romano
“quer dizer não tanto propriedade, mas governança ou senhorio
(lordship)”. Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 220.
405
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
de comando – onde quer que houvesse uma relação entre um
inferior e um superior. Mas, como Agostinho, identificava o
exercício do poder coercitivo, a dominatio, ao deleite de Adão
ao comer do fruto da árvore proibida do bem e do mal. Ou
seja, ligava a instauração da coerção ao pecado original.
McAleer, recorrendo aos comentários de Egídio às sentenças,50 ajuda-nos a elucidar os termos dessa diferenciação
levada a cabo por Egídio Romano.51 Na distinção 21, o Doutor Fundatíssimo explicava que, no estado de justiça original, Deus – que era dominus – governava seus filhos por meio
da caridade e da graça. Nesse paraíso originário havia dominium do Senhor, mas não existia a coerção (dominatio), pois
Deus e suas criaturas encontravam-se em perfeita harmonia. Adão, por sua vez, fora instituído como governante e
exercia seu poder na caridade e no amor. Neste estado de
inocência, explicava o Doutor Fundatíssimo, havia relação
de superioridade de um homem sobre outro (dominium). Mas
esse senhorio de Adão, por ser exercido no amor (in dilectione),
não teria sido coercitivo (dominatio).
Segundo Egídio, assim, o estado de inocência existira
todo sob uma certa sujeição, que consistia num domínio exercido no amor.52 O próprio Adão teria sempre governado como
50
51
52
Trata-se das distinções elaboradas por Egídio Romano, reunidas na
obra In secundum librum sententiarum, surgida por volta de 1309. Uma
reunião desses textos pode ser encontrada na edição de WIELOCKX, R.
(Ed.). Aegidii romani opera omnia. Firenze: L. S. Oschki, 1985.
Não há no Brasil traduções disponíveis dessas distinções, e o texto latino é de difícil acesso. Por isso, foi utilizada aqui uma fonte indireta, o
trabalho de MCALLER, Graham. Giles of Rome on political authority. Journal
of the History of Ideas, v. 60, n. 1, p. 21-36, jan. 1999.
“Ideo ait Gregorius loquens de isto statu quod omne mandatum de sola
dilectione est, quia quicquid praecipitur in sola charitate solidatur. Igitur
quia illa status totus erat in quandam subiectione et in quandam iustitia
ideo tunc dilectio ex tali subiectione et ex tali iustitia oriebatur”. In: MCALLER,
op. cit., p. 30, n. 52.
406
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
um servo obediente aos preceitos de Deus. Por ter sido instituído na justiça original, Adão tinha uma vontade perfeitamente repleta de caridade.53 A generosidade de seu governo
levara os súditos a obedecer voluntariamente àquela autoridade e lhes permitira alcançar o bem comum. E governar
para o bem comum conduzia à satisfação do desejo da “grandeza da paz” (magnitudo pacis), que por si só podia conceder
legitimidade a um governo.54
Como não existia senhorio sem poder, esse dominium
instituído no estado de inocência incluía o governo político
(principatus politicus), o real (principatus regius) e o despótico (principatus despoticus): o primeiro desses reinados dizia
respeito àquele de Adão sobre Eva; o segundo se relacionava
ao mando de Adão sobre seus filhos; e o último à forma pela
qual Adão dispunha e governava sobre seu próprio corpo,
que antes da queda no pecado o servia em completa obediência. Tal dominium devia ser exercido por meio da graça
(dominari per gratiam), como queria o Senhor. Adão teria pecado, segundo Egídio, ao desejar um governo “per naturam”,
isto é, ao pretender reinar por meio de um poder coercitivo,
exercido egoísta e despoticamente, ao invés de continuar dominando pela graça.
Esse poder era necessariamente coercitivo, explicava
Egídio, porque o desejo humano bom e puro só podia ter
uma única fonte de preenchimento, Deus. Egídio Romano
relacionava o pecado de querer governar per naturam ao desejo de comer da árvore proibida do bem e do mal (distinção
22). Adão não havia desejado conhecimento especulativo ou
iluminação, mas sim o conhecimento moral necessário ao
53
54
“Ad quod dici potest quod totus ille status erat in subiectione quod inferiora
essent subiecta superioribus. [...] Et quia hoc est iustitia quod inferiora
sint subiecta superioribus, ideo totus ille status erat in quandam tali iustitia
sed iste status totus est in dilectione”. In: MCALLER, op. cit., p. 26, n. 25.
Cf. MCALLER, op. cit., p. 26.
407
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
exercício do poder coercitivo. Desejar o conhecimento moral
do bem e do mal significava querer reinar e dominar com
algum poder anexo55 (potentia annexa). Ao abandonar o
modo de governo de Deus (per gratiam), negando aos seus
súditos a verdadeira felicidade, Adão agia egoisticamente e
precisava recorrer à força para reger os súditos. Com isso,
passava a reinar violentamente e tornava-se um governante
despótico.
Ou seja, a natureza do poder de Adão teria mudado
quando ele decidira governar independentemente da graça
de Deus. No estado de justiça original, Adão havia desfrutado de autoridade política, razão pela qual governara aqueles
que lhe eram sujeitos, mas não dispusera de poder coercitivo. A proibição era, no fundo, comenta McAleer, o presente
de Deus a Adão: ele não precisava reinar por meio do poder
coercitivo, já que um tal modo de governar corrompia os corações daqueles que estavam no poder. O problema maior da
queda em pecado, dizia Egídio, não tinha sido o rompimento
da proibição, como haviam defendido Agostinho e Boaventura,
e sim o desejar comer da fruta que era em si má. A árvore
proibida a Adão era justamente o governar pela coerção. E
Adão desejara esse modo de reinar porque se deleitara na
experiência de coagir outros no momento em que comia a
fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse desejo de coagir não derivava, contudo, da natureza do homem,
tal como ocorria com o diabo, mas havia se instaurado com o
comer da árvore proibida (propter esum ligni vetiti).56
55
56
“Verum quia nullus est principatus sine aliqua potentia. Si primus homo
appetiit scientiam boni et mali ut ex hox haberet quandam gubernationem
rerum et quandam principatum quia hoc esse non poterat sine quandam
potentia coercendi sibi subiecta. Directe non videtur appetivisse
illuminationem vel scientiam speculativam sed magis scientiam boni et
mali quae est scientiam gubernandi et principandi cum aliqua potentia
annexa”. In: MCALLER, op. cit., p. 27, n. 36.
Cf. MCALLER, op. cit., p. 27-8.
408
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
O poder com o qual Adão passou a reinar depois da
queda dependia de uma usurpação: seu governo injusto roubava de seus súditos a capacidade e a liberdade para desejar, obedecer e amar a Deus.57 O governo adamita per naturam
substituiu o seu reinar per gratiam e impediu, com isso, o
acesso às leis de Deus, forçando outros a desejar de modo
inadequado à sua natureza profunda. E era justamente o
desejo de governar de maneira coercitiva que, segundo Egídio,
marcava a existência política herdada pela posteridade de
Adão.58 Esse reinar por meio da natureza era sempre egoísta: fomentava o bem privado às expensas do bem público,59
marca da tirania e do despotismo e raiz de todo pecado. Por
essa razão, nossa história política era também marcada, ao
menos até certo ponto, por um caráter despótico ou tirânico.
Dominium nos dias atuais, explicava Egídio, podia até
ter como objetivo a regra da caridade, mas não obtinha mais
o mesmo grau de pureza que havia desfrutado quando fora
exercido no estado de justiça original. Mesmo existindo reis
caridosos, dizia ele, um tal reinado era sempre combinado
com o governo secular introduzido pelo pecado de nossos
pais primordiais, que nos obrigava a viver numa servidão
corporal a essa regra temporal. O batismo podia até limpar
nossas almas, sustentava Egídio, mas não podia nos libertar
do domínio coercitivo da autoridade secular. O único gover57
58
59
A coerção na qual Adão sentira deleite constituía um pecado de primeira magnitude, pois havia gozo em negar a outros a capacidade e a liberdade para reagir obedecendo à lei de Deus. A marca do amor de Deus
consistia na aptidão de obedecer ao Senhor.
“Adam ergo peccante et appetente propriam excellentiam et proprium
dominium, quod non debebat, perdidit dominium quod habebat”. In:
MCALLER, op. cit., p. 29, n. 46.
“Nam isti sunt duo amores secundum Augustinum Super Genesim:
Privatus et publicus qui faciunt duas civitates Diaboli et Dei et bene
secundum eundem ibidem dicitur amor privatus quia privatus est omni
bono”. In: Ibid., p. 29, n. 43.
409
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
no compatível com a liberdade era aquele da caridade, no
qual todo desejo consistia na devoção a Deus, que governava
por meio do amor.60 A ressurreição, explicava Egídio, constituía o momento no qual toda dominação seria expurgada e
deixaria de ser egoísta, passando a ser assumida completamente por Deus.
Na distinção 44 tornava explícita a sua formulação de
que o exercício do poder não significava necessariamente dominação e coerção. O termo dominari, oriundo de dominus,
em sentido amplo, argumentava Egídio, estava presente onde
quer que houvesse um comando. Mas nem toda superioridade era dominação, sustentava ele. Já em sentido restrito,
entretanto, referia-se a servo: dominari constituía nessa
acepção o principado dos servos (principatus servorum) – aqueles que eram sujeitos corporalmente. A obediência do inferior
ao superior, portanto, supunha o governo do superior, mas
não tinha necessariamente de ser dominatio. Um prelado,
por exemplo, não dominava pela coação, e sim por meio da
virtude ou caridade, por servir à felicidade.61
Essa distinção permitia a Egídio manter a sacralidade
da ordenação política fundada divinamente, como aquela de
Adão no paraíso e, ao mesmo tempo, afirmar a naturalidade
60
61
O poder tinha de ser expurgado justamente porque era uma regra secular coercitiva que endurecia os corações e tornava incapaz de caridade. O
primeiro dos pecados de Adão e Eva repousava naquela ilação que sentiram ao comer do fruto proibido, e não na ingratidão ou na desobediência
propriamente dita. O mesmo orgulho experimentado por nossos pais originários podia ser encontrado nos reis e príncipes. E aquela experiência
comum de poder coercitivo era o que corrompia e conduzia à cegueira do
coração, o qual deixava de exercer o poder no amor da caridade. Cf.
MCALLER, op. cit., p. 31.
“Propter primum sciendum quod obedientia est inferioris ad superiorem vel
servi ad dominum. Magis tamen large accipitur, ut est inferioris ad
superiorem, quia non omnis superioritas, proprie loquendo, dicitur dominatio.
Nam praelatus non debet existimare se potestate dominantem, sed virtute
vel charitate, et serviente felicem”. In: MCALLER, op. cit., p. 33, n. 63.
410
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
do mundo civil, sintetizando tradições tão diversas quanto o
agostinianismo, o aristotelismo e o tomismo. Ao desvincular
dominium de dominatio, Egídio fornecia um modelo bastante
útil de interpretação da autoridade política, o qual lhe permitia atribuir ao pontífice, sem descontinuidade, a plenitude de
poder tanto em assuntos espirituais quanto temporais, tal
como já havia demonstrado anos antes, quando escrevera o
De ecclesiastica potestate.
O papa podia, nessa lógica, dispor de dominium (ou
senhorio) sobre tudo e todos, tal como tivera Deus sobre os
homens no paraíso e Adão sobre seus súditos no estado de
justiça original. Mas não precisava e, no fundo, nem devia
exercer a dominatio, isto é, o “juízo de sangue”, que era a
marca do pecado e do afastamento de Deus. Por essa razão
também podia afirmar, sem prejuízo de seu argumento a favor da primazia da autoridade do sumo sacerdote, que somente aos poderes temporalmente instituídos cabia o exercício
da coerção, ou, em termos modernos, o “monopólio legítimo
da violência”.
Ou seja, o papa podia julgar e decidir em assuntos temporais, em virtude de seu dominium, já que ele, cujo poder
era mais sublime, constituía aquela autoridade que instaurava a ordem legal e detinha, por isso, jurisdição universal.
Mas ao pontífice jamais cabia a execução direta do poder, a
dominatio, fruto da queda em pecado. Isso explica também a
sua insistência em afirmar que aos religiosos não convinha
“banhar as mãos em sangue”. Bastava agora retirar à idéia
de dominium a intermediação eclesiástica para que emergisse o príncipe moderno.
O argumento era forte, mas chegava em tempos de acelerada laicização:62 uma tal secularização do poder coercitivo
62
Sobre esse tema, cf. o clássico de LAGARDE, Georges de. La naissance de
l’esprit laïque au declin du Moyen Age. Paris-Louvain: BéatriceNauwelaerts, 1956-63. v. I-V.
411
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
acabaria servindo, certamente contra a vontade de Egídio,
mais aos interesses daqueles que pretendiam submeter o
poder do pontífice às armas do rei – como demonstraria a
prisão de Bonifácio VIII um ano mais tarde pelos agentes do
monarca francês – do que àqueles dispostos a se colocar sob
os ditames da espada eclesiástica. Um elemento fundamental desse seu raciocínio seria, no entanto, amplamente desenvolvido: a noção de que havia um dominium natural,
anterior à instauração de qualquer poder terreno, e ao qual
todas as criaturas, como filhos de Deus, tinham acesso: João
Quidort, por exemplo, derivaria daí a anterioridade da propriedade privada. O avanço conceitual, entretanto, era inegável, e inúmeros autores fariam bom uso do aparato
disponível.
O recurso às distinções egidianas serve também para
uma melhor compreensão dessa “nova teoria da origem do
poder”, aperfeiçoada por Egídio Romano na segunda parte
do De ecclesiastica potestate, cuja proposição básica era a de
que somente por meio da Ecclesia se podia, no mundo terreno, obter um dominium justo sobre as posses e as pessoas.
Para sustentar essa posição, o Doutor Fundatíssimo recorria, mais uma vez, a uma “história da sociabilidade humana”.
No início do mundo, escrevia, não houvera possuidores
de iure a ponto de se poder dizer “isto é meu”: na natureza,
tudo era possuído em comum, a humanidade vivia em paz e
reinava a justiça natural. A convivência dos primeiros grupos humanos gerou uma ocupação inicial das terras e apropriação de seus frutos que, contudo, só ocorria por convenção
e pacto. Com o tempo, os homens multiplicaram-se, gerando
assim a necessidade de ampliar também os pactos e convenções, para que a posse pudesse se dar não apenas por repartição, mas também por compra, doação, troca ou qualquer
outro modo que contasse com o consentimento dos ânimos
(consensus animorum).
412
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
O fundamento de todo esse edifício sobre o qual se podia fundar o “meu e o teu” era, segundo Egídio Romano, a
comunicação recíproca entre os homens, da qual nasciam as
partilhas, as doações, as trocas e as compras. Esses acordos, de caráter particular, contudo, em razão da tendência
do homem ao egoísmo, tornaram-se insuficientes. Foi preciso instituir então o poder temporal, o qual fazia com que
essas convenções e pactos passassem a ser regulados por
um instrumento superior que tinha na lei positiva o seu vigor:63 ao egoísmo humano Egídio opunha o poder coercitivo,
capaz de obrigar os homens ao cumprimento dos pactos.64
Ou seja, para regular adequadamente essas relações,
foram instituídos os reinos e seus reis, a quem cabia decidir
sobre assuntos temporais. Mas, como esses reinos não se
constituíram por meio da justiça, e sim pela rapina e violência, os mais fortes terminaram por submeter os mais fracos e
os escravizaram. Como vivessem sem justiça, tais reinos se
transformaram em latrocínios e seus governantes, em usurpadores. Tais poderes seculares eram ilegítimos e só podiam
recuperar sua justiça por meio de um poder superior, o eclesiástico, capaz de conferir-lhes, por meio da graça, legitimidade.
O pecado, continuava Egídio seguindo Agostinho, nos
havia tornado indignos de todo domínio e posse, tanto aquele original cometido por Adão e Eva, quanto o atual, quando
pecávamos por nós mesmos,65 já que em ambos os casos os
63
64
65
“Depois que os homens começaram a dominar sobre a terra e se tornaram reis”, escrevia, “sobrevieram leis que tanto continham essas coisas
como acrescentavam outras. Mandam as leis que se observem os pactos, as convenções e os contratos lícitos; por estes pactos, convenções e
contratos alguém pode dizer: isto é meu, isto é teu” (DPE, p. 138).
Esse raciocínio se repetiria anos mais tarde nos seus comentários às
sentenças, tal como se viu acima.
“Assim também se diz que somos privados com justiça da herança eterna ou pelo pecado de Adão, que se chama pecado original, porque é um
413
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
homens não estavam sujeitos a Deus, vivendo pois sem justiça.66 E ia buscar no antigo direito imperial romano seu
modelo de monarca: o crime de lesa-majestade, explicava o
Fundatíssimo, tornava digno de morte e indigno da vida e de
toda posse aquele que o cometera. “Ora, por antonomásia, a
majestade se reserva a Deus e quem não se sujeita a ele é
indigno de si mesmo e de toda a posse” (DPE, p. 113).67
Se os homens não fossem pecadores, o poder secular
seria desnecessário. Mas, como o pecado residia na origem
da vida temporal, era preciso que os governantes terrenos
dispusessem e preparassem a matéria para o príncipe eclesiástico, de modo que os súditos pudessem atingir o fim últi-
66
67
pecado que contraímos desde a nossa origem, ou pelo pecado próprio,
que se chama atual, que é um pecado que cometemos por nossa própria culpa” (DPE, p.111-2).
“Com efeito, Deus dera a Adão certo dom sobrenatural, que se chamava
justiça original, pela qual Adão estava sujeito a Deus, e todos os seus
inferiores estavam sujeitos a ele. Este dom não foi dado a Adão como
pessoa singular, mas como cabeça de toda sua posteridade. Chamavase justiça original porque, se Adão não pecasse, passaria por origem
para todos os seus pósteros [...]. Mas tendo Adão pecado e se afastado
de Deus, com justiça perdeu tal dom e assim não pôde transmitir aos
pósteros, porque já não o tinha. [...] Portanto, os filhos de Adão e todos
nós, com o pecado de Adão, nascemos sem tal justiça e afastados de
Deus. Por isso diz o Apóstolo (Efésios 2: 3) que por natureza nascemos
filhos da ira e indignos da herança eterna, pois embora não tenhamos
nascido dignos de uma pena dos sentidos, porque pelo pecado não nos
é devida uma pena sensível, contudo nascemos dignos da pena de dano,
porque nascemos dignos de ser privados da vida eterna. Portanto, por
natureza, pelo pecado original, nascemos filhos da ira, e não sujeitos a
Deus, mas antes afastados dele, e, conseqüentemente, indignos da herança eterna” (DPE, p. 112).
E adiante: “E se é retirada a posse do possuidor indigno, e o domínio do
dominador indigno, nada pode ser considerado mais digno e nada mais
justo. Por isso, se pelo pecado original alguém nasce já separado de
Deus e pelo pecado mortal atual alguém se torna separado de Deus,
segue-se que tanto o pecado original como o atual o tornam um possuidor indigno das coisas” (DPE, p. 113).
414
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
mo de todas as coisas, a vida na caridade de Deus. Nos termos de Egídio Romano:
Fica claro que o poder terreno e a arte de governar o povo
dentro dos limites do poder terreno é a arte que põe a
matéria à disposição do poder eclesiástico. [...] Do mesmo
modo a arte de dominar, dentro dos parâmetros do poder
terreno, e o próprio poder terreno, devem de tal maneira
estar sujeitos ao poder eclesiástico que coloquem a si mesmos e todos os seus órgãos e instrumentos a serviço e ao
capricho do poder espiritual. (DPE, p. 104-5)
Entre tais instrumentos a serem submetidos, estavam
as leis e as armas.68 Porque a justiça não era algo do corpo, e
sim da alma – “Quem me julga é o Senhor” (1 Cor. 4: 4), dizia
o Apóstolo. Como constituísse uma qualidade do apetite intelectivo, ela competia ao espírito.69 “Se se considerar bem o
que se diz”, alertava Egídio Romano,
o poder terreno, e tal é o poder real ou o imperial, não
poderá julgar o que é justo e o que não é, a não ser enquanto age em virtude do poder espiritual, pois se a justiça é coisa espiritual e é uma qualidade da alma e não do
corpo, caberá ao poder espiritual julgar a respeito da justiça. (DPE, p. 126)
Como havia mostrado Agostinho, a justiça era aquela
virtude que distribuía a cada um o que era seu. Só poderia
68
69
“Os órgãos e os instrumentos do poder terreno são: o poder civil, as
armas de guerra, os bens temporais que tem, as leis e as constituições
que cria; por isso deve ordenar a si mesmo e todas essas coisas como
seus órgãos e instrumentos a serviço e sob a vontade do poder eclesiástico” (DPE, p. 105).
“Com efeito, a justiça não é coisa do corpo, mas da alma, e não é uma
perfeição de coisas corporais, mas é uma qualidade do apetite intelectivo, que não pode ser chamado nem de algo corporal, nem de algo orgânico” (DPE, p. 126).
415
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
haver verdadeira justiça se a cada um fosse dado o que lhe
cabia. Donde concluía não haver dominium algum,
nem útil (como por exemplo o domínio frutífero), nem
potestativo (como é, por exemplo, o domínio que tem jurisdição), que se possua com justiça, se o possuidor não
estiver sujeito a Deus e que ninguém pode estar sujeito a
Deus, se não o for pelos sacramentos da Igreja. Segue-se
que, como dizíamos, és mais Senhor de tua posse e de
tudo que tens, por seres filho espiritual da Igreja, do que
por seres filho carnal de teu pai. A tua herança e todo teu
domínio e toda tua posse deves reconhecer como vindos
antes da Igreja e através dela e por seres seu filho, do que
vindos de teu pai carnal e através dele, e por seres seu
filho. Também segue-se que, se o pai, enquanto viver, é
mais dono da herança do que tu, a Igreja, que não morre,
é mais dona das tuas coisas do que tu. (DPE, p. 110)
Por isso, somente a Ecclesia, por ter de Deus o poder de
“ligar e desligar”, podia tornar o homem renatus, justo possuidor:
Conclui-se que, pelo sacramento do batismo, que é o remédio direto contra o pecado original e, pelo sacramento
da penitência, que é o remédio contra o pecado atual, te
tornas digno dominador, senhor e possuidor das coisas.
Mas estes sacramentos só se distribuem na Igreja e pela
Igreja. [...] Ninguém, pois, torna-se dominador ou digno
senhor, ou possuidor das coisas, senão sob a Igreja e por
ela. (DPE, p. 113-4)
Daí se podia deduzir que todo dominium justo só podia
derivar do sacerdotium. Sem a regeneração por meio da Igreja não era possível suceder com justiça na herança paterna
nem obter o justo domínio sobre as temporalia.70
70
“Ora, [...] o suceder na herança paterna, por ser alguém gerado por um
pai, é justiça iniciada, mas o suceder em tal herança, por ser alguém
renascido pela Igreja, é justiça perfeita e consumada. E a tal ponto esta
416
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Mas como o príncipe eclesiástico transmitia o justo
dominium aos fiéis? Depois da paixão de Cristo, explicava
Egídio Romano, caducaram os preceitos legais da lei antiga e
passaram a valer aqueles instituídos pelo Cristo redimido
(Novo Testamento). A Ecclesia dele havia recebido a universalidade e a tarefa de administrar os sacramentos: aqueles que
não tomassem o batismo não alcançariam a salvação.71 A
reconciliação com o Senhor, portanto, podia se dar apenas
por meio da Igreja, católica, senhora plena e universal, a única
a conferir o batismo, porta de todos os outros sacramentos.
A dominação universal da Igreja estava descrita na Escritura: Dominarás do mar até o mar, do rio até o fim do universo
(Sl. 71: 8). “A terra inteira”, explicava Egídio, “está envolta
pelos mares; portanto, dominar de mar a mar é dominar sobre a terra inteira” (DPE, p. 133). Assim, a Igreja tirava do rio,
isto é, do batismo, o poder de dominar até as fronteiras do
orbe.
Mas por que do rio?
Com efeito Cristo, batizado no Jordão”, esclarecia o Doutor Fundatíssimo, pelo contato de sua puríssima carne
conferiu às águas uma força regenerativa, de tal modo
que, a partir de então, as águas tivessem a virtude de,
71
justiça que chamamos de perfeita e consumada é mais fecunda e mais
universal que a outra, que, se esta faltar, aquela é tirada. Se alguém
fosse gerado carnalmente por um pai e não renascesse também espiritualmente pela Igreja, não poderia possuir com justiça o domínio da
herança paterna” (DPE, p. 106).
“Ela [a Igreja] recebeu esta universalidade e este sacramento a partir da
paixão de Cristo e depois dela. Antes da paixão, corriam as coisas legais
e os evangelhos, a ponto de se salvarem os circuncisos e também os
batizados, mas, depois da paixão de Cristo, as coisas legais morreram
de tal maneira que, a partir de então, ninguém se salva se não for batizado. Por isso se diz que a Igreja foi formada do lado de Cristo, porque
os sacramentos têm eficácia a partir da paixão [...]. Quando Cristo padeceu, a Igreja passou a ser universal, de modo que ninguém se salvaria, senão através dos sacramentos dela” (DPE, p. 108).
417
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
atingindo o corpo, lavarem também a alma. Ora, as águas
não podem ter esta força e esta virtude a não ser através
do batismo feito na forma da Igreja. Cristo, pelo fato de
conferir tal virtude às águas, é chamado Senhor de toda
terra. A Igreja confere o batismo e nela se realiza o batismo, porque só através do batismo é que estas águas poderiam exercer a virtude de lavar almas humanas e de
regenerar homens. Segue-se, pois, que a Igreja, a quem
cabe administrar o batismo, e em cuja forma ele é administrado, que ela também tenha do rio, isto é, do batismo, o poder de dominar até os confins da terra; e porque
ela exatamente por isso é católica e senhora universal,
segue-se também que o universo e todos os que habitam
nele sejam seus. A Igreja obteve de Cristo tal forma de
batizar, porque tem de Cristo o poder de dominar deste
modo. (DPE, p. 134-5)
A Igreja era portanto aquele organismo capaz de fazer
com que alguém ficasse privado da comunhão dos homens,
isto é, do fundamento do qual todas as interações humanas
derivavam. Essa excomunhão privava também dos bens: “O
excomungado, por estar privado da comunhão dos fiéis, está
privado de todos os bens que possui, enquanto fiel. E ficaria
ainda muito mais privado, se se tornasse infiel e estivesse
entre eles, já que os infiéis são indignos de toda posse e domínio” (DPE, p. 140). Dado que todo direito, incluindo o de
propriedade, se baseava na comunhão dos homens, fundamento dos pactos e das leis, aquele que fosse excluído dessa
comunhão, e toda sua descendência, ficava necessariamente privado de suas posses, bens e domínios.72 Pois a Igreja
também era senhora e mestra de todos o bens temporais.
72
“Já que tudo o que a Igreja ligar sobre a terra será ligado também nos
céus, no sentido em que os assim ligados estão privados da comunhão
com os outros, e já que sobre tal comunhão se baseiam todos os direitos
de propriedade, concluamos dizendo que, pelo poder geral, de ligar, os
excomungados, por estarem privados deste fundamento, não devendo
comunicar-se com os outros, estão privados de seus bens, posses e
domínios, a ponto de não poderem dizer que algo é seu” (DPE, p. 141).
418
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Todas as coisas temporais se colocavam, portanto, sob
o domínio e poder da Igreja. “Nem por isso”, avisava Egídio,
“pretendemos subtrair ao poder terreno e aos príncipes seculares seus direitos, mas antes conservá-los” (DPE, p. 834). E justificava:
É preciso que as coisas temporais se disponham às espirituais; [...] porque, uma vez que estas são transitórias e
efêmeras, em nenhuma delas deve ser buscada a felicidade; e uma vez que são bens extrínsecos e que não podem saciar a alma, a nossa felicidade não poderia estar
na posse de tais bens. (DPE, p. 84)
A felicidade, esclarecia ele baseando-se em Averróis,
devia ser buscada nos bens espirituais que podiam habitar a
alma e saciá-la. “Logo”, concluía, “se o nosso fim ou a nossa
felicidade não deve ser buscado nas coisas temporais, mas
nas espirituais, é preciso admitir que as coisas temporais
não são boas, a não ser enquanto se ordenam às espirituais”
(idem).
As posses temporais, portanto, deviam ser consideradas “instrumentos de apoio” úteis à consecução dos bens
espirituais. Quando não estavam a serviço desse fim, argumentava ele, as coisas temporais deixavam de ser boas. E,
embora continuassem a ser boas em si (dado que tudo o que
existia era bom pelo simples fato de existir), não o eram em
relação aos homens, já que estes deviam estar corretamente
ordenados ao bem supremo espiritual. Daí seguia-se que
o príncipe ou qualquer homem que tenha coisas temporais, se não as ordenar às espirituais, essas coisas temporais não lhe serão boas, porque não lhe são para a
salvação, mas para a condenação da alma. Por isso, as
coisas temporais, de per si, se ordenam às espirituais e
devem submissão a estas, servindo-as. E o sumo pontífice que, no Corpo Místico, domina totalmente as coisas
espirituais, é manifesto que domina também todas as
coisas materiais, uma vez que estas se sujeitam às espirituais. (DPE, p. 85)
419
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Também o poder pertencia ao gênero das coisas boas,
dizia Egídio, já que tudo o que vinha de Deus era em si bom.
O uso que se fazia dele, contudo, podia não ser bom. Por essa
razão, Egídio Romano podia falar num poder ordenado (aquele
dos bons) e noutro permitido (o dos governantes maus ou
infiéis): essa separação era o que distinguia os que mandavam de iure, isto é, por ordem do Senhor daqueles que dominavam apenas de facto, por meio da coerção e da violência,
porque não usavam bem o poder que Deus lhes concedera, o
qual, embora justo na raiz, se tornava injusto pelo mau uso.
O poder temporal, sustentava Egídio Romano, não vinha diretamente de Deus para o governante terreno, como
queriam muitos, mas sim de Deus, causa primeira, para o
sumo sacerdote, que, na qualidade de causa intermédia, por
sua vez, instituía o poder secular justo.73 E, se os príncipes
terrenos estavam sob o dominium do poder eclesiástico, dizia, seguia-se que também as temporalia sobre os reinos seculares estavam sob o senhorio da Ecclesia. E declamava no
melhor estilo tomista:
Nunca de duas coisas em ato se faz uma coisa, nem de
duas em potência, mas uma coisa sempre se faz de uma
potência e de um ato, como se demonstra amplamente
73
“Erram os que dizem que o sacerdócio e o império, ou o sacerdócio e o
poder real [potestas regia] vieram tanto um como o outro diretamente
de Deus, pois, por ordem de Deus, o primeiro rei no seio do povo fiel foi
constituído através do sacerdócio. De fato, inicialmente o povo judeu,
que era então o povo fiel e ao qual sucedeu o povo cristão, era regido
através de juízes, que eram instruídos pelos sacerdotes. [...] A estes
juízes, quanto às causas temporais entre as pessoas leigas, sucedem o
imperador, os reis e os príncipes terrenos. Era porém o poder sacerdotal e eclesiástico que constituía estes juízes, porque Moisés, retendo
para si o poder sobre as coisas que se referem a Deus, com o que se
quer significar o poder eclesiástico, constituiu tais juízes, que exerciam
o ofício do poder terreno (Ex. 18: 25s) e Samuel (1 Sm 8: 1) constituiu
seus filhos como juízes sobre Israel” (DPE, p. 91).
420
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
na física natural. Se, pois, da alma e do corpo se faz uma
coisa, se constitui o homem, é preciso que uma coisa
esteja sob a outra, que uma coisa se aperfeiçoe graças a
outra, que uma se sujeite à outra. Assim, o corpo está
sob alma, se aperfeiçoa graças a ela e está ordenado para
servir à alma. (DPE, p. 93)
Egídio conferia assim novo sentido à máxima tomista
de que “a natureza era apefeiçoada pela graça”: a relação
entre as duas deixava de ser de complementaridade e passava a ser de subordinação.
E concluía, distanciando-se do mestre:
Consta que o sumo pontífice não tem poder sobre as almas separadas dos corpos. A Igreja pode, é verdade, rezar em favor das almas que estão no purgatório, com as
quais está em comunhão pela caridade, mas tem poder
direto e jurisdição direta só sobre as almas unidas, que
presidem os corpos, ao mando das quais os corpos se
movem. [...] Segue-se que, assim como a autoridade espiritual se exerce sobre as almas, enquanto presidem os
corpos, assim esse poder [espiritual] se exerce de tal maneira sobre as almas que todo o corporal e terreno está
sujeito a elas, e o poder espiritual possui de tal maneira
seu gládio que o gládio material está sujeito a ele, embora
não para o uso, mas à sua disposição. Disso ficam bem
claro que todas as coisas temporais [temporalia] estão
colocadas sob o domínio [sub dominio] da Igreja. (DPE,
p. 94)
A Ecclesia, que tinha dominium sobre todas as coisas,
embora confiasse a terceiros os assuntos temporais, podia,
quando a causa fosse justa, retomar o rigor:
Assim também a Igreja, quanto ao domínio [dominium],
possui tudo, mas deve ser tão grande a sua preocupação
com as coisas espirituais, a ponto de confiar aos outros a
preocupação das coisas temporais, para que ela, quanto
à preocupação, não tenha bolsa nem alforje, e no que
tange a tal preocupação, seja como se nada possuísse.
421
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
[...] Conclui-se, pois, que o rigor do plano de conduta eclesiástica é libertar-se do cuidado e preocupação das coisas temporais, para que possa exercer melhor o cuidado
espiritual. Contudo, surgindo causa justa, segundo a lição de Beda, pode pôr-se de lado este rigor, para que a
Igreja se preocupe também das coisas temporais. (DPE,
p. 95-6)
Tal poder de dominar sobre todas as coisas existentes,
entretanto, não derivava da pessoa do sumo sacerdote, esclarecia Egídio Romano, mas do cargo (ex officio), pois o pontífice de agora era o mesmo, embora não fosse o mesmo homem.74
Nessa separação residia um importante avanço operado pelo
pensamento hierocrático: a diferenciação entre o cargo e seu
ocupante.75 A força vinculante das decisões papais não provinha da pessoa do pontífice, mas constituía um atributo da
função, cuja autoridade derivava de Deus: por ser o vigário de
Cristo na terra, toda consideração de natureza pessoal era
excluída e toda jurisdição lhe era devida.
Justamente porque o papado constituía uma instituição política, lembra Ullmann, “ era evidente que recorresse à
lei e à jurisdição. Não podia existir governo algum dentro da
ordem se a validade objetiva de seus decretos e medidas de
74
75
“E assim como Pedro obteve diretamente de Cristo o governo da Igreja,
assim também o sumo pontífice de agora tem reconhecidamente tal
poder que recebeu diretamente de Deus ou de Cristo, que era verdadeiro Deus. [...] Segue-se disto que de corpo e de alma, com tudo que têm,
os fiéis estão sujeitos ao império do sumo pontífice” (DPE, p. 87).
“Se o sumo pontífice julga tudo e este julgamento não é apenas devido a
uma qualidade pessoal mas devido a seu ofício e por exigência de seu
estado”, escrevia Egídio adiante, “segue-se que julga tudo porque tem
autoridade e jurisdição em tudo. Mas quem diz tudo, não excetua nada.
Então o universo e os que habitam nele, como dizíamos, é todo seu.
Tem, pois, jurisdição e poder sobre todos os possuidores e posses, já
que os possuidores e as posses estão computados dentro da palavra
tudo, e não julgaria todos, a menos que tivesse jurisdição sobre todos”
(DPE, p. 137).
422
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
governo tivessem de depender do caráter subjetivo e pessoal
do agente que criave as leis, ou seja, neste caso, de que o
papa legislador fosse moralmente uma pessoa boa ou má”.76
Dentro em breve essa distinção eclesiástica seria utilizada para fundamentar os “dois corpos do rei”.
Além disso, segundo a ordem do universo, acrescentava Egídio, tudo estava ordenado do imperfeito ao perfeito;
assim também as coisas imperfeitas às mais perfeitas.
E porque ninguém duvida que as coisas divinas são mais
perfeitas que as humanas, e as celestes que as terrenas,
e as espirituais que as corporais, nada mais conveniente
do que o poder real, que é poder humano e terreno e que
atua sobre coisas corporais, sujeitar-se e estar ordenado
ao serviço do poder sacerdotal e, principalmente, do poder do sumo pontífice, que é o poder até certo ponto divino e celeste e que atua sobre coisas espirituais. (DPE,
p. 88)
O poder, definia Egídio, nada mais era do que a qualidade pela qual se dizia ser alguém poderoso. Também os
poderes, que podiam ser de quatro gêneros,77 deviam ser ordenados dos inferiores aos superiores,78 do imperfeito ao
76
77
78
ULLMANN, op. cit., 1983, p. 123.
“Distinguem-se, pois, quatro gêneros de poderes: um gênero são as
forças naturais, outro são as artes, o terceiro são as ciências, e o quarto
são os principados e os governos dos homens. E qualquer um destes
poderes consiste em certa disposição e proporção, assim o poder natural está proporcionado à produção dos efeitos naturais; o poder artificial é a reta razão ou a proporcionada produção das coisas factíveis
artificialmente; o poder científico é a reta razão das considerações especuláveis; e o poder dos principados é a proporcionada e reta razão do
governo dos homens” (DPE, p. 98).
“E nos três primeiros gêneros [de poder] indicamos três razões e causas
da sujeição e da dominação. Nas forças naturais, porque dominam as
forças celestes, indicamos como razão e causa a generalidade e a con423
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
perfeito. O principado temporal, do mesmo modo, deveria se
sujeitar ao espiritual por três razões: “tanto porque é mais
particular, como porque dispõe e prepara a matéria, como
porque o poder terreno não se aproxima tanto da perfeição e
não a atinge, quanto o poder espiritual” (DPE, p. 100). Como
já havia dito Isidoro, emendava ele, a Igreja era chamada de
católica, isto é, universal, e por isso o seu poder era mais
universal do que o terreno. “Portanto, a Igreja é santa e católica, isto é, universal; e não seria verdadeiramente universal,
se não estivesse totalmente à frente de tudo” (DPE, p. 101).
A Igreja só podia ser chamada católica, explicava Egídio
Romano, se tivesse dominium tanto sobre os fiéis quanto sobre os seus bens. Aos senhores terrenos cabia reconhecer a
particularidade de seu governo diante do eclesiástico, e preparar a matéria para o espírito, as temporalia para as spiritualia. Assim,
é tarefa do poder terreno fazer justiça sobre essas coisas
[temporais], para que ninguém prejudique ninguém, tanto
no corpo como nas coisas, e que qualquer cidadão [civis]
e qualquer fiel goze dos bens. A tarefa do poder terreno é,
pois, preparar a matéria, a fim de que o príncipe eclesiástico não fique impedido de agir nas coisas espirituais,
visto que o corpo foi feito para servir à alma e as coisas
temporais para serem úteis ao corpo. [...] Conseqüentemente, todo o ofício do poder terreno é governar e reger
estes bens exteriores e materiais de tal maneira que os
fiéis não se sintam entrevados na paz da consciência e da
alma, como também na tranqüilidade da mente. (DPE,
p. 103)
tração: as forças celestes dominam porque são gerais, e as forças inferiores se sujeitam porque são contraídas e particulares. Nas coisas artificiais indicamos como razão e causa a preparação da matéria, pois a
arte de talhar a pedra se sujeita à de construir casas, e a de fazer freios
à militar, porque lhes preparam e dispõem a matéria. Nas ciências,
indicamos como razão e causa a maior aproximação da perfeição: aquela que atinge mais de perto a perfeição [a Teologia] domina, enquanto
que as outras se sujeitam” (DPE, p. 100).
424
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
O dominium da Igreja sobre as coisas temporais era
portanto universal e superior, enquanto o dos fiéis era particular e inferior.79 E assim como a substância corporal se
regia pela espiritual, também as coisas temporais se subordinavam ao seu poder, e a força inferior se sujeitava à superior.80 “Portanto como o gládio espiritual pode julgar todas as
coisas temporais, tem ele um domínio universal jurisdicional
e potestativo sobre as temporais; e porque pode colher de
todas as coisas temporais, tem um domínio universal útil e
frutífero” (DPE, p. 125). Ora, quem tinha o poder de julgar
sobre as coisas superiores, dizia Egídio, podia também com
maior propriedade julgar as inferiores, dado que o temporal
se ordenava ao espiritual. Por isso, a Igreja, repetidas vezes,
interpunha seu gládio espiritual – a censura eclesiástica –
contra os usurpadores e aqueles que detinham indevidamente
as coisas, principalmente quando estes perturbavam a paz e
o bem públicos.
Estava fundamentado assim o dominium de iure da Igreja sobre os demais poderes. Era difícil negar, numa época de
profunda devoção religiosa, a força da argumentação egidiana.
79
80
“Contudo, deve-se observar que, embora digamos que a Igreja é mãe e
dona de todas as posses e de todas as coisas temporais, nem por isso
privamos os fiéis de seus domínios e de suas posses, porque, como se
esclarecerá abaixo, tanto a Igreja tem tal domínio, como também os fiéis
o têm: mas a Igreja tem domínio universal e superior, enquanto os fiéis,
particular e inferior. Damos portanto o que é de César a César e o que é
de Deus a Deus, porque atribuímos à Igreja um domínio universal e
superior das coisas temporais, enquanto que aos fiéis prodigalizamos
um domínio particular e inferior” (DPE, p. 110).
“Com efeito, quem julga as coisas espirituais, pode muito mais julgar as
materiais, pois quem vê e julga as coisas mais subtis, as mais rudes
não lhe devem ficar escondidas, nem lhe podem escapar ao juízo. E
assim como quem julga as coisas espirituais pode julgar as materiais,
assim também quem semeia coisas espirituais, pode colher tanto as
carnais como as temporais” (DPE, p. 124).
425
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A conclusão lógica dessas premissas era a completa subordinação dos poderes terrenos à esfera de atuação do poder
eclesiástico:
Por este motivo todas as leis imperiais e as do poder terreno devem ordenar-se aos cânones eclesiásticos, para que
deles obtenham vigor e também solidez. Todas as leis
publicadas pelo poder terreno, para que tenham vigor e
firmeza, não podem contradizer as leis eclesiásticas, mas
antes devem ser confirmadas através do poder espiritual e
eclesiástico. A justiça é coisa espiritual, por ser uma certa
retidão só perceptível pela mente. (DPE, p. 126-7)
A tradicional hierarquia das leis – eterna, divina, natural e humana – que vingara até então era agora acrescida de
uma nova ordem, a canônica, que se interpunha entre a natural e a humana, numa hierarquia descendente e sem ruptura. As antigas reivindicações dos papas hierocratas
ganhavam desse modo um aparato jurídico e filosófico consistente. O papado era, nesse modelo, um organismo capaz
de transformar a pura doutrina em leis obrigatórias para os
fiéis. A catolicidade da Igreja, comenta De Boni, “converte-se,
assim, de universalidade da salvação em universalidade da
posse. O aforisma patrístico ‘Extra Ecclesia nulla salus’ transforma-se em Extra Ecclesia nullum dominium.”81 Esse sistema, contudo, logo seria posto em xeque: João Quidort, por
exemplo, daria largos passos na direção de afastar a intermediação da Ecclesia na vida temporal. Também a idéia de
um indivíduo autônomo, portador de direitos inalienáveis já
dava, antes mesmo de Guilherme de Ockham, os primeiros
sinais de vida.
Não se pode dizer, contudo, que o poder temporal, para
Egídio, não tivesse papel algum: seria, no mínimo, uma redução grosseira da construção egidiana. Embora se subordi81
DE BONI. Introdução. In: DPE, p. 24.
426
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
nasse ao sumo sacerdote, explicava Egídio Romano, isso não
significava dizer que o poder terreno fosse inútil:82 para que o
poder sacerdotal pudesse dedicar-se mais intensamente aos
assuntos do espírito, instituiu, para sua conveniência, o poder temporal para agir em seu nome. Os cristãos deviam se
subordinar, voluntariamente e de bom grado, tanto ao poder
espiritual quanto ao temporal. E isso era necessário para
que se pudesse ordenar devidamente o corpo dos fiéis, de
acordo com as funções específicas de cada estado, “já que os
poderes espirituais não têm diretamente e por si mesmos o
juízo de sangue, mas exercem tal juízo por meio de outros
ministros e através dos poderes seculares” (DPE, p. 43).
A cada um dos poderes cabia tarefas específicas e cada
qual julgava de acordo com seus instrumentos:
Os poderes espirituais requerem que os sirvamos de mente
e de vontade, mas os poderes seculares, se não os servimos de vontade e de mente, forçam-nos pelo juízo de sangue e também pela morte, que é o fim de todas as coisas
terríveis, como se diz na Ética a Nicômaco (l. 3, c. 6; 1115a).
Os prelados eclesiásticos exercem o poder pela censura
eclesiástica e pela excomunhão, nunca pelo juízo de sangue; [...] não que agir assim seja pecado, pois manda o
Senhor (Ex. 22: 18), [...] mas porque a Igreja não deve ter
mancha, nem ruga, nem inconveniência alguma. Haveria certa inconveniência no fato de que o chefe espiritual
exercesse por si mesmo o juízo de sangue. Por isso, tais
juízos se exercem pelos poderes seculares. (idem)
82
Esse raciocínio não excluía, contudo, a obrigatoriedade da sujeição dos
súditos ao governante temporal: embora, na ordem do universo, o âmbito temporal estivesse subordinado ao espiritual, a esfera secular, quando considerada apenas em si mesma, tinha na figura do príncipe o seu
governante máximo, ao qual todos os súditos, fiéis e infiéis, deviam
estar submetidos: “Portanto, sob ambos, tanto sob o príncipe bom como
sob o mau, podemos progredir: sob o bom, porque por ele somos nutridos, e assim nos aperfeiçoamos e progredimos; sob o mau, porque por
ele somos tentados, e temos provações e nos purificamos” (DPE, p. 42).
427
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O poder terreno devia usar seu gládio, portanto, da
maneira que conviesse à Igreja, sem intrometer-se jamais
nos assuntos espirituais superiores.83 Para demonstrar a
convivência entre as diferentes ordens existentes no universo, Egídio recorria à hierarquia dos anjos, que seria semelhante àquela encontrada no mundo dos homens:84
Os anjos estão coordenados e são divididos para nossa
salvação e para o nosso bem, nem ficam sobrando para o
regime do universo os anjos inferiores por existirem os
superiores. Muito mais devem ser distintos os principados e os poderes entre os próprios homens, porque se há
anjos distintos e ordenados para o bem dos homens, os
próprios homens, para o seu bem, com muito maior razão, devem ser divididos e ordenados. Não vai ficar sobrando o poder e o gládio inferior por haver o poder e o
83
84
“O mesmo acontece no regime e no governo dos homens, que são compostos de ambas as substâncias, espiritual e corporal: aquele poder
que é espiritual, é geral e se estende também às coisas corporais, enquanto que aquele que está especialmente ordenado para as coisas corporais, é particular e restrito e, de per si e enquanto tal, não se poderá
intrometer no campo das coisas espirituais. Entretanto, pelo fato de
existir o poder espiritual, que é geral, não se torna supérfluo o poder
terreno, que é restrito e particular, tal como dizíamos no caso das ciências” (DPE, p. 150-1).
“O mesmo acontece nesta questão: no governo do mundo e no regime
do universo há anjos que, unidos a Deus e nos vestíbulos dele, conhecem a bondade dele, de que maneira quer que se reja o universo; são a
primeira hierarquia que contém três ordens: os diletos, os sábios e os
que divulgam decisões. Diletos são os serafins, sábios os querubins, e
divulgam as decisões aos tronos. [...] Os serafins sendo os diletos de
Deus, e porque conhecem primeiro os segredos divinos [...] iluminam os
querubins a respeito desses segredos [...]. Por sua vez os querubins, já
iluminados pelos serafins e já conhecendo os segredos e as decisões de
Deus, iluminam os tronos, para que eles anunciem aos outros e os
iluminem a respeito das decisões e dos segredos divinos. Diz-se, portanto, que Deus está sentado sobre os tronos e que promulga neles as
suas decisões, porque eles anunciam às hierarquias inferiores as decisões de Deus a respeito do regime do universo” (DPE, p. 156-7).
428
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
gládio superior, muito embora tudo que pode o gládio
inferior, possa também o superior. (DPE, p. 159-60)
Nesse modelo nada era supérfluo: o gládio espiritual
podia, junto com o material, algo que não poderia sem ele, do
mesmo modo que o ferreiro podia algo com o martelo que não
poderia sem ele. Pedro havia sido proibido pelo Senhor de usar
o gládio material, devendo guardá-lo na bainha. Isso não significava contudo que a Igreja não tivesse o gládio temporal:85 a
eficácia da espada espiritual, argumentava Egídio, não era visível aos olhos corporais. Ela contudo existia e feria: “O gládio
desembainhado, pelo fato de ser desembainhado, tornou-se
visível, e assim considerando, representa o gládio material,
que é visível e faz feridas visíveis. Enquanto que o gládio não
desembainhado, que por causa disso estava oculto e invisível,
representa o gládio espiritual, que não pode ser visto por olhos
corpóreos; é a ele que cabe ferir e golpear a alma, cujas feridas
os olhos corporais não podem ver” (DPE, p. 173).
3. Da plenitude de poder e da jurisdição do governo
eclesiástico
Por ser senhora de direito de tudo quanto havia no
mundo, residia na Ecclesia – que tinha no sumo pontífice o
85
“A Igreja tem ambos os gládios: Pedro é o porta-chaves do reino terreno
e celeste; todo poder que o poder terreno tem, tem também o eclesiástico. Não há nenhum poder no gládio material que não haja no espiritual,
mas há no material de um modo que não há no espiritual, porque o
gládio material pode exercer diretamente o juízo de sangue, o que o
espiritual não pode, isto é, não convém que exerça. Logo, não é que o
gládio material possa o que não pode o espiritual, mas pode de um
modo que este não pode. Por isso alguns doutores observaram que a
Igreja tem ambos os gládios enquanto autoridade primária e superior, e
por isso mais a Igreja que o poder terreno é que tem o gládio material,
porque ter alguma coisa baseado em autoridade primária e superior é
algo mais do que em autoridade secundária e inferior” (DPE, p. 166).
429
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
seu representante máximo – a plenitudo potestatis, dizia
Egídio no Livro III. Por isso, pertencia a ela criar leis, publicálas aos povos, explicá-las e interpretá-las.86 Aqueles que
diziam ter o imperador o mesmo poder porque “o que apraz
ao príncipe tem força de lei”, como estava dito nos Instituta,
exortava Egídio, tinham de compreender que havia um gládio
sob outro, um principado sob outro. Do mesmo modo, era
preciso que as leis se sujeitassem às leis. Pois o poder da
Igreja, e portanto o do sumo sacerdote, que a representava,
era sem peso, número e medida.87 Mesmo assim, o pontífice devia se impor limites e procurar viver de acordo com as
leis estabelecidas, já que convinha àquele que criava as leis
observá-las.88
86
87
88
“Ora, a quem pertence instituir leis, pertence também promulgá-las e
interpretá-las. Se variam as sentenças dos juízes, seja por causa da
condição da lei, ou pela amplitude de sua abrangência ou por causa de
sua interpretação, tudo caberá ao sumo pontífice” (DPE, p. 220).
Somente o papa detinha todo o poder que havia na Igreja, dizia Egídio.
Por isso, “o sumo pontífice ordena em si mesmo, [por]que é número sem
número, peso sem peso e medida sem medida. Ele é número sem número quanto às ovelhas que lhe são confiadas, porque não lhes foram
confiadas estas ou aquelas, mas foram-lhe confiadas todas. [§] [...] Em
segundo lugar, também o sumo pontífice é peso sem peso, se se considerar o modo segundo o qual lhe foram confiadas as ovelhas: foram-lhe
confiadas de tal maneira que pudesse administrar os sacramentos da
Igreja, que pudesse absolver de todo peso dos pecados. O seu modo de
presidir pesa, pois, mais que todo peso dos pecados. Há então nele peso
sem peso, porque se fosse um peso ponderado, não pesaria mais que
todo peso. [§] [...] Em terceiro lugar, o sumo pontífice é medida sem
medida, se se considera a pessoa dele, a quem as ovelhas foram confiadas, porque nele há sem medida o poder no qual está todo poder da
Igreja” (DPE, p. 239-40).
“Embora o sumo pontífice seja alguém sem limite e freio, um homem
acima das leis positivas, contudo ele deve impor-se limites e viver de
acordo com as leis estabelecidas, e, a menos que surjam certos casos e
certas causas exijam, deve observar as leis que constituiu, porque, como
se transmite em outra ciência, quem cria as leis, deve observá-las” (DPE,
p. 222).
430
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
E porque as leis se sujeitavam às leis, Egídio podia afirmar sem maiores problemas que a
criação das leis remete, pois, a jurisdição temporal ao
sumo pontífice, ou casualmente, nos casos não suficientemente determinados pelas leis; ou não só casualmente, mas considerando certas causas, nas quais as leis
não devem ser observadas. Portanto, se há casos não
previstos pelas leis, ou porque considerando certas causas as leis não devem ser observadas (casos que pertencem à criação das leis), ou se as leis falam ambiguamente
(casos de interpretação), a Igreja exercerá jurisdição temporal baseada na plenitude do poder que nela reside. (DPE,
p. 222)
Mas em que consistia a plenitude de poder? A essa
questão Egídio respondia dizendo que a plenitude existe num
agente
quando este pode efetuar, sem causa segunda, tudo o
que pode com a causa segunda. Se algum agente não
tem tal poder, segue-se que não tem pleno poder, porque
não tem o poder no qual se concentra todo o poder. [...]
no próprio Deus há plenitude de poder, porque tudo o
que pode com a causa segunda, pode sem ela, a tal ponto
que o poder de todos os agentes se concentra no primeiro
agente que é Deus. [...] E embora possa tudo, administra
as coisas deixando-as seguir seus próprios rumos. Contudo, às vezes Deus faz milagre ou mesmo milagres, quando age fora do rumo comum da natureza e não segundo
as leis comuns dadas a ela. (DPE, p. 223)
Do mesmo modo, o sumo sacerdote, quanto ao poder
que havia na Igreja, tinha a plenitude de poder,89 podendo
sem a causa segunda tudo o que podia com ela.
89
“Para que não fiquem supérfluas as obras de sua sabedoria, Deus age
quase sempre de acordo com as leis que deu às coisas, e quase sempre
observa as leis para que o efeito dos agentes segundos aja mediante os
agentes segundos. [...] Assim também o sumo pontífice, porque lhe cabe
estabelecer as leis de como a Igreja deve ser governada, e deve governar
431
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Sendo a causa justa e racional, podia o sumo pontífice
usar livremente esse poder. Pois onde existia intenção santa
havia também liberdade. Mas, como ao papa cabia criar e
dar leis a toda Igreja, ele estava por essa razão acima de tais
leis, pois havia nele a plenitude de poder. Era do mundo
natural, entretanto, que Egídio tirava seu exemplo:
Assim estão assinalados os dois modos de plenitude do
poder. Um quando pode sem causa segunda o que pode
com a causa segunda, e assim é que Deus pode sem os
agentes naturais tudo que pode com eles. Também o sumo
pontífice pode sem quaisquer pessoas tudo que poderia
com elas. Pelo outro modo, Deus dá leis naturais às coisas naturais como, por exemplo, dá esta lei ao fogo de
que esquente, à água que esfrie; há contudo nele a plenitude do poder, porque pode agir fora dessas leis. Do mesmo modo o sumo pontífice dá às pessoas leis positivas e
morais; entretanto há nele plenitude de poder, porque
pode agir fora destas leis. (DPE, p. 227-8)
Embora reconhecesse que o sumo pontífice não se igualava ao “céu sensível”, havia, segundo Egídio, semelhanças
entre os dois poderes.90 O senhor temporal, mesmo tendo
justo dominium sobre as coisas – obtido somente da Ecclesia
90
a Igreja conforme essas leis, deve permitir que os cabidos façam suas
eleições e os prelados exerçam suas ações, e que os demais membros
da Igreja realizem seus trabalhos de acordo com a forma que foi dada a
eles. Contudo, por motivo racional, pode agir fora destas leis comuns,
sem os outros agentes, porque se concentra nele o poder de todos, pois
nele está o poder todo de todos os agentes da Igreja, a ponto de se dizer
que nele reside a plenitude do poder” (DPE, p. 224).
“Podemos referir cinco coisas do céu que podem ser aplicadas ao poder
do sumo pontífice; primeiro, o céu quanto ao ser é cheio de forma; segundo, quanto à posição, ou seja, quanto à ordem, está sobre tudo;
terceiro, quanto à grandeza, ou à capacidade de conter, contém tudo;
quarto, quanto à ação age e influi em tudo; quinto, quanto à passividade, não é tocado por ninguém e não sofre nada de ninguém, uma vez
que toca tudo e age em tudo” (DPE, p. 229).
432
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
por meio do renascimento batismal e da purificação pela confissão –, o tinha de um modo diferente do que o possuía a
Igreja: “porque estão [as coisas temporais] sob a Igreja como
sob aquela que tem o domínio superior primário, que é principal e universal; e sob o domínio temporal como sob o dono
que tem domínio inferior e secundário, que é direto e
executório” (DPE, p. 234). Em razão desse domínio superior
e primário, dizia Egídio, devia-se à Igreja o dízimo e as oblações
de todas as coisas temporais; e, por causa do domínio inferior e secundário, eram devidos aos poderes terrenos outras
utilidades e emolumentos provindos das coisas temporais.91
O dominium que a Igreja tinha sobre as coisas, portanto, era
superior ao de César. Por isso, o direito de César devia ordenar-se àquele da Igreja.
Assim, tanto o domínio útil quanto o domínio potestativo
de César sobre as pessoas ou as coisas temporais, dos quais
não devia ser privado de forma alguma sem culpa e sem causa, estavam sob a Ecclesia:
Fica claro também que nenhuma coisa temporal está sob
César que não esteja sob a Igreja, porque nada foge do
direito superior e primário desta. E se algum sumo pontífice doasse algum direito, o seu sucessor poderia revogálo, já que tal direito não pode ser confirmado por um
superior, uma vez que o papa não tem nenhum superior
e o sucessor poderia revogar porque um igual não tem
domínio sobre outro igual. Mas a Igreja pode ter algumas
coisas temporais sobre as quais César não tem nenhum
direito, porque César pode dar à Igreja todo o direito que
tem sobre tais coisas, e isso pode ser confirmado pelo
91
“Voltemos pois à questão e digamos que sobre as coisas temporais a
Igreja tem o seu direito e César o seu, e ambos os direitos são de algum
modo úteis e de algum modo potestativos. [...] Com efeito, depois que
são dados à igreja os dízimos, tributadas as oblações e apresentadas as
coisas que se devem às igrejas, o resto é de César, isto é, do senhor
temporal. Assim, portanto, se dá à Igreja o que é da Igreja e a César o
que é de César” (DPE, p. 235).
433
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
papa, de modo que o sucessor de César não poderá revogar, porque César, ou qualquer senhor secular, agiria
acima do seu âmbito, ao querer revogar o que foi confirmado pelo papa. (DPE, p. 237 – grifos meus)
Os futuros monarcas absolutos disporiam de material
suficiente, mas sobretudo autorizado, para se inspirar.
Egídio reivindicava para o pontífice, portanto, uma plenitudo potestatis que continha todos os poderes sacerdotais
e reais. O poder que a ele não se submetesse não seria exercido legitimamente. A noção de dominium deslizava, portanto, da indicação de posse, típica do direito privado,92 para a
de superioridade numa relação entre pessoas. Senhorio, em
sentido estrito, podia referir-se, segundo Egídio Romano, tanto
à propriedade – quando a coisa material se encontrava sujeita a um senhor – quanto ainda, em sentido amplo, à sujeição
de um homem a outro – quando se podia falar da autoridade
política. Em qualquer caso, posse material ou relação de comando, Egídio apontava como indispensável a condição de
legalidade. Pois o exercício desse poder fundava-se num direito.
Esse direito ao dominium podia ser obtido apenas por
meio da graça divina, que operava pelos sacramentos conferidos pela Ecclesia, mediadora entre Deus e os homens e,
portanto, dominadora universal. Como conseqüência, era
possível dizer que os infiéis jamais poderiam gozar de poderes nem autoridade legítimos: se detinham algum, era então
de maneira ilegítima e por usurpação. Tal dominium tampouco
se obtinha por herança ou conquista, mas apenas por meio
92
Dominium, no direito romano, tanto podia indicar a posse, genericamente, quanto designar formas de propriedade, como o dominium ex
iure Quiritium, a propriedade quiritária, direito exercido por um romano
sobre um imóvel romano ou itálico. Cf. CHAMOUN, Ebert. Instituições de
direito romano. Rio De Janeiro: Editora Rio, 1977. p. 229-30.
434
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
da regeneração, que supunha o batismo. A autoridade de
operar os sacramentos, matéria do espírito, derivava dos poderes de “atar e desatar” conferidos a São Pedro.
Por essa razão podia o sumo pontífice, detentor de iure
das duas espadas, instituir o poder terreno: como sumo sacerdote delegava o cuidado do gládio material ao “ministro
temporal”. O poder como tal, mostrava Egídio, diferenciava-se
de sua execução. A fórmula evangélica da sagração de São
Pedro (“tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que
desligares na terra será desligado no céu”) era invocada, mais
uma vez, para afirmar a jurisdição tanto religiosa quanto secular da Santa Sé. O papa, portanto, cujo poder derivava diretamente de Deus, era a fonte autêntica de todos os poderes
inferiores, já que nenhum outro era mais perfeito do que ele.
Pelo mesmo motivo podia o bispo de Roma prescindir
das leis, se assim o aconselhasse a situação. Deus, quando
operava milagres, argumentava Egídio, às vezes deixava de
lado as leis naturais. Da mesma forma, podia o pontífice dispensar da regra positiva e ir além dela. A jurisdição papal,
flexível e modificável, observa Ullmann, estendia-se a todo o
mundo: fundamentava-se assim juridicamente o princípio
da supremacia universal da Ecclesia sobre a comunidade civil.93 Essa combinação do supremo poder temporal e espiritual na pessoa do dominus mundi, que, como recorda Canning,
adquiria sentido prático no governo pontifício exercido sobre
o Patrimônio de São Pedro, acabaria inaugurando o Estado
moderno, especialmente aqueles dos monarcas absolutos.94
Pois, também no modelo de Egídio, a instituição eclesiástica constituía mais do que um mero corpo místico ou
93
94
Cf. ULLMANN, op. cit., 1983, p. 121-2.
Cf. CANNING, J. A state like any other? The fourteenth-century papal
patrimony through the eyes of roman law jurists. In: WOOD, Diana. (Ed.)
The Church and sovereignity c. 590-1918: essays in honour of Michael
Wilks. Oxford: Blackwell, 1991. p. 245-60.
435
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
sacramental: era um corpo governamental que tinha no
sumo pontífice o seu princeps. Suas decisões tinham implicações terrenas bastante definidas, já que constituía a
única fonte legítima de organização da vida civil dos cristãos neste mundo, além de monopolizar a garantia da sua
salvação no mundo post mortem. “Ao tentar espiritualizar
o mundo, apelando para uma concepção agostiniana de
sociedade”, comenta De Boni, “Egídio acabou mundanizando a Igreja, esvaziando o conceito de justiça e politizando
os sacramentos”.95 Conscientemente ou não, Egídio Romano erguia com a sua teoria mais um pilar no vigoroso
edifício que constituiria a soberania no Estado territorial
moderno.
IV JOÃO QUIDORT E OS PRINCÍPIOS
DA MONARQUIA CONSTITUCIONAL
A resposta imediata ao tratado de Egídio Romano foi
escrita por João Quidort ou João de Paris. Retomando a noção do rei como “um imperador dentro de seu reino”, João
Quidort escrevia ao mesmo tempo contra os defensores do
sacerdotium e contra os do imperium. Do confronto entre esses dois universalismos, nascia, depois de um longo processo de gestação, o poder político secular propriamente dito,
tal como manifesto nas monarquias cada vez mais nacionais. João Quidort, entretanto, embora partidário do rei, não
era um defensor incondicional da causa real: às pretensões
absolutistas do monarca francês Filipe IV o autor opunha o
populus, o novo intermediário tanto do poder temporal quanto do eclesiástico, como já havia ensinado Tomás de Aquino.
95
E termina: “Dois séculos mais tarde, Lutero, outro monge agostiniano,
deverá fazer o caminho oposto, na tentativa de reespiritualizar a Igreja”.
In: DE BONI. Introdução. In: DPE, p. 25.
436
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Marsílio de Pádua, por exemplo, faria amplo uso desta recente inovação conceitual.
Um dos fatores que certamente contribuíram para essa
nova abordagem sobre a fonte do poder foi a adoção sistemática, por João Quidort, de argumentos estritamente lógicos,
princípio interpretativo que dificultava grandemente a proliferação da uma eclesiologia estrito senso. Formado em artes
pela Universidade de Paris, João Quidort, nascido provavelmente em 1270, esteve ativamente envolvido nas disputas
intelectuais de sua época. Iniciou sua carreira entre os dominicanos, como teólogo mendicante, e logo se tornou um expoente da ordem. Autor de inúmeros tratados e comentários
utilizados por seus confrades, como o De principio
individuationis e o Tractatus de formis, João de Paris só foi
elevado à cátedra de teologia em 1304.96
No ano seguinte tornou público seu tratado sobre a
eucaristia, o Determinatio de modo existendi corporis Christi
in sacramento altaris, escrito que lhe rendeu uma acusação
de heresia e acabou sendo julgado por uma comissão de prelados, da qual fazia parte, entre outros, Egídio Romano, com
quem ele se dabatera publicamente anos antes. Depois de
ter seu trabalho condenado e censurado pela comissão, e de
ter sido afastado do magistério, João Quidort apelou ao sumo
pontífice. Seu processo terminou sendo examinado pelo papa
Clemente V (1304-14), a quem ele solicitara nova audiência.
Quando estava prestes a ser recebido pelo bispo de Roma,
João Quidort faleceu, em setembro de 1306.
Conhecido também, por sua aparência, como surdus,
ou ainda praedicator monoculus, João Quidort havia partici96
Para uma análise detalhada da obra de João Quidort, cf. GRABMANN, M.
Studien zu Johannes Quidort von Paris. In: Sitzungsberichte der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-philologische und
historische Klasse, 3. Abhandlung, München: Verlag der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, 1922.
437
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
pado de vários debates públicos que envolviam a causa real e
a papal: defendeu o mestre Tomás de Aquino das críticas dos
franciscanos e também o rei francês Filipe IV quando da querela com Bonifácio VIII. Em 1303 João Quidort assinara, em
conjunto com outros colegas residentes no convento de SaintJacques, um documento apoiando a convocação de um concílio geral da Igreja para julgar o pontífice morto. Participou
ainda da elaboração de textos anônimos, como aquele surgido no meio acadêmico francês por volta de 1302, a Quaestio
in utramque partem, no qual se podia identificar inúmeras
passagens assumidas por João Quidort em seu tratado De
regia potestate et papali.
Também é atribuído a ele o texto anônimo Quaestio de
potestate papae (ou Rex pacificus Salomon),97 escrito provavelmente no auge do conflito entre o papa e o rei.98 Sendo ou
não de sua autoria o Rex pacificus, é de todo modo sabido
que João Quidort, intelectual engajado e apreciador da coragem cívica, ocupou-se da redação de vários textos desafiadores da plenitudo potestatis papae in temporalibus. Consultado
pelo rei sobre o assunto, quando o conflito com o sumo pontífice ainda não apontava para um desfecho trágico, João
Quidort produziu seu tratado político mais contundente,
intitulado Sobre o poder régio e papal, publicado no final do
97
98
Paul Saenger, num artigo polêmico, sustentou, a partir de um manuscrito encontrado na Bodleian Library, em Oxford, ser esse tratado de
autoria de João Quidort. Cf. SAENGER, P. John of Paris, principal author
of the Quaestio de potestate papae. Speculum, v. 56, n. 4, oct. 1981.
Outros estudos respeitáveis, no entanto, defendem a produção coletiva
do texto, como era comum à época. Cf. SCHOLZ, Richard. Die Publizistik
zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz’ VIII. Sttutgart: Verlag von
Ferdinand Enke, 1903. p. 252-75.
Para uma abordagem do conflito e do papel do tratado, cf. GARFAGNINI, G.
C. Il Tractatus de potestate regia et papali di Giovanni da Parigi e la
disputa tra Bonifacio VIII e Filipo il Bello. In: Conciliarismo, stati nazionali,
inizi dell’Umanesimo, Atti del XXV convegno storico internazionale.
Spoleto: Centro italiano di Studi Sull’Alto Medioevo, 1990. p. 147-80.
438
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
ano 1302, contra as pretensões absolutistas tanto do monarca franco quanto do bispo de Roma, que teria repercussões significativas para o pensamento político posterior.
O texto era sucinto e, apesar de denso, extremamente
claro. João de Paris recorria, para fundamentar seus argumentos, tanto aos corpos filosóficos disponíveis – entre outros, aos escritos de Aristóteles, Cícero e Tomás de Aquino –
como ainda a passagens bíblicas e textos jurídicos. Como
todo filósofo medieval, recorda De Boni, João Quidort tomava a palavra das Escrituras como sagrada, atribuindo-lhes
uma autoridade primária. Sua inovação, contudo, estava na
maneira como a interpretava: “O realismo aristotélico”, escreve De Boni,
leva-o a procurar, em primeiro lugar, o sentido literal do
texto, cotejando-o geralmente com outras passagens
bíblicas, e apresentando a leitura que dele foi feita pela
patrística. [...] Na linha da exegese tomista, João Quidort
nega aos argumentos alegóricos e místicos qualquer valor probatório [...]. Com isto, por primeiro, leva os resultados da nova exegese para o campo da disputa política,
e invalida todo o discurso baseado em recursos alegóricos bíblicos como os dois luminares criados por Deus, ou
os dois gládios aos quais refere-se Lc. 22: 38.99
1. Da força da palavra e o poder das armas
João Quidort apontava já no Proemium o que considerava serem os dois erros cometidos pelos que pretendiam
opinar sobre o poder das autoridades eclesiásticas: o equívoco dos valdenses; e o dos herodianos.100 Os primeiros erravam, dizia João Quidort, quando procuravam sustentar, com
99
DE BONI, L. A. (Ed.) Introdução. In: QUIDORT, J. Sobre o poder régio e
papal. Petrópolis: Vozes, 1989. p. 16-7
100
Cf. QUIDORT, João. Sobre o poder régio e papal (SPRP). Ed. L. A. DE BONI.
Petrópolis: Vozes, 1989. Todas as citações em português constantes no
439
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
base nas Escrituras, ser vedados ao papa a posse de bens
materias e também todo e qualquer domínio temporal. O erro
oposto, esclarecia o autor, era aquele cometido pelos herodianos, que, ao ouvirem dizer que Cristo, o rei, havia nascido,
supuseram que ele seria um rei terreno. Desse erro proviria a
opinião de alguns contemporâneos, segundo a qual o pontífice, enquanto representante de Cristo na terra, possuiria
dominium e jurisdição (iurisdictionem) sobre todas as coisas
temporais101 (temporalia).
O caminho correto para a consideração da matéria,
sustentava João Quidort, residia na adoção de uma via media,102 isto é, de um meio-termo entre essas duas posições:
aos prelados da Igreja não é proibido ter a posse e a jurisdição nas coisas temporais, contra a primeira opinião;
mas isto não cabe a eles de per si, em razão de seu estado
e por serem vigários de Cristo e sucessores dos apóstotexto foram retiradas dessa edição. Utilizou-se ainda como referência e
para fins de consulta a consagrada edição crítica bilíngüe (alemão-latim) de BLEIENSTEIN, Fritz (Hrsg.). Johannes Quidort von Paris: Über
königliche und papstliche Gewalt (De regia potestate et papali). Stuttgart:
Ernst Klett Verlag, 1969. Para consulta e referências, cf. tb. o trabalho
clássico de LECLERQ, Jean. Jean de Paris et l’ecclésiologie. Paris: J. Vrin,
1942.
101
“O erro oposto foi o de Herodes que, ouvindo dizer que Cristo, o rei,
havia nascido, supôs que este seria um rei terreno. Provém evidentemente deste erro a opinião de alguns modernos, [...] afirmando que o
senhor papa, como representante de Cristo na terra, possui o domínio
bem como a jurisdição sobre os bens temporais dos príncipes e barões.
Dizem também que este poder sobre as coisas temporais o papa o possui em proporção maior que o príncipe, pois o papa o tem como autoridade primária, diretamente de Deus, enquanto o príncipe o tem
mediatamente de Deus, através do papa” (SPRP, p. 42).
102
Uma rica e longa discussão sobre a via media em João Quidort e no
período e sua relação com o nacionalismo francês e com o imperialismo
gibelino pode ser encontrada em RIVIÈRE, Jean. Le problème de l’église et
de l’état au temps de Philippe le Bel. Paris-Louvain: Honoré ChampionSpicilegium sacrum lovaniense, 1926. Esp. p. 272-340.
440
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
los, e sim por concessão ou permissão dos príncipes, quer
porque estes por devoção lhes oferecem algo, quer porque de algum outro modo o obtiveram. (SPRP, p. 43-4)
João Quidort invertia dessa forma a proposição de Egídio
Romano: não era o pontífice quem concedia as temporalia
aos poderes temporais, e sim os governantes seculares, que
por sua generosidade, ou ainda para sua conveniência, permitiam ao poder eclesiástico ter dominium e jurisdição sobre
certas coisas terrenas.
Depois de esclarecer que, com suas opiniões, não pretendia aviltar nem a fé nem os bons costumes, e menos ainda a “reverência devida à pessoa e à posição do sumo pontífice”, João Quidort passava a tratar da natureza e origem dos
dois poderes, o real e o papal (cap. I-VI). Seu primeiro passo
consistia em definir o que denominava regnum: “reino é o
governo de uma multidão perfeita, ordenado ao bem comum
e exercido por um só indivíduo”103 (SPRP, p. 44). Esse governo monárquico de uma comunidade humana auto-suficiente que visava aos interesses do coletivo104 era derivado, segundo João de Paris, do direito natural e do das gentes.
103
No original: “Regnum est regimen multitudinis perfectae ad comune bonum
ordinatum ab uno”. In: QUIDORT. De regia potestate et papali. Ed.
Bleiensten, op. cit., p. 75.
104
“Nesta definição o ‘governo’ está como gênero; ‘multidão’, porém, acrescenta-se para diferenciá-lo do regime no qual cada um governa-se a si
mesmo, quer pelo instinto natural, como nos brutos, quer pela própria
razão, como naqueles que levam vida solitária. ‘Perfeita’ é colocada para
diferenciá-lo da multidão doméstica, que não é perfeita, porque não é
suficiente a si mesma a não ser por pouco tempo, e não por toda a vida,
como a cidade, conforme diz o Filósofo (Política, l. 1, c. 2; 1252b). ‘Ordenado para o bem da multidão’ é dito para distingui-lo da tirania, da
oligarquia e da democracia, nas quais [...] o governante procura apenas
seus próprios interesses. Por um só indivíduo é dito para diferenciá-lo
da aristocracia [...] [e] da policracia [...]. Somente é rei aquele que domina sozinho, como diz o senhor através de Ez. 34: 23: Meu servo Davi
será rei sobre todos e seu único pastor” (SPRP, p. 44).
441
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Partindo da premissa aristotélica de que o homem era
um animal naturalmente político ou civil, João Quidort podia afirmar ser-lhe necessária a vida em comunidade. Mas
não aquela existente na família ou na aldeia, e sim a da cidade ou do reino. E, para que não houvesse dispersão dos objetivos, essa unidade política devia ser governada por uma única
autoridade capaz de ordenar a todos para o bem comum.105
E justificava:
Esta unidade de governo é, pois, necessária, visto que o
próprio não é igual ao comum: segundo o que é próprio,
diferenciam-se os homens entre si, segundo o comum,
unem-se. As coisas, porém, que são diferentes, possuem
também causas diferentes, pelo que é necessário que,
além das forças que movem para o bem próprio de cada
um, haja também algo que mova ao bem comum de muitos. (SPRP, p. 45)
Tanto no interesse da unidade do poder, caso em que a
virtude era maior, quanto no da garantia da paz, explicava o
autor, a monarquia constituía a forma excelente de governo
político.
Além disso, vemos que na ordem natural todo o governo
tende a reduzir-se à unidade, como, por exemplo, no corpo misto, onde há um elemento dominante; no corpo humano heterogêneo, um é o membro principal; no conjunto
do homem, a alma conserva a unidade de todos os elementos. Também os animais gregários, como as abelhas
e os grous, aos quais é natural viver em sociedade, submetem-se naturalmente a um único rei. (SPRP, p. 45-6)
105
“[...] é necessária ao homem a vida em multidão, e em tal multidão que
lhe seja suficiente à existência, o que não é o caso da comunidade doméstica ou da aldeia, mas só da cidade ou do reino. [...] Contudo, toda
a multidão, na qual cada um persegue seu próprio interesse, acaba por
dissolver-se e dispersar-se em diversas direções, a não ser que seja
ordenada para o bem comum por uma só pessoa, a quem foi confiado o
cuidado pelo bem comum, do mesmo modo como o corpo do homem se
decomporia, se nele não existisse uma certa força comum, que visasse
ao bem de todos os membros” (SPRP, p. 45).
442
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
E, porque o homem era um animal civil, ou político e
social (animal civile seu politicum et sociale), podia-se dizer
que um tal governo era derivado do direito natural (a iure
naturali).
Mas essa passagem da vida selvagem para a vida em
comunidade sob um único governante não havia se dado
pela adesão livre e imediata de todos, e sim por um processo
de convencimento racional, como já havia ensinado Cícero:
E como os homens, pela comunidade das palavras, não
conseguiam passar da vida animal para a vida em comum
correspondente à sua natureza, como foi visto, então alguns homens, que faziam maior uso da razão e sofriam
sob a falta de rumo de seus semelhantes, empreenderam
a obra de, através de argumentos persuasivos, convencer
aos demais a partir para uma vida comum ordenada, sob a
direção de um único chefe, conforme narra Cícero. Os que
concordaram foram ligados por certas leis relativas à vida
em comum, que aqui são chamadas de direito das gentes.
Assim fica claro como este regime procede tanto do direito
natural como do direito das gentes. (SPRP, p. 46 – grifos
meus)
Nederman chama atenção para a idéia de que vários
dos pensadores medievais tardios tendiam a fundir duas tradições, a aristotélica e a ciceroniana, quando precisavam explicar a transformação do homem numa criatura comunitária.
A utilização do pensamento ciceroniano como forma de complementar as noções aristotélicas, esclarece Nederman, justificava-se porque Cícero deixava lugar para a noção cristã
da pecaminosidade humana, enquanto de Aristóteles se retinha o princípio básico de que as relações sociais e políticas
eram naturais aos seres humanos.106
106
Cf. NEDERMAN, C. Nature, sin and the origins of society: the ciceronian
tradition in medieval political thought. Journal of the History of Ideas, v.
49, n. 1, p. 3-26, jan-mar. 1988.
443
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
João Quidort, por exemplo, depois de constatar a naturalidade da condição humana e da tendência à vida numa
comunidade auto-suficiente, empenhava-se em estabelecer
a relação entre o bem particular e o bem-estar da comunidade. Em Aristóteles, o fim do indivíduo coincidia com o fim do
coletivo, a boa vida segundo a virtude. A natureza se realizava somente dentro da totalidade cívica, a polis. Já o homem
descrito por João Quidort, entretanto, era entendido nos termos do cristianismo tradicional: isto é, como um ser egoísta
e auto-interessado, fruto da queda da humanidade em pecado, cuja preocupação primária consistia na perseguição do
bem-estar pessoal e da salvação. Na ausência de um estímulo externo, os homens adotavam um estilo de vida apropriado à sua condição depravada e pecadora e viviam num estado
animalesco comparável ao das bestas. Essa era a situação
dos seres humanos depois do pecado original, quando renunciaram à fraternidade do paraíso e se voltaram para uma
existência baseada apenas nos próprios benefícios.
A fala, dom comum a todos, não era capaz de unir, sozinha, tais seres em comunidade. Pois a natureza não comunicava por meio dela seus princípios inerentes de movimento:
não havia a garantia de que os homens iriam necessariamente reunir-se somente porque esse era um traço de sua natureza. Como a natureza humana se tornara defectiva pelo pecado
original, a vida coletiva só pôde ter lugar quando alguns homens, mais sábios e racionais, que “sofriam sob a falta de
rumo de seus semelhantes”, procuraram conduzi-los, por meio
de argumentos persuasivos, para a vida coletiva ordenada sob
um governante. Pois, se os homens individualmente não se
propunham a obedecer às regras do bem viver em comum, era
preciso que se nomeasse um guardião da utilidade pública.
Ou seja, apesar de enfraquecido pelo pecado e pouco disposto
à benevolência para com os semelhantes, o homem retinha a
capacidade de convencer os seus iguais a perseguir voluntariamente seus objetivos particulares por meio da instituição de
um administrador do bem comum.
444
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
A adesão a essa comunidade política, portanto, não era
inevitável, apesar da aptidão humana para tal, e sim requeria uma indução ativa. O reconhecimento da necessidade de
um governo dependia assim de uma apresentação convincente – baseada em argumentos razoáveis – dos benefícios
da lealdade ao princípio da utilidade pública e sua encarnação
real. Por isso também, a instituição de um governo não podia
ser vista como uma imposição forçada da coerção sobre a
multidão. Aqueles que haviam aceitado a argumentação de
seus pares passaram a estar ligados por certas leis gerais
relacionadas à vida comum, “leis estas que não eram evidentes por natureza – que não pertenciam, portanto, ao direito natural –, mas que formaram o fundamento do que, em
linguagem posterior, seria chamado pacto social, e que, na
terminologia medieval, provinham do direito das gentes: aquelas normas [...] que permitem o consenso entre todos e possibilitam a vida em comum”.107 A autoridade pública era
instituída assim com o objetivo de servir de freio aos aspectos auto-interessados da criatura humana.
O governo do rei só era legítimo quando estabelecido
por um processo consensual, segundo o qual os homens concordavam em serem governados dentro dos limites estabelecidos pelas regras do bem comum. Mas, como os homens
não respeitavam as regras comuns por vontade própria, o
monarca, que incorporava o bem público, devia ser dotado
de poder coercitivo, de modo que pudesse impor a necessitas
ao coletivo.108 João Quidort partia da societas perfecta de
Tomás de Aquino, mas acabava construindo muito mais a
multitudo nominalista, como já apontou De Boni:
107
108
DE BONI. Introdução. In: SPRP, p. 18.
Sobre os temas da coerção e do consenso em fins da Idade Média, cf.
MONAHAN, A. P. Consent, coertion and limit: the medieval origins of
parliamentary democracy. Leiden: Brill, 1987. Cf. tb. NEDERMAN, op. cit.,
1988, p. 16 et seq.
445
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O nominalismo, defrontando-se com a economia monetária e a acumulação de capital, faz com que a naturalidade tomista ceda terreno ao positivismo contratual. Se
conserva a noção de bem comum e de eqüidade na distribuição dos bens, como fundamento da ordem social, passa, apesar disto, a considerar que a aquisição dos bens e
a defesa da propriedade são o motivo pelo qual foi instituído pelo povo um príncipe.109
Mas a vida do homem não visava apenas a um fim natural – o viver segundo a excelência moral –, continuava João
Quidort, e sim também a um outro sobrenatural, a vida eterna, fim último de toda multidão (tota multitudo) que vivia segundo a virtude. Por isso, era preciso que existisse um outro
ser capaz de dirigi-la na direção da virtude divina.110 Pois
esta não poderia ser alcançada pela simples força da natureza humana, cujo controle cabia ao rei, mas apenas por meio
daqueles responsáveis pela condução das coisas sagradas,
isto é, os sacerdotes, ministros de Cristo e administradores
dos sacramentos.111 Por essa razão, dizia o Surdo, o sacerdotium podia ser definido como aquele “poder espiritual confe109
DE BONI, L. A. João Quidort: o tratado De regis potestate et papali e o
espaço para o poder civil. Veritas, Porto Alegre, v. 38, n. 150, p. 288-9,
jun. 1993.
110
“Por isto, é necessário que exista algum indivíduo que dirija a multidão
para este fim. Se fosse possível atingir tal fim pela força da natureza
humana, pertenceria necessariamente ao ofício do rei terreno orientar
os homens para ele, pois chamamos de rei àquele a quem foi confiado o
cuidado supremo do governo nas coisas humanas. Mas como o homem
não consegue a vida eterna pela virtude humana, mas pela divina [...]
levar ao fim sobrenatural não é obra de governo humano, mas de governo divino. [§] Este governo pertence, portanto, àquele rei que não é somente homem, mas também Deus, Jesus Cristo, que faz dos homens
filhos de Deus e assim os introduz na vida eterna, sendo por isto chamado rei” (SPRP, p. 47).
111
E adiante: “como Cristo haveria de subtrair da Igreja sua presença corporal, foi necessário instituir alguns auxiliares, que ministrassem
aoshomens estes sacramentos, auxiliares estes que são chamados de
sacerdotes, porque dão coisas sagradas, ou são guias (duces) sagrados,
446
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
rido por Cristo aos ministros da Igreja para dispensarem os
sacramentos aos fiéis” (SPRP, p. 48).
A Igreja, explicava João Quidort, havia sido instituída
para reparar aquela injúria causada ao Senhor quando do
pecado comum da humanidade. Cristo, oferecendo-se em
sacrifício a Deus, tinha removido, por meio de sua morte, o
pecado original, obstáculo universal à salvação espiritual do
homem. Depois disso, foi necessário introduzir outros remédios, como os sacramentos, para que os benefícios de Cristo
pudessem ser aplicados a todos os homens. Tais sacramentos, argumentava ele, deviam pertencer à ordem dos sentidos, de modo que pudessem encontrar as necessidades da
natureza humana. Pois apenas por meio das coisas sensíveis
podia o homem ser levado ao entendimento das coisas espirituais e intelectuais. Por essa razão, foi necessário instituir
ministros que administrassem esses sacramentos.
Tais ministros eclesiásticos, voltados para o culto divino, ordenavam-se a um único superior, seu chefe supremo.112
Já os fiéis leigos não têm uma determinação de direito
divino que, nas coisas temporais, os coloque sob um só
monarca supremo. Pelo contrário, por um instinto natural, que provém de Deus, são levados a viver na comunidade civil e, para bem viver em comum, elegem chefes,
que variam em quantidade segundo o número das comuou docentes de coisas sagradas, pelas quais são intermediários entre
Deus e os homens” (idem).
112
Ao identificar o governo civil à ordem natural e o eclesiástico à graça,
João Quidort encontrava uma justificativa para a relativização do governo civil, esclarece De Boni: “Por uma determinação divina – não por
exigência da razão – a unidade dos homens na mesma fé deve ser protegida e garantida por uma unidade na direção da comunidade dos
fiéis, e por este motivo o povo cristão tem como dirigente maior na terra
o sucessor de Pedro na sé de Roma. Já a organização política dos homens fundamenta-se em princípios da razão, não da revelação, e a razão não apresenta nenhum argumento em favor da unidade dos homens
sob um único governante”. Cf. DE BONI. Introdução. In: SPRP, p. 25.
447
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
nidades. A colocação de todos sob um único monarca
supremo, nas coisas temporais, não se fundamenta nem
na inclinação natural, nem no direito divino, e nem lhes
convém da mesma forma como aos ministros eclesiásticos. (SPRP, p. 49)
Para justificar a diversidade das formas de governo
terrenas, João Quidort assumia a argumentação aristotélica
acerca da variedade das constituições políticas e, tal como o
Filósofo, explicava-a em termos “antropológicos”. Mas esse
seu enunciado precisava dar conta de um elemento adicional, a ordenação ao sobrenatural, estranha ao Estagirita. Para
isso, recorria ao argumento tomista da unidade do gênero
humano:
1. Nos homens há uma grande diversidade quanto aos
corpos, mas não quanto às almas, visto que todas estão
constituídas no mesmo grau de ser, devido à unidade da
espécie humana. Do mesmo modo, devido às condições
geográficas e diferenças raciais [complexionum diversitatem], o poder secular possui maior diversidade que o espiritual, que não varia tanto nestes assuntos. Daí, pois,
não ser necessária a mesma diversidade em um e em
outro. (SPRP, p. 49)
O segundo argumento utilizado por João Quidort para
sustentar a multiplicidade de comando no que respeitava às
coisas temporais repousava num certo realismo político: a
dificuldade da imposição do gládio material, que supunha a
força sobre povos distantes, enquanto ao poder espiritual era
mais fácil tal controle dado serem as suas penas somente
verbais:
2. Não é tão fácil a um só dominar [ad dominandum] todo
o mundo nas coisas temporais, assim como um só é suficiente para dominar nas espirituais. O poder espiritual
pode facilmente transmitir a todos, próximos e distantes,
as suas penas, por serem elas verbais. Já o poder tempo448
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
ral não pode fazer que com facilidade o peso de seu gládio,
por ser manual, possa ser sentido nos que estão distantes. De fato, é mais fácil à palavra que à mão atuar à distância. (SPRP, p. 49-50 – grifos meus)
Hobbes, Locke e outros tantos pensadores políticos
ecoariam por séculos os termos dessa formulação.
Por fim, para que a unidade da fé não fosse destruída,
era necessário que houvesse nas coisas espirituais uma só
autoridade superior cujas sentenças obrigassem a todos os
fiéis.113 Já a vida política não supunha a convivência de todos os seres humanos numa única comunidade política comum a todos:
Devido à diversidade de climas, de línguas e de condições
dos homens, pode haver diversos modos de viver e diversas comunidades políticas, e o que é virtuoso em um povo
não o é noutro, como o Filósofo diz das pessoas singulares, ao anotar que algo pode ser demasiado para um e
pouco para outro. (SPRP, p. 50)
Por todos os argumentos apresentados, portanto, não
era possível deduzir nem do direito natural nem do direito
divino a necessidade de um governo universal – como o do
imperium – sobre as coisas terrenas, insistia o Pregador. Com
base nesse raciocínio, João Quidort opunha-se às pretensões de domínio temporal tanto do imperador quanto do sumo
pontífice. E recorria a Agostinho para sustentar que a república (res publica) era mais bem governada, e de modo mais
pacífico, “quando as fronteiras do reino de cada um coincidiam com as de sua cidade” (SPRP, p. 50). A idéia do Estado
113
“Então, para que a unidade da fé não seja destruída pela diversidade
das controvérsias, é necessário, como ficou dito, que nas coisas espirituais haja uma só autoridade superior, por cuja sentença estas controvérsias sejam dirimidas” (SPRP, p. 50).
449
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
territorial moderno já ganhava com nitidez os seus contornos,114 nesse momento bastante bem delineados em unidades concretas como a França, Inglaterra, Espanha e Portugal,
entre outras.
A comunidade política assim organizada não se opunha, segundo João Quidort, à religiosa, mas simplesmente
desempenhava funções diferentes e operava com instrumentos distintos daqueles encontrados na ordem natural, que
em si mesma tinha um fim: o viver segundo a virtude. Essa
tarefa da autoridade temporal englobava a possibilidade de
administrar o bem comum de maneira justa, independentemente do recurso a regras ou preceitos divinos. E, como tal
gestão era racional, fundada em argumentos razoáveis aceitos no processo de convencimento, todo discurso que não se
fundamentava numa racionalidade mundana podia ser re114
Ullmann chama atenção para um dado relevante: segundo ele, o componente “impessoal” da noção de soberania, isto é, aquele que se refere
à soberania externa, espacialmente delimitada por fronteiras bem
demarcadas, foi assumido oficialmente pelo papa Clemente V, em sua
bula Pastoralis cura, de 1314. Nela o pontífice fazia a defesa de Roberto
de Nápoles, rei da Sicília, afirmando a jurisdição do monarca sobre seu
território e liberando-o de responder à acusação de crime de lesa-majestade contra o imperador Henrique VII. Os argumentos utilizados na
bula para sustentar a autonomia territorial do rei siciliano não vinham
da imaginação do pontífice, esclarece Ullmann, e sim da antiga lei canônica, constante nas compilações legais da Ecclesia. A base da argumentação papal, segundo o autor, repousava na lei diocesana – oriunda por
sua vez do antigo direito público romano – que regulamentava a jurisdição dos bispos em suas dioceses de acordo com o princípio territorial:
seus domínios se estendiam aos limites geográficos de cada diocese. A
determinação era antiga, lembra Ullmann, e havia sido sancionada no I
Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 381. Agostinho, que certamente conhecia as resoluções da reunião provavelmente as tinha em
mente quando escrevia sobre as “fronteiras do reino”. Mais uma vez,
noções surgidas no seio da Igreja eram utilizadas para sustentar as
pretensões dos poderes estatais emergentes. Cf. ULLMANN, op. cit., 1978,
p. 17-9.
450
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
jeitado. Também a idéia de um governo temporal universal
opunha-se agora à razão e à força determinantes dos costumes e da diversidade. Como a comunidade política já não se
baseava mais numa instituição divina, fosse do imperium ou
do sacerdotium, era preciso definir seus traços.
A coisa pública (res publica), insistia João Quidort adiante, de fato não podia ser governada sem a noção de justiça.
Isso não equivalia a dizer, no entanto, que somente a Ecclesia
fosse capaz de gerar tal virtude:
Deve-se observar que as virtudes morais podem ser perfeitamente adquiridas sem as teologais, e nem são aperfeiçoadas por estas a não ser de um modo acidental [...].
Portanto, também sem a direção de Cristo pode haver a
justiça verdadeira e perfeita que se requer para o reino,
pois o reino ordena-se a viver segundo a virtude moral
adquirida que, posteriormente, pode ser aperfeiçoada por
outra virtude qualquer. (SPRP, p. 111)
Ao conceder à natureza autonomia diante do sobrenatural, recorda De Boni, João Quidort tornava possível falar
das ciências práticas e da ação humana independentemente
de uma moral de origem sobrenatural.
Ora, a política, enquanto ciência do agir social, constitui
um fim em si mesma. João Quidort concede sem hesitar
que a política não é o fim último do homem e que, para o
cristão, ela se ordena a um fim superior. Mas isso não
quer dizer que ela simplesmente exista em função desse
outro fim, como se não tivesse bondade ou finalidade em
si mesma.115
Viver segundo a virtude, continua De Boni adiante, não
implicava o atrelamento do poder político ao religioso, “como
se coubesse a alguma autoridade fora e acima do Estado – e
115
DE BONI. Introdução. In: SPRP, p. 21.
451
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
da constituição racional deste – indicar o que é virtude. O
Estado é uma construção da natureza racional do homem e,
como tal, pode ser pensado e realizado com empenho único e
exclusivo da razão”.
E se concedia alcance ilimitado ao poder espiritual, já
que este se fundava na palavra, isto é, na fala, dom comum a
todo gênero humano, ao poder temporal contudo o autor delimitava fronteiras bastante concretas: sua extensão dependia da capacidade de implementar a coerção física sobre um
determinado espaço geográfico. Ou seja, definia-se sobretudo pela capacidade de fazer cumprir a lei neste ou naquele
território. Tanto a realidade quanto a teoria revelavam o surgimento daquela noção tão fundamental à ciência política: os
modernos Estados territoriais. Também a “societas perfecta
do Estado deixa sempre mais de ser entendida como aquela
harmonia à qual tendem naturalmente as pessoas”, aponta
De Boni lembrando a emergência do nominalismo, “para ser
encarada como a multitudo de interesses divergentes, que só
se mantém coesa graças à força da autoridade: que paga
impostos devido aos fiscais e às multas; que observa as leis
por temor dos castigos; e que um dia lutará pela pátria porque arrastada compulsoriamente para o campo de batalha”.116
Também nas Escrituras se podia ler, argumentava João
Quidort, que a instituição do regnum legítimo havia precedido temporalmente à instituição do verdadeiro sacerdotium,
quando se tomava o sacerdócio em sentido próprio e estrito,
como mostrara Cristo.117 Como o que era posterior no tempo
costumava preceder em dignidade, como era o caso do per116
117
Ibid., p. 21-2.
“[...] desde Abraão – antes de cujo nascimento houve reis dos assírios,
dos siciônios, dos egípcios e outros mais – até Cristo decorreram dois
mil anos, ou aproximadamente isto segundo outros. Portanto, temporalmente, antes do verdadeiro sacerdócio houve verdadeiros reis, cujo
ofício é preocupar-se com as necessidades da vida terrena dos homens”
(SPRP, p. 52).
452
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
feito com relação ao imperfeito e do fim com relação àquilo
que se ordenava, dizia João Quidort seguindo Tomás, “dizemos que o poder sacerdotal é maior que o real e o supera em
dignidade”. E concedia:
O reino, como foi visto, está constituído com a finalidade
de que a multidão reunida viva segundo a virtude; isto,
porém, ordena-se posteriormente a um fim mais elevado,
que é a fruição de Deus. A missão de levar a este fim foi
confiada a Cristo, de quem os sacerdotes são vigários e
ministros. Portanto, o poder sacerdotal é mais digno que
o secular. (SPRP, p. 53)
O fato de dispor o sacerdote de maior dignidade do que
o príncipe, entretanto, esclarecia o Pregador, não o tornava
superior a ele em todas as coisas. E respondia aqui a Egídio,
e aos partidários da hierocracia, rejeitando a cadeia causal
por ele suposta para a ordenação dos poderes. Pois o poder
temporal, embora menor do que o espiritual, não provinha
deste do mesmo modo que o poder do procônsul derivava do
imperial. Por essa razão, dizia João Quidort, o poder secular
era superior ao espiritual nas coisas temporais, assim como
o médico, cujo fim era inferior, não estava sujeito ao mestre
na aplicação de remédios.118 A primazia no âmbito espiritual
não podia, portanto, ser estendida ao reino das coisas seculares: tratava-se de duas esferas distintas que tinham somente uma característica comum, a origem divina.
Entre elas, contudo, não havia relação necessária de
causalidade nem de anterioridade lógica. Havia apenas uma
118
“Numa casa, o professor de letras ou de moral, por voltar-se ao conhecimento da verdade, ordena todos para um fim mais nobre que o médico, pois este visa a um fim inferior, que é o cuidado dos corpos. Quem
diria, porém, que o médico está sujeito ao mestre na aplicação dos remédios? Isto nem está prescrito, porque o Senhor da casa, que empregou a ambos, sob este aspecto não colocou o médico como sujeito a
ninguém” (SPRP, p. 54).
453
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
superioridade moral do poder espiritual sobre o temporal,
isto é, o primeiro desfrutava de maior dignidade que o segundo. Nada mais do que isso. E, por ser somente moral, essa
superioridade não tinha implicação concreta para as regras
de funcionamento do poder temporal: suas sanções, do mesmo modo, baseavam-se apenas em preceitos de caráter
normativo a serem ou não obedecidos pela consciência de
cada agente moral individual.
Como o poder temporal e o eclesiástico constituíam
coisas diversas, continuava João Quidort, a alegação de que
o pontífice, por deter um poder maior, ordenava também a
respeito do menor era equivocada. E explicava:
A afirmação é verdadeira em relação à maior e à menor
em uma determinada ordem, como, por exemplo: se o
bispo pode ordenar o sacerdote, pode ordenar também o
diácono. Não é verdadeira, porém, para as coisas que são
de ordem ou de gênero diferente, como, por exemplo: se
meu pai pôde gerar um homem, pode gerar também um
cão; ou: se o sacerdote pode absolver alguém do pecado,
pode absolver também da dívida pecuniária.119 (SPRP, p.
104)
Nos assuntos temporais, o poder secular em nada se
encontrava sujeito ao poder eclesiástico. Pois não procedia
119
Numa passagem do texto anônimo Quaestio in utramque partem, surgido na corte francesa em meio à querela entre o rei e o papa, essa idéia
era formulada nos seguintes termos: “No entanto, quando tal premissa
se refere a coisas de gênero diverso, não é verdadeira; por exemplo, o
fato de uma pessoa ser capaz de gerar uma outra não implica que possa
gerar igualmente uma mosca. Portanto, dado que as coisas espirituais
e as materiais são de gênero diverso, pelo mesmo motivo não decorre
que uma pessoa que exerce um poder no âmbito espiritual também
possa exercê-lo na esfera temporal”. In: SOUZA & BARBOSA, Documento
45, op. cit., p. 199. Uma cópia do documento original pode ser encontrada em: GOLDAST, M. (Ed.) Monarchia sancti romani imperii. Graz:
Akademische Druck u. Verlaganstalt, 1960. Reimpr. da ed. frankfurtiana de 1611-4. t. II, p. 95-107.
454
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
dele: ambos os poderes, terreno e espiritual, tinham origem imediatamente em Deus, isto é, no poder divino, e só
eram superiores naquelas coisas específicas que lhes cabiam.120 Ou seja, o sacerdote era superior ao princeps nas
coisas espirituais, e este, de seu lado, era superior ao sacerdos nas temporais. Isso não significava negar, esclarecia o
autor, que o sacerdócio de Cristo fosse superior ao poder
real em dignidade. E àqueles que defendiam virem ambos
os poderes de Deus, mas com uma certa ordem, João Quidort
respondia que podia até haver uma certa ordem de dignidade entre eles. Mas, como o poder temporal não provinha
do espiritual, não havia entre eles relação de causalidade.121
Se não havia prioridade do sacerdotium sobre o regnum na ordem das causas, muito menos poderia ter havido uma instituição do segundo pelo primeiro, como queriam
alguns, escrevia João de Paris. À alegação de que as coisas
temporais eram dirigidas pelas espirituais, e delas dependiam como de sua causa, João Quidort respondia, com
base no mesmo raciocínio:
120
“Assim, pois, o poder secular é superior ao espiritual em algumas coisas, isto é, nas coisas temporais, e neste assunto não se encontra em
nada sujeito ao espiritual, pois não procede dele, mas ambos provêm
imediatamente de um só poder supremo, que é o divino, e por isso o
poder inferior não está sujeito ao poder superior em todas as coisas,
mas apenas naquelas em que o poder supremo o colocou sob o superior. [...] Portanto, o sacerdote é superior ao príncipe nas coisas espirituais, e vice-versa, o príncipe é maior que o sacerdote nas temporais,
embora o sacerdote, pura e simplesmente, seja maior que o príncipe,
assim como o espiritual é maior que o temporal” (SPRP, p. 54).
121
“Eles têm, de fato, uma certa ordem de dignidade, como foi dito, mas
não de causalidade, pois um não provém do outro, assim como todos os
anjos são produzidos por Deus segundo uma certa ordem de dignidade,
enquanto, por natureza, um é mais digno do que outro, mas não há
entre eles ordem de causalidade, pela qual um provém de outro, mas
todos são criados imediatamente por Deus” (SPRP, p. 112).
455
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
O argumento, assim apresentado, falha sob muitos aspectos. Em primeiro lugar, supõe que o poder real seja
corporal e não espiritual, e que tenha reservado a si o
cuidado dos corpos e não das almas, o que é falso, pois,
como foi dito acima, este poder ordena-se não para qualquer bem, mas para o bem comum dos cidadãos, que é
viver segundo a virtude. (SPRP, p. 106)
Em outras palavras: a sociedade política tinha seu fundamento em Deus tanto quanto a Igreja, mas por um vínculo
próprio e independente de toda mediação eclesiástica.
E completava:
Em segundo lugar, o argumento é falho porque não é
qualquer poder secular que é instituído, movido e dirigido por qualquer poder espiritual. Numa casa bem organizada, o professor de letras ou o mestre de costumes,
que possui poder espiritual, não institui o médico, mas
ambos são instituídos pelo pai de família, e o mestre não
dirige o médico enquanto médico, mas só por acidente,
na medida em que o médico deseja tornar-se de bons
costumes ou instruir-se. Assim o papa não institui o rei,
mas ambos são colocados por Deus a seu modo, e também não dirige o rei, enquanto rei, mas por acidente, na
medida em que é preciso que o rei seja fiel à crença, e
nisto é este instruído pelo papa a respeito da fé, mas não
do governo. O rei, pois, está sujeito ao papa naquilo a que
o sujeitou o poder supremo de Deus: apenas nas coisas
espirituais. (idem)
Dizer que havia uma hierarquia dos fins entre as coisas do espírito e as da matéria equivalia também a proceder
segundo uma falha de raciocínio, sustentava João Quidort:
a arte superior nem sempre e necessariamente domina
sobre a inferior, movendo-a de modo autoritativo e instituindo-a, mas só a domina de modo diretivo, assim como
o médico instrui o farmacêutico, e julga se o mesmo preparou corretamente os remédios, mas não o institui nem
destitui. Existe, porém, alguém superior tanto ao médico
456
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
como ao farmacêutico e a quem cabe a responsabilidade
de toda a ordem da cidade: é o rei ou o senhor da cidade;
este, se o farmacêutico não preparar os remédios conforme o pedido do médico, pode instituí-lo ou destituí-lo.
Aplicando ao nosso caso, podemos dizer que todo mundo
é como que uma cidade, na qual Deus é o poder supremo, que pode instituir tanto o papa como o príncipe.
(SPRP, p. 108)
2. Dominium e jurisdição: o bem privado e a
justiça comum
Investindo fortemente contra as reivindicações hierocráticas, materializadas naquele momento no tratado de
Egídio Romano escrito pouco antes, João Quidort passava
ao alvo seguinte: a reivindicação de dominium e jurisdição
em assuntos temporais pelo sumo pontífice. A matéria ocupa boa parte do livro (cap. VII-XX) e constitui provavelmente
a parte mais interessante da obra. A discussão se inseria no
contexto mais amplo das ordens mendicantes e sua reivindicação em favor da pobreza evangélica, que atingiria seu ápice pouco depois.122 João de Paris, sempre atento às disputas
de seu tempo, forneceria à questão uma nova e frutífera interpretação.
Os bens eclesiásticos, dizia ele, por serem de uso comum e pertencerem à comunidade da Igreja, não eram propriedade (proprietatem) nem dominium de qualquer pessoa
122
O século XIII fora marcado por uma enorme fermentação social, que
prosseguia no XIV. Multiplicavam-se as organizações, comunidades,
uniões, grêmios e movimentos rebeldes formados à margem de qualquer doutrina ou norma sustentada pela Igreja. Tornava-se cada vez
mais difícil manter a teoria de um mundo social ordenado de cima para
baixo, fato que podia ser verificado nas inúmeras formas de manifestação popular contra os princípios sociais dominantes na cristandade.
Sobre esse assunto, cf. WAUGH, S.; DIEHL, P. (Ed.). Christendom and its
discontents. Cambridge: Univesity Press, 1996.
457
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
singular, e sim do grupo como um todo. Ao sumo pontífice,
cabeça da Igreja universal, cabia apenas o cuidado e a administração desses bens coletivos, fossem eles temporais ou
espirituais.123 Isso contudo, advertia, não o tornava senhor
(dominus): tal dominium cabia somente à comunidade da
Ecclesia, senhora e proprietária daqueles bens em geral, cuja
posse era detida pelas igrejas e comunidades particulares,
que tinham sobre eles direito de uso (ius utendi).
Por essa razão, continuava o Pregador, o sumo sacerdote não podia dispor dos bens eclesiásticos como desejasse
e nem seus decretos tinham vigor legal:
Isto aconteceria se ele fosse senhor [dominus], mas como
é apenas administrador dos bens da comunidade – e do
administrador espera-se boa fé – não recebeu ele poder
sobre estes bens, a não ser para a necessidade ou utilidade da Igreja em geral. [...] Assim sendo, não tem força
de direito sua ação, se dispõe ad libitum e não de boa fé
os bens eclesiásticos, e no caso não só deve fazer penitência pelo pecado, como se fosse por abuso de algo que
fosse seu, mas, por ter agido de modo infiel, está obrigado à restituição, se possui algum bem herdado ou adquirido, já que agiu como dilapidador de bens que não são
seus. (SPRP, p. 59)
Ou seja, caso os atos do pontífice não se subordinassem à utilidade do corpo eclesial, ele podia ser punido e estava obrigado a devolver os bens transacionados pelo mau uso
123
“Como os fundadores de igrejas entendiam transferir domínio e a propriedade dos bens oferecidos primária e imediatamente à comunidade
de um colégio, isto é, de determinada Igreja, para o uso dos que nela
servem a Deus, e não tencionavam transferir ao senhor papa, é evidente que o domínio imediato e verdadeiro sobre tais bens cabe à comunidade, e não ao papa ou a qualquer outro prelado subalterno. [...] Portanto,
o papa não é senhor único, mas administrador geral; o bispo e o abade
são administradores especiais e imediatos; a comunidade, porém, é que
tem o verdadeiro direito de posse sobre os bens” (SPRP, p. 58).
458
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
do patromônio coletivo. E, se não corrigisse seu erro, o sumo
pontífice podia ser deposto pelo corpo dos fiéis.124
E assim ocorria porque a propriedade eclesiástica era
conferida às comunidades, e não a pessoas individuais: apenas a congregação como um todo detinha dominium ou
proprietas sobre ela. O papa, membro principal e cabeça da
congregatio dos cristãos, tinha somente o direito de uso dos
bens comunitários. Podia administrá-los e deles dispensar,
alocando-os de acordo com a justiça proporcional e com o
bem comum do grupo. Essa era a posição do bispo numa
catedral que, em virtude da unidade da Ecclesia, estava subordinado ao papa, encarregado de zelar pelo bem geral da
instituição eclesial. Por isso, o pontífice constituía o dispensator de todos os bens eclesiásticos, temporais – como o Patrimonium Petri – e espirituais. Ele não era, contudo, dominus,
senhor desses bens, pois apenas a comunidade universal da
Igreja podia sê-lo, já que eram comuns e a propriedade deles
geral.
Os bens dos leigos, pelo contrário, dado serem adquiridos individualmente por meio do esforço de cada um, não
constituíam posses coletivas. Por isso, o dominium sobre eles
– e isto é relevante – não podia caber nem ao pontífice nem ao
princeps, mas somente ao seu proprietário:
deve-se considerar que os bens exteriores dos leigos não
pertencem à comunidade, como os bens eclesiásticos, mas
são adquiridos pela arte, o trabalho e a habilidade própria
de cada pessoa, e as pessoas individualmente, e enquanto
124
“O mosteiro pode depor o abade, e a Igreja particular, o bispo, se for
constatado que dissipam os bens do mosteiro ou da Igreja, tomando-os
infielmente não para o bem comum, mas para seu interesse particular.
Do mesmo modo, se se constatar que o papa dissipa infielmente os
bens da Igreja, não os usando para o bem comum – sobre o qual, na
qualidade de pontífice supremo, cabe-lhe vigiar – pode ser deposto se,
admoestado, não vier a corrigir-se” (SPRP, p. 59).
459
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
indivíduos, possuem o direito, o poder e o verdadeiro domínio sobre eles, e, por ser senhor [dominus], cada um pode
por si ordenar, dispor, distribuir, reter e alienar qualquer bem ad libitum, sem com isto lesar a alguém. Tais
bens não possuem, pois, ordem e conexão entre si, nem
para com um chefe comum, a quem caiba dispô-los e
distribuí-los, pois cada um é ordenador de suas próprias coisas assim como bem o entende, e nem o príncipe
nem o papa tem direito de posse [dominium] ou de administração [dispensationem] sobre tais bens.125 (SPRP,
p. 60 – grifos meus)
João Quidort utilizava dessa maneira a tese tomista da
individuação corpórea existente entre os homens que compreendiam uma espécie para explicar a propriedade tanto
privada quanto pública. À diversidade dos corpos, no entanto, ele opunha a unicidade da alma, dado que todas as criaturas humanas eram constituídas do mesmo grau essencial,
segundo a unidade da espécie. Nesse ponto, João Quidort
nada mais fazia do que seguir as pegadas do Aquinate e sua
doutrina da unicidade substancial da forma e da matéria,
como já foi visto. Mas ia além do mestre ao relacionar explicitamente a posse material ao trabalho: isto é, cada ser individualmente era dominus, senhor da sua propriedade pelo fato
de tê-la adquirido por meio do esforço e indústria próprios.
Por essa razão também, cada indivíduo era o administrador
de seus bens, podendo fazer com eles tudo o que desejasse.
125
No original: “Ad quod declarandum considerandum est quod exteriora
bona laicorum non sunt collata communitate sicut bona ecclesiastica, sed
sunt acquisita a singulis personis arte, labore vel industria propria, et
personae singulares, ut singulares sunt, habent in ipsis ius et potestatem
et verum dominium, et potest quilibet de suo ordinare, disponere,
dispensare, retinere, alienare pro libito sine alterius iniura, cum sit
dominus. Et ideo talia bona non habent ordinem et connexionem inter se
nec ad unum commune caput quod habeat ea disponere et dispensare,
cum quilibet reisuae sit ordinator pro libito. Et ideo nec princeps nec papa
habet dominium vel dispensationem in talibus”. In: QUIDORT. De regia
potestate et papali, E. Bleienstein, op. cit., p. 96-7.
460
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Os homens tinham, portanto, sobre tais bens exteriores obtidos pelo esforço pessoal de cada um, direito de propriedade e verdadeiro dominium, de modo que cada qual podia
“ordenar, dispor, distribuir e alienar” como quisesse, sem
danos para terceiros. Essa propriedade não dependia de outros homens nem estava a eles condicionada. Tampouco ligava os homens entre si (“não possuem ordem e conexão
entre si”). Com base nesse raciocínio, João Quidort podia
negar, tanto ao príncipe quanto ao sumo pontífice, qualquer
poder sobre o dominium verdadeiro. Isso permitia ao Pregador falar do dominium (senhorio) de cada indivíduo como um
direito inalienável: John Locke, leitor de João Quidort, pouco
teria a acrescrentar a essa formulação. O princeps só podia
dispor dos bens privados de cada uma dessas unidades em
caráter excepcional, quando estava em jogo o interesse do
bem comum, a utilitas publica. Uma nova forma de interpretar o mundo estava sendo gestada. Os representantes da teoria
do valor-trabalho, por exemplo, encontrariam, séculos mais
tarde, justamente nessa idéia um bom motivo para a reivindicação de um novo mundo.
Mas, como a posse privada de bens era freqüentemente fonte de conflitos entre os seres humanos, justificava João
Quidort, foi preciso instituir a populo um governante, a fim
de que essas querelas fossem solucionadas de forma justa:
Seguidamente, porém, acontece que por causa destes bens
exteriores a paz comum é perturbada, pois um rouba o
que é de outro; outras vezes, porque os homens, apegando-se por demais às próprias coisas, não as distribuem
conforme o exige a necessidade ou a utilidade da pátria
(utilitati patriae). Por isto foi instituído pelo povo um príncipe, que como juiz preside nestes casos, discernindo entre
o justo e o injusto, punindo a apropriação indébita e determinando a quantidade certa de bens que deve receber
dos cidadãos para prover à necessidade e utilidade comum. (SPRP, p. 61)
461
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Mas por que instituir um príncipe? Depois da queda
em pecado, contava João Quidort, os homens, proprietários
individuais, administravam suas posses de maneira egoísta
e auto-interessada, sem consideração para com os demais
seres humanos. De Deus as criaturas haviam recebido o instinto natural, por meio do qual apreendiam que lhes podia
ser útil a vida em comunidade, de modo a evitar a reprodução infinita dessas experiências violentas. Mesmo que, em
princípio, os homens não precisassem uns dos outros para
administrar suas propriedades, parecia razoável que, a fim
de impedir que a paz do todo fosse perturbada por causa dos
conflitos – roubo, amor excessivo do seu etc. – gerados pelos
bens exteriores, fosse estabelecido um príncipe que agisse
como um juiz em tais situações, distinguindo o justo do injusto.
O governante, portanto – punidor das injúrias e injustiças e distribuidor dos prêmios –, era aquele que media a
justa proporção do bem comum a ser concedida a cada proprietário individual. Tais governantes, explica Coleman, não
destruíam a propriedade privada dos indivíduos, nem o seu
direito natural a ela, e sim organizavam-na de modo que servisse à utilitas publica, cujo cuidado era incumbência do príncipe: devia ele assegurar o bem comum do todo, impedindo a
desintegração daquela multidão de indivíduos à procura de
seus interesses pessoais.126 Pois na ausência de um poder
comum dentro dos corpos que os inclinasse na direção do
bem coletivo, argumentava João Quidort invocando o mestre, o corpo do homem sofreria um colapso.
Por isso, um tal rector do governo das coisas constituía
uma necessidade. O bem individual, como já havia explicado
o autor, não equivalia ao bem do coletivo: os homens diferiam no que lhes era próprio enquanto indivíduos e uniam126
Cf. COLEMAN, J. The dominican political theory of John of Paris in its
context. In: WOOD, op. cit., p. 211.
462
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
se naquilo que lhes era comum. Pois um princípio de unidade era requerido para que os indivíduos se juntassem sob a
comunidade da espécie. E porque causas diferentes tinham
efeitos diversos – como já demonstrara ele a respeito do poder temporal e do espiritual – então necessariamente o que
movia cada indivíduo para o bem próprio era diferente daquilo que o movia na direção do bem comum dos muitos. Por
essa razão, a garantia da boa vida em comunidade consistia
em subordinar o interesse privado ao comum.
Como não era dominus, não detinha o papa portanto
direito de uso sobre os bens dos leigos, podendo cada qual
deles dispor ad libitum. O único instrumento do pontífice para
obter posses materiais dos leigos com vistas ao bem espiritual comum era a censura eclesiástica, que não passava de
uma “declaração de direito” (iuris declaratio). Mas ter propriedade e dominium sobre bens exteriores, esclarecia o Pregador, não equivalia a ter jurisdição (iurisdictionem) – isto é, o
direito de decidir o que era justo ou injusto – em relação a
tais bens.127 E exemplificava: “Os príncipes têm o poder de
julgar e discernir sobre os bens dos súditos, embora não tenham o direito de domínio sobre a própria coisa em questão”
(SPRP, p. 62). Essa discussão tinha um importante sentido
estratégico na tentativa de mostrar a incompatibilidade entre a missão eclesial e aquela do poder político.
João Quidort construía sua argumentação a partir de
uma teoria da propriedade e de uma concepção de governo a
127
Janet Coleman chama atenção para uma formulação relevante de João
Quidort: a de que o poder (potestas), em assuntos temporais, devia ser
entendido de maneira específica: isto é, como aquele senhorio sobre a
propriedade material, chamado por João Quidort de dominium in rebus.
Com essa restrição, diz ela, o autor restringia a utilização do termo
dominium, à época de uso vasto, à esfera unicamente temporal. Cf.
COLEMAN, J. Dominium in the thirteenth and fourteenth-century political
thought and its seventeenth-century heirs: John of Paris and Locke.
Political Studies, v. 33, n. 1, p. 77, mar. 1985.
463
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ela associada. Seu raciocínio era tão claro quanto sucinto: o
dominium dos leigos sobre seus bens, porque fundado na
indústria e diligência de cada um, constituía um seu “direito,
poder e verdadeiro domínio”. Tal senhorio era anterior, histórica e logicamente, aos distintos modos de exercício da jurisdição, que consistia na determinação do justo e do injusto
em relação aos vários usos das posses privadas e, num momento posterior, daquelas comuns. Esses bens privados, antes
da instituição de um governante, não eram conectados nem
ordenados mutuamente, nem dispunham de uma cabeça
comum para administrá-los, pois cada qual decidia pro libito
sobre o que era seu.
Eleito um príncipe para reparar os agravos e satisfazer
as necessidades coletivas, instaurava-se a iurisdictio – literalmente, o ato de “ditar a justiça”, o direito, a lei, o ius, que
tem como verbo correlato iurare, jurar, prometer sob juramento. Ou seja, aquela capacidade de gerir os vários domini
preocupados apenas com perseguir seus interesses privados. Ao decidirem, por um processo de convencimento e persuasão pelos mais sábios, se unir numa associação civil, os
indivíduos renunciavam voluntariamente a boa parte de sua
autonomia para viver numa comunidade pacífica, regulada
pela lei, sob a direção de um rector por eles designado para
proteger o bem comum e também os vários bens privados:
ficava-lhes garantido que a propriedade de cada um seria
preservada da guerra, da usurpação e da violência por parte
de terceiros.
O estabelecimento do princeps se dava por meio da livre escolha pelos singulares, que o elegiam e a ele se submetiam. A jurisdição do governante, dessa forma, era legitimada
pelo fato de que fora imposta originalmente pelos indivíduos
sobre si mesmos para o benefício de todos. A criação da comunidade política, nessa perspectiva, realizava a natureza
gregária das criaturas humanas, isto é, tornava ato a inclinação natural dos cives à vida comum, e os afastava um
464
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
pouco, pelo incentivo da virtude, da forma pecaminosa de
vida que levavam antes da instauração da iurisdictio. A reunião livre de todos nessa formação específica tornava possível o exercício legítimo da coerção em nome do bem comum e
da garantia do dominium individual.
Entre os instrumentos para a manutenção dessa ordem pública estavam a lei e o governo, e todas as instituições
deles decorrentes. E, porque era o governante eleito livremente pelo populus com base em argumentos razoáveis, João
Quidort podia adotar a velha máxima segundo a qual “o que
apraz o príncipe tem força de lei”: se a vontade do príncipe
não reconhecia superior, era porque ela coincidia com aquela dos súditos. O raciocínio tinha inspiração claramente aristotélica: o bem das partes correspondia, na ordem da polis,
ao bem do todo. Esse era o significado último da jurisdição
da autoridade pública. Não havia descontinuidade entre dominium, o próprio dos indivíduos, e iurisdictio, o direito específico daquele que geria o bem público. Ao papa, portanto, cabia
somente guiar os espíritos ao seu fim último, a fruição de
Deus, já que fomentar as virtudes terrenas era tarefa unicamente do princeps.
João Quidort operava aqui uma clara distinção entre
direito, de um lado, entendido como aquelas regras de ação
acerca do justo e do injusto, reguladas pela capacidade de
coagir, e cuja garantia era função exclusiva do rei; e moral,
de outro lado, entendida como aquele conjunto de regras ou
preceitos de ação que não implicavam o uso da força e, portanto, não tinham vigor de lei, e cuja propagação e estudo
cabiam sobretudo aos prelados. Mas ia além: à diferenciação
entre direito e moral – passo fundamental para a definição
da idéia de soberania, que já vinha sendo desenvolvida pelos
juristas canonistas e civilistas desde o século XII –, João
Quidort acrescentava agora novos elementos relevantes, entre os quais a noção do exercício da coerção como fundamento primeiro da ordem legal.
465
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Seus argumentos não se limitavam, porém, às explicações naturais, esclarecia o Pregador, mas podiam ser corroborados também por uma leitura atenta das Escrituras.
Contra aqueles que reivindicavam ter recebido o papa tal
dominium do filho de Deus, o autor opunha a afirmação de
que o próprio Cristo, enquanto homem, não tivera senhorio
algum sobre os bens dos leigos, nem tampouco autoridade
ou poder judicial sobre as temporalia:
Cristo não possui um reino como os demais reis terrenos,
mas um muito maior e mais brilhante reino nas alturas, e
que não foi construído pelo homem. [...] Fica claro, pois,
segundo os santos expositores, que Cristo não teve autoridade sobre as coisas temporais, nem poder judicial, mas
sua missão era dar testemunho da virtude. (SPRP, p. 63)
O sumo pontífice, portanto, não poderia ter recebido de
Cristo algo que ele próprio não tivera.128
A realeza de Cristo, sustentava João Quidort, jamais
fora deste mundo e, por isso, seu poder não era da ordem
temporal. Por essa razão, nada havia a que renunciar: Cristo, ao longo de sua vida pregadora, jamais exercera direito de
propriedade nem jurisdição temporal alguma. Todas as passagens das Escrituras citadas pelos defensores da supremacia papal em assuntos temporais, esclarecia João Quidort,
referiam-se a um exercício, por Cristo, da jurisdição sobre os
bens dos leigos enquanto Deus, e não na qualidade de homem. E quando a glosa afirmava reinar Cristo pela fé, isso
não equivalia a dizer que Jesus havia pretendido dos homens que se submetessem a ele como o faziam em relação
aos reis terrenos. Esse, aliás, tinha sido o erro de Herodes,
128
“Conclui-se, pois, que, como Cristo, enquanto homem, não teve domínio
sobre os bens temporais, assim também qualquer sacerdote, enquanto
vigário de Cristo não possui poder dado por Cristo sobre estes bens, pois
não lhe transmitiu o que ele mesmo não possuía” (SPRP, p. 64).
466
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
que julgara ter desejado Cristo ser meramente um rei terreno
quando na verdade pretendera reinar somente nos corações.129
Por essa razão também, afirmar que o príncipe não podia
fazer as leis nem colocá-las em vigor enquanto não fossem
aprovadas pelo papa, a quem competiria ditar leis vinculantes,
significava repetir, uma vez mais, o erro dos herodianos, argumentava João de Paris:
Dizer, porém, com tais juristas, que o papa dita leis ao
príncipe, e que o príncipe só pode tomar leis de outras
fontes quando elas são aprovadas pelo papa, é simplesmente destruir o regime real e republicano [regimen regale
et politicum], e cair no erro de Herodes, julgando e temendo que Cristo destruísse o reino terreno, pois, segundo diz
Aristóteles, [...] um governo só se chama real quando é
presidido por um só, segundo as leis que ele mesmo fez;
quando, porém, não é governado segundo seu arbítrio, nem
segundo as leis que ele mesmo institui, mas que foram
feitas pelos cidadãos, chama-se então governo civil, ou
republicano [principatus civilis vel politicus]. Se, pois, uma
autoridade só vier a governar segundo leis que lhe forem
dadas pelo papa, ou que antes sejam aprovadas por ele,
não haverá então governo real ou republicano, mas papal.
Isto significaria a destruição do reino e o esvaziamento das
formas antigas de governo. (SPRP, p. 109-10 – grifos meus)
Gregorio Piaia sustenta que a menção ao erro de Herodes
tinha uma função específica na obra do Pregador: a ele João
129
“Assim, pois, segundo a glosa, o jugo da lei e do pecado é sacudido por
Cristo de seus membros. Mas não se deve entender que Cristo, pela fé,
reine nos homens, como se alguém, ao converter-se à fé, venha a tornar-se súdito do vigário de Cristo nas coisas temporais, assim como
soem os homens ser súditos dos reis. Se assim fosse, Cristo teria mudado o reino terreno, como Herodes temia. Mas diz-se apenas que reina
pela fé, porque os homens submetem a Cristo aquilo que neles é supremo e mais importante, que é o espírito, e o entregam como cativo em
obediência à fé. Este é o espírito dos santos” (SPRP, p. 67).
467
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Quidort atribuía a raiz daquele princípio teocrático – que servia para sustentar as pretensões dos modernos defensores
da plenitude de poder do papa tanto em coisas espirituais
como temporais – destruidor da herança aristotélica (e tomista)
baseada na naturalidade dos ordenamentos políticos, fossem eles monárquicos ou democráticos.130 A hipótese parece
bastante plausível, sobretudo quando se considera que a via
media aplicada por João Quidort consistia quase invariavelmente numa aparente concessão inicial à posição adversária
para, no momento seguinte, obrigar seus opositores a mover-se no mesmo terreno argumentativo sobre o qual ele, João
Quidort, imperava. Por isso, parece sensato pensar que a
exposição do Surdo fazia uso de recursos estratégicos refinados. E mais ainda quando se recorda que o tratado fora escrito, antes de tudo, para ser um instrumento de combate na
luta entre o rei e o sumo pontífice.
E, mesmo que Cristo tivesse desfrutado de tal jurisdição e autoridade enquanto homem, concedia adiante João
de Paris, ele não a transmitira a Pedro nem aos seus sucessores: ao apóstolo Cristo transferira apenas o poder espiritual, conferindo o temporal a César.131 Os poderes, portanto,
eram distintos não só quanto ao objeto, mas também quanto
130
Cf. PIAIA, G. L’errore di Erode e la via media in Giovanni da Parigi. REVISTA
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS. As relações de poder no pensamento político da Baixa Idade Média. Homenagem a João Morais Barbosa. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, v. I, 1994.
131
“Segundo Ef. 1:22 e 5:23, Cristo é cabeça da Igreja [caput Ecclesiae]. [...]
Às vezes, porém, as coisas que estão unidas na cabeça estão separadas
nos membros. Assim, por exemplo, todos os sentidos estão na cabeça,
mas não em qualquer um dos membros. E há uma regra geralmente
válida: as coisas são mais distintas nos principiados que no princípio,
nos efeitos que na causa, nos inferiores que no superior. Portanto, se
Cristo, também enquanto homem, teve os dois poderes, nem por isto é
necessário que tenha transmitido ambos a Pedro, a quem transmitiu só
o espiritual, conferindo o temporal a César, poder este que ele recebera
de Deus” (SPRP, p. 67).
468
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
ao sujeito, escrevia João Quidort: “O imperador é a maior
autoridade nas coisas temporais, e não existe ninguém superior a ele, do mesmo modo como o papa o é nas coisas
espirituais” (SPRP, p. 67). E àqueles que utilizavam a referência às duas espadas para sustentar a jurisdição de Cristo, João Quidort respondia, recorrendo ao Pseudo-Dionísio,
que a teologia mística não tinha força probatória.
Por isso, sustentava que a alegação a respeito dos dois
gládios tomada de Lc 22, 38 constituía somente uma adaptação alegórica a partir da qual não se podia formular um argumento válido. E reintrepretava a tão amplamente divulgada
teoria gelasiana das duas espadas:
Aliás, posso dizer que por aqueles dois gládios não se
entendem misticamente os dois poderes em questão, principalmente porque assim não são expostos misticamente
por nenhum dos santos, cuja doutrina é aprovada e confirmada pela Igreja; pelos dois gládios todos entendem a
palavra de Deus [...] que é chamada de “dois gládios” por
causa do Antigo e do Novo Testamento. (SPRP, p. 114)
Por dois gládios podiam-se entender ainda a palavra
ou pregação e a perseguição que deveria ser suportada pelos
apóstolos.132
Mesmo supondo-se que constituísse uma representação dos dois poderes, entretanto, concedia João Quidort mais
uma vez, era preciso concluir dessa passagem que Pedro havia
recebido de Cristo um único gládio, o espiritual:
132
“Pelos dois gládios podem-se também entender o gládio da palavra e o
da perseguição implacável, da qual diz Lc. 2: 35: ‘Uma espada traspassará tua própria alma’; e em 2 Sm 12: 10: ‘O gládio não sairá de tua
casa’. Estes dois gládios deviam então ser suficientes para os apóstolos:
um deviam eles suportar passivamente – o gládio da perseguição; outro
lhes era próprio, devendo ser desembainhado no momento oportuno – o
gládio da pregação” (SPRP, p. 115).
469
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Admitindo, contudo, que por aqueles dois gládios entendam-se o poder espiritual e o temporal, embora se
diga que ambos são ali existentes, não se diz que ambos são propriedade de Pedro. De fato, num deles, no
secular, não tocou, pois não era seu; tocou no outro, o
espiritual, o único que o Senhor disse pertencer-lhe, e
contudo não devia ser imediatamente desembainhado
por Pedro. Por isto foi-lhe dito (Mt. 26: 52): “Põe o teu
gládio na bainha”, pois o juiz eclesiástico não deve usar
incontinenti sua arma espiritual, mas só após séria
deliberação e em caso de grande necessidade, a fim de
não ser desprezado. Suposto então que por aqueles dois
gládios entendam-se misticamente os dois poderes, o
argumento fica em nosso favor, pois eram dois gládios,
e entretanto Pedro teve somente um. (SPRP, p. 115)
Além disso, argumentava ele recorrendo ao princípio
da divisão do trabalho, como a vida coletiva fora organizada
por Deus de modo a ser auto-suficiente, seria inconveniente
que tarefas tão diferentes como o cargo real e o episcopal
fossem atribuídas a uma única pessoa.133 E, como na transmissão do poder Cristo não colocara nenhuma restrição aos
demais apóstolos com relação a Pedro, embora o tivesse apontado como o principal e a cabeça da Igreja, seguia-se daí que,
entre os apóstolos, o poder que um tinha era também o poder do outro. Assim também hoje, dizia João Quidort, pelo
direito comum o que podia o pontífice sobre toda a Igreja,
podiam também os bispos em suas dioceses. E assim como
não era possível apelar do príncipe para o bispo local ou para
133
“Pode-se também argumentar com a comparação entre a Igreja fundada por Deus e os artefatos humanos. Uma casa é visivelmente imperfeita, materialmente mal montada e não basta a si mesma na vida, se uma
só pessoa deve exercer nela diversos ofícios. [...] A Igreja é chamada de
casa santa de Cristo [...]. Portanto, como foi organizada por Deus com o
necessário para a existência, seria inconveniente que nela fossem confiados a um só tão diversos ministérios como o ofício sacerdotal e o
domínio real” (SPRP, p. 68-9).
470
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
o sacerdote em matérias temporais, assim também não se
podia apelar ao papa.134
Se havia uma só cabeça na Ecclesia, considerava, tal
unidade estaria, em sentido próprio, apenas em Cristo, cabeça única da qual provinham todos os demais poderes em
diversos graus. O sumo pontífice, portanto, só podia ser dito
caput com relação à ordenação dos ministros da Igreja, da
qual ele era o minister principal:
Pode-se, sem dúvida, dizer que o sumo pontífice é cabeça
com relação à colocação exterior dos ministros, enquanto é o principal entre eles e de quem, como principal vigário de Cristo nas coisas espirituais, depende toda a
ordenação dos ministros como do hierarca e arquiteto,
do mesmo modo como a Igreja romana é cabeça das demais Igrejas. Mas o papa não é cabeça no sentido de que
deve dispor sobre coisas temporais, pois nestas cada rei
é cabeça de seu reino, e se houver um imperador, que
governe sobre tudo, ele é cabeça do mundo [caput
mundi].135 (SPRP, p. 112)
Isto é, Cristo era a cabeça da Ecclesia e, portanto, do
corpo místico. Na ordem terrena esse papel cabia ao rei, e,
134
“Ora, ninguém afirma que os demais bispos, enquanto são vigários de
Cristo e sucessores dos demais apóstolos, tenham também poder e domínio sobre os bens temporais, e que em questão temporal se possa
apelar do príncipe para o bispo local, ou para o sacerdote da paróquia –
o qual, segundo alguns, possui na paróquia o mesmo poder que o bispo
na diocese. Do mesmo modo, pois, não se deve dizer isto do papa com
relação a todo o mundo” (SPRP, p. 70).
135
Pode-se ler o mesmo na Quaestio in utramque partem: “Todavia, admitimos que o Sumo Pontífice pode ser chamado de cabeça da Igreja, enquanto é o vigário de Cristo e principal dentre os ministros eclesiásticos,
e de quem depende toda a organização da esfera espiritual, do mesmo
modo como também a Igreja Romana é designada cabeça das outras
Igrejas, mas o Papa não é a cabeça quanto ao governo temporal. Na
verdade, cada rei é cabeça no seu reino, como o Imperador é no Império
[...]”. In: SOUZA & BARBOSA, Documento 45, op. cit., p. 197-8.
471
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
quando este se subordinava a um poder maior – o que não
era o caso do monarca francês –, cabia ao imperador.136 Nesse esquema, o papa era reduzido “à condição de um simples
ministro, o maior de todos, sem dúvida, mas nada mais que
um ministro, nunca um termo de comparação à altura do
rei”.137 O sumo pontífice, embora não possuísse ambos os
gládios, podia até vir a ter jurisdição nas coisas temporais
quando o princeps, por devoção, assim o concedia.
Assim, em seus domínios, isto é, no Patrimônio de São
Pedro, dentro do qual tinha jurisdição, podia o pontífice dispensar em assuntos temporais. Mas, em qualquer outra terra que não lhe estivesse submetida, não podia o bispo de
Roma fazê-lo. Pois fora de seus domínios o papa podia legitimar apenas em matérias espirituais (SPRP, p. 101-2). O
patrimônio papal aparecia nesse raciocínio equiparado às
demais unidades políticas: seu administrador, responsável
pela gestão do bem comum sobre aquele território, tinha de
arbitrar os conflitos em nome do coletivo, detendo por isso,
dentro dele, jurisdição. Fora dessas fronteiras, entretanto,
nada mais lhe cabia em matéria de jurisdição.
O legado petrino era tratado mais e mais como uma
autêntica monarquia sobre a qual reinava o bispo de Roma.
136
E repunha o argumento de Egídio Romano, expondo uma absurdidade
lógica: “Há, porém, alguns que crêem poder evitar muitas destas conclusões através de uma pequena distinção. Dizem que o poder secular
encontra-se no papa de modo imediato e em força de autoridade primária. Mas o papa não tem a execução imediata, que confia ao príncipe, e
assim o príncipe secular, no que se refere àquele poder, necessita do
reconhecimento do papa, mas quanto à execução o papa necessita do
príncipe”. E respondia: “Esta evasão é totalmente absurda [absurda], e
nem concorda com as palavras deles, pois se a Igreja reconhece que o
poder de execução cabe primariamente ao príncipe secular, deve então
o príncipe julgar da devida execução do papa, podendo retirá-la do sumo
pontífice, o que eles não aceitam, pois dizem que o papa não é julgado
por ninguém” (SPRP, p. 72).
137
DE BONI. Introdução. In: SPRP, p. 27.
472
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Se essa monarquia devia ser absoluta ou constitucional, era
o que se discutia. Egídio e os hierocratas propunham a primeira forma; João Quidort e os conciliaristas, a segunda. Por
essa razão, dizer que a organização da Ecclesia fornecia, nesse momento, um modelo bem acabado de uma formação de
poder de tipo estatal não deve constituir surpresa: era mais a
conseqüência óbvia da sistematização conceitual desenvolvida por seus pensadores, teólogos e juristas, em face das disputas concretas pelo poder desde pelos menos o século XI.
Os argumentos utilizados por João Quidort forneciam
uma boa amostra de quão desenvolvida já estava à época a
noção de pertencimento a um povo ou nação sobre determinado território, elemento fundamental para a consolidação
do Estado moderno:
Anote-se também que antes existiu, em si e quanto à
execução, a autoridade real e depois a papal; antes houve
reis da França que cristãos na França. Portanto, o poder
real não depende do papa nem em si mesmo, nem quanto à execução, mas provém de Deus e do povo que elegeu
e continua elegendo o rei, indicando uma pessoa ou uma
família para o cargo. (SPRP, p. 73 – grifos meus)
Também na Ecclesia, emendava João Quidort, o poder
vinha diretamente de Deus e do povo para os prelados, e não
por meio do sumo pontífice, como pretendiam alguns. Pois o
apostolado não fora recebido de Pedro, e sim de Cristo.138 E
concluía: “Se, pois, na Igreja vemos que o poder eclesiástico
138
“Mas o poder dos prelados não provém de Deus através do papa, e sim
imediatamente de Deus e do povo que os escolhe e os aprova. Pedro,
cujo sucessor é o papa, não enviou os outros apóstolos, cujos sucessores são os bispos, e nem mesmo os setenta e dois discípulos, cujos
sucessores são os párocos; quem enviou a todos eles foi Cristo, de modo
imediato, segundo Mt. 10 e Lc. 10. Nem foi Pedro que soprou sobre os
apóstolos, dando-lhes o Espírito Santo e o poder de perdoar os pecados,
mas Cristo soprou sobre eles” (SPRP, p. 73).
473
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
não provém do papa, muito menos devemos dizer que o poder real venha dele” (idem). A fonte e a origem de todo poder
era o povo, “por meio do qual se realiza o costume”. Pois mais
valia o consenso de toda a multidão. Com essa formulação, a
discussão sobre a origem do poder mudava de eixo e teria
implicações relevantes tanto para a organização interna da
Igreja quanto dos reinos. Pouco depois surgiria o movimento
conciliarista, que defenderia a idéia de um concílio geral para
dirigir a Ecclesia, nos moldes de uma monarquia constitucional.
A noção de representação, tal como conhecida modernamente, e a idéia de uma corporação capaz de agir em nome
dos indivíduos ganhavam contornos ainda mais claros. Essas transformações, no entanto, como lembra De Boni, supunham uma nova visão do mundo civil:
A concepção primordial que João Quidort tem da sociedade – e da Igreja – não é a de uma unidade superior,
diferente do conjunto dos indivíduos. O nominalismo, que
por tudo já se respira em 1300, conhece em primeiro lugar os indivíduos em sua singularidade, esvaziando os
conceitos genéricos de qualquer realidade extramental
superior. A sociedade é a soma de seus componentes, e a
autoridade nela é concebida como provinda de uma delegação por parte dos indivíduos, aos quais cabe também,
em determinadas circunstâncias, revogar seu ato primeiro
e instituir a outrem como chefe.139
3. O poder político humanizado
Depois de listados os argumentos a favor da tese de
que o papa teria jurisdição sobre os bens temporais externos, João Quidort passava a esclarecer as premissas de sua
resposta, retomando sua definição de sacerdotium:
139
DE BONI. Introdução. In: SPRP, p. 35.
474
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
Deve-se pois levar em consideração [...] que o sacerdócio
nada mais é que o poder espiritual dado aos ministros da
Igreja para dispensar aos fiéis os sacramentos que contêm a graça, pela qual nos tornamos aptos para a vida
eterna. Mas a natureza, que não falha no necessário, não
concede a ninguém uma capacidade sem dar-lhe ao mesmo tempo os meios necessários para que aquela potência passe à atividade que lhe corresponde. (SPRP, p. 83)
Pois, como dizia o Filósofo, a todo ato correspondia uma
potência.
De tal modo isso era verdadeiro, sustentava João
Quidort, que os poderes conferidos aos apóstolos, e transmitidos aos seus sucessores, os ministros da Igreja, podiam ser
lidos no Evangelho. Eram eles seis: 1) o poder da consagração; 2) o de administrar os sacramentos, entre eles o da penitência, que constituía o poder das chaves ou jurisdição
espiritual no foro da consciência; 3) o poder ou ofício do
apostolado ou da pregação; 4) o poder de correção judicial no
foro externo, por meio do qual, devido ao temor da pena, os
pecados eram castigados, sobretudo aqueles que provocavam escândalo na Igreja; 5) o poder de dispor os ministros
quanto à determinação da jurisdição eclesiástica, para que
se evitasse confusão; e 6) como resultado dos anteriores, o de
receber o necessário para um conveniente sustento da vida
por parte daqueles que conferem os bens espirituais (SPRP,
p. 84-7). Este era todo o poder que Cristo havia concedido
aos apóstolos. Segundo os poderes recebidos, portanto, deduzia o Pregador, os prelados não tinham nenhum dominium
ou jurisdição sobre as temporalia.
Também segundo tais poderes, os príncipes não estavam submetidos aos sacerdotes nas coisas temporais. Pois o
poder de consagrar, explicava, era puramente espiritual. Também o era o segundo poder – o das chaves no foro de consciência. Pois
475
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
por este poder não possuem [os prelados] qualquer autoridade sobre as coisas temporais, a não ser quando, no
foro da consciência induzem e impõem para a satisfação
do pecado uma penitência corporal, do mesmo modo como
impõem outras penitências. Mas por este motivo ninguém
lhes é pura e simplesmente sujeito, sendo-o apenas sob
duas condições: se pecar e se quiser fazer penitência. Se
alguém não tiver tal intenção, não podem coagi-lo por
este poder, ao contrário do juiz secular, que pode impor
multa pecuniária ou reparação mesmo a quem não quer,
podendo até compeli-lo a tanto. (SPRP, p. 88)
Já o poder ou autoridade da pregação não constituía
dominium por não desfrutar de senhorio: consistia somente
numa autoridade de magistério ou docência.
A dificuldade toda residia, segundo o autor, no poder
de julgar no foro externo, no qual se deveriam considerar
dois aspectos: a autoridade para discernir ou julgar e o poder
de coagir. E explicava com clareza:
Trata-se aqui de duas chaves no foro exterior. Quanto à
primeira deve-se considerar que o juiz eclesiástico, enquanto eclesiástico, não julga regularmente no foro exterior, a não ser em causas espirituais, que são chamadas
de eclesiásticas, e não nas causas temporais, a não ser
por motivo de pecado. Se se compreende corretamente
esta afirmação, ela não é uma exceção à regra, pois a
Igreja não julga sobre nenhum delito, a não ser que se
deixe reduzir ao espiritual ou eclesiástico. (SPRP, p. 89)
Assim, de dois modos se podia pecar nas coisas temporais:
1) usando da opinião falsa ou erro, como quando se
defendia, por exemplo, não constituir a usura um pecado
mortal. Como tais pecados eram regulamentados pela lei
divina, dizia João Quidort, cabia ao juiz eclesiástico, única
autoridade competente, decidir sobre ele. Mas esclarecia
adiante:
476
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
embora caiba à autoridade eclesiástica julgar sobre o crime de usura, porque é pecado, e seja de sua competência
julgar o que deve ser restituído, contudo, por ser um caso
público, cabe ao príncipe impor a restituição e a reparação, pois ele é a justiça animada e o guarda do justo.
(SPRP, p. 105 – grifos meus)
2) outro modo de pecar consistia
na reivindicação de fato, pela qual procura-se reter ou
buscar o alheio como se fosse bem próprio; o julgamento
em tais casos cabe somente ao juiz secular, que julga
segundo as leis civis, pelas quais fazem-se as apropriações e as reivindicações jurídicas, pois os bens necessários ao uso dos homens seriam negligenciados se fossem
comuns a todos e a cada um, e se fossem indistintamente comuns a todos dificilmente se conservaria a paz entre
os homens. [...] Por isso, a respeito das coisas temporais,
o juiz eclesiástico não legisla e nem julga, cabendo tal
tarefa somente ao juiz secular. Em caso contrário, o juiz
eclesiástico recebeu para tanto concessão ou permissão
de alguém outro, que não Cristo. (SPRP, p. 89)
O poder de receber o necessário para o sustento da
vida, prosseguia, era um poder de caráter temporal e devia
ser antes chamado de “um certo direito”, que cabia aos religiosos, de obter o sustento. Esse direito não tornava os príncipes súditos daqueles, mas apenas devedores,
como os demais fiéis que deles recebem dons espirituais.
E embora isto lhes fosse devido, contudo os apóstolos
não procuraram este direito de modo autoritativo, mas
em forma de súplica. Contudo, o papa pode decidir o que
se deve aos ministros da Igreja, e eles mesmos podem
reclamar, como a quantia que lhes é devida dos rendimentos, e até por censura eclesiástica o papa pode várias
vezes coagir os resistentes a pagar o sustento dos ministros. (SPRP, p. 94)
Já o poder de correção ou de censura eclesiástica, dizia
João Quidort, constituía matéria puramente espiritual, pois
477
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
não podia impor pena alguma no foro externo que não fosse
espiritual, a não ser sub condicione et per accidens. Sob condição, explicava ele,
pois aplica-se somente quando alguém quer arrependerse e dispõe-se a aceitar uma pena pecuniária. [...] Se não
a aceitar, o juiz eclesiástico pode compeli-lo pela excomunhão ou por outra pena espiritual, que é tudo o que
pode aplicar, não lhe sobrando outros meios. Digo também “acidentalmente”, porque se se tratar de um príncipe herético, incorrigível e desprezador das censuras eclesiásticas, o papa pode tomar certas medidas junto ao
povo e por elas o príncipe fica privado da honra secular e
é deposto pelo povo. (SPRP, p. 91 – grifos meus)
Mas, assim também como o papa podia intervir junto
ao povo pela deposição do governante temporal, continuava
o Pregador, o príncipe podia pressionar os cardeais e o povo
em favor de sua deposição:
Do mesmo modo, acontecendo o contrário, e se o papa
for criminoso, escandalizar a Igreja e não se corrigir, pode
o príncipe indiretamente excomungá-lo e depô-lo acidentalmente, admoestando-o pessoalmente e por intermédio
dos cardeais. Mas se o papa não quiser corrigir-se, pode
o príncipe tomar medidas junto ao povo, a fim de obrigálo a ceder ou a ser deposto pelo povo [...]. Assim podem
tanto o papa como o imperador agir um contra o outro,
pois tanto um como outro possuem jurisdição universal,
um em matéria espiritual, outro em matéria corporal.
(SPRP, p. 91)
Não restava dúvida de que Filipe IV retirara da formulação desse seu conselheiro os argumentos para pedir a deposição de Bonifácio VIII e, mais tarde, sua condenação por
heresia.
Do mesmo modo, se o rei pecasse em assuntos espirituais, cujo julgamento coubesse ao tribunal eclesiástico, podia o papa admoestá-lo e até excomungá-lo. Mais do que
478
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
isso, contudo, não podia a não ser por acidente, influenciando o povo a derrubá-lo.140 A tônica de João Quidort aqui parecia ser a da cooperação entre os dois poderes, cada qual
agindo somente em sua esfera específica. Embora a Igreja,
em seu raciocínio, desempenhasse um papel exclusivamente
moral sobre os fiéis, um mundo sem a dignidade e a superioridade moral da instituição eclesiástica não era concebível
para a imensa maioria dos cristãos medievais. João Quidort,
oriundo da ordem dominicana, tal como seu mestre de Aquino,
parecia compartilhar dessa visão.
Sua estratégia argumentativa, no que se referia à relação entre os dois gládios, parecia repousar numa forte crença no papel primordial da razão natural: por serem os dois
poderes relativamente autônomos, era-lhes mais racional ajudarem-se e regularem-se mutuamente, cada qual respeitando o âmbito de atuação do outro, do que se confrontarem.
Por isso, dizia ele, quando o rei pecava em assuntos temporais, cujo julgamento não competia à Igreja, cabia aos barões
e seus pares corrigi-lo. Esses, contudo, caso julgassem conveniente, podiam pedir auxílio à Igreja para admoestar o príncipe e proceder contra ele. Dessa relação entre os poderes,
escrevia, ficava claro portanto que “os dois gládios são obrigados a ajudar-se mutuamente pela caridade comum que
deve unir todos os membros da Igreja” (SPRP, p. 93).
Mas o que, de fato, podia ou não o poder sacerdotal, em
meio a tantos poderes que um dia já lhe haviam sido atribuídos? E ao pontífice, o que lhe era devido? Dizer que o sumo
pontífice não podia ser julgado por ninguém constituía um
erro grave, principalmente em se tratando de abuso do poder
ou de falhas pessoais:
140
“Fica claro, de quanto foi visto, que toda a censura eclesiástica é de
cunho espiritual, cabendo-lhe excomungar, suspender e interditar, e
nada mais pode a Igreja, a não ser de modo indireto e acidentalmente,
como foi dito” (SPRP, p. 93).
479
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Digo, pois, que onde o papa erra manifestamente, privando a Igreja de seu direito, dispersando a grei do Senhor e provocando escândalo por suas ações, pode ele
ser julgado pelo que fez, e ser persuadido e repreendido
por qualquer um, se não por ofício, ao menos pelo zelo da
caridade, não pela imposição de pena, mas com exortação reverencial, porque o respeito que se deve à sua pessoa não fica diminuído, em razão do alto posto ao qual foi
elevado. (SPRP, p. 136-7)
E, se o pontífice proferisse opiniões indefinidas que
pusessem em perigo a justiça ou a verdade, ou mesmo o bem
público, era lícito ao príncipe e ao povo agir contra ele.141
Com base em inúmeros tipos de argumentos era possível
mostrar também, dizia João Quidort, que o papa podia renunciar e até mesmo ser deposto contra a vontade. O pontífice, que tinha em vista o bem comum da Igreja e seu rebanho,
presidia em função desse bem coletivo. Se, uma vez elevado
papa, ele se mostrasse inapto para cumprir com sua missão,
ou ainda incapaz, ou surgindo qualquer outro impedimento,
devia ele retirar-se ou ser dispensado pelo povo, ou pelo colégio de cardeais, que o representava.142
141
“Se, porém, na demora [em manifestar-se] houver perigo para o bem
público, como no caso em que o povo seja levado a formar uma opinião
errônea, se houver o perigo de revolta, e se o papa excitar indevidamente
o povo pelo abuso do gládio espiritual, e não houver esperança alguma
de que ele possa ser demovido de outra maneira, creio que neste caso a
Igreja deve ser mobilizada contra o papa e contra ele deve agir. O príncipe também pode repelir a violência do gládio do papa usando de seu
próprio gládio de forma moderada, e nem age contra o papa enquanto
papa, mas enquanto inimigo seu e da comunidade” (SPRP, p. 138).
142
“Se, portanto, após ter sido elevado à dignidade de papa, constatar por
si mesmo ou os outros constatarem que é totalmente inútil e inapto
para tanto, ou se surgir algum impedimento, tal como a loucura ou algo
semelhante, deve então pedir sua demissão perante o povo, ou perante
o colégio dos cardeais, que em tal caso está em lugar de todo o povo, e
deve então retirar-se tanto se houver recebido como se não houver recebido dispensa. [...] A respeito vale a regra geral: nenhum compromisso
480
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
O poder papal, considerado em si mesmo, provinha só
de Deus, que lhe havia conferido o poder de “ligar e desligar”.
De outro modo, contudo, considerado neste ou naquele indivíduo, provinha de Deus da mesma forma que a Ele atribuíamos as nossas ações.
Portanto, se o papado em si provém só de Deus, contudo
nesta ou naquela pessoa ele existe pela cooperação humana, isto é, pelo consenso do eleito e dos eleitores, e
assim também, pelo consenso humano, pode deixar de
existir nesta ou naquela pessoa. (SPRP, p. 144 – grifos
meus)
O pontífice, admitia João Quidort, era constituído papa
pela lei divina. E, embora tal lei divina fosse imutável, era
contudo cambiante materialmente, neste ou naquele, em
Celestino ou Bonifácio “Que o papa esteja acima de todos é
lei divina e nada se pode fazer em contrário; mas que este ou
aquele indivíduo seja papa é algo mutável, pois que para tanto coopera o consenso dos eleitores e do eleito” (SPRP,
p. 148).
Por isso, no que se referia à ordenação, as ações do
pontífice eram sempre válidas. O mesmo já não se podia dizer daquelas coisas que se referiam à jurisdição, as quais
podiam sempre ser removidas:
O motivo pelo qual as coisas que se referem à ordem não
podem ser retiradas e as que se referem à jurisdição [iurisdictionis] o podem é talvez porque as que se referem
à jurisdição não se encontram acima da natureza e da
condição do dever e dos homens, pois não está acima
da condição dos homens que os homens governem aos homens; pelo contrário, de certo modo é até muito natural.
voluntariamente assumido pode prejudicar a caridade ou o compromisso a que cada um é obrigado de tratar da salvação da própria alma”
(SPRP, p. 142).
481
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Em tal condição, o que não é proibido é permitido e lícito,
de tal modo que os mesmos fatores que constituíram algo,
se usados de modo inverso, podem destruí-lo. Assim, pois,
como pelo consenso dos homens a jurisdição é conferida,
do mesmo modo também pelo consenso oposto ela pode
ser retirada. (SPRP, p. 149 – grifos meus)
O poder sacerdotal, porque se fundamentava no caráter indelével da concessão,143 permanecia para sempre naquelas coisas que se referiam à ordenação, mas podia abdicar
da jurisdição.144 Ao sumo pontífice, portanto, era permitido
renunciar, pois seu compromisso estava condicionado ao tempo que permanecia no cargo. Por isso, também, não era possível igualar o bispo de Roma a Cristo:
O sacerdócio de Cristo é eterno porque Cristo vive para
sempre devido a seu sacrifício, e com isto concedemos a
respeito do papa que seu sacerdócio dura sempre, enquanto ele viva, porque recebeu um caráter indelével e
será sempre sacerdote, podendo celebrar no altar. Mas o
ofício de papa não dura necessariamente para sempre,
enquanto ele viva, pois o papa pode renunciar ou, por
motivo grave, pode ser deposto, visto que o papado indica
143
“As coisas, porém, que se referem à ordenação encontram-se acima da
natureza e da condição dos homens, de tal modo que pela prolação das
palavras consagradoras imprime-se na alma um caráter ou poder espiritual. Nestas coisas, porém, o que não é expressamente permitido, é
negado. Porque está expressamente garantido que tais palavras imprimem tal caráter, acontece o que é dito. Mas como não se encontra expressamente indicado por Deus que de algum modo tal caráter pode ser
tirado, por isso é indelével a concessão do caráter, sobre o qual fundamenta-se o poder sacerdotal” (SPRP, p. 149).
144
“Pelo fato, pois, de que o papa se submete à lei da esposa, permanece
para sempre nela naquelas coisas que se referem à ordem, que são o
sacerdócio e o episcopado, nos quais imprime-se o caráter e a plenitude
do caráter. Mas quanto às coisas referentes ao papado ou sumo pontificado, como o papado nada acrescenta além de jurisdição, não é necessário que permaneça para sempre na lei da esposa, pois pode renunciar
à jurisdição” (idem).
482
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
apenas jurisdição acima do episcopado e do sacerdócio,
e é mutável esta jurisdição, sem a qual o papa não é
papa. (SPRP, p. 150)
Em resposta aos argumentos levantados em favor da
plenitude de poder do pontífice in temporalibus, constantes
em seus grupos de réplicas, João Quidort levantava ainda
outras objeções relevantes, como aquelas em defesa do reino
franco. Entre elas, algumas são de especial interesse para a
argumentação política. João Quidort esclarecia, por exemplo, que o papa Zacarias jamais havia deposto o rei da França, como reivindicavam alguns de seus partidários: ele apenas
teria consentido com aqueles que o depuseram.145 E todas as
vezes que o poder eclesiástico se imiscuíra em assuntos temporais – casos que deveriam ser considerados situações particulares, e não a regra –, fizera-o pelo consentimento dos
reis, príncipes ou barões devotos, e não porque tivesse algum
tipo de direito. Segundo a boa jurisprudência, lembrava o
Pregador, o excepcional não devia ser tomado como regra:
“não convém que de fatos particulares, acontecidos por motivos diversos, façam-se argumentos jurídicos” (SPRP, p. 99).
Do mesmo modo, prosseguia ele, não havia motivo para transformar em lei pública o que havia sido determinado por uma
pessoa particular, como havia sucedido quando da transferência do Império de Constantinopla para Carlos Magno. Tal
ato constituía somente uma mudança de nome, afirmava,
sem nenhum sentido legal concreto.
Quanto ao argumento de que podia o pontífice dispensar os soldados do juramento de fidelidade, João Quidort
rebatia:
Deve-se além disso considerar que o vassalo está obrigado ao seu senhor por um dúplice vínculo: em primeiro
145
Também essa passagem pode ser encontrada quase literalmente na
Quaestio in utramque partem: cf. QUIDORT, SPRP, p. 97 e tb. o Documento n. 45, traduzido em SOUSA & BARBOSA, op. cit., p. 198 [XVI].
483
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
lugar, por um vínculo natural, em vista do objeto, da coisa que recebeu de seu senhor com honra de vassalagem;
em segundo lugar, sob determinada condição e com juramento. Do vínculo natural o papa não pode dispensar,
embora possa declarar que em determinado caso, como,
por exemplo, quando o príncipe é herético, o vassalo não
está obrigado a seguir o seu senhor, mas deve livrar-se
da obrigação e restituir o feudo. Em segundo lugar, há a
obrigação por juramento, e dela pode o papa dispensar,
caso exista um motivo sério e evidente e boa-fé, pois só
sob estas condições a dispensa da obrigação tem valor
ante Deus, visto que ao papa não foi dado o poder de
destruição, mas de edificação [...]. No que, porém, se refere ao juramento, sempre permanece a obrigação natural que acompanha o objeto, a não ser que o feudo seja
restituído. (SPRP, p. 102-3)
Por isso ele podia sustentar adiante que bispos de outras regiões, no caso de terem sido convocados pelo papa e
não terem comparecido por obedecerem a uma ordem qualquer do imperador ou do rei, não podiam ser repreendidos
pelo pontífice, pois tais prelados estavam isentos da jurisdição papal pelo fato de terem recebido o seu feudo do príncipe.146 Aquelas pessoas eclesiásticas que haviam recebido do
poder real a sua propriedade não podiam lhe negar obediência, dizia João Quidort:
Assim, pois, como o poder real não pode negar o cuidado
que deve a outro, de igual modo também a propriedade,
mesmo que obtida por pessoas eclesiásticas, por direito
não pode recusar obediência ao poder real pela proteção
que lhe deve, como está escrito em Lc. 20: 25: “Dai a César
o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. (SPRP, p. 123)
146
“Se pois, principalmente quando com conhecimento e permissão do sumo
pontífice, um bispo recebe um feudo, deve obedecer mais ao senhor
temporal que ao sumo pontífice, e especialmente no caso em que o
príncipe lhe ordena algo relativo ao ônus do feudo é claro que se encontra isento da jurisdição do papa, tal como o monge da do abade” (SPRP,
p. 122).
484
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
E dizer que os reis deviam ser privados de um tal direito por estarem prejudicando o bem espiritual, impedindo que
os bispos fossem à cúria romana quando por ela chamados,
ou que o rei estivesse coibindo a liberdade de movimento
quando impedia que se levasse dinheiro para fora do reino,
equivalia a não compreender que a causa do rei – garantir o
bem comum – era maior e mais amparada no direito:
proibir simplesmente e em geral a viagem, por qualquer
motivo que alguém queira ir, significa de fato impedir um
bem espiritual. Mas se a proibição for imposta com a exceção de que pode ser suspensa por uma causa maior
acolhida pelo príncipe [ex causa rationabili de licentia
principis], não se impede então o bem espiritual. Se por
tais limitações é atingida a cúria romana, que deixa de
receber os serviços costumeiros, nem por isso o príncipe
deve ser tido como quem age injustamente e coloca-se
como inimigo da Igreja, a não ser que tome tais medidas
com a intenção única de prejudicar. Se fizer em proveito
próprio ou de seu país, faz o que lhe é permitido, embora
por conseqüência surjam danos a terceiros, pois a cada
um é permitido fazer uso de seu direito. (SPRP, p. 123 –
grifos meus)
Em João Quidort já era clara, portanto, a prioridade
relativa ao cuidado da res publica, ou regnum, ou ainda bem
comum: nenhum assunto do espírito se lhe superava quando se tratava de garantir a paz e a ordem pública, mesmo que
com isso pudesse causar danos a terceiros. Também a idéia
de unidades políticas específicas, detentoras de direitos e prerrogativas que se sobrepunham a quaisquer outras, já aparecia bastante consolidada. Mais do que um sinal dos tempos,
tratava-se aqui de uma descrição da época: nesse momento,
teoria e realidade se mesclavam, exprimindo o mundo sobre
o qual versavam, o Estado moderno emergente.
É importante frisar que esse novo sistema de poder que
despontava se construía com base em determinadas preten485
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
sões jurídicas dos detentores do poder territorial. De um lado,
essas pretensões excluíam toda interferência nos assuntos
do reino. Constituía-se uma oposição legal entre o interno e o
externo, em sentido radicalmente novo. De outro, passavase a agir em nome de uma nova categoria de interesses.
Numa passagem em que explicitava os episódios da querela entre o papa Bonifácio VIII e seu protetor, Filipe IV da
França, João Quidort mencionava a possibilidade de o príncipe agir na defesa de interesses do reino, mesmo que isso causasse danos a terceiros:
E mesmo que o príncipe tome tal medida com a intenção
de prejudicar, mesmo assim é-lhe lícito, se previr com
argumentos prováveis ou evidentes que o papa tornou-se
seu inimigo ou que convocou os prelados para com eles
planejar algo contra o príncipe ou o reino. É lícito ao príncipe repelir o abuso do gládio espiritual do modo como o
puder, mesmo se usando para tanto o gládio material,
principalmente quando o abuso do gládio espiritual converter-se em um mal para a república, cujo cuidado incumbe ao rei. Em caso contrário, não haveria razão para
este levar o gládio. (SPRP, p. 124)
Pode parecer curioso João Quidort utilizar, nesse momento, argumentos originários do direito privado. Ele se referia ao uso das águas, numa propriedade, com prejuízo para
os vizinhos. Podia um homem elevar as águas ou desviá-las
por outros canais, impedindo a irrigação de terras alheias?
“Diz a lei que lhe é permitida tal ação”, respondia, “pois está
usando de seu direito, embora outros venham a ser prejudicados” (idem).
Há dois pontos de especial significado nesse raciocínio.
O primeiro constitui a analogia, estabelecida por João Quidort,
entre propriedades particulares e potências. As relações entre potências eram equiparadas, juridicamente, às relações
entre unidades individuais de direito, num sentido muito
próximo àquele encontrado nas teorias contratualistas. O
486
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
segundo ponto é o reconhecimento do interesse próprio como
fonte absoluta de direito. Assim como o agricultor tinha o
direito de usar as águas de sua fonte segundo lhe parecesse
melhor, mesmo com prejuízo dos vizinhos, também o príncipe podia tomar as medidas que julgasse necessárias, “mesmo com a intenção de prejudicar”, na defesa própria ou de
seu reino.
Note-se a diferença entre duas questões: uma era o direito absoluto de agir, outra era a obrigação do príncipe de
defender a república (“cujo cuidado incumbe ao rei”). A segunda noção fazia parte da tradição medieval: o governante
era o guardião da coisa pública. A primeira era parte de uma
idéia em formação: a dos Estados (regna, res publicae etc.)
como sujeitos de interesses que se antepunham, por direito,
a quaisquer outros. Essa seria, na forma acabada, a mais
radical concepção moderna da soberania de cada potência
em face das demais.
Mas João Quidort não parava aí: para sustentar a idependência do reino franco, recorria ainda a um argumento do
antigo direito imperial romano, a prescrição pelo costume.
Assim o reino da França foi governado por reis santos
durante longo tempo e de boa-fé, servindo como exemplo
São Luís, canonizado pela Igreja. E a Igreja, pela canonização, reconheceu o fato. Digam, pois, alguns teólogos o
que quiserem: com o direito humano [iure humano] corre
sempre a apropriação das coisas e a sujeição de homens;
segundo Santo Agostinho [...], podem os direitos humanos fazer com que, por motivo sério, torne-se comum ou
de outro aquilo que é meu, e deste modo transfere-se o
domínio [dominium]. Assim, pois, desde que os direitos
imperiais determinam que após um tempo previsto algo
caia em prescrição, transfere-se o domínio, e isto para a
utilidade comum, em castigo do negligente e em favor do
proprietário de boa-fé, a fim de que os litígios não se estendam sem fim e não se multipliquem. Um tal possuidor por prescrição não tem em mãos algo de alheio, mas
de próprio, enquanto tornou-se seu por legítima prescri487
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ção. Portanto, suposto que o reino da França estivesse
outrora sujeito, esta sujeição entrementes prescreveu”.
(SPRP, p. 132-3)
Se essa era a regra do direito, por que razão não se
podia falar de uma prescrição do império romano? “Os gregos”, explicava o Pregador,
tiveram de Deus o império e os romanos usaram a prescrição contra os gregos e tentaram usurpar o império
expulsando os gregos. Por que não podem então outros
homens aplicar a prescrição contra o império romano, e
afastar-se do domínio dele, principalmente se foram a ele
submetidos não livremente, mas pela violência, como se
lê dos gauleses, que nunca, antes da vinda dos francos,
se haviam livremente sujeitado aos romanos mas conforme as possibilidades sempre se revoltavam, vencendo
umas vezes, perdendo outras? Se, pois os romanos alcançaram o domínio pela violência, não se pode, com justiça, pela violência, repelir seu domínio, ou contra ele
aplicar a prescrição? (SPRP, p. 134)
A resposta era óbvia: “nada foi mais forte que o reino
dos romanos, e no final nada será mais débil e mais frágil”
(idem). Poucos autores do período ilustraram melhor a dissolução do imperium.
Por fim, a Doação de Constantino, outro fundamento
longínquo das reivindicações hierocráticas, merecia sua atenção. Por toda a documentação disponível, esclarecia João de
Paris, recorrendo uma vez mais à história, sabia-se que
Constantino doara à Igreja somente uma província determinada, a Itália, e algumas outras partes, entre as quais não
estava a França, e que transferira então o império para os
gregos, fundando lá a nova Roma. Mas estava também em
discussão, no que respeitava a essa matéria, um ponto ainda
mais relevante:
a translação do império dos gregos aos germanos, feita,
como se diz, pelos romanos e o papa, na pessoa do impe488
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
rador Carlos Magno. A esse respeito deve-se observar que,
pelo que consta nas crônicas citadas, não houve translação, pois o império permaneceu de fato com os gregos, e
com os ocidentais apenas de nome. Ou pode-se dizer que
houve uma divisão, de tal modo que dois passaram a
chamar-se imperadores, o romano e o constantinopolitano. (SPRP, p. 129-30 – grifos meus)
Assim narrada, a história política e jurídica da cristandade ocidental ganhava em clareza e realismo: os episódios
que a caracterizavam podiam ser descritos como uma seqüência de usurpações e fantasias às quais se atribuíra valor
de verdade, e que o costume perpetuara. Os romanos haviam abandonado o império grego, explicava João Quidort, por
três motivos:
em primeiro lugar, pela defesa da república, empreendida
por Carlos Magno, enquanto o imperador Constantino não
se preocupava com ela; em segundo lugar, por causa da
imperatriz Irene, que mandou cegar seu filho Constantino
e os filhos deste, para poder reinar sozinha; em terceiro
lugar, porque se haviam indignado porque Constantino
transferira o império deles para os gregos, cujo domínio
suportavam com dificuldade, e por isso aclamaram como
imperador ao vitorioso Carlos. (SPRP, p. 130)
Dessa perspectiva, sustentava o autor, podia-se concluir que tanto a doação quanto a translação do império não
conferiam ao sumo pontífice poder algum sobre o rei da França: primeiro, porque a Doação não incluía o reino francês;
segundo, porque, do ponto de vista do Corpus Iuris Civilis, ela
era inválida; terceiro, porque os francos jamais haviam sido
submetidos ao império; e quarto, porque, mesmo que todas
as afirmações anteriores fossem verdadeiras – o que não aceitava o Pregador –, ainda assim o papa nada poderia contra o
rei da França, pois não era imperador.
Também os motivos apontados por João Quidort para
fundamentar a ilegalidade da Doação de Constantino ofereciam uma boa amostra do alcançe das transformações em
489
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
curso no período e eram assim apresentados: “O imperador é
chamado de ‘semper augustus’ porque é sua missão aumentar (augere) sempre o império, e não diminuí-lo. Por isso a
doação evidentemente não podia ser válida, porque era por
demais excessiva e imensa”. E considerava adiante: “Tal entende-se quando a doação provém dos bens pessoais do imperador, não quando provém do erário público [de patrimonio
fisci], que deve ser sempre conservado e do qual não pode
dispor a não ser com moderação e em determinados casos”
(SPRP, p. 130).
Como o imperador era o administrador do império e da
república, a doação tinha sido nula, de acordo com as leis
imperiais contidas no Digesto. E, se fora transformada em
lei, tal doação estaria revogada, “pois uma lei pode ser
revogada pelo sucessor daquele que a promulgou, visto que
entre pares um não tem poder sobre outro” (SPRP, p. 131). E,
como ensinara o antigo direito romano, os bens públicos eram
intransferíveis. Exatamente sobre esse raciocínio repousava
a noção medieval da “inalienabilidade”: os direitos foram inicialmente chamados inalienáveis, explica Riesenberger, em
relação ao bem público comum. Tal teoria logo se tornaria
um princípio de direito público, como, por exemplo, em Bodin.
Essa era ainda a razão pela qual reis e imperadores medievais relembravam constantemente as doações, translações
etc.147
Também João Quidort precisava invocá-la e rejeitar sua
validade sobre o território francês, a fim de manter a reivindicação da inalienabilidade do poder de jurisdição do rei franco. O Augustus poderia, enquanto pessoa singular, doar à
Igreja tudo que desejasse. Mas isso não valia para as propriedades do fisco, as quais, tendo sido criadas para uso e benefício da comunidade política, jamais podiam perecer. Pois o
147
Cf. RIESENBERGER, Peter. Inalienability of sovereignty in medieval political
thought. New York: Columbia University Press, 1956. p. 177 et seq.
490
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
imperador, como o rei, era somente um administrador do
imperium e, por isso, não podia alienar o que lhe fora confiado. E como a lei romana proibia aos ocupantes de um cargo
coagir seus iguais, tornava-se impossível que Constantino
tivesse prejudicado legalmente seus sucessores, privando-os
do que lhes era devido pelo ofício. Em nome da Coroa, João
Quidort falava simultaneamente contra o papa e contra o
imperador.
A intrincada relação entre os dois poderes de natureza
teocrática, encarnada no imperium e no sacerdotium, e que
dominara o cenário nos últimos séculos do medievo, dava
lugar a uma reivindicação de caráter mundano, a boa vida
terrena segundo a virtude, que independia de considerações
de natureza sagrada. O ponto fundamental agora era situar
os dois poderes em questão – o temporal, do âmbito civil, e o
espiritual, do religioso – em instituições distintas e autônomas, uma ocupada da ordem natural, a outra da sobrenatural. E, embora essa separação já fosse clara em Tomás de
Aquino e João Quidort, ela logo seria tornada ainda mais
explícita por autores como Marsílio de Pádua. Também o velho problema das temporalia e spiritualia, recorda Ullmann,
“que havia resistido a qualquer tipo de solução razoável, resolvia-se com a correspondência entre o natural e o temporal, e o sobrenatural e o espiritual”.148
E, porque todo poder passava a ter origem apenas e
tão-somente em Deus, que o transmitia para o povo, os governantes não teriam mais de prestar contas senão ao Senhor. O poder civil libertava-se assim definitivamente – tanto
de iure quanto de facto – de toda tutela da Ecclesia em assuntos temporais. Desse ponto de vista, alerta Quillet, o princípio da distinção dos poderes carecia agora de objeto: ao
dualismo gelasiano, que constituíra até então a base essen148
ULLMANN, op. cit., 1985, p. 264.
491
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
cial da evolução dos fatos e das doutrinas, sucedia a unificação do poder.149 Tal potestas, que passava a ser entendido
como único, exclusivo e indivisível qualquer que fosse o regime, comportaria inúmeras modalidades de aplicação – o governo constitucional, a monarquia absoluta e o império
habsburgo eram apenas algumas delas.
Também o movimento ideológico que havia constituído
a noção de soberania estava assim consolidado: uma noção
de jurisdição – entendida como o governo do justo e do injusto – independente de toda lei divina ou natural, e alicerçada
exclusivamente na lei humana e no “governo dos homens
pelos homens”,150 havia sido, mais do que criada, fundamentada. Terminava assim um longo processo que envolvera os
principais atores do medievo europeu ocidental e resultaria
na junção de duas noções – uma de natureza política e outra
de caráter jurídico –, que se desenvolviam paralelamente, a
do Estado territorial moderno e a de soberania, numa entidade única, que teria a sua expressão mais bem acabada
naquela gravura que ilustra a mais conhecida obra de Thomas
Hobbes: a do Leviatã moderno.
149
Cf. QUILLET, J. Pouvoir temporel et pouvoir espirituel aux XIVe et XVe
siècle: complémentarité ou conflit?. In: Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, op. cit., p. 61-2.
150
“[...] as [coisas] que se referem à jurisdição não se encontram acima da
natureza e da condição do dever e dos homens, pois não está acima da
condição dos homens que os homens governem aos homens” (SPRP, p.
149 – grifos meus).
492
CAP. 5 - A HORA DOS REIS
FINAL
O PODER SEM PECADO
493
Os elementos necessários a uma teoria individualista já
estavam presentes em João Quidort, com suas idéias a respeito da propriedade e das conseqüências políticas dela derivadas. A noção de indivíduos como átomos iguais, livres e
portadores, naturalmente, de reivindicações igualmente legítimas teria reflexos no desenvolvimento da teoria dos direitos –
antecipada em João de Paris – e na concepção das relações
entre Estado e indivíduo, embora não fosse essencial à construção de determinados conceitos, como o de soberania. Em
Bodin, por exemplo, a unidade relevante era a família (no sentido antigo), e não o indivíduo. Para ele, a relação de comando
típica da vida política já estava embutida na estrutura familiar. Mas o individualismo, até por seus fundamentos cristãos,
foi a concepção dominante no pensamento político moderno,
pelo menos desde o século XIV até o XVIII.
Com Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham, o indivíduo assumia de forma indiscutível uma posição central na
reflexão sociopolítica. Esses autores entraram em cena durante o conflito entre o papa João XXII (1316-34) e o imperador Luís da Baviera (1314-47). João XXII tentou intervir, de
Avignon, na eleição imperial. Cinco príncipes eleitores haviam
votado em Luís da Baviera (da casa dos Wittelsbach) e três em
Frederico da Áustria (casa dos Habsburg). Luís foi coroado em
Mogúncia, no ano de 1314, e Frederico em Bonn, cada um
deles por um arcebispo.
Depois de dois anos de luta, apelaram ao papa, mas este
decidiu não se pronunciar, atendendo aos interesses do rei de
Nápoles. Estava em jogo o controle do norte da Itália, que interessava tanto a Luís quanto ao papa e a seus aliados. Luís
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
venceu Frederico em batalha, e pouco depois seus aliados
passaram a controlar o norte italiano. João XXII, sem alternativa, excomungou o imperador (1324). Marsílio e Guilherme
de Ockham entraram na polêmica em defesa do poder temporal, do lado de Luís da Baviera. Para ambos, o papado havia se
tornado herético, ao intervir de maneira tão direta em assuntos seculares: ao clero, reivindicavam, cabia recuperar sua
missão primitiva e o ideal de pobreza evangélica.1
I MARSÍLIO DE PÁDUA E A SUPREMACIA DA
COMUNIDADE POLÍTICA
Essa intromissão papal indevida nos assuntos seculares constituía um dos principais alvos do Defensor pacis, escrito por Marsílio de Pádua. O livro, dedicado ao imperador,
foi publicado em 1324. Dois anos haviam se passado quando
a obra recebeu atenção dos curialistas. Marsílio, proveniente
de uma família italiana burguesa formada basicamente de
funcionários públicos, fora estudante das artes jurídicas na
juventude, mas acabou optando pela medicina, profissão que
exerceu de maneira mais ou menos intensa até sua morte,
ocorrida provavelmente no ano de 1343. Seu nome, contudo,
pouco ou nada dizia até aquele momento. Em 1326, cinco
teses de seu livro foram condenadas pela cúria romana, levando-o, juntamente com o amigo e interlocutor João de
Jandun, a procurar refúgio na corte do imperador, que prontamente os acolheu.
1
Souza faz um comentário instigante sobre a defesa da pobreza evangélica por Marsílio: segundo ele, o pensador paduano reivindicava a defesa de um clero pobre, sem riquezas nem luxo, e dependente da esmola
dos fiéis, a fim de que não pudesse exercer, em tempos de acelerado
progresso econômico, influência política. Cf. SOUZA, J. A. C. R. As teses
do Defensor pacis, II, XIII. In: Revista da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, op. cit., p. 205-27.
496
FINAL - O PODER SEM PECADO
Rapidamente, a influência do pensador paduano sobre
o monarca tornou-se visível e ele passou a acompanhá-lo em
suas missões pela Itália, aconselhando e opinando a respeito
de praticamente todas as matérias políticas. Não demorou,
contudo, para que o radicalismo de suas posições começasse
a interferir no bom andamento dos assuntos do Estado. Depois de uma malfadada excursão com a comitiva imperial
pelas cidades itálicas, encerrada por volta de 1330, Marsílio
foi enviado de volta a Munique, onde se retirou da cena pública até o início dos anos 40. Nesse período, novos exilados
na corte imperial, mais inclinados à conciliação com o papado,
ganharam destaque junto ao seu protetor. Entre eles, estavam os frades franciscanos Miguel de Cesena, superior da
ordem, e Guilherme de Ockham, acusado de heresia pelo
papa João XXII em 1328.2
O Defensor pacis, de Marsílio, constituía um exame das
condições necessárias à paz, um tema de longa duração na
história do pensamento político. Monarquia, de Dante
Alighieri, e Leviatã, de Thomas Hobbes, por exemplo, também constituíam reflexões sobre esse tema. Uma das condições da paz, procurava mostrar Marsílio de Pádua, era a
limitação das pretensões de plenitude de poder em assuntos
temporais reivindicada pelo papado.3 A tese, no entanto, não
era simplesmente afirmada. Marsílio circunscrevia cuidadosamente o campo da reflexão política. Os laços entre a natureza e Deus eram matéria de fé e, por isso, não podiam ser
demonstrados. A ciência política devia limitar-se, portanto, a
cuidar dos objetos acessíveis à razão e à experiência.
2
3
Para uma abordagem detalhada dos dados históricos que envolveram a
disputa cf. MIETHKE, J. Der Weltanspruch des Papstes im späteren
Mittelalter. In: FETSCHER & MÜNKLER, op. cit., p. 399-402.
Cf. SOUZA, BERTELLONI & PIAIA. Introdução. In: PÁDUA, O defensor da paz.
Ed. José Antonio Camargo Rodrigues de Souza. Petrópolis: Vozes, 1997.
p. 13-63.
497
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
A manutenção da fé na comunidade dos fiéis, argumentava o autor, não dependia nem de facto nem de iure de
qualquer reivindicação de plenitude do poder, fosse ela temporal ou espiritual, pelo sumo pontífice. Tais pretensões, pelo
contrário, ameaçavam a paz e a felicidade humanas. A interferência do governo eclesiástico na vida secular, constatava o
pensador paduano, havia trazido somente a disputa de facções e a insegurança para a comunidade dos cristãos, principalmente na Itália. Com seu tratado, Marsílio pretendia que
as autoridades seculares detivessem e revertessem a expansão dos poderes terrenos do bispo de Roma. “O Defensor
pacis”, escreve Nederman, “representa um chamado direto
aos príncipes e cidadãos de toda cristandade latina para restaurar o papa em seu papel legal (e extremamente limitado)
dentro do governo da Igreja”.4
Para que esse apelo fosse o mais abrangente possível,
Marsílio construiu em sua obra uma teoria política de caráter
secular bastante genérica, capaz de contemplar tanto as pretensões imperiais quanto aquelas dos reis e as das cidadesrepública italianas. A primeira parte do livro era dedicada ao
estudo das origens e natureza da autoridade política temporal. Nela, a ênfase recaía na noção do consentimento popular
como fundamento do bom governo, sem que uma forma constitucional específica fosse advogada: sua preocupação era estipular os arranjos institucionais necessários para sustentar
a unidade e a estabilidade das comunidades políticas seculares, de modo a poder rejeitar toda interferência eclesiástica. A
segunda parte do livro consistia numa investigação e refutação de várias das reivindicações de poder dos clérigos e, especialmente, do sumo pontífice. O governo da Ecclesia, sustentava
o jurista patavino seguindo as pegadas de João Quidort, devia
4
NEDERMAN, C. From Defensor pacis to Defensor minor: the problem of
empire in Marsiglio of Padua. History of Political Thought, v. 16, n. 3,
p. 316-7, autumn 1995.
498
FINAL - O PODER SEM PECADO
caber a um concílio geral formado por seus membros: ao papa
caberia somente a execução de suas decisões.
Homem engajado nas controvérsias de seu tempo,
Marsílio usava bem os recursos e avanços disponíveis, fossem eles teóricos ou práticos. Não apenas conhecia em profundidade a literatura da época, como também a manuseava
com rigor e precisão para a consecução de seus objetivos
políticos. Para interpretar as transformações em curso, nada
era desperdiçado: o legado greco-romano, os acréscimos da
jurisprudência, a síntese tomista e as idéias de seus contemporâneos tornavam-se assim instrumentos de combate. Do
mesmo modo, recorria à tradição para explicar a comunidade política: os homens, movidos pela percepção de que reunidos poderiam tirar maior proveito das habilidades de cada
um e evitar os prejuízos causados por condições naturais
adversas, explicava o autor acrescentando um fator “utilitário” à formulação aristotélica, agruparam-se em comunidade
para melhor realizar os fins da vida temporal: o gozo pacífico
dos frutos materiais e morais da existência terrena, isto é, a
boa vida (DP I.4.3-5).5
Tal comunidade política perfeita, ou universitas civium,
no entanto, continuava ele na mesma vertente ciceroniana
também utilizada por João Quidort, só pôde ser atingida por
meio do exercício continuado da razão pelos seres humanos
e pelo uso de seu livre-arbítrio, que lhes permitiu consentir
na associação comunal e chegar a um acordo a respeito do
bem comum (DP I.13.5-8). Nesses cidadãos, portanto, sustentava ele remontando a João Quidort e ao mestre de To5
As citações utilizadas aqui foram retiradas da seguinte edição brasileira: PÁDUA, Marsílio de. O defensor da paz (DP). Ed. José Antonio Camargo
Rodrigues de Souza. Petrópolis: Vozes, 1997. Cf. tb. a importante edição crítica francesa: PADOUE, Marsile de. Le défenseur de la paix. Ed. J.
Quillet. Paris: J. Vrin, 1968. A versão latina pode ser encontrada na
seguinte edição: PADUA, Marsilius von. Defensor pacis. Ed. Richard Scholz.
Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1932.
499
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
más de Aquino, repousava a base do consentimento, única
fonte legítima da autoridade política. Ao aquiescerem, por
meio da livre escolha, especificava, os homens se sujeitavam
então às leis e aos governantes. Ou seja, o estabelecimento e
a perpetuação da comunidade política derivavam do exercício da faculdade humana natural da razão e da volição, e não
de uma concessão divina.
Para que o objetivo da vida humana coletiva – a paz e a
tranquilidade – pudesse ser alcançado, impunha-se a instituição de uma autoridade que subordinasse os demais membros da comunidade, de modo a preservar a unidade e a
harmonia e garantir a permuta dos bens. Para tanto, era
necessário um poder único que tivesse sido organizado para
o fim de reger a comunidade, sem contrariar com isso as leis
divina e natural. O governante, encarregado de administrar
a associação política na direção desse objetivo, fosse ele a
comunidade dos cidadãos (universitas civium), fosse a sua
parte mais importante (valentior pars sua), tinha autoridade
para dirigir todos os seus subordinados e para punir, quando necessário, quem quer que fosse, de acordo com as leis
estabelecidas pelo povo que o havia instituído.6 Deus continuava sendo, nesse modelo, a causa remota de todo poder.
Mas o seu depositário, como em João Quidort e Tomás de
Aquino, era o povo.7
Segundo Marsílio, havia dois tipos básicos de lei: a divina, ordenada por Deus, o qual julgava de acordo com ela; e
6
7
Cf. SOUZA, J. A. C. R. Introdução. In: PÁDUA, Marsílio de. Defensor minor
(DM). Petrópolis: Vozes, 1991. p. 21-3.
John Morral comentou essa idéia em Marsílio, afirmando que tal transferência do poder último tanto do regnum quanto do sacerdotium para
o povo soberano antevia o fim do papel político distintivo que a Europa
ocidental havia concedido à Igreja em graus diversos desde a conversão
de Constantino. Mesmo que Marsílio não pudesse perceber, escrevia
Morral, a comunidade cristã universal criada pela Idade Média deixava
de existir e um novo leitmotiv político passava a assumir o controle: o
Estado moderno. Cf. MORRAL, op. cit., p. 118.
500
FINAL - O PODER SEM PECADO
a humana, estabelecida pelo legislador terreno e imposta por
meio daqueles aos quais esse legislador atribuiu papel judicial. A primeira tratava do que era necessário para se alcançar a salvação; a segunda do castigo e da premiação na vida
presente. Lei (lex), em sentido próprio, explicava o jurista
patavino, em si mesma, revelava apenas o justo e o injusto e,
como tal, era chamada a ciência do direito. Sob um segundo
aspecto, contudo, podia ser entendida como um comando
coercitivo cuja observância se dava por meio de punição ou
recompensa a ser distribuída no mundo presente (DP I.10.4).
A capacidade de fazer leis vinculantes se restringia exclusivamente ao legislador humano (humanus legislator).
Segundo esse raciocínio, era possível a Marsílio negar
aos preceitos canônicos o caráter de lei em sentido próprio e,
com isso, a aplicação de tais cânones neste mundo, tal como
advogara João Quidort pouco antes. Pois, para ele, as leis
humanas existiam dentro de uma perspectiva estritamente
secular. Por isso, concentrava na vontade humana e no atributo da coerção os seus elementos constitutivos. Mas ia além
na formulação: lei era, propriamente falando, somente a lex
humana. As demais podiam compartilhar com ela o nome,
mas no contexto do mundo terreno não podiam ser consideradas verdadeiras leis. Marsílio acreditava na lei divina e a
aceitava como válida. Mas seu efeito, a recompensa ou castigo, dizia ele, só poderia ser sentido no outro mundo (DP I.10.3).
Já a lei natural constituía um tipo de lei humana: consistia
nos princípios gerais de justiça comuns aos vários povos e
dedutíveis pela razão (DP II.127-8).
Embora fosse da essência da lei humana ser posta,
como resultado de um comando coercitivo, seu conteúdo
geralmente dispunha de uma qualidade moral. O objetivo
maior de Marsílio, escreve Canning, “era produzir para a lei
humana uma definição econômica, que deixasse a determinação da lei secular apenas nas mãos de leigos: ignorando
a lei natural no sentido tradicional, localizando os efeitos da
lei divina no outro mundo e negando a validade de uma
501
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
jurisdição eclesiástica própria, ele acreditava ter limpado o
terreno sobre o qual o clero podia reivindicar interferência
na lei secular e no governo”.8 A “lei canônica”, explicava o
pensador paduano ecoando João Quidort, só havia se convertido numa realidade graças à superstição e ignorância
dos leigos, à vontade complacente de reis e imperadores e à
habilidade e criatividade dos papas (DP II.15.1-20).
Um tal poder coercitivo não era, obviamente, arbitrário: a lei, expressão do poder coativo, era o que mantinha
coesa a comunidade política, além de ser necessária para
atingir o bem público e para assegurar a continuidade do
governo (DP 1.11.1 e 8). Lei, portanto, não constituía, em seu
raciocínio, mera expressão de uma estrutura de poder: como
uma regra coercitiva, ela era o instrumento necessário para
a obtenção do bem comum, objetivo que requeria um governo firme e duradouro.9 Por essa razão, o governo supremo de
um reino, lembrava o jurista patavino, devia ser apenas um
em número (DP I.17.1-2).
8
9
CANNING, J. Law, sovereignty and corporation theory, 1300-1450. In:
BURNS, op. cit., 1991, p. 461.
Num certo sentido, o exercício do poder na forma de coerção poderia ser
tomado como o núcleo fundamental da lei humana em Marsílio e como
a garantia da boa ordem e do governo da sociedade, argumenta Canning.
Isso, contudo, não faria do autor um “positivista legal”, alerta ele: embora o pensador patavino enxergasse as leis – enquanto preceitos coativos
– como um fato da vida social, não as via como opostas a ou limitadoras
da natureza humana. Pois, ao localizar o poder coativo na comunidade
política e, dessa forma, no legislador humano – representação do povo
ou de sua parte principal e autor das leis por meio do consentimento –,
nada do que fosse proposto por esse legislador podia ser contra a natureza ou a divindade, já que a feitura da lei supunha a recta ratio e tinha
como fim a paz e a tranqüilidade dos homens congregados. Isto é, porque essa comunidade política era semelhante a uma natureza animada, ela faria para si somente leis adequadas, dado que, como qualquer
animal, ela buscava apenas a sua sobrevivência. Desse modo, não
502
FINAL - O PODER SEM PECADO
As implicações deste raciocínio eram evidentes: Marsílio
deixava para trás o mundo dualista e sua lógica dos poderes
coordenados. A noção de um poder político fundado no respeito pela autonomia dos poderes temporal e espiritual perdia terreno. Caminhava-se agora na direção daquela constatação tão bem expressa por Hobbes séculos mais tarde: a de
que “o governo temporal e espiritual são apenas duas palavras trazidas ao mundo para fazer os homens enxergarem
duplicadamente e confundir o seu Soberano Legal”.10
No Defensor minor, escrito provavelmente entre 1330 e
1342, Marsílio retomou o problema da relação entre lei e coerção. Lá desaparecera qualquer reticência: nele o autor negava explicitamente a validade das leis positivas que
infringissem normas superiores. No capítulo 8, afirmava que
as leis divinas e humanas deviam ser consistentes e se reforçar mutuamente. A lei sagrada, dada por Deus, decretava
obediência a toda legislação humana que não fosse incompatível com os ditames divinos. A lei humana, portanto, nada
devia promulgar que contradissesse ou conflitasse com a
vontade de Deus. Mais adiante, no capítulo 13, afirmava que
quando surgia um caso no qual algum estatuto humano obrigava a algo que era oposto à lei divina, esta última devia ter
absoluta precedência sobre a primeira: Marsílio retomava
aqui, propositalmente ou não, a boa tradição cristã.
O poder jurisdicional envolvia a capacidade de coerção
por parte do legislador humano e, portanto, concluía o pensador paduano, constituía matéria terrena, e não das almas.
Por esta razão, somente ao governante temporal cabia a reivindicação da plenitudo potestatis in temporalibus. A Ecclesia,
embora pudesse ter plenitude de poder em assuntos espiri-
10
havia contradição entre as regras coercitivas e a razão humana. Cf.
CANNING, J. The role of power in the political thought of Marsilius of
Padua. History of Political Thought, v. 20, n. 1, p. 30-2, spring 1999.
HOBBES, T. Leviathan. Harmondsworth: Penguin Books, 1988. p. 498.
503
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
tuais, nada tinha a declarar ou a exigir em assuntos mundanos. “A teoria política de Marsílio”, esclarece Canning, “era
uma tentativa de mostrar que o poder coercitivo constituía a
espinha dorsal do governo legítimo, e de revelar onde este
poder repousava e os mecanismos por meio dos quais ele
devia ser exercido. Ele tinha de fazer isso a fim de poder destruir intelectualmente as falsas reivindicações do papado e
sua corte”,11 o qual ele identificava àquela “estátua horrível”
vista por Nabucodonosor em seu sonho (DP II.24.17).
Por não constituir aquele governante a quem cabia a
imposição e o cumprimento da lei humana, fundamento da
vida coletiva, o sumo pontífice – e qualquer outro clérigo –
desfrutava do mesmo status que as outras partes do corpo
cívico. Os sacerdotes não apenas não podiam usurpar legitimamente poderes de legislação e imposição coercitiva, mas
ainda estavam sujeitos ao legislador humano em todos os
assuntos relacionados às suas próprias pessoas temporais e
à sua propriedade, assim como aos bens da Ecclesia. Como
na comunidade política era necessária a unidade de comando, não podia haver em seu seio um poder autônomo. Como
conseqüência lógica, era preciso negar à Igreja toda plenitude de poder temporal. A comunidade cívica, por outro lado,
não devia expulsar a Ecclesia para fora do grupo, e sim associar-se a ela, deixando-a cumprir com a sua função: a de
educar os homens para a fé no Senhor e nas Escrituras,
garantindo-lhes a salvação eterna.12
Marsílio opunha-se, assim, consistentemente às pretensões papais de jurisdição terrena. O governo eclesiástico
do sumo pontífice era reconhecido por ele como mero agente
executivo do concílio geral e, por isso, incapaz de agir por
conta própria. Esse concílio devia representar todos os fiéis
cristãos, sustentava o jurista patavino, e somente ele era com11
12
CANNING, op. cit., 1999, p. 26-7.
Cf. SOUZA. Introdução. In: DM, p. 27-8.
504
FINAL - O PODER SEM PECADO
petente para decidir os objetivos básicos da fé e estabelecer
os cargos e rituais apropriados à Igreja. No Defensor minor,
Marsílio fazia uma apreciação minuciosa da natureza e operação do concílio geral da Ecclesia: seu objetivo, afirmava o
autor, era a interpretação canônica da Sagrada Escritura.
Como tais verdades sagradas eram fixadas para todo o sempre, a tarefa do concílio limitava-se a descobrir e articular
tais verdades com referência ao Espírito Santo.
Por essa razão, o concílio geral podia ser dito infalível
num sentido em que sacerdotes ou prelados individuais não
o eram: somente ele tinha acesso à verdade eterna. Aqui
Marsílio respondia às críticas feitas por Guilherme de Ockham
contra a infalibilidade conciliar uma década antes: segundo
ele, o que não era possível a uma pessoa realizar podia, às
vezes, ser alcançado pela cooperação de muitos.13 No caso
do concílio geral, essa colaboração acontecia como resultado
de discussão e da sabedoria das partes, e por meio dela um
consenso sobre a verdade podia ser eventualmente estabelecido. O Espírito Santo, dizia o autor, estava infundido nos
membros individuais do concílio, como resultado de sua
interação recíproca, por meio de um processo semelhante
àquele pelo qual as comunidades civis chegavam a um acordo sobre a legislação. Estavam lançadas as bases do movimento conciliarista que forneceria à Ecclesia um fundamento
constitucional de governo.14
13
14
Cf. SOUZA, J. A. C. R. A argumentação política de Ockham a favor do
primado de Pedro contrária à tese de Marsílio de Pádua. In: DE BONI, op.
cit., 1996, p. 473-84.
No início do século XV, ecreve Oakley, já havia sido criado um certo
consenso acerca da figura do príncipe eclesiástico: ele já não era mais
um monarca absoluto, e sim muito mais um governante constitucional.
Sua autoridade passara a ser entendida como meramente ministerial, a
ele delegada para o bem da Igreja. A autoridade final repousava agora
não mais em sua figura, mas na congregação dos fiéis como um todo,
ou nos seus representantes reunidos no concílio geral. Sobre tais fundamentos assentava-se o movimento conciliarista que se havia imposto
505
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Apesar da infalibilidade atribuída ao concílio, a competência para fazer valer as decisões de uma tal assembléia de
todos os fiéis só podia caber a um governante cuja autoridade coercitiva se estendesse por todos os rincões da cristandade. E o único governante capaz de se adequar a esse critério,
constatava o pensador paduano no Defensor minor, era o imperador Romano (DM 16.4). No Defensor pacis essa autoridade havia sido nomeada por Marsílio em termos mais vagos:
competia ao “legislador humano cristão, acima do qual não
há nenhuma outra autoridade” (DP II.21.1). Talvez porque,
depois dos infortúnios vividos durante o conflito entre o papa
e o imperador, anos antes, que lhe haviam rendido anos de
reclusão, Marsílio tivesse retornado à militância.15
O imperium e seu governante, no Defensor minor, eram
provavelmente vistos menos como a incorporação de um ideal
imperial maior, como quisera Dante, e mais como um aliado
útil na batalha para conter o papado. Além disso, constituía
à época a única liderança capaz de insurgir-se concretamente contra Avignon. Diferentemente do Defensor pacis, menos
15
ao Ocidente a partir de meados do século XIV e atravessaria todo o
século XV. Cf. OAKLEY, Francis. Natural law, the corpus mysticum and
consent in conciliar thought from John of Paris to Matthias Ugonius.
Speculum, Massachusetts, The Medieval Academy of America, v. 56, p.
786-810, 1981.
Depois de sua malsucedida excursão com o imperador Luís da Baviera
pelo norte da Itália na década de 20, que somente havia acirrado o
conflito entre imperium e sacerdotium, Marsílio atritou-se com o imperador pelo fato de que este pretendia ceder a algumas das exigências
papais e retroceder um pouco em suas posições anticlericais. Ao fim de
quase uma década sem aparições significativas, o pensador paduano
reapareceu na cena pública para reafirmar que qualquer tentativa de
reconciliação com o papado seria inútil. Para enfrentar o desafio, publicou o Defensor minor, cuja data da composição é incerta e controversa:
é geralmente situada entre o final da década de 30 e o ano de 1342. Cf.
NEDERMAN, C. Editor’s introduction. In: PADUA, Marsiglio of. “Defensor
minor’” and “De translatione imperii”. Ed. C. Nederman. Cambridge:
University Press, 1993. p. XVIII.
506
FINAL - O PODER SEM PECADO
convencional, a obra posterior não introduzia uma clivagem
entre a discussão do governo temporal e a da eclesiologia, entre os reinos natural e sobrenatural. Nele, Marsílio
concentrou-se na relação entre jurisdição temporal e autoridade espiritual, como era comum em seu tempo. Enquanto
no primeiro livro ele adotara uma abordagem genérica da
comunidade política, sem privilegiar nenhum sistema constitucional, no Defensor minor procurou traduzir tais princípios gerais do poder temporal nos termos concretos de um
governo imperial, e não mais nos da civitas ou do reino.
Mas sua abordagem a respeito da origem do poder temporal permanecera intocada. O império, como qualquer outra
unidade política terrena, reafirmava Marsílio no Defensor minor,
tinha um fundamento independente: originava-se do consentimento da comunidade corporada (ou “legislador humano”).
O papado, do mesmo modo que no Defensor pacis, não desfrutava de maior direito de interferência nos assuntos do império do que as outras formas de associação política. Mesmo
atribuindo poderes especiais ao imperador romano, como reunir o concílio geral dos fiéis e impor suas decisões, Marsílio era
cuidadoso e alertava para a contingência da reivindicação de
superioridade do poder imperial romano: um tal direito não
era fundado numa vontade divina nem numa necessidade da
natureza, e sim fora-lhe delegado pelo povo romano e, por isso,
podia ser sempre revogado pela comunidade (DM 12.3).
No seu breve tratado sobre a Doação de Constantino, o
De translatione imperii, escrito provavelmente entre 1324 e
1334, Marsílio já havia estabelecido que o titular do cargo de
imperador romano ocupava tal posição como resultado de
uma série de transferências legais do poder, e de acordo com
o procedimento adequado para sua eleição. Sustentava ainda, como havia feito João Quidort, que independentemente
do papel exercido pelo sumo pontífice – o qual facilitara a
transferência da cadeia imperial para os francos e, posteriormente, para os germânicos –, sua função havia sido pura507
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
mente honorífica e acidental. Pois, mesmo que o costume
tivesse permitido aos papas coroar novos imperadores, a fonte
da autoridade imperial não era o papado, mas um processo
histórico terreno externo ao controle do papa.16
Era claro, portanto, que o consenso tinha prioridade
sobre as demais justificações da autoridade: mesmo o imperador romano gozava de certas prerrogativas somente porque elas lhe haviam sido concedidas por um ato de consentimento livre dos povos que se haviam submetido a Roma. A
autoridade e o poder coercitivo para criar e impor as leis humanas derivadas da instituição do poder político pertenciam
à universitas civium ou ao príncipe supremo – nomeado no
Defensor minor o imperador romano. Mas esse apenas representava os poderes legislativos da comunidade.
A transferência condicional de tais poderes ao governante romano, explicava Marsílio, somente exemplificava um
modo segundo o qual as comunidades humanas escolhiam
usar o consentimento civil que nelas residia. Em nenhum
momento, contudo, tratava-se de abrir mão dos direitos judiciais ou legislativos delegados: por mais que os poderes transferidos ao imperador lhe conferissem jurisdição suprema, ele
não podia reivindicar o monopólio sobre os poderes governamentais.
A comunidade política, fosse ela o império, o reino, o
principado ou a civitas, passava a ser entendida em termos
puramente leigos, como uma entidade com fim próprio, vinculada às necessidades naturais do homem. Constituía um
produto da ação e razão humanas e resultava da conjugação
das vontades dos cidadãos, que podiam opinar diretamente
ou por meio de representantes.17 Volição e ato se manifesta16
17
Ibid., p. XIII.
D’Entrèves chama atenção para o que ele descreve como “germes de
dois institutos que deverão assumir grande importância no Estado mo508
FINAL - O PODER SEM PECADO
vam na instituição da lei e do poder. Tais idéias certamente
não eram novas.18 Mas a formulação de Marsílio proporcionava clareza conceitual: “O legislador ou a causa eficiente
primeira e específica da lei”, escrevia ele,
é o povo ou o conjunto dos cidadãos ou sua parte preponderante, por meio de sua escolha ou vontade externada
verbalmente no seio de sua assembléia geral, prescrevendo ou determinando que algo deva ser feito ou não,
quanto aos atos civis, sob pena de castigo ou punição
temporal. (DP I.12.3)
O povo, o conjunto dos cidadãos, constituía, portanto,
a origem e a fonte de todo poder terreno. E, como a função
das leis era proporcionar bem-estar nesta vida, os cidadãos
constituíam o grupo mais qualificado para elaborá-las, já que
eram aqueles que melhor conheciam os objetivos que desejavam alcançar. As pessoas comuns, em seu raciocínio, dispunham de competência suficiente para o exercício das responsabilidades políticas.19 Por isso, a correção de governantes
negligentes ou daninhos pertencia ao legislador humano –
18
19
derno”, o da representação e o da divisão dos poderes. “Remontam à
Idade Média as origens das instituições que hoje chamamos representativas ou parlamentares: não se enganava Rousseau, seu feroz adversário, ao ver nelas uma sobrevivência dos tempos feudais”. Quanto à
divisão dos poderes, continua, não existe como doutrina formulada,
mas está “de certo modo implícita na concepção [...] do poder político
como limitado à tutela e à aplicação do direito”, devendo reconhecer-se,
acima do governante, uma fonte legislativa à qual todos deveriam sujeitar-se. Cf. D’ENTRÈVES, Alessandro Passerin. La dottrina dello Stato. Torino:
G. Giappichelli Editore, 1967. p. 133-4.
Sobre a filiação da teoria política marsiliana ao contexto especificamente medieval, cf. PIAIA, G. Marsilio da Padova, Guglielmo Amidani e l’idea
di sovranità popolare. Veritas, Porto Alegre, v. 38, n. 150. p. 297-304.
Chama atenção a amplitude de sua concepção de cidadania: Marsílio
reivindicava igualdade de posições políticas para todos os homens adultos
do sexo masculino, independentemente do status social e econômico.
Se cada civis tinha o mesmo valor, concluía, não se podia estabelecer
uma distinção qualitativa entre eles.
509
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
noção que incluía tanto homens de prudência e letrados quanto fabris, artesãos e outros tipos de técnicos (mechanicis) (DP
I.5.4-6).
E ia adiante: se essa correção tinha de ser assumida
por um único segmento do corpo cívico, e não por todo o
povo, dizia o jurista patavino, então era preferível atribuir
essa tarefa à parte trabalhadora. Pois os homens dispunham
de poderes da razão suficientes para julgarem por si mesmos
se as leis ou os governantes serviam ao bem comum (DM
2.7). Isto é, não importava tanto se o poder jurisdicional era
delegado “aos sábios e aos especialistas” e se nem todos participavam, todo o tempo, do comando dos assuntos políticos:
o essencial, como lembra Cesar, era a vinculação do direito
de legislar e de governar aos componentes do corpo social.20
Perante esse corpo o governante era responsável.
A lei civil estava agora inteiramente humanizada e a
vida coletiva se ordenava de forma autônoma. Somente ao
princeps, fosse ele um indivíduo ou um corpo coletivo, cabia
comandar aos súditos, em conjunto ou separadamente, segundo as leis estabelecidas. E ele nada devia fazer, fora dessas leis, “especialmente em se tratando de algo importante,
sem a anuência do legislador e da multidão que lhe está subordinada” (DP III.3.1).
20
“Assim como a causa eficiente da lei é o que pode instituir as leis que
visem ao bem comum, a causa eficiente do governante eleito é o que
pode instituir o governante prudente, virtuoso, equânime e benevolente. Tal é o conjunto dos cidadãos, pelas mesmas razões por que tem
autoridade para instituir a lei. Se o conjunto dos cidadãos é o legislador, então é ele que deve instituir o governante, pois quem define a
forma (a lei) determina também a matéria (o governante). Pelas mesmas
razões, é também ao conjunto dos cidadãos que cabe corrigir e destituir
o governante.” In: CESAR, Floriano Jonas. O defensor da paz e seu tempo.
1994. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 89.
510
FINAL - O PODER SEM PECADO
II GUILHERME DE OCKHAM, O INDIVÍDUO E OS
DIREITOS HUMANOS
O franciscano Guilherme de Ockham defendia, em política, pontos de vista aparentemente semelhantes aos de Marsílio
de Pádua. Seu ataque ao papado, especialmente ao papa João
XXII, foi também bastante violento. Mas sua crítica dirigia-se
mais aos equívocos cometidos pelos pontífices dos últimos
séculos do que à instituição eclesiástica propriamente dita.
Desde muito cedo ocupado com questões especulativas e com
a vida monástica, o irmão menorita, nascido em Ockham, cidade próxima a Londres, entre 1285 e 1290, ingressara ainda
bastante jovem na ordem franciscana, dedicando-se ao estudo de teologia, filosofia, teoria do conhecimento, lógica e filosofia natural. Ao terminar os estudos básicos, foi enviado a Oxford,
onde deveria aperfeiçoar seus conhecimentos e lecionar até
estar apto a receber o título de mestre em teologia.
Suas aulas e textos, no entanto, logo chamaram a atenção de alguns membros da universidade ligados à cúria romana. Sob suspeita de heresia, Guilherme de Ockham teve
seus escritos submetidos a uma comissão de expertos que
decidiu encaminhá-los a Roma para um estudo mais minucioso das proposições, tal como ocorrera anos antes com João
Quidort. Enviado pela ordem para representá-la junto à cúria,
Guilherme de Ockham instalou-se em Avignon, no ano de
1324, para aguardar a tramitação e julgamento do processo.
Enquanto isso, acirrava-se a disputa entre o pontífice e os
membros de sua ordem em torno do problema da “perfeição
evangélica”. Três anos mais tarde seu superior imediato,
Miguel de Cesena, alojou-se na cúria a fim de somar forças
em defesa das teses franciscanas.21 Miguel encarregou então
21
A disputa entre o papa e os franciscanos girava basicamente em torno
da noção de “direito ao uso” pelas partes: Guilherme de Ockham, por
exemplo, sustentava ter a ordem franciscana usus de facto sobre as
coisas temporais, sem com isso deter dominium algum. O pontífice, por
511
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
seu pupilo de estudar em profundidade a questão da pobreza e a posição do pontífice. Nascia aí a carreira política do
Invincibilis Doctor.
Como resultado de suas investigações, Guilherme de
Ockham concluiu que o “Pseudopapa” João XXII usurpara
funções que não lhe cabiam e se havia tornado herético. No
ano seguinte, acompanhado de outros frades franciscanos,
Guilherme de Ockham fugia para Roma, de encontro ao imperador que era agora oficialmente coroado. Recebidos por
Luís IV, o Bávaro, em sua corte, à qual se juntara logo depois
Miguel de Cesena e sua comitiva, os “Rebeldes” passaram a
desfrutar da proteção imperial para prosseguir na sua luta
pela mendicância. Junto ao poder imperial, sediado em Munique, Guilherme de Ockham exerceria durante mais de 15
anos a função de conselheiro e escreveria suas obras políticas mais relevantes – como o Compendium errorum Ioannis
Papae XXII., parte significativa do Dialogus de posteste
imperiali & papali, ou ainda o Breviloquium de principatu
tyrannico –, sempre atento às intrigas e interesses do imperador e de sua causa, até a sua morte, em 1347 ou 1348.
Boa parte desse engajamento do Menorita Inglês em
matérias imediatamente políticas pôde ser traduzido em termos científicos no Brevilóquio sobre o principado tirânico, es-
sua vez, defenderia na bula Quia vir reprobus, de 1329, que essa reivindicação era infundada: os franciscanos não podiam renunciar a todo
dominium, ou pelo menos àquele comum, pois este fora conferido por
Deus e só por ele poderia ser retirado aos homens. A resposta franciscana à bula papal foi dada na conhecida obra de Guilherme de Ockham,
Opus nonaginta dierum, produzida já no exílio. Um comentário útil
dessa disputa – e também o referido texto latino do Venerabilis Inceptor
– pode ser encontrado num estudo comparativo de KILCULLEN, R. J. The
origin of property: Ockham, Grotius, Pufendorf and some other, disponível no endereço http://www.mq.edu.au/ockham. Cf. tb. a edição inglesa da Opus nonaginta dierum em SIKES, J. G.; OFFLER, H. S. (Ed.).
Guillelmi de Ockham. Opera politica. Manchester: University Press, 1940.
v. 1
512
FINAL - O PODER SEM PECADO
crito por volta de 1340. Nele, Guilherme de Ockham recorreu, para argumentar, a todas as fontes possíveis do direito e
da lei, buscando apoio no direito natural, no direito canônico,
nos ensinamentos dos grandes teólogos, no direito romano e
no divino, revelado nas Escrituras. Não que tudo isso tivesse
igual valor para o Venerabilis Inceptor. Ele simplesmente se
empenhava em cercar por todos os lados a argumentação
dos defensores do poder papal, para refutá-la ou para mostrar que as fontes às quais eles haviam recorrido podiam ser
interpretadas de forma diversa e até oposta.
Mesmo quando apelava para as Escrituras ou para o
testemunho dos grandes teólogos, no entanto, o raciocínio
de Guilherme de Ockham nunca deixava de ser estritamente
crítico. Sua interpretação das Escrituras ia sempre em busca do significado mais razoável em face da cada circunstância. Sobre uma passagem de Santo Agostinho, ele declarava,
sem cerimônia, que devia ser interpretada com restrições que
chamaríamos de históricas:
Assim sendo, a afirmação de Agostinho: “Encontramos o
direito humano nas leis dos reis” deve ser entendida com
relação ao tempo dele e às regiões onde habitavam ele e
os hereges que desejava refutar; mas não deve ser entendida em relação ao direito humano que precedeu as leis
dos imperadores e reis, o qual, no tempo de Agostinho,
ao menos em grande parte estava revogado ou modificado.22 (BPT, p. 121-2)
Sua doutrina afirmava a independência dos poderes
temporais em relação à Ecclesia, localizava no povo a fonte
22
OCKHAM, Guilherme de. Brevilóquio sobre o principado tirânico (BPT). Ed.
Luis A. De Boni. Petrópolis: Vozes, 1988. p. 121-2. Todas as citações do
texto foram retiradas dessa edição. Cf. tb. as edições críticas de: BAUDRY,
L. (Ed.). Breviloquium de potestate papae. Paris: Librairie Philosophique
J. Vrin, 1937; e SCHOLZ, R. (Ed.). Wilhelm von Ockham als politischer
Denker und sein ‘Breviloquium de principatu tyrannico’. Leipzig: Verlag
Karl W. Hiersemann, 1944.
513
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
da autoridade e distinguia os verdadeiros domínio e jurisdição do domínio e da jurisdição justos:
Assim, pois, embora quaisquer fiéis e pecadores sejam
indignos do domínio das coisas temporais, podem contudo ter verdadeiro domínio delas. O que se diz do domínio
temporal vale também para a jurisdição temporal: embora os fiéis e todos os ímpios sejam indignos de jurisdição,
contudo podem ter verdadeira jurisdição tanto os infiéis
como os fiéis pecadores. (BPT, p. 118)
Sua posição, quanto a esse ponto, era bastante semelhante à de João Quidort e oposta à de Egídio Romano, que
não reconhecia nenhum direito de domínio ou de jurisdição
aos infiéis, isto é, aos não batizados.
Fundamental para a construção de Guilherme de
Ockham era a noção de “lei de liberdade” (lex libertatis) evangélica, isto é, aquela liberdade perfeita oferecida por Cristo
aos homens, disponível no Novo Testamento. Os homens,
postulava o Menorita Inglês, nasciam livres. Conseqüentemente, tinham certas liberdades, originadas da criação divina, as quais não podiam alienar por completo, fosse ao poder
temporal ou ao espiritual. Isso lhe fornecia um fundamento
para sustentar que o individual, ou particular, tinha de ser
considerado, em primeiro lugar, com relação aos seus direitos, capacidades e liberdades.23 Ou seja, antes de analisar o
conjunto dos cidadãos e sua interação, era preciso tomar os
indivíduos em sua singularidade.
Essa preeminência do individual no pensamento ockhamiano, alerta Coleman, estava fundada em sua teoria do conhecimento, segundo a qual universais constituíam somente
nomes:24 o Princeps Nominalium havia desenvolvido de ma23
24
Cf. MCGRADE, A. S. Ockham and the birth of individual rights. In: TIERNEY,
B.; LINEHAN, Peter (Ed.). Authority and power. Studies on medieval law
and government. Cambridge: University Press, 1980. p. 149-66.
Os universais (ou pensamentos) nada mais eram, de acordo com a teoria ockhamiana, do que nomes (nomina), isto é, conceitos primários
514
FINAL - O PODER SEM PECADO
neira bastante original o nominalismo já presente em João
Quidort e outros contemporâneos. Essa corrente de pensamento opunha-se ao realismo tomista: segundo Guilherme
de Ockham, tal realismo destruía a possibilidade de conhecimento genuíno porque estabelecia essências universais – ou
coisas não particulares – fora da mente. E isso era contrário
à ciência da verdade e à razão em geral. Pois tudo quanto
havia no mundo, explicava o Doutor Invencível, eram individuais contingentes aos quais os seres humanos atribuíam
denominações. Esses particulares podiam ser conhecidos por
meio de uma experiência determinada: a intuição cognitiva.25
Isto é, tudo o que havia na realidade eram coisas singulares, individuais e quantitativamente diferenciadas entre
si. Para se referir a essa individualidade existente no mundo,
os seres humanos construíam, no pensamento ou na linguagem convencional, sentenças ou proposições. O nosso conhecimento, portanto, era formado de conceitos (mentais ou
lingüísticos) cujos termos eram substituídos por nossas experiências.26 A ciência do Doutor Invencível se limitava, as-
25
26
gerais naturalmente significantes (sinais naturais); de maneira secundária, constituíam os sinais convencionais (termos e proposições na
linguagem) correspondentes a conceitos primários. Cf. COLEMAN, J.
Sovereignty and power relations in the thought of Marsilius of Padua
and William of Ockham: a comparison. Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, op. cit., p. 230.
Um tratamento mais abrangente da noção de conhecimento intuitivo
em Guilherme de Ockham pode ser encontrada em: BOEHNER, Philotheus.
Collected articles on Ockham. New York: The Franciscan Institute St.
Bonaventure, 1958.
A coisa que constituía o objeto do conhecimento tinha de ser a proposição mental em si, escrita ou falada, e não a substância à qual ela se
referia. Essa substância individual só podia ser conhecida por meio dos
termos da proposição. Ou seja, nenhuma substância corpórea externa
(matéria) podia ser apreendida, naturalmente, pelos seres humanos:
estes só podiam conhecer as substâncias particulares e individuais por
515
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
sim, a cuidar das relações externas entre os corpos. Não havia lugar para considerações a respeito das essências ou das
propriedades “íntimas”, como aquelas que impeliam um corpo a descrever certo tipo de movimento. Como cientista, Guilherme de Ockham estava mais próximo de Galileu e de
Hobbes do que de São Tomás e de Aristóteles. Ele podia ser
tomista e aristotélico por seu apego ao empírico, mas não por
qualquer concepção ontológica.
Bem ao contrário, seu apego à experiência tinha como
contrapartida uma atitude modesta em relação ao conhecimento e às possibilidades da razão. A experiência nos oferecia apenas a multiplicidade dos singulares. O entendimento
podia organizar esses dados, identificar semelhanças e regularidades, mas não podia avançar além de certos limites
muito estreitos. Não devia, nem precisava, construir ou supor entidades misteriosas, nem formular mais hipóteses do
que as estritamente necessárias para trabalhar com os dados disponíveis. Como expressaram acertadamente Souza
e De Boni:
Um mundo de indivíduos iguais entre si e sem intermediários é, porém, um mundo que se desprende totalmente das agonizantes hierarquias medievais; um
mundo que encontra sua própria explicação dentro de
si mesmo, sem receio de qualquer questionamento; um
mundo que se organiza a partir de seus membros constituintes.27
27
meio de proposições mentais, escritas ou faladas. Tais proposições eram
formadas de sinais ou termos que, por sua vez, eram substituídos por
categorias experimentadas fora da mente. Cf. Ockham, G. Dialogus de
potestate Imperiali & Papali. livro III, cap. XVI. In: GOLDAST, M. (Ed.).
Monarchia sancti romani imperii. op. cit., t. II. Cf. tb. COLEMAN, J. Ockham’s
right reason and the genesis of the political as absolutist. History of
Political Thought, v. 20, n. 1, p. 40-1, spring 1999.
SOUZA, J. A. C. R.; DE BONI, L. A. Introdução. In: OCKHAM, G. Brevilóquio
sobre o principado tirânico. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 15-6.
516
FINAL - O PODER SEM PECADO
Segundo Guilherme de Ockham, o conhecimento humano podia ser alcançado por meio da experiência sensível,
da razão natural e da autoridade infalível da Escritura. A
vivência sensorial precedia as demais formas. A ela podia-se
aplicar a razão natural. Tal procedimento permitia aos homens, por exemplo, confirmar sua crença na verdade do Evangelho, por meio da demonstração lógica de suas afirmações.
Com base nesse raciocínio, o Princeps Nominalium podia sustentar, entre outras coisas, que o papado e a hierarquia eclesiástica não constituíam os únicos intérpretes de direito da
palavra divina. Qualquer pessoa que experimentasse o mundo e pensasse a respeito do vivenciado – desde que sã e ilustrada – estava apta a interpretar as palavras de Deus na
Sagrada Escritura.
Se a reta razão constituía o leme dos homens, sua característica distintiva era, segundo o Doutor Invencível, a liberdade para desejar segui-la. Tal liberdade constituía ainda
o fundamento da dignidade humana e a fonte da bondade
moral e da responsabilidade individual. Se os atos cognitivos
dos seres humanos eram naturais, o que devia ser objeto de
julgamento era seu poder de performar ou não uma ação,
isto é, sua capacidade de agir naquilo que conhecia. Seu raciocínio aqui era basicamente tomista. Essa ênfase numa
escolha racionalmente direcionada constituiria um dos pilares da idéia de voluntarismo. Guilherme de Ockham aceitava, como Aristóteles e Tomás de Aquino, que as virtudes
morais e intelectuais, e também a busca do prazer, constituíam valores intrínsecos: um ato podia ser dito desmedido
somente quando algo que não deveria ser buscado como
supremamente bom (por exemplo, matar) fosse percebido
enquanto tal.
Esse raciocínio permitia ao Princeps Nominalium sustentar que também os pagãos e os infiéis podiam atingir a
virtude moral genuína, mesmo sem um conhecimento correto de Deus. Pois tinham ciência de alguns bens intrínsecos
517
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
ou razões para agir, podendo assim dispor de uma ética positiva ou de uma ciência da moral, como ocorrera por exemplo entre os gregos antigos.28 Por essa razão, também podia
afirmar que todas as normas válidas constituíam comandos
divinos, mesmo que alguns seres humanos não tivessem clareza disso. Deus, causa primeira de todas as coisas, agindo
livremente, postulava o Venerabilis Inceptor, era autor e criador da natureza e, desse modo, de suas leis. Num certo sentido, portanto, a lei natural era um comando divino. Mesmo
que imediatamente determinada por Deus, seu conteúdo,
entretanto, devia necessariamente corresponder aos ditames
da razão natural, como já havia mostrado o Aquinate.
Isto é, as normas contidas nessa lei natural tinham de
ser acessíveis às criaturas humanas por meios puramente
naturais ou racionais.29 Estabelecia-se assim uma conexão
entre a vontade divina e a moralidade natural. A obediência
a Deus tornava-se, nesse modelo, um princípio prático da
razão: obedecer a um comando divino era sempre racional. O
único limite ao alcance das obras do Senhor era o postulado
da não-contradição: Ele podia fazer qualquer coisa que não
envolvesse uma oposição entre proposições. Um agente que
executasse o que a reta razão ditasse, simples e precisamente porque ela o impusesse, estaria performando ao mesmo
tempo uma ordem divina, sob o fundamento de que tal ato
era racional. Reconhecê-lo como uma norma divina, no entanto, exigia um outro passo, pois dependia da fé e da revelação. Pagãos e infiéis, por exemplo, podiam ter domínio e
jurisdição justos mesmo sem conhecer Deus.
28
29
Cf. MCGRADE, A. S. Natural law and moral omnipotence. In: SPADE, V.
(Ed.). The Cambridge companion to Ockham. Cambridge: University Press,
1999. p. 274-5.
A noção de lei natural em Guilherme de Ockham constitui matéria complexa e polêmica. Uma abordagem aprofundada do tema pode ser encontrada em: TIERNEY, Brian. The idea of natural rights: studies on natural
rights, natural law and church law 1150-1625. Atlanta: Emory University Studies in Law and Religion, 1997. n. 5, p. 157 et seq.
518
FINAL - O PODER SEM PECADO
Desse modo, obedecer comandos divinos, de um lado,
constituía um princípio razoavelmente auto-evidente, dado
que Deus constituía o bem supremo e, por isso, só ordenava
coisas boas e justas. De outro lado, havia bens intrínsecos e
princípios normativos que podiam ser apreendidos por uma
razão natural que sabia pouco ou nada de Deus. Assim, regras morais e normas de convivência comuns podiam amiúde ser determinadas de maneira puramente racional,
independentemente da referência à vontade de Deus, sem
com isso invalidar a afirmação primeira de que todas as normas válidas constituíam comandos divinos. Mas nem tudo,
na esfera moral, era decretado pelo Senhor: na ausência de
um comando divino direto contrário, as ações performadas
podiam ser consideradas boas.30
Os seres humanos eram portadores não só de uma razão natural: naturais eram ainda alguns de seus direitos,
escrevia Guilherme de Ockham no pequeno tratado De
imperatorum et pontificum potestate, descoberto por R.
Scholz.31 E deles os indivíduos não podiam ser privados.
Certas liberdades e direitos tinham sido concedidos por Deus
aos homens, por meio da natureza, e nem mesmo o sumo
pontífice podia negá-los. Entre esses direitos inalienáveis
encontravam-se: o de usar as coisas no mundo, o de estabelecer leis e eleger governantes, o direito natural de sobreviver
e de consentir. Todos eles já existiam antes mesmo da vinda
de Cristo. Este e seus apóstolos, como relatavam as Escrituras, nada possuíram: apenas utilizaram o mundo para poder
30
31
O que não equivalia a dizer, alerta McGrade, que qualquer ato moral
não estabelecido previamente por Deus fosse, do ponto de vista ético,
neutro. Cf. MCGRADE. Natural law and moral omnipotence. In: SPADE, op.
cit., 282.
Cf. SCHOLZ, Richard. Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der
Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354). Bibliothek des Kgl. Preuss. Hist.
Instituts in Rom, Band IX. Roma: Verlag von Loescher & Co., 1911.
p. 178 et seq.
519
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
sobreviver. Do mesmo modo, argumentava o franciscano, todos os homens tinham um “direito natural de uso” das coisas
temporais, conferido por Deus. Este direito ao uso era anterior
a todos os direitos de posse introduzidos posteriormente.
Isto é, segundo o Venerabilis Inceptor, os seres humanos detinham naturalmente – ou de acordo com a reta razão
– o direito de usar os bens terrenos. Mas não dispunham do
direito à propriedade privada (dominium) de tais bens. Posse
e propriedade nos grupos humanos, dizia ele, era fruto da
queda em pecado. Sua argumentação aqui não era muito
diferente daquela de João Quidort ou Egídio Romano: apropriar e dividir as coisas temporais constituía um desenvolvimento racional exclusivo da condição pós-lapsária (post
lapsum). Antes do pecado original, contava o Doutor Invencível, Adão e Eva desfrutavam de um poder perfeito – que não
incluía a posse privada nem a coerção – de uso sobre todas
as coisas, regulando-as apenas por meio da reta razão.32
Depois da queda, entretanto, a natureza pecaminosa do homem proliferou e tornou útil a apropriação privada (BPT,
p. 111-2).
Assim, em vista da utilidade humana comum, contava
Guilherme de Ockham, Deus decidira conceder aos homens,
fiéis e infiéis, o poder de estabelecer o dominium,33 isto é, o
32
33
“O primeiro domínio, aquele comum a todo o gênero humano, existiu no
estado de inocência, e teria permanecido se o homem não houvesse
pecado, mas sem conceder a algumas pessoas o poder de apropriar-se
de alguma coisa, a não ser pelo uso, como foi dito. E não haveria utilidade nem necessidade em ter a propriedade de qualquer coisa temporal,
porque naquelas pessoas não havia nenhuma avareza, ou desejo de
possuir ou de usar alguma coisa temporal contra a reta razão” (BPT,
p. 111).
Um resumo breve, mas útil, das idéias de Guilherme de Ockham sobre
a “autorização” divina para a instauração da propriedade privada entre
as criaturas humanas pode ser encontrado em: MIETHKE, J. Kaiser und
Papst im Konflikt: zum Verhältnis von Staat und Kirche im späten
Mittelalter. Düsseldorf: Verlag Schwann-Bagel, 1988. p. 54-5.
520
FINAL - O PODER SEM PECADO
“direito” de apropriar-se privadamente das coisas temporais
e de instituir chefes com jurisdição temporal, de acordo com
o que a reta razão, na condição do pecado, julgasse ser necessário, útil e conveniente. Esse dominium, divinamente
outorgado para limitar os efeitos do pecado, fora introduzido
por Ele como possibilidade, e não em sua forma concreta. Tal
concretude, de maneira geral, só foi estabelecida pela instituição da lei civil,34 embora tivesse havido concessão de domínio feita diretamente pelo próprio Deus, como quando
presenteara os filhos de Israel com as terras caanitas35 (BPT,
p. 116). Por isso, a jurisdição legal sobre a propriedade na
comunidade política cabia somente ao governante terreno.
A Igreja nada possuía e não tinha direitos sobre as coisas temporais. Posse e propriedade constituíam conclusões
lógicas e seculares às quais os homens tinham aquiescido
como criaturas pecadoras, acrescentando aos seus direitos
naturais de uso a especificação da apropriação privada. Embora seu alvo primeiro fosse a disputa com o papado, sua
conclusão servia igualmente bem às pretensões e interesses
dos poderes temporais. O ideal de perfeição espiritual, respondia o Menorita Inglês, espelhava-se na lei natural, a qual
informava aos homens terem eles um direito, conferido por
Deus, de sobreviver e de usar o mundo, sem que fosse necessário possuí-lo ou qualquer parte sua:36 aqui Guilherme de
34
35
36
Essa diferença era importante, alerta Miethke, pois se a propriedade
privada fosse instituída divinamente, somente Deus poderia efetuar mudanças no direito de propriedade. Já como acordo humano ela era
historicizada: constituía uma norma legal, um direito positivo historicamente mutável. Cf. MIETHKE, J. Der Weltanspruch des Papstes im späten
Mittelalter. In: FETSCHER & MÜNKLER, op. cit., p. 413.
Cf. KILCULLEN, J. Introduction. In: OCKHAM, W. A short discourse on tyrannical government. Cambridge: University Press, 1992. p. xii-xiv.
O modo de vida mais perfeito para um cristão consistia, segundo Guilherme de Ockham, numa existência sem propriedade nem direitos legais humanamente estabelecidos. Mas reconhecia que tal forma de vida
não era possível para qualquer pessoa, nem mesmo para todo cristão.
521
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Ockham falava em nome de seu superior, Michel de Cesena,
e de toda a ordem franciscana, e perfilava-se em defesa da
pobreza evangélica, contra o papa João XXII.
Havia espaço ainda, em sua argumentação, para a adoção do princípio aristotélico – e antiplatônico – segundo o
qual as coisas comuns eram menos amadas e menos cuidadas do que as próprias. Uma sociedade que admitisse os bens
próprios, escrevia, seria mais bem ordenada do que uma outra
fundada na posse comum (BPT, p. 113). A propriedade, em
seu raciocínio, não era apenas um direito igual a qualquer
outro, mas uma condição necessária ao bem viver.37 Era outra
forma de fundamentar o governo temporal nos governados,
isto é, no interesse dos indivíduos. E porque papas e prelados eram em primeiro lugar homens, esclarecia o Doutor Invencível, sua relação com a propriedade tinha de estar sob as
regras dos arranjos temporais (BPT, pp. 122-4).
O poder do pontífice, portanto, limitava-se àquelas
matérias constantes das Escrituras, acessíveis a qualquer
indivíduo: lá podia-se ler que Cristo tinha conferido a Pedro
não uma plenitude de poder ilimitada sobre coisas temporais e espirituais, e sim uma jurisdição limitada para administrar os sacramentos, ordenar a hierarquia eclesiástica e
instruir os fiéis.38 O papa, por causa da comissão petrina,
podia até ter primazia sobre os apóstolos, concedia o Venerabilis Inceptor. Mas Cristo não havia conferido a Pedro e seus
37
38
Cf. MCGRADE. Natural law and moral omnipotence. In: SPADE, op. cit.,
p. 289.
Deus dera ao homem, segundo Guilherme de Ockham, “o poder de dispor das coisas terrenas, que a reta razão aponta como necessárias,
convenientes, decentes e úteis não só para viver, mas para bem viver”
(BPT, p. 112).
Ao bispo de Roma, escrevia o autor no De imperatorum et pontificum
potestate, cabia especialmente: lectio, oratio, predicatio e o cultus Dei.
Cf. SCHOLZ, op. cit., 1991, p. 184. Cf. tb. BPT, p. 180.
522
FINAL - O PODER SEM PECADO
seguidores jurisdição alguma sobre a existência material dos
homens.39 eles continuavam detendo aquele direito natural
de organizar livremente sua vida mundana.
Esse direito, fruto do pecado e anterior à própria instituição da Ecclesia, era detido igualmente por fiéis e infiéis e
podia ser conhecido pela experiência. A reta razão dos homens, isto é, sua vivência e sua capacidade intelectual de
tirar conclusões gerais sobre o bem viver, os havia levado a
estabelecer o dominium pelo consenso dos pares.40 O estado
resultante dessa decisão, portanto, devia ser entendido como
uma esfera de atividade autônoma e até mesmo pré-cristã.
Dentro desse âmbito, a legitimidade estava assegurada sem
referência alguma à Igreja. Seu raciocínio aqui tinha um fundamento epistemológico: o pensar, não menos que o falar,
defendia Guilherme de Ockham, operava de acordo com uma
determinada lógica que, num certo nível abstrato, acima de
hábitos e costumes específicos, era a mesma para todas as
mentes humanas.
39
40
Guilherme de Ockham, comenta Souza, definia o papel do religioso nos
seguintes termos: “principatus apostolicus est minitrativum, non
dominativus”. In: SOUZA, J. A. C. R. A argumentação política de Ockham
a favor do primado de Pedro contrária à tese de Marsílio de Pádua. In:
DE BONI, op. cit., 1996, p. 484.
“Ora, uma vez que a jurisdição é paralela ao dominium (‘o duplo poder –
diz Guilherme de Ockham – de apropriar-se das coisas temporais e de
instituir chefes com jurisdição temporal’), ‘o poder de instituir leis e direitos humanos (jura humana) esteve no princípio e de modo principal no
povo, e o povo depois o transferiu ao imperador’. [...] A expressão [direitos
humanos] é relevante para distinguir-se do mero direito positivo dos reis
de fazerem as leis: são ‘direitos humanos’ tanto a possibilidade de constituir direitos, quanto os ‘costumes louváveis e úteis introduzidos pelos
povos’. [...] Em suma, o ‘direito civil’ (jus civili) – aquele que não é divino
nem natural [e sim humano] – vem do povo: um poder é legítimo quando
é desejado pelo povo”. In: ESTEVÃO, José Carlos. Sobre a liberdade em
Guilherme de Ockham. 1995. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.
p. 53-4.
523
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Isto é, para além das diferenças entre povos e costumes, existia uma capacidade crítica, lógica, que permitia
aos homens distinguir entre certo e errado. Tal raciocínio
reto era mais completamente atingido, é claro, na comunidade dos cristãos, já que eles dispunham das verdades da
Sagrada Escritura. Como as criaturas humanas nasciam
livres e não sujeitas a ninguém pela lei humana, continuava o Doutor Invencível, toda civitas e todo populus podiam
estabelecer a lei para si (BPT, p. 133-4). Ou seja, podiam
construir comunidades políticas autônomas com ordenamentos jurídicos próprios, independentemente de sua filiação religiosa.41 Constantino, exemplificava Guilherme de
Ockham, tivera verdadeiro poder tanto antes quanto depois
de sua conversão. Também os direitos de seus súditos não
tinham sido afetados por sua conversão, apesar de eles não
terem se tornado cristãos. A cristandade não tinha, nesse
modelo, papel algum na administração da justiça entre os
povos infiéis.42
Os regimes políticos haviam sido instituídos para arbitrar conflitos entre os seres humanos, garantindo as permutas, e para servir à paz. O critério para a eleição do governo –
como em Marsílio ou João Quidort – não era moral, e sim
racional: os homens estabeleciam, voluntariamente, a regulamentação civil da vida por meio de sanções coercitivas. A
forma de cada governo, como já ensinara o Filósofo, dependia da natureza dos seus cidadãos. Um imperador, para cons41
42
Isso não significava dizer, alerta McGrade, que a política estivesse
relegada a uma arena amoral de combate entre vontades humanas cegas: a política secular ockhamiana operava dentro da moldura de uma
lei e um direito naturais racionalmente construídos. Dentro desse espectro, havia espaço para uma escolha razoável entre uma variedade de
arranjos políticos e econômicos, que dependia de circunstâncias históricas e da concordância do povo. Cf. MCGRADE. Natural law and moral
omnipotence. In: SPADE, op. cit., p. 291.
Cf. KILCULLEN. Introduction. In: OCKMAN, op. cit., 1992, p. xx.
524
FINAL - O PODER SEM PECADO
tituir uma autoridade política legítima, não tinha necessariamente de ser um cristão. O melhor governo, dizia Guilherme de Ockham, era aquele exercido sobre uma comunidade
de homens livres. Pois estes não permitiam com facilidade
que o governante os reduzisse – como ocorria na lei de Moisés
– à escravidão, condição contrária à “lei de liberdade”43 anunciada por Cristo no Novo Testamento: este fora instituído a
fim de aperfeiçoar a antiga lei pagã e os preceitos envelhecidos do Antigo Testamento.
Era função dos governantes temporais, portanto, castigar e punir malfeitores. Entre os povos cristãos, deviam ainda
defender a Igreja de tais vilanias. Seu poder derivava do povo,
que consentira voluntariamente em instituir uma autoridade pública. O ponto central a reter nesse raciocínio era a
percepção da variedade dos povos e de suas formas de ordenação política. Por trás dessa variedade havia algo comum, e
só esse fator comum podia indicar o fundamento do poder: o
povo.44
43
44
Por essa razão, Guilherme de Ockham negava toda e qualquer reivindicação de plenitude de poder por um único governante em ambas as
esferas de dominação. Cf. MIETHKE, J. Lordship and freedom in the political
thought of the early 14th century. In: DE BONI, op. cit., 1996, p. 500.
Para uma análise detalhada da questão, cf. Souza, J. A. C. R. O conceito
de ‘plenitudo potestatis’ na filosofia política de Guilherme de Ockham.
1975. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Do ponto de vista jurídico, a idéia da anterioridade dos “povos” em relação a qualquer potência universal foi posta com clareza na obra de
Baldo, segundo observa Calasso: “Diante das múltiplas dúvidas da doutrina sobre os poderes dos ordenamentos particulares existentes na
órbita do Império, e que Bartolo havia superado com a gradação das
iurisdictiones, Baldo revirou o problema: não era partindo do ordenamento universal que se podia chegar a construir juridicamente a vida
dos ordenamentos particulares, pois estes nasceram antes daquele:
‘populi sunt de iure gentium’, não os criou nenhum outro poder”. In: CALASSO, Francesco. Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale.
Milano: Giuffrè, 1974. p. 275.
525
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
Disto, porém, conclui-se evidentemente que os direitos
humanos não foram somente os direitos dos imperadores e dos reis, mas também dos povos e de outros, que
receberam dos povos o poder de criar e constituir direitos, e além disso são direitos humanos os costumes louváveis e úteis introduzidos pelos povos. (BPT, p. 121)
“Costumes louváveis e úteis”: Guilherme de Ockham
não se referia aqui a nenhum povo em particular e a nenhum
costume ou sistema. O ponto nodal do argumento era a idéia
de cada povo como capaz de se ordenar e de produzir as
próprias normas e, portanto, de ser fonte constituidora dos
direitos e das leis (“os direitos humanos não foram somente
os direitos dos imperadores e dos reis”). Reis, imperadores,
príncipes, condes ou chefes guerreiros comandavam, mas a
ordem social podia ser pensada sem eles ou com qualquer
deles (“que receberam dos povos o poder de criar e constituir
direitos”). A idéia de povo era auto-suficiente, mas não a de
chefe. A forma de governo e o governante eram produtos do
povo (como os “costumes louváveis e úteis”), e não o contrário. E a unidade à qual todo povo podia ser reduzido era o
indivíduo, portador de certos direitos inalienáveis. Locke não
teria formulado melhor.
Ao argumentar contra a interpretação literal do “tudo
que ligares na terra”, Guilherme de Ockham excluía da jurisdição papal os “direitos legítimos dos imperadores, dos reis e
dos outros fiéis e infiéis, direitos estes que de modo algum se
opõem aos bons costumes, à honra de Deus e à observância
da lei evangélica” (BPT, p. 74). Os possuidores de tais direitos, prosseguia, “tiveram-nos antes da instituição explícita
da lei evangélica, e puderam fazer deles uso lícito, de tal forma que, sem causa nem culpa, o papa não pode imediatamente perturbar ou diminuir regular e ordinariamente tais
direitos, por qualquer poder que lhe foi conferido por Cristo”
(idem). Este, segundo ele, deixara claro aos apóstolos, ao falar no direito de César, que não pretendia perturbar ou dimi526
FINAL - O PODER SEM PECADO
nuir os poderes temporais dos governantes seculares: Jesus
não pretendera ser um rei terreno, argumentava Guilherme
de Ockham retomando o “erro de Herodes”.
Mas, então, em que consistia o poder eclesiástico? Cristo, sustentava ele, constituía o fundamentum primarium et
principale sem o qual a Igreja não poderia ter sido fundada.
Era, portanto, sua causa eficiente, enquanto os apóstolos
constituíam sua causa agente. Deus Pai, não desejando deixar sua Igreja acéfala, escreve Souza comentando uma passagem do Dialogus, dera-lhe “o melhor governo, isto é, o regime monárquico, em perfeita consonância com a sua e presente
condição, e a confiou [a Igreja] a Pedro”.45 Pois era proveitoso
para toda a congregação dos fiéis, declarava o Menorita Inglês, estar sob uma liderança fiel e prelada, subordinada ao
Senhor. Uma monarquia papal adequada dependia de condições a que as teorias curialistas de alguns prelados não
haviam obedecido, como o respeito pela liberdade dos súditos papais em matérias religiosas que não exigiam regulamentação pela Igreja ou o respeito pela autonomia dos governantes políticos seculares.
O poder de Pedro e seus sucessores, esclarecia o Doutor Invencível, originava-se imediatamente de Deus e, por isso,
não desfrutava da mesma causa eficiente que o poder secular, que tinha origem no uso da razão e na vontade humanas. E aproveitava para estabelecer uma fronteira clara entre
a sua posição e aquela de seu contemporâneo e colega de
luta, Marsílio de Pádua: o papado não existia por uma escolha dos cristãos, e sim por instituição divina. Cristo nomeara
Pedro, e não os apóstolos, seu sucessor, e o Espírito Santo o
habitara. In spiritualibus, continuava Guilherme de Ockham,
o sumo pontífice tinha plenitude de poder e era autônomo
45
SOUZA, J. A. C. R. A argumentação política de Ockham a favor do primado de Pedro contrária à tese de Marsílio de Pádua. In: DE BONI, op. cit.,
1996, p. 479.
527
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
em relação aos poderes temporais. Do mesmo modo, em assuntos terrenos, a plenitude de poder cabia ao princeps, e o
bispo de Roma nada tinha regularmente a acrescentar.46
Entretanto, embora o sumo pontífice não detivesse poder jurisdicional algum in temporalibus, aquiescia Guilherme de Ockham retomando a tradição gelasiana das duas
espadas, ele podia, sob circunstâncias excepcionais ou em
caso de necessidade última, intervir em assuntos seculares
para executar o que a reta razão ditasse como necessário. Tal
intervenção, contudo, devia ser apenas ocasional e ainda assim, como em João Quidort, só podia vir de uma comissão
dos homens, e não de um direito divino. Em situação de normalidade, contudo, não tinha o papa iurisdictio alguma sobre os negócios terrenos (BPT, p. 189). Assim, falar em
plenitude de poder do papa em assuntos temporais se convertia, em sua argumentação, numa heresia. O papa, sim,
podia ser julgado pelos fiéis e pelos que entendiam das coisas divinas. Mas ele mesmo não tinha jurisdição sobre os
súditos de nenhum rei ou imperador: pelo rigor do direito,
“não é permitido apelar do juiz civil ao papa” (BPT, p. 61).
Argumentando com base na história (a anterioridade
dos poderes temporais em relação à Igreja), no direito revelado e no direito natural, Guilherme de Ockham construía uma
teoria do poder duplamente oposta às doutrinas da supremacia papal. De um lado, ele dispunha de argumentos “naturais” para fundar suas opiniões a respeito do indivíduo, da
46
Em assuntos espirituais que eram de necessidade, o papa tinha completa autoridade na terra, regularmente, sobre fiéis cristãos, mas não
sobre os infiéis. Já em assuntos temporais, o papa não detinha regularmente autoridade alguma. Ocasionalmente, contudo, numa situação
de necessidade, ou de utilidade acrescida à necessidade, como por exemplo evitar algum perigo iminente para a comunidade cristã ou para os
fiéis, podia o pontífice fazer o que fosse necessário, caso os leigos não o
fizessem. Também era possível o oposto, isto é, que o imperador interviesse em caso de necessidade nos assuntos religiosos (BPT, p. 187-9).
Cf. KILCULLEN, J. The political writings. In: SPADE, op. cit., p. 313-4.
528
FINAL - O PODER SEM PECADO
propriedade e da comunidade política. De outro, conseguia
recolher dos textos sagrados material suficiente para legitimar, também do ponto de vista da religião, os poderes seculares e os direitos ditos naturais.
O recurso à história não era só retórico e fornecia elementos para um ponto fundamental de sua teoria: a do povo
como fonte do poder. Guilherme de Ockham, defensor de Luís
da Baviera contra João XXII, no fundo importava-se pouco em
demonstrar a superioridade do império. O relevante era o simples fato da transferência, qualquer que fosse a autoridade
que viesse a governar. “O poder de instituir leis e direitos humanos esteve no princípio e de modo principal no povo, e o
povo depois o transferiu ao imperador. Assim, os povos, os
romanos, por exemplo, e outros, transferiram para outros o
poder de instituir leis; às vezes, para os reis, às vezes, para
outros de dignidade e poder menor e inferior. Isto pode ser
demonstrado não só pela história e pelas crônicas, mas também pela Sagrada Escritura” (BPT, p. 121).
O Estado constituía portanto uma criação utilitária de
homens racionais que haviam experimentado a sobrevivênvia
e reconheciam a necessidade de instituir regras de bem viver
mais gerais, a fim de alcançar um bem comum útil a todos.
Uma vez estabelecido, no entanto, o governante assumia –
desde que a sua jurisdição permanecesse útil e vantajosa
para a sobrevivência do coletivo – toda autoridade e raramente podia ser deposto. Por essa razão, não era possível
falar num contrato entre governantes e cidadãos, nos termos
propostos por Marsílio: como a comunidade política não constituía uma pessoa real, mas fictícia, uma entidade criada,
advogava Guilherme de Ockham, ela não podia performar
atos legais nem possuir direitos concretos sob a lei.47
47
Cf. COLEMAN. Sovereignty and power relations in the thought of Marsilius
of Padua and William of Ockham: a comparison. In: Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, op. cit., p. 240.
529
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
As ações dessa comunidade consistiam na soma dos
atos desejados por seus membros individuais, ou sua maioria, em relação ao bem comum e à utilidade pública, de acordo com o que fosse mais racional em cada circunstância.48
As vontades dos indivíduos não podiam, em seu modelo, ser
representadas. Pois uma vontade coletiva – reivindicava Guilherme de Ockham contra as teorias jurídicas da corporação
desenvolvidas por alguns contemporâneos – não era algo real.
Cada indivíduo, no exercício de seus direitos e liberdades,
era responsável. Também o era em sua resistência àqueles
que agiam contra a reta razão, fossem eles príncipes ou papas. Os primeiros princípios da moralidade, auto-evidentes,
podiam ser inferidos da experiência até pelo mais humilde
dos mortais.49 Como o poder político só podia ser adequadamente exercido sobre indivíduos livres, qualquer autoridade
que exigisse dos homens um comportamento contrário àquele
exigido pelas Escrituras ou pela reta razão tornava-se ilegítima.
Ao reunir-se em comunidade e eleger um governante,
esclarecia o Doutor Invencível, cada indivíduo abria mão de
certos poderes e os transferia àquele cuja decisão eles teriam
de aceitar a partir de então. Havia, contudo, determinadas
prerrogativas, como apropriar-se de bens temporais, que não
podiam ser transferidas ou alienadas em hipótese alguma. O
governante, consentido pelo povo, não podia ignorar esses
direitos intransferíveis concedidos por Deus e pela natureza
48
49
Uma abordagem proveitosa da relação entre os indivíduos e a política
em Guilherme de Ockham pode ser encontrada em: MCGRADE, Arthur S.
The political thought of William of Ockham: personal and institutional
principles. Cambridge: University Press, 1974.
Guilherme de Ockham afirmava ainda a existência de princípios mais
complexos, que constituíam inferências a partir de outras inferências e
requeriam intermediação e estudo. Estes deviam ser conhecidos, senão
por todos, ao menos por aqueles que se dedicavam aos assuntos coletivos.
530
FINAL - O PODER SEM PECADO
aos seus governados. Tanto o imperator quanto o rex in regno
suo, contudo, não eram subordinados às leis postas nem
tinham de julgar de acordo com elas do mesmo modo que o
deviam os juízes inferiores (BPT, p. 121-2). Pois os governantes estavam submetidos aos homens apenas casualmente
(BPT, p. 138). A regra valia tanto para o príncipe quanto para
o bispo de Roma.
Ou seja, em caso de necessidade ou em nome do bem
comum e da paz, podia o príncipe se sobrepor às leis humanas ou positivas. E, porque todos deliberavam de acordo com
a reta razão, era improvável que houvesse contradição entre
a vontade dos súditos e a de seu rector. O raciocínio aqui era
semelhante ao de Marsílio. A deposição de um governante,
portanto, só podia ocorrer em casos muito especiais, como
quando cometia crimes ou pecados hediondos.50 Se o governo era uma instituição a serviço da boa vida, a obrigação de
obediência resultante de sua criação não podia ser absoluta.
Por isso, ele não concebia plenitude de poder irrestrita nem
do papa nem do governante secular.
Os reis e os príncipes não têm a plenitude de poder. Em
caso contrário, o principado real seria um principado
despótico, os súditos do rei seriam seus servos, não havendo entre eles distinção entre livres e servos, pois todos seriam servos. (BPT, p. 54)
Guilherme de Ockham consumiu a maior parte dos livros IV a VI do Breviloquium procurando mostrar que o império não proveio de Deus por intermédio do papa, mas de Deus
50
Guilherme de Ockham parecia acreditar, diz Coleman, que a maioria
dos governantes, ao longo da história, tinha organizado a sociedade de
maneira suficientemente racional e utilitária, de modo que, quaisquer
que fossem os crimes que tivessem cometido, eles teriam sido de menor
conseqüência para o bem-estar coletivo do que seria a sua remoção do
governo. Cf. COLEMAN. Ockham’s right reason and the genesis of the
political as absolutist. History of Political Thought, op. cit., p. 55.
531
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
diretamente ao povo e, portanto, aos imperadores por ele instituídos ou reconhecidos. A argumentação sobre o fundamento do império interessava essencialmente à polêmica entre
o papa e o imperador. De modo geral, contudo, os argumentos do Princeps Nominalium eram aplicáveis tanto ao imperium
quanto ao Estado territorial ou a qualquer outra forma de
poder temporal.
Importavam de forma especial, porém, aos interesses
dos nascentes Estados europeus. O Estado territorial constituía, no tempo do Menorita Inglês, a realidade emergente tanto
em Inglaterra e França quanto nos reinos ibéricos e eslavos.
Os interesses a ele vinculados haviam se tornado os mais
capazes de se beneficiar da defesa ockhamiana do poder temporal. Seus argumentos de inspiração aristotélica tendiam a
favorecer a idéia de Estado territorial, e não de império universal, como comunidade perfeita.
Num exame retrospectivo, pode-se dizer que a figura
do Venerabilis Inceptor marca na história um extraordinário
cruzamento. Há quem o aponte como o primeiro dos filósofos
modernos. De toda forma, ele utilizava, para filosofar, um
instrumental que nos remete, como leitores, mais à modernidade do que ao passado. Como polemista político, ele se envolvera, no entanto, na defesa de um império que já quase
nada significava, reduzido, mais do que nunca, a uma potência entre outras e menos importante do que muitas. Embora
fosse uma questão presente, a disputa entre o papa e o imperador, naquele momento, era de certo modo um anacronismo.
Nessa polêmica meio fora de tempo, no entanto, ele conseguiu trabalhar com argumentos renovadores. Sua construção do político a partir dos indivíduos e da experiência
dos povos (formadores autônomos de leis) independia, a rigor, de qualquer referência à idéia aristotélica de comunidade perfeita. Esta entrava no seu raciocínio como complemento,
532
FINAL - O PODER SEM PECADO
não como elemento formador. Guilherme de Ockham, sem
dúvida, não foi o primeiro pensador a imaginar a autonomia
da esfera política. Bem antes dele, João Quidort e Marsílio já
haviam advogado a idéia. Mas em sua obra a proposição aparecia com clareza incomum. Nesse momento, a idéia da norma transcendente ao poder político ainda não desaparecera,
mas ganhara novo peso.
O mais importante, na construção de pensadores com
filiações e interesses tão distintos quanto João Quidort,
Marsílio ou Guilherme de Ockham, não era mais defender a
submissão do governante a uma lei (costumeira, natural ou
divina), nem apontar o povo como transmissor do poder de
origem divina ao príncipe. Era, sim, acentuar a capacidade
do populus de produzir uma ordem normativa, independentemente de haver ou não um governo ou de sua forma constitucional. O governo, na visão desses cientistas, acabava
sendo apenas um dos instrumentos que o povo podia forjar
para as suas necessidades, embora fosse um dos mais importantes e o mais adequado à defesa da justiça, da paz e da
propriedade.
Estava realizada, já em meados do século XIV, a inversão final da perspectiva na disputa entre os defensores do
poder secular e os advogados do poder religioso. Numa visão,
a Igreja era o foco de legitimidade do qual dependia todo poder no universo. Na perspectiva oposta, visível nas obras de
Tomás de Aquino, João Quidort, Marsílio e Guilherme de
Ockham, o poder tinha de ser pensado (não importavam seus
apelos a argumentos teológicos) a partir da realidade dos
povos. Era fácil deslizar desse ponto para uma defesa também dos Estados contra o imperium. Os trabalhos de Guilherme de Ockham e de Marsílio, por exemplo, podem ter
sido uma retribuição ao imperador. E ambos realizaram sua
missão fielmente. Mas acabaram deixando muito mais do
que uma apologia do poder imperial.
533
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
III A HERANÇA E O INVENTÁRIO
Entre o século XI e inícios do XIV, como se viu, juristas,
teólogos e filósofos fixaram as principais teorias a respeito da
autoridade do príncipe. Alguns deles mantiveram a ênfase na
supremacia da lei, eventualmente confundida com a supremacia da comunidade. Outros acentuaram a idéia do príncipe
legislador. De modo geral, porém, não se renegava a idéia do
governo fundado no bem público. Desses dois modelos seria
possível derivar, com alguns acertos, tanto as doutrinas da
monarquia absoluta quanto a do governo constitucional.
Num caso, era preciso acentuar o papel da vontade legisladora e reduzir drasticamente, senão eliminar, a importância de qualquer norma não posta pelo soberano. Em Bodin,
houve redução, e não eliminação.51 Em Hobbes, a concepção
do soberano legibus solutus era radical. No outro caso, os
modernos acabaram combinando a idéia da supremacia da
lei com a noção de que só podia haver um soberano, o povo.
Locke constituiu um paradigma desse tipo de filósofo.
Passavam a estar disponíveis, portanto, em matéria
doutrinária, todos os elementos indispensáveis à consagração de um novo conceito de lealdade, aquele necessário à
consolidação jurídica do Estado moderno, que teria na noção de soberania, fosse ela localizada no povo ou no governante supremo, um de seus principais atributos. “Com tais
doutrinas, que comprovam a autonomia do Estado e sua criação, para propósitos úteis, por homens pecadores mas racionais”, constata Coleman, “entramos efetivamente no início
período moderno.”52
51
52
Ele mantinha, por exemplo, referências à lei natural e a uma norma de
caráter constitucional, a Lei Sálica. Sobre esse assunto, cf. BARROS, Alberto
R. A teoria da soberania de Jean Bodin. São Paulo: Unimarco, 2001.
COLEMAN. Sovereignty and power relations in the thought of Marsilius of
Padua and William of Ockham: a comparison. In: Revista da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, op. cit., p. 246.
534
FINAL - O PODER SEM PECADO
No meio do caminho, a figura de Tomás de Aquino constituía uma ponte indispensável. Com ele, pensamento político e pensamento jurídico se integravam de um modo novo,
no trabalho de naturalização do político que já vinha acontecendo desde, pelo menos, o século XII. Aristóteles fora um
fator fundamental nessa operação, mas a teoria tomista havia incorporado também o pensamento jurídico e filosófico
renovados, e o resultado era muito mais que uma mera
redescoberta do aristotelismo.
Essa construção, porém, não atendia somente aos interesses dos novos poderes constituídos sobre os territórios.
A renovação conceitual era mais ampla. Ao mesmo tempo
em que se desenhava uma nova figura do governante civil – a
partir de noções como ‘rex in regno suo imperator est’, ‘princeps
superiorem non recognoscens’, interesse do reino etc. –, alguns autores conferiam novo sentido à idéia da base popular
do poder.
A doutrina do poder ascendente se desligava progressivamente da idéia da origem divina. Cada vez menos, o povo
era um comissário e, cada vez mais, uma fonte original.
Bellarmino e Suarez, neotomistas, ainda reivindicariam, depois da Reforma, a noção de um poder atribuído por Deus ao
povo e por este aos reis. Isso era suficiente para incomodar
os defensores da idéia do direito divino dos reis, como Filmer.
Locke já não precisava invocar uma origem divina do poder
popular. Bastava-lhe a noção de um direito natural que se
materializava, por exemplo, na organização da propriedade e
dos negócios da comunidade pré-estatal (até a moeda, em
Locke, independia do Estado). Se a doutrina lockiana tivesse
de ser inscrita numa linhagem proveniente da Idade Média,
os pontos de referência seriam João Quidort e Guilherme de
Ockham, muito mais do que São Tomás.
Estava pronta uma herança intelectual e política que
podia ser usada pelo menos de três maneiras. Uma delas era
535
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
a reivindicação, pelos monarcas, de um direito divino. O próprio Egídio Romano, ao defender o poder papal, havia deixado material para a confecção dessa doutrina. O segundo uso
se dava pela proclamação de uma lei natural acessível à razão e suficiente, sem recurso à idéia de Deus, para guiar a
vida política e social. O terceiro ocorria quando se afirmavam
a racionalidade do Estado e a supremacia absoluta da comunidade política como única fonte da lei e do direito. James I,
Locke e Hobbes realizaram uma a uma essas opções.
536
FINAL - O PODER SEM PECADO
APÊNDICE
537
PRÓLOGO
1
Tradução: Raquel Kritsch2
Como ensina o Filósofo, no Livro II da Física, a arte
imita a natureza. A razão disso é que assim como os princípios existem sucessivamente, do mesmo modo existem proporcionalmente operações3 e efeitos. Ora, o princípio das
coisas que são feitas segundo a arte é o intelecto humano,
que deriva segundo certa similitude do intelecto divino, o qual
é o princípio das coisas naturais. Donde é necessário que as
obras da arte imitem as obras da natureza, e aquelas [coisas]
que existem segundo a arte imitem aquelas que existem na
natureza. Se pois algum ordenador de alguma arte efetuasse
uma obra de arte, seria preciso que o discípulo, o qual tivesse
recebido a arte daquele, atentasse à obra daquele para que
também ele próprio operasse à semelhança daquele. E por
1
2
3
O texto a seguir refere-se ao “Prológo”, escrito por Tomás de Aquino
como introdução aos seus “Comentários” à Política, de Aristóteles. A
versão latina aqui utilizada (cf. p. 545-6) foi retirada da seguinte edição:
AQUINO. Prologus. Sententia libri politicorum (Comentários). In: Opera
Omnia (iussu Leonis XIII P.M. edita). cura et studio fratrum
praedicatorum”. Roma: Ad Sancta Sabinae, 1971. t. 48.
Esta tradução contou com o auxílio generoso do Prof. Marcos Martinho
dos Santos, latinista da Faculdade de Letras da USP, que comigo debateu esta versão.
No sentido de ‘atos’, ‘ações’.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
isso o intelecto humano, cujo lume inteligível é derivado do
intelecto divino, tem necessariamente de se formar nas coisas que faz a partir do exame das coisas que foram feitas
naturalmente, para que opere de maneira similar; e daí vem
que o Filósofo diz que se a arte fizesse aquelas coisas que são
da natureza, de modo semelhante, operaria como a natureza. E, ao contrário, se a natureza fizesse aquelas [coisas] que
são da arte, faria assim como faz a arte.
Mas a natureza, todavia, não perfaz aquelas [coisas] que
são da arte, mas somente prepara certos princípios e oferece
aos artífices, de algum modo, um exemplo de [como] operar; a
arte, em verdade, pode sim inspecionar aquelas [coisas] que
são da natureza e usar destas para perfazer [uma] obra própria, perfazer [aquela], porém, ela não pode. A partir disso fica
patente que das coisas que são segundo a natureza a razão
humana é apenas cognoscitiva, mas das coisas que são segundo a arte [a razão humana] é tanto cognoscitiva como
factiva. De onde é preciso que as ciências humanas que tratam das coisas naturais sejam especulativas,4 mas que as
[ciências] que tratam das coisas feitas pelo homem sejam práticas ou operativas, segundo a imitação da natureza.
Ora, a natureza, em sua operação, procede dos simples
aos compostos, de modo que nas coisas [que são] feitas pela
operação da natureza, aquilo que é maximamente composto
é perfeito e total e [é] o fim das outras coisas, como é evidente
em quaisquer todos em relação às suas partes; donde também a razão dos homens, [que é] operativa, procede das coisas simples às compostas, tal qual do imperfeito ao perfeito.
E como a razão humana teria de dispor não apenas
daquelas coisas que se oferecem ao uso do homem, mas ainda dos próprios homens, os quais são regidos pela razão,
num e noutro caso procede dos simples ao composto: nas
4
No sentido grego de ciências ‘teoréticas’.
540
APÊNDICE
outras coisas que se oferecem ao uso do homem, assim como
a partir da madeira [se] constrói a nau, e a partir de madeira e
pedras a casa; já nos próprios homens como quando [a razão]
ordena vários homens numa única certa comunidade. E como
dentre estas comunidades há diversos graus e ordens, superior é a comunidade da cidade, ordenada para as coisas autosuficientes da vida humana: donde entre todas as comunidades
humanas esta é a mais perfeita. E porque aquelas coisas que
se oferecem ao uso do homem são ordenadas para o homem
como ao [seu] fim, o qual é anterior5 a estes que são [ordenados] ao fim, por isso é necessário que aquele todo que é a
cidade seja anterior a quaisquer todos que podem ser conhecidos e construídos pela razão humana.
Logo, destas coisas que foram ditas acerca da doutrina
da política, a qual Aristóteles trata neste livro, podemos
depreender quatro [coisas]. Primeiro, a necessidade desta ciência: com efeito, dentre todas as coisas que podem ser conhecidas pela razão, é necessário transmitir alguma doutrina
para a perfeição da sabedoria humana, a qual é chamada
filosofia; logo, como este todo que é a cidade está sujeito a
um certo julgamento da razão, foi necessário, para complemento da filosofia, instituir uma doutrina [que tratasse] da
cidade, que é chamada política, isto é, a ciência civil.
Segundo, podemos depreender o gênero desta ciência.
Pois como as ciências práticas são distinguidas das especulativas nisto: que as [ciências] especulativas são ordenadas
somente para a ciência da verdade, mas as práticas [são ordenadas] à obra, é necessário que esta ciência esteja contida
sob a filosofia prática, já que a cidade é um certo todo do qual
a razão humana não apenas é cognoscitiva, mas também
operativa [ou atuativa]. E mais: algumas coisas a razão opera
– por meio de uma operação que se transforma em matéria
5
No sentido de ‘mais importante que’, ‘supremo’ em relação a.
541
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
exterior – pelo modo do fazer, o qual pertence propriamente
às artes que são chamadas mecânicas, como aquela do
forjador, do construtor de naus e similares; outras coisas,
porém, [a razão] opera pelo modo da ação, por meio de uma
operação que permanece naquele que opera, tal como deliberar, eleger, desejar e, deste modo, [ações] que pertencem à
ciência moral: é manifesto que a ciência política, que considera a ordenação dos homens, não está contida sob as ciências do fazer, que são as artes mecânicas, mas sob a das
ações, que são ciências morais.
Terceiro, podemos depreender a dignidade e a ordem
da política em relação às demais ciências práticas. É pois a
cidade a mais importante das coisas que podem ser constituídas pela razão humana, pois todas as comunidades humanas são referidas a ela. E mais: quaisquer todos, que são
constituídos pelas artes mecânicas a partir das coisas oferecidas ao uso dos homens, são ordenados aos homens assim
como ao fim; se pois a ciência mais importante é aquela [que
trata] do mais nobre e do mais perfeito, então é necessário
que a política, entre todas as ciências práticas, seja a mais
importante e arquitetônica entre as demais, na medida em
que considera o bem último e perfeito nas coisas humanas.
E, por causa disto, o Filósofo diz, no fim do Livro X da Ética,
que a filosofia que cuida das coisas humanas se perfaz na
política.
Quarto, do dito podemos depreender o modo e a ordem
desta ciência. Pois assim como as ciências especulativas, que
consideram algum todo, chegam ao conhecimento do todo a
partir da consideração das partes e dos princípios, manifestando as paixões6 e as operações7 do todo, assim também
6
7
No sentido grego, daquilo que ‘se sofre’, como ‘reação’, em oposição à
ação (num sentido passivo).
No sentido ativo: ‘atos’ ou ‘ações’.
542
APÊNDICE
esta ciência, ao considerar os princípios e as partes da cidade, transmite o conhecimento da própria [cidade], manifestando as partes dela: tanto as paixões como as operações. E
porque é prática, manifesta em adição o modo pelo qual as
coisas singulares podem perfazer-se: o que é necessário em
toda ciência prática.
543
LIBER PRIMUS
PROLOGUS
Sicut Philosophus docet in II Phisicorum, ars
operationem nature fiund, quod est maxime com-
imitatur naturan. Cuius ratio est quia sicut se
habent principia ad inuicem, ita proportionaliter
positum est perfectum et totum et finis aliorum, 40
sicut apparet in omnibus totis respectu suarum
se habent operationes et effectus; principium
partium; unde et ratio hominis operatiua ex
5 autem eorum quo secundum arterm fiunt est
simplicibus ad composite procedit, tanquam ex
imperfectis ad perfecta.
intellectus humanus, qui secundum similitudinem
quandam deriuatur ab intellectu diuino qui est
Cum autem ratio humana disponere habeat non 45
principium rerum naturalium: unde necesse est
quod et operationes artis imitentur operationes
solum de hiis que in usum hominis ueniunt, set
etiam de ipsis hominibus qui ratione reguntur, in
10 nature, et ea que sunt secundum artem imitentur
utrisque procedit ex simplicibus ad compositum:
ea que sunt in natura. Si enim aliquis instructor
15 alicuius artis opus artis efficeret, oporteret disci-
in aliis quidem rebus que in usum hominis ueniunt,
sicut cum ex lignis constituit nauim, et ex lignis et 50
pulum qui ab eo artem suscepisset ad opus illius
lapidibus domum ; in ipsis autem hominibus, sicut
attendere ut ad eius similitudinem et ipse operaretur. Et ideo intellectus humanus, ad quem intelli-
cum multos homines ordinat in unam quandam
communitatem. Quarum quidem communitatum
gibile lumen ab intellectu diuino deriuatur,
cum diuersi sint gradus et ordines, ultima est
necesse habet in hiis que facit informari ex inspectione eorum quo sunt naturaliter facta, ut similiter
communitas ciuitatis ordinata ad per se sufficientia 55
uite humane: unde inter omnes communitates
operetur; et inde est quod Philosophus dicit quod
humanas ipsa est perfectissima. Et quia ea que in
20 si ars faceret ea que sunt nature, similiter operare-
usum hominis ueniunt ordinantur ad hominem
sicut ad finem, qui est principalior hiis que sunt ad
tur sicut et natura: et e conuerso si natura faceret
ea que sunt artis, similiter faceret sicut et ars
facit.
Set nature quidem non perficit ea que sunt artis,
25 set solum quedam principia preparat et exemplar
operandi quodam modo artificibus prebet; ars
uero inspicere quidem potest ea que sunt nature
et eis uti ad opus proprium perficiendum, perficere
finem, ideo necesse est quod hoc torum quod est 60
ciuitas sit principalius omnibus totis que ratione
humana cognosci et constitui possunt.
Ex hiis igitur que dicta sunt, circa doctrinam
politice quam Aristotiles in hoc libro tradit,
quatuor accipere possumus. Primo quidem neces- 65
sitatem huius scientie: omnium enim que ratione
30 na eorum que sunt secundum naturam est cognos-
cognosci possunt necesse est aliquam doctrinam
tradi ad perfectionem humane sapientie que philo-
citiua tantum, eorum uero que sunt secundum
sophia uocatur; cum igitur hoc totum quod est
artem est et cognoscitiua et factiua. Vnde oportet
quod scientie humane que suns de rebus natura-
ciuitas sit cuidam rationis iudicio subiectum, 70
necesse fuit ad complementum philosophie de
libus sint speculatiue, quo uero sunt de rebus ab
ciuitate doctrinam tradere que politica nominatur,
35 homine factis sint practice siue operatiue secun-
id est ciuilis scientia.
Secundo possumus accipere genus huius scien-
uero ea non potest. Ex quo pater quod ratio huma-
dum imitationem nature.
Procedit autem nature in sua operatione ex
simplicibus ad composita, ita quod in eis que per
tie. Cum enim scientie practice a speculatiuis dis- 75
tinguantur in hoc quod speculatiue ordinantur
1 Artist. Pbys II 4 (194 a 21-23) et 12 (199 a 15-16)
19 Phys. II 13 (199 a 12-15)
75-76 scientie practice... speculatue: cf. Metaph. II 2 (993 a 21) cum Thomas commento.
55 per se sufficientia: cf. infra 1/b, 13-25.
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
80
85
90
solum ad scientiam ueritatis, practice uero ad opus,
tuuntur ex rebus in usum hominum uenientibus,
necesse est hanc scientiam sub practica philosophia
contineri, cum ciuitas sit quiddam totum cuius
ad homines ordinantur sicut ad finem; si igitur 100
principalior scientia est que est de nobiliori et
humana ratio non solum est cognoscitiua, set etiam
perfectiori, necesse est politicam inter omnes
operatiua. Rursumque cum ratio quedam operetur
per modum factionis operatione in exteriorem
scientias practicas esse principaliorem et architectonicam omnium aliarum, utpote considerans
materiam transeunte, quod proprie ad artes perti-
ultimum et perfectum bonum in rebus humanis. 105
net que mecanice uocantur, utpote fabrilis et
nauifactiua et similes; quedam uero operetur per
Et propter hoc Philosophus dicit in fine X Ethi-
modum actionis operatione manente in eo qui
que est circa res humanas.
operatur, sicut est consiliari, eligere, uelle et
huiusmodi que ad moralem scientiam pertinent:
et ordinem huius scientie. Sicut enim scientie 110
manifestum est politicam scientiam que de homi-
speculatiue que de aliquo toto considerant, ex
num considerat ordinatione, non contineri sub
factiuis scientiis que sunt artes mecanice, set sub
consideratione partium et principiorum notitiam
corum quod ad politicam perficitur philosophia
Quarto ex predictis accipere possumus modum
de toto perficiunt passiones et operationes totius
actiuis que sunt scientie morales.
manifestando, sic et hec scientia principia et partes
Tertio possumus accipere dignitatem et ordinem politice ad omnes alias scientias practicas.
95
ciuitatis considerans de ipsa notitiam tradit partes 115
Est enim ciuitas principalissimum eorum que
et passiones et operationes eius manifestans. Et
humana ratione constitui possunt, nam ad ipsam
omnes communitates humane referuntur. Rursumque
quia practica est, manifestat insuper quo modo
omnia tota que per artes mecanicas consti-
omni practice scientia.
singula perfici possum: quod est necessarium in
119 scientia] hic ad lin. seq. transit et litt. initialen apponit φ
107 Etbic. X 16(1181 b 14-15): «et totaliter utique de politica, ud da potentiam quae circa humana philosophia perficiatur».
Cf. Thomae comm., lin. 173-179.
546
APÊNDICE
BIBLIOGRAFIA
547
FONTES PRIMÁRIAS
ABELARDO, Pedro. Dialogus inter philosophum, iudaeum et christianum. Ed.
T. R. Friedrich. Sttutgart: Frommann Verlag, 1970.
ADELARDO DE BATH. De eodem et diverso. Ed. H. Willner. (Beiträge zur
geschichte der Philosophie des Mittelalters 4.1). Münster: Aschendorf,
1903.
AGOSTINHO, Santo. A cidade de Deus. Rio de Janeiro: Vozes, 1990. v. 1 e 2.
ALIGHIERI, Dante. Il convivio. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinense,
1972.
____. Monarchy. Ed. P. Shaw. Cambridge: University Press, 1996.
____. Da monarquia. São Paulo: Ediouro, s. d.
AQUINO, S. Tomás de. The collected works of St. Thomas Aquinas. Ed. Czeslaw
Jan Grycz & John Deely. Berkeley: University of California, 1985.
____. O ente e a essência. Trad. d. Odilão Moura. Rio de Janeiro: Presença,
1981.
____. De regno. In: ____. Escritos políticos. Trad. F. Benjamin Souza Neto.
Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
____. De regimne principum. Paris: Luf, 1947.
____. Sententia libri politicorum (Comentários). In: ____. Opera omnia (iussu
Leonis XIII P.M. edita). “cura et studio fratrum praedicatorum”. Roma:
Ad Sancta Sabinae, 1971. t. 48.
____. Suma contra os gentios. Trad. d. Odilão Moura. Porto Alegre: Livraria
Sulina Editora, 1990. v. 1 e 2.
____. Summa teológica. Trad. A. Corrêa. Ed. bilíngüe latim-português. Porto Alegre: Livraria Sulina, UFRGS-Grafosul, 1980. v. 1-11.
ARISTÓTELES. Aristotle. The complete works. Ed. Jonathan Barnes. Reed. of
The Revised Oxford Translation. New Jersey: Princeton University, 1991.
____. Ética a Nicômaco. Trad. L. Vallandro e G. Bornheim. São Paulo: Abril
Cultural, 1973. (Os pensadores, v. 4).
SOBERANIA: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO
____. Política. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Editora da UnB, 1988.
____. The politics and the constitution of Athens. Ed. S. Everson. Cambridge:
University Press, 1996.
BEAUMANOIR, Phillipe de. Coutumes de Beauvaisis. Paris: J. Picard, 1970. 3 v.
A BÍBLIA. Trad. ecumênica. Ed. Gabriel C. Galache. São Paulo: Loyola, 1995.
BODIN, Jean. On sovereignty. Ed. Julian Franklin. Cambridge: University
Press, 1994.
BRACTON, Henry de. De legibus et consuetudinibus angliae. Ed. George E.
Woodbine. New Haven: Yale University Press, 1925. v. 1 e 2.
CASSIODORUS. Institutiones. Ed. R. Mynors. Oxford: University Press, 1977.
CÍCERO. Dos deveres. Trad. Angélica Chiapeta. São Paulo: Martins Fontes,
1999.
____. Da república. Trad. A. Cisneiros. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Os
pensadores, v. 5).
____. Traité des devoirs. Trad. E. Bréhier. In: SCHUHL, P. (Ed.). Les stoïciens.
Paris: Gallimard, 1994. (Bibliothèque de la Pléiade, v. 156).
CONSTANTINO, Imperador. Das “Constitutum Constantini” (Konstantinische
Schenkung) Text. ed. Horst Fuhrman, Fontes Iuris Germanici Antiqui
(ex Monumentis Germaniae Historicis), v. X, Hannover, Hahnsche
Buchhandlung, 1968.
CUSA, Nicholas of. The catholic concordance. Ed. P. Sigmund. Cambridge:
University Press, 1995.
DÜMMLER, E. et al. (Ed.). Monumenta germaniae historica (MGH): libelli de
lite imperatorum et pontificum, saeculis XI. et XII. conscripti. ed.
Societas Aperiendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1891-2. t. 1 e 2.
ERDMANN, C. (Ed.). Die Briefe Heinrichs IV. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, n. 12, Darmstadt: 1963. Ed. bilíngüe de Franz-Joseph
Schmale, retirada de MGH Deutsches Mittelalter. Stuttgart: 1937. T. I.
FILMER, Sir Robert. Patriarcha and other writings. Ed. J. Sommerville.
Cambridge: University Press, 1996.
GOLDAST, Melchior. (Ed.). Monarchia sancti romani imperii. Reimpr. da edição frankfurtiana de 1611-14. Graz: Akademische Druck u.
Verlaganstalt, 1960. t. 1-3.
HOBBES, Thomas. A dialogue between a philosopher and a student of the
Common Laws of England. Ed. Tulio Ascarelli. Paris: Dalloz, 1966.
550
BIBLIOGRAFIA
____. Leviathan. Harmondsworth: Penguin Books, 1988.
HOLT, James Clark (Ed.). Magna carta. Cambridge: University Press, 1994.
ISIDORO DE SEVILHA. Etymologiarum sive originum. Reimpr. 1929. Ed. W. M.
Lindsay. Oxford: University Press, 1989. t. 1 e 2.
LILLE, Alan de. De planctu naturae. Ed. N. M. Häring. In: Studi Medievali,
série 3ª, n. 19, 1978.
OCKHAM, Guilherme de. Brevilóquio sobre o principado tirânico. Trad. Luis
A. De Boni. Petrópolis: Vozes, 1988.
____. Breviloquium de potestate papae. Ed. latina de L. Baudry. Paris: J.
Vrin, 1937.
____. Dialogus de potestate imperiali & papali. In: GOLDAST, Melchior.
Monarchia sancti romani imperii. Reimpr. da edição frankfurtiana de
1611-14. Graz: Akademische Druck u. Verlaganstalt, 1960. t. 2.
____. A letter to the friars minor and other writings. Ed. A. S. MacGrade & J.
Kilcullen. Cambridge: University Press, 1995.
____. A short discourse on tyrannical government. Ed. J. Kilcullen.
Cambridge: University Press, 1992.
PÁDUA, Marsílio de. Defensor da paz. Trad. J. A. C. R. Souza. Petrópolis:
Vozes, 1997.
____. Le défenseur de la paix. Ed. J. Quillet. Paris: J. Vrin, 1968.
____. Defensor menor. Trad. L. A. De Boni. Petrópolis: Vozes, 1991.
____. Defensor minor and de translatione imperii. Ed. Cary J. Nederman.
Cambridge: University Press, 1993.
____. Defensor pacis. Ed. latina de Richard Scholz. Hannover: Hahnsche
Buchhandlung, 1932.
PELLENS, K. (Ed.). Die Texte des Normannischen Anonymus. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Wiesbaden: Franz
Steiner Verlag, 1966. n. 42.
PLATÃO. Obras completas. Ed. Saramanch et al. Madrid: A