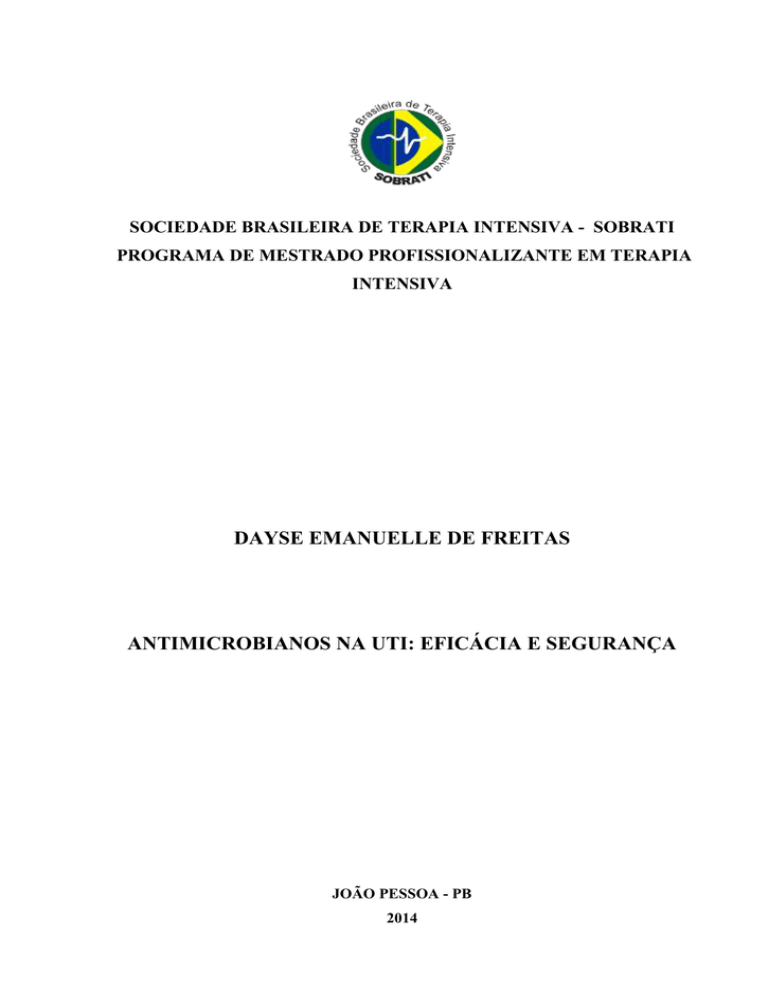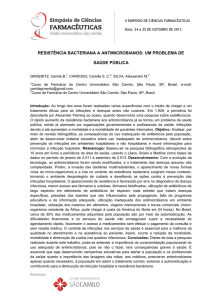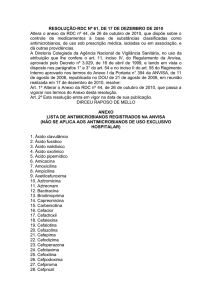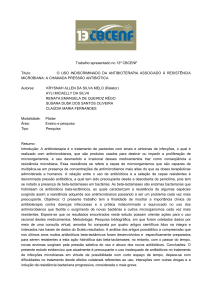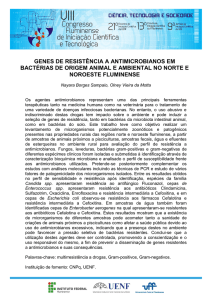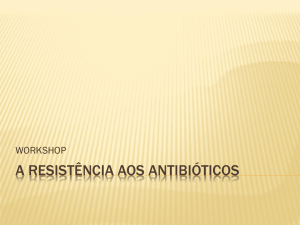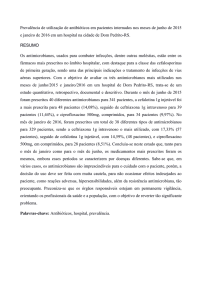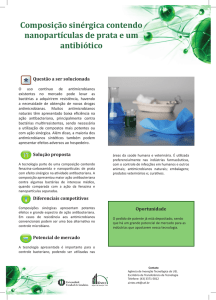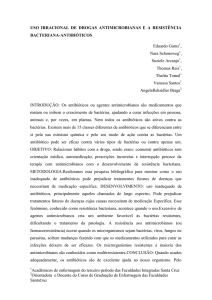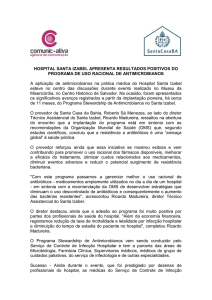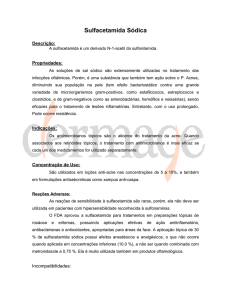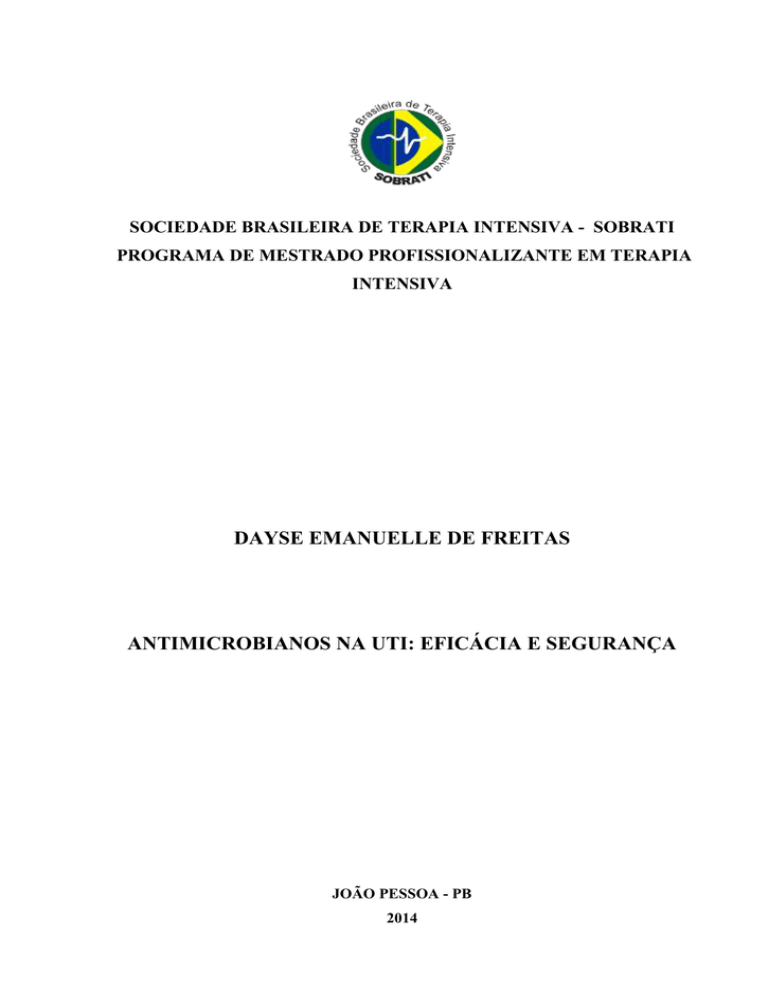
1
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - SOBRATI
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM TERAPIA
INTENSIVA
DAYSE EMANUELLE DE FREITAS
ANTIMICROBIANOS NA UTI: EFICÁCIA E SEGURANÇA
JOÃO PESSOA - PB
2014
2
DAYSE EMANUELLE DE FREITAS
ANTIMICROBIANOS NA UTI: EFICÁCIA E SEGURANÇA
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação
do
Curso
de
Mestrado
Profissionalizante em Terapia Intensiva pelo
Instituto Brasileiro de Terapia Intensiva, para
obtenção do título de Mestre em Terapia
Intensiva.
Orientador: Prof. Dr. Douglas Ferrari
JOÃO PESSOA - PB
2014
3
RESUMO
Os antimicrobianos são drogas que têm a capacidade de inibir o crescimento de microorganismos, indicados, portanto, apenas para o tratamento de infecções microbianas sensíveis.
Deste modo são os fármacos mais prescritos e que mais causam efeitos adversos. Esse estudo
tem como objetivo incentivar reflexões sobre o uso racional dos antimicrobianos nas UTI e
melhorar sua eficácia e segurança. A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa,
realizado através de levantamento bibliográfico relacionados ao tema Antimicrobianos na UTI.
Para o alcance do objetivo, optou-se pelo método da revisão da literatura científica. Existem
situações em que a prescrição dos antimicrobianos deve ser adaptada às condições do paciente,
como na insuficiência renal, insuficiência hepática, interação com outras drogas, gestação,
lactação, recém-nascidos ou idosos. No ambiente hospitalar, os antimicrobianos, além de afetar
o paciente que o utiliza, atingem também a microbiota ambiental do hospital. O uso abusivo
contribui para o aumento da morbidade, mortalidade, prolongamento do tempo de internação e
elevação dos custos do tratamento. A utilização de medidas que visam à redução do emprego
de antibióticos é acompanhada da diminuição das taxas de resistência, mas a grande
problemática reside em promover mudanças das práticas na prescrição médica. É necessário
incorporar qualidade no exercício farmacêutico, visando impactar o processo de utilização de
medicamentos, garantindo melhor indicação e utilização mais segura.
PALAVRAS CHAVE: ANTIMICROBIANOS. TERAPIA INTENSIVA. INFECÇÃO.
4
ABSTRACT
Antimicrobials are drugs that have the ability to inhibit the growth of micro-organisms therefore
indicated only for the treatment of susceptible microbial infections. Thus are the most
prescribed drugs which cause most adverse effects. This study aims to encourage reflection on
the rational use of antimicrobials in the ICU and improve their effectiveness and safety. The
methodology used was a qualitative approach, realized through a literature related to the topic
Antimicrobial ICU. To reach the goal, we opted for the review of scientific literature method.
There are situations where the prescription of antimicrobials should be tailored to the patient's
condition, such as renal failure, liver failure newborns, interaction with other drugs, pregnancy,
lactation, or the elderly. In the hospital environment, antimicrobials, besides affecting the
patient who uses it, also affect the environmental microbiota hospital. Overuse contributes to
increased morbidity, mortality, prolonged hospital stay and increased costs of treatment. The
use of measures aimed at reducing the use of antibiotics is accompanied by lower rates of
resistance, but the big problem lies in promoting changes in prescription practices. It is
necessary to incorporate quality in pharmaceutical practice, aiming to impact the process of
using medicines, ensuring better indication and safer use.
KEYWORDS: ANTIMICROBIAL. INTENSIVE CARE. INFECTION.
5
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO.....................................................................................................................6
2. OBJETIVOS..........................................................................................................................7
3. METODOLOGIA..................................................................................................................8
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................8
4.1. Classificação dos Antimicrobianos.....................................................................................9
4.1.1. Antibióticos que inibem a síntese da parede celular ..................................................9
4.1.2. Antibióticos que inibem a síntese da membrana citoplasmática.................................9
4.1.3. Antibióticos que inibem da síntese proteica nos ribossomas.....................................10
4.1.4. Antibióticos que alteram na síntese dos ácidos nucleicos.........................................11
4.1.5. Antibióticos que alteram os metabolismos celulares ...............................................12
4.3. Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde: UTI.........................................................12
4.2.Terapia Antimicrobiana.....................................................................................................14
4.2.1. Utilização de Antimicrobianos e a Insuficiência Renal..........................................16
4.4. Uso Racional de Antimicrobianos....................................................................................17
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICA
6
1.
INTRODUÇÃO
A assistência à saúde desenvolve-se em um sistema extremamente complexo, onde há
realização de procedimentos que podem predispor ao erro e agravar suas consequências, em
grau raramente identificado em outras atividades humanas (CHAVES et al., 2012). Tais erros
resultam em prejuízos ou lesões, e são denominados eventos adversos (EAs), ou seja, referemse ao aparecimento de um problema de saúde causado pelo cuidado e não pela doença de base.
Dentre as atividades mais presentes na prática diária da equipe assistencial na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), está a prescrição e administração de medicamentos que exigem
conhecimento científico e habilidade técnica, expressando assim, em segurança na terapêutica
medicamentosa implantada ao paciente. Assim, a utilização de medicamentos está inserida
como um dos principais eventos adversos ocorridos.
Os antimicrobianos são drogas que têm a capacidade de inibir o crescimento de microorganismos, indicados, portanto, apenas para o tratamento de infecções microbianas sensíveis.
Deste modo são os fármacos mais prescritos e que mais causam EAs, gerando problemas aos
pacientes e custos adicionais ao sistema de saúde. Dessa forma, na perspectiva da ocorrência
de erros advindos do uso inadequado de antimicrobianos em pacientes graves em UTI,
considera-se a presença do Farmacêutico imprescindível para o uso racional desses
medicamentos.
Como medida terapêutica e profilática os antimicrobianos são drogas de escolha. O
conhecimento da prevalência dos agentes bacterianos, bem como o padrão de sensibilidade
antimicrobiana servem para nortear na escolha do tratamento mais apropriado e na utilização
de novos esquemas terapêuticos. A escolha adequada do antimicrobiano tem sido um desafio
dentro das UTI, pois existem aspectos importantes na tomada de decisão, desde o perfil de
sensibilidade do micro-organismo até as propriedades determinadas pela farmacodinâmica e
farmacocinética do antimicrobiano.
Na farmacologia dos antimicrobianos Katzung (2007), informa dois importantes para
serem lembrados: Espectro e Potência.
Espectro de ação é o percentual de espécies sensíveis (número de espécies/ isolados
sensíveis); Potência ou concentração inibitória mínima (MIC, MIC50, MIC90) é a concentração
de antimicrobiano necessária para inibir o crescimento bacteriano, de forma que quanto menor
o MIC, maior a potência e, quanto maior a potência, maior a dificuldade da bactéria em
desenvolver resistência. Portanto quando se conhece a etiologia da doença, deve-se prescrever
sempre drogas de menor espectro e maior potência.
7
A meningococcemia, por exemplo, é uma infecção muito grave, entretanto, não há
necessidade de ampliar o espectro antimicrobiano, mas intensificar sua potência, utilizando a
penicilina G cristalina por via parenteral e em doses altas. Nos casos de sepse grave, sem
definição etiológica, por outro lado, deve-se ampliar o espectro, procurando atingir os microorganismos mais prováveis (TAVARES, 2002).
Para que os antibióticos tenham um efeito eficaz é importante que a sua concentração,
no local da infecção, seja suficiente. Os antibióticos podem apresentar duas funções distintas,
a inibição do crescimento bacteriano através da ação bacteriostática, e a destruição de uma
população bacteriana, por uma ação bactericida. A ação bacteriostática impede o crescimento
das bactérias, mantendo o mesmo na fase estacionária. (PANKEY & SABATH, 2013) Um
bactericida atua em processos vitais para a célula levando à morte celular (GOODMAN, 2008;
KATZUNG, 2007; LAGO, 2011).
Os antibióticos ideais definem-se por diversas características, tais como, alvo seletivo,
alcançar rapidamente o alvo, bactericida, espectro estreito de forma a não afetar a flora
saprófita, com baixo nível tóxico e elevados níveis terapêuticos, poucas reações adversas, quer
seja toxicidade ou alergia, várias vias de administração, tais como, oral, intravenosa (IV) e
intramuscular (IM). Deve ter uma boa absorção e caso seja administrado por via oral, ter uma
boa absorção intestinal, boa distribuição no local de infecção e ser um antibiótico próhospedeiro, isto é, que não contraria as defesas imunológicas, não deve induzir resistências e
deve ter uma boa relação custo/eficácia. No entanto nem todas estas características conseguem
ser obtidas, pois a relação entre os antibióticos e as bactérias não é linear (KATZUNG, 2007).
É notório enfatizar que farmacêuticos são elementos essenciais visando impactar o
processo de utilização de medicamentos, garantindo melhor indicação e utilização mais segura.
Além disso, é importante identificar e combater as dificuldades na promoção da utilização
racional, em um contexto social que privilegia o medicamento mais como um bem de consumo
do que como um instrumento terapêutico.
2.
OBJETIVOS
Ancorada neste referencial espera-se que, com a realização do presente estudo, seja
possível incentivar reflexões sobre o uso racional dos antimicrobianos nas UTI e melhorar sua
eficácia e segurança.
8
3.
METODOLOGIA
Este estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado através de levantamento
bibliográfico relacionados ao tema Antimicrobianos na UTI: Eficácia e segurança. Para o
alcance do objetivo, optou-se pelo método da revisão da literatura científica na medida em que
essa modalidade possibilita sumarizar as pesquisas já concluídas e obter conclusões a partir de
um tema de interesse. Foi realizada pesquisa eletrônica nas bases de dados da biblioteca virtual
SciELO Brasil - (Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Centro Latino-Americano
de Informação em Saúde), utilizando-se os seguintes descritores constantes no DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde): Antimicrobianos nas Unidades de Terapia Intensiva, em
busca de artigos publicados atualizados.
Foram adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que apresentavam
especificidade com o tema, a problemática do estudo, que contivessem os descritores
selecionados. Foram excluídos os artigos que não tinham relação com o objetivo do estudo e
aqueles trabalhos que não foram encontrados na íntegra. Cumpre destacar que, além da busca
nas bases de dados, foi realizada consulta a obras e publicações existentes no acervo da
Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba, visando maior fundamentação teórica para este
estudo.
Após a seleção, todos os artigos foram lidos na íntegra e foi preenchido um formulário
eletrônico, construído especificamente para a pesquisa, com dados de cada um. A partir da
análise dos artigos foram formuladas as discussões sobre os principais resultados e conclusões
do estudo.
4.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1
CLASSIFICAÇÃO DOS ANTIMICROBIANOS
A classificação mais comum dos antibióticos baseia-se no seu mecanismo de ação.
I.
II.
Inibição da síntese da parede celular;
Inibição da síntese ou dano da membrana citoplasmática;
III.
Inibição da síntese proteica nos ribossomas;
IV.
Alterações na síntese dos ácidos nucleicos;
V.
Alteração de metabolismos celulares.
(GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007; TENOVER, 2006)
9
4.1.1 Antibióticos que inibem a síntese da parede celular
São exemplo de antibióticos com ação ao nível da síntese do peptideoglicano os
antibióticos β-lactâmicos, os glicopeptídeos e a bacitracina.
Os antibióticos β-lactâmicos apresentam como mecanismo de ação interferir com a
síntese do peptideoglicano (responsável pela integridade da parede bacteriana). São bastante
prescritos nos dias que correm, dada a sua eficácia terapêutica e baixa toxicidade. Este grupo
de antibióticos engloba as penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactâmicos e alguns
inibidores das β-lactamases. Todos estes antibióticos contêm na sua estrutura molecular um
anel β-lactâmico, diferindo nas cadeias laterais (GOODMAN, 2008).
Os glicopeptídeos usados como alternativa aos beta-lactâmicos em pacientes alérgicos.
É uma alternativa no tratamento de infecções por estafilococos resistentes a oxacilina.
Apresentam um múltiplo mecanismo de ação, inibindo a síntese do peptideoglicano, além de
alterar a permeabilidade da membrana citoplasmática e interferir na síntese de RNA
citoplasmático. Desta forma, inibem a síntese da parede celular bacteriana. Os principais
representantes deste grupo são: Vancomicina, Teicoplanina e Ramoplanina. Diversos
glicopeptídeos estão em fase de pesquisa clínica e não são disponíveis no mercado nacional.
As indicações deste antimicrobianos devem ser cada vez mais revistas e restritas, pois
seu uso indiscriminado é apontado como fator predisponente para o surgimento de
microrganismos resistentes
A bacitracina é um antibiótico produzido pela bactéria Bacillus subtilis, que exerce o
seu mecanismo de ação ao bloquear a passagem do pirofosfato-bactoprenol a fosfobactoprenol,
em bactérias Gram positivas (MURRAY et al., 2010).
4.1.2 Antibióticos que inibem a síntese da membrana citoplasmática
Existem antibióticos que conseguem desorganizar a membrana citoplasmática. Os
polimixinas são disto exemplo,
As polimixinas são antimicrobianos polipeptídeos com mecanismo de ação distinto dos
demais antimicrobianos utilizados atualmente. Dessa forma, a possibilidade de resistência
cruzada com outros antimicrobianos é muito remota, permitindo que as polimixinas sejam
ativas contra muitas espécies de bactérias multirresistentes.
Há duas polimixinas disponíveis comercialmente, colistina (polimixina E) e polimixina B.
10
4.1.3. Antibióticos que inibem da síntese proteica nos ribossomas
Os ribossomas bacterianos são organelos celulares constituídos por duas subunidades,
30s e 50s, onde ocorre a ligação dos fármacos de forma a inibir ou modificar a síntese proteica.
São exemplo de antibióticos que inibem a síntese proteica, os aminoglicosídeos, tetraciclinas,
anfenicóis, macrólitos, lincosamida e oxazolinidonas (GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
Ação na Subunidade 30s: Aminoglicosídeos e Tetraciclinas
Os aminoglicosídeos são antibióticos que penetram no interior das bactérias Gram
negativas, por difusão facilitada nas porinas presentes na membrana externa. O local de ação é
a subunidade 30s dos ribossomas, que é composto por vinte e uma proteínas e uma molécula
16s de ARN. O antibiótico aminoglicosídeos liga-se à proteína 12s na subunidade 30s
ribossômica, o que leva a um erro de leitura do código genético. São usados no tratamento de
infecções causadas por bactérias Gram negativas aeróbias.
Exemplos desta classe de antibióticos são a gentamicina, tobramicina e amicacina
usados no tratamento inicial de sepses graves como infecções nosocomiais em combinação com
os β-lactâmicos e a estreptomicina e a canamicina indicados no tratamento da tuberculose e
brucelose. (GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
As tetraciclinas apresentam um espectro de ação amplo, que engloba a maioria das
bactérias Gram positivas e Gram negativas, quer anaeróbias como aeróbias. Ligam-se, de
maneira reversível, à porção 30S do ribossoma, bloqueando a ligação do RNA transportador,
impedindo a síntese proteica.
Ação na Subunidade 50S
Os anfenicóis, que apresentam como representante o cloranfenicol é um antibiótico que
atua na inibição da síntese proteína nas bactérias. Este antibiótico apresenta-se como
bacteriostático, embora tenha ação bactericida na presença de algumas bactérias. Este penetra
na bactéria por difusão facilitada, e atua ao nível da subunidade 50s do ribossoma de forma
reversível. É de referir que este antibiótico é prescrito, de preferência, em hospital de forma ao
estado de saúde do doente seja controlado, pois o cloranfenicol apresenta uma elevada
toxicidade. Por este motivo a administração de cloranfenicol feita em último caso, como por
exemplo na brucelose em que há resistência às tetraciclinas. (GOODMAN, 2008; KATZUNG,
2007; WOLTERS et al.,2012)
11
Os macrólitos inibem a síntese das proteínas através da sua ligação reversível à
subunidade 50s. Deste grupo fazem parte a eritromicina, claritromicina e azitromicina. O
espectro de ação é semelhante, diferindo apenas na potência contra alguns microrganismos.
A clindamicina (classe das lincosamidas) é mais ativa na presença das bactérias
anaeróbias. Este antibiótico só se liga à subunidade 50s ribossômica, impossibilitando a síntese
proteica. O uso da clindamicina é comum em bactérias Gram positivas em doentes que
apresentem alergia à penicilina. A sua prescrição médica engloba patologias, como faringites,
amigdalites, otite média, erisipela entre outros (GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
A clindamicina, eritromicina e cloranfenicol são estruturalmente diferentes, no entanto,
exercem a sua ação em locais bastante próximos, apresentando-se como antagonistas, pois a
ligação de um deles inibe a ligação dos restantes, não devendo ser administrados
concomitantemente. (GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
Ação sobre a tARN
A utilização terapêutica deste antibiótico são as pneumonias nosocomiais e infecções
complicadas na pele e nos tecidos moles. Esta inibe a síntese proteica por ligação ao local 23s
da subunidade 50s, impedindo a formação do fMet-ARNt que inicia a síntese proteica.
(GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007)
4.1.4 Antibióticos que alteram na síntese dos ácidos nucleicos
Os antibióticos que interferem na síntese dos ácidos nucleicos são as fluoroquinolonas
e a rifampicina.
As quinolonas são os antibióticos mais antigos, o mecanismo de ação centra-se nas
enzimas ADN girase e topoisomerase IV bacteriana. Apresentam uma utilidade terapêutica
limitada e um rápido desenvolvimento de resistência bacteriana. Face a isto, a introdução mais
recente das fluoroquinolonas, como a ciprofloxacina, norfloxacina e ofloxacina, representa um
avanço terapêutico particularmente importante, visto que estes fármacos são dotados de ampla
atividade antimicrobiana e mostram-se eficazes após a administração oral no tratamento de
diversas doenças infecciosas.
A rifampicina é um antibiótico ativo na presença de quase todos os microrganismos atua
ligando-se às cadeias peptídicas de forma não-covalente e interfere especificamente no início
do processo de transcrição. O uso da rifampicina limita-se ao máximo, de forma a não criar
resistências bacterianas (GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
12
4.1.5 Antibióticos que alteram os metabolismos celulares
As sulfonamidas foram dos primeiros antibióticos a serem utilizados em doenças
infecciosas. Estes possuem um espectro de ação bastante amplo, na presença de Gram positivos
e Gram negativos.
O mecanismo de ação baseia-se na analogia face ao ácido para-aminobenzóico (PABA),
fazendo com que este não seja utilizado pelas bactérias para a síntese de ácido fólico. Mais
especificamente, as sulfonamidas são inibidores competitivos da diidropteroato-sintase. Os
microrganismos sensíveis são todos aqueles que precisam de sintetizar o seu próprio ácido
fólico, as restantes não são afetadas pois são capazes de utilizar o folato pré-formado.
(GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
O trimetoprima é o agente mais ativo que exerce um efeito sinérgico quando utilizado com
uma sulfonamida. Trata-se de um percursor inibidor competitivo e seletivo da diidrofolato
redutase microbiana. Desta forma a administração concomitante destes leva a bloqueios
sequenciais na síntese de tetraidrofolato do microrganismo a partir de moléculas percursoras.
(GOODMAN, 2008; KATZUNG, 2007).
4.2
Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS)
Gacouin (2009), afirma que as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são unidades
destinadas ao atendimento de pacientes clinicamente graves, que necessitam de monitorização
e suporte contínuos de suas funções vitais. É considerada uma área crítica, tanto pela
instabilidade hemodinâmica dos pacientes internados nessa unidade, quanto pelo risco elevado
de desenvolver Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
No Brasil estima-se que aproximadamente 5 a 15% dos pacientes hospitalizados e 25 a
35% dos pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva adquiram algum tipo de
infecção relacionada à assistência a saúde sendo ela, em geral, a quarta causa de mortalidade
(OLIVEIRA et al., 2012).
Os índices de IRAS nas UTI tendem a ser maiores do que aqueles encontrados nos
demais setores do hospital, devido à gravidade das patologias de base, aos procedimentos
invasivos utilizados ao longo do tempo de internação e ao comprometimento imunológico, que
tornam os pacientes mais susceptíveis à aquisição de infecções. Pneumonias hospitalares
13
ocasionadas por bactérias multirresistentes em pacientes sob ventilação mecânica, infecções do
trato urinário, infecções de sítio cirúrgico e de tecidos moles têm sido as mais frequentes
diagnosticadas em UTI (CAVALCANTE et al., 2009).
Em UTI as infecções comumente encontradas são as infecções urinárias ou bacteriúria
associada a cateter cervical, pneumonia associada à ventilação mecânica e bacteremia associada
a cateter venoso central todas com morbimortalidade elevada (CERQUEIRA; MENDES 2009).
Medidas gerais de controle - tais como a higienização de mãos, a identificação de
pacientes colonizados e a utilização de precauções de contato, além do uso criterioso de
antimicrobianos – podem evitar a disseminação de micro-organismos através dos profissionais
de saúde e visitantes. Esses cuidados devem ser incorporados nas atitudes dos profissionais,
para não se acarretar mais um problema ao paciente: a infecção hospitalar (OLIVEIRA, 2012).
A atuação do farmacêutico reduz a mortalidade, duração de internação e alta da UTI em
pacientes com infecções hospitalares, comunitárias e sepse, além de não aumentar os custos
com tratamentos e exames laboratoriais, de acordo com estudo publicado em 2008 por
MacLaren e colaboradores, além de ter impacto positivo sobre infecções por meio da seleção
adequada de antibióticos e monitoramento da toxicidade dos mesmos.
4.3
Terapia Antimicrobiana
Os antimicrobianos são fármacos com a propriedade de suprimir o crescimento dos
patógenos ou destruí-los e cuja utilização na prática clínica modificou o curso natural, além de
melhorar o prognóstico das doenças infecciosas. Eles podem ser utilizados de forma profilática
e terapêutica, porém, seu emprego crescente e indiscriminado é o principal fator relacionado
com a emergência de cepas microbianas resistentes (MOREIRA, 2004).
Alguns estudos mostram que a avaliação da severidade clínica dos pacientes à admissão
em UTI demonstrou que os pacientes que desenvolveram infecções foram aqueles que possuíam
uma média de scores para gravidade das doenças mais alta que o dos pacientes que não
desenvolveram infecções
A eficácia e segurança de um medicamento começa com o balanço de seu inerente
potencial de risco, passa por correta prescrição (doses, intervalos, horário, duração),
administração (diluições, assepsia nas injeções, horários, alimentos concomitantes), aquisição
(qualidade, boas práticas de fabricação), armazenamento (umidade, temperatura, tempo de
validade), dispensação e termina com a aderência do paciente ao tratamento.
14
As doses devem ser adequadas de acordo com a gravidade do caso. Casos mais leves
devem ser medicados com doses mais baixas e por via oral. Os casos mais graves devem ser
tratados com doses mais elevadas e por via intravenosa (IV). Em presença de hipotensão ou
hipoperfusão tecidual, não fazer administração intramuscular. Do ponto de vista técnico podese afirmar que o tratamento das infecções deve ser feito com doses que atinjam níveis maiores
de concentração inibitória mínima (MIC50). Nos casos graves as doses devem atingir níveis
maiores que a concentração bactericida mínima (MIC90). De um modo geral, estes
antimicrobianos devem ser mantidos por dois a três dias após terem cessado todos os sintomas.
A via (IV) possui como vantagem ação rápida, uma vez que não possui barreiras à
absorção do princípio ativo. Por outro lado, a administração por essa via poderá ocasionar
reações adversas devido à rápida ação da droga, assim como poderão ocorrer complicações
inerentes à terapia intravenosa, como infecção relacionada ao dispositivo intravascular,
trombose, flebite, equimose e outras (ABRAMS, 2006).
Referente à posologia (quantidade e frequência de administração) dos antibióticos, a
recomendação é que deve ser de acordo com as características do micro-organismo causador,
peso e condição clínica do paciente.
Rodrigues e Oliveira (2010) em seus estudos mostram que a determinação dos horários
da administração das doses de antimicrobianos era feita exclusivamente pelo enfermeiro. Nesse
aspecto, destaca-se a relevante importância de um profissional com conhecimento científico e
habilidade técnica na prevenção de erros de administração de medicamento, relativos ao
aprazamento de medicamentos prescritos pelo médico. Para realizar esta atribuição, o
profissional necessita conhecer características da terapia medicamentosa e condição clínica do
paciente
para
prevenir
interações
fármaco-fármaco
e
entre
fármaco-alimento,
incompatibilidades medicamentosas e outros, evitando, dessa forma, acontecimentos adversos
com medicamentos ministrados aos pacientes.
Coletar os materiais biológicos (sangue, urina, fezes, secreções, escarro, líquido
ascítico/pleural, líquor), de acordo com o diagnóstico clínico de cada caso, para tentar isolar os
germes envolvidos no processo infeccioso e verificar sua sensibilidade, principalmente nos
casos sem definição diagnóstica.
A falta de detecção de confirmação microbiológica laboratorial também é verificada por
outros autores, os quais correlacionam esse fato à escolha incorreta do antimicrobiano empírico.
Destaca-se a relevância das culturas, pois favorecem a elaboração de prevalências
locais/setoriais e de protocolos de esquemas iniciais, com menor espectro de ação e maior
resolutividade. O uso inadequado dos medicamentos anti-infecciosos é relacionado como um
15
dos principais fatores contribuintes para o aumento da resistência. (BERQUÓ, 2004;
SIMONSEN et al., 2004).
A idade avançada é caracterizada por insuficiência nas funções de muitos processos
regulatórios responsáveis por produzir integração entre células e órgãos. Pode ocorrer a falência
da manutenção da homeostase nas condições de estresse fisiológico.
Segundo Motta (2007), a população idosa experimenta processo de envelhecimento
marcante caracterizado por alterações fisiológicas e patológicas que cursam com crescente
dependência. Entretanto, o difícil acesso desse estrato populacional às ações básicas de saúde e
o agravo de doenças crônico-degenerativas podem ocasionar estados graves de saúde, sendo
indicada hospitalização em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Em face dessa situação, a
antibioticoterapia é uma intervenção terapêutica comumente implementada, e que pode
representar risco potencial de iatrogenias com medicamentos.
Existem situações em que a prescrição dos antimicrobianos deve ser adaptada às
condições do paciente, como na insuficiência renal, insuficiência hepática, interação com outras
drogas, gestação, lactação, recém-nascidos ou idosos.
4.2.1 Utilização de Antimicrobianos e a Insuficiência Renal
Os fármacos sujeitos à eliminação renal, ou que originam metabólitos ativos, requerem
ajuste posológico diante de insuficiência renal. Esta conduta é de crucial importância quando
se administram fármacos com pequena margem terapêutica, como os aminoglicosídeos. O
ajuste da dose dos medicamentos na insuficiência renal pode ser feito pela redução das doses
usualmente empregadas, ou pelo aumento do intervalo entre as suas administrações. É
preferível excluir o uso de fármacos, em vez de reajustar os seus esquemas posológicos, quando
há riscos elevados de toxicidade, ou ele é ineficaz diante de comprometimento da função renal
(WANNMACHER et al., 2007).
A eliminação adequada dos medicamentos e de seus metabólitos depende da função
renal. A depuração renal é particularmente importante para fármacos que apresentam
proximidade de doses terapêuticas e tóxicas. Os antimicrobianos associam-se com elevada
prevalência de reações adversas e são, frequentemente, prescritos para pacientes hospitalizados
(LOURO et al., 2007; LEE, 2007).
Costa (2009), afirma que os três antimicrobianos nefrotóxicos ou com necessidade de
ajuste da dose prescritos mais frequentemente durante as internações de pacientes com
16
insuficiência renal foram ceftriaxona (12,6%), seguido por vancomicina (10,5%) cefepima
(9,5%).
4.5
Uso Racional de Antimicrobianos
Uma das principais preocupações mundiais quanto ao uso racional de medicamentos
está relacionada à utilização de antimicrobianos. O aumento da resistência bacteriana a vários
agentes antimicrobianos acarreta dificuldades no manejo de infecções, contribui para o aumento
dos custos do sistema de saúde e determina uma redução na qualidade de vida de pacientes e
familiares. Porém, nos países em desenvolvimento, poucos recursos são empregados na
monitoração de ações sobre o uso racional de antimicrobianos e os dados sobre o uso desses
agentes em hospitais são limitados, não sendo o cenário brasileiro diferente. (CASTRO et al.,
2002).
No ambiente hospitalar, os antimicrobianos, além de afetar o paciente que o utiliza,
atingem também a microbiota ambiental do hospital. O uso abusivo contribui para o aumento
da morbidade, mortalidade, prolongamento do tempo de internação e elevação dos custos do
tratamento. A utilização de medidas que visam à redução do emprego de antibióticos é
acompanhada da diminuição das taxas de resistência, mas a grande problemática reside em
promover mudanças das práticas na prescrição médica.
Diante dessa situação, o Ministério da Saúde tornou obrigatório que as Comissões de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) desenvolvessem programas de racionalização do uso
de antimicrobianos, visando à qualidade da assistência no âmbito da prevenção de infecções,
conforme os critérios preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Além da redução da
seleção/indução de cepas multirresistentes, a criação desse programa objetiva otimizar os
efeitos terapêuticos e minimizar as consequências indesejáveis do uso dessas drogas,
especialmente a toxicidade.
O uso irracional de antimicrobianos é relatado em várias partes do mundo, sendo um
problema ainda bastante atual. O gasto com antibióticos pode representar até 30% dos custos
em uma farmácia hospitalar e mais de 50% de suas prescrições, no hospital, são impróprias
(LÓPEZ-MEDRANO et al., 2005).
A utilização inadequada e muitas vezes desnecessária de antimicrobianos assume
importante papel no crescimento alarmante da resistência bacteriana aos antibióticos. Segundo
dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em determinadas áreas da América
17
Latina, cerca de 75% dos antibióticos são prescritos inadequadamente e a resistência bacteriana
tem sido constatada em até 50% das cepas isoladas (RABELO, 2002).
A vancomicina pertence ao grupo dos glicopeptídeos, e é somente ativa contra microorganismos Gram-positivos. Seu uso parenteral está indicado no tratamento de infecções
causadas por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (SARO) e espécies de estafilococos
não-aureus resistentes à meticilina (SSNA, incluindo Staphylococcus epidermidis) e
endocardite causada por Streptococcus viridans ou Enterococcus faecalis (KATZUNG, 2007).
Devido seu uso disseminado, enterococos resistentes à vancomicina (VRE) estão sendo
encontrados com maior frequência, principalmente em UTI, e opções de tratamento de
infecções causadas por estes micro-organismos são limitadas (GOODMAN, 2008).
A cefepima é uma cefalosporina de quarta geração. Possui boa atividade
contra
Pseudomonas
aeruginosa,
Enterobacteriaceae,
Staphylococcus
aureus e Staphylococcus pneumoniae. É altamente ativa contra Haemophilus e Neisseria e é
indicado para uso em infecções graves do trato respiratório inferior e do trato urinário, pele e
tecidos moles, trato reprodutivo feminino e em pacientes neutropênicos febris. (KATZUNG,
2007).
A amicacina é um aminoglicosídeo e tem como principal indicação clínica nas infecções
causadas por micro-organismos Gram-negativos, como Pseudomonas, Proteus sp, Escherichia
coli, Klebsiela pneumoniae, Enterobacter e Serratia sp. Além disso, por ser resistente a muitas
enzimas que inativa a gentamicina e a tobramicina, pode ser utilizada contra alguns microorganismos resistentes a estes dois fármacos (KATZUNG, 2007).
O meropenem pertence ao grupo dos carbapenêmicos, possui amplo espectro de
atividade antibacteriana e pode ser usado como droga isolada para tratamento empírico antes
da identificação dos micro-organismos causadores de infecção. É eficaz contra estafilococos
e Staphylococcus pneumoniae susceptíveis à penicilina, a maioria dos aeróbios Gram-negativos
(E. coli, H. influenzae,Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa) e alguns anaeróbios, incluindo
o B. fragilis. É indicada para uso nas infecções intra-abdominais e na meningite bacteriana
causada por micro-organismos susceptíveis (ABRAMS, 2006; KATZUNG 2007).
O uso correto de associações medicamentosas pode render inquestionáveis benefícios
terapêuticos, como bem demonstra a prática vigente. No entanto, muito cuidado é necessário
no monitoramento clínico e laboratorial de possíveis efeitos prejudiciais, mesmo para
associações consagradas pelo uso e costume.
Entre as medidas a ser tomada em prol da assistência de qualidade prestada ao paciente
e racionalidade de antimicrobianos consiste em detecção de confirmação microbiológica
18
laboratorial. Destaca-se a relevância das culturas, pois favorecem a elaboração de prevalências
locais/setoriais e de protocolos de esquemas iniciais, com menor espectro de ação e maior
resolutividade. O uso inadequado dos medicamentos anti-infecciosos é relacionado como um
dos principais fatores contribuintes para o aumento da resistência.
19
5.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, o serviço de Atenção Farmacêutica (AF) em UTI ainda é incipiente, mas é
possível espelhar-se nos modelos internacionais para sua execução. Farmacêuticos podem, por
exemplo, iniciar a implantação da AF em uma UTI a partir do monitoramento de fármacosalvo, como, por exemplo, otimizar a utilização de medicamentos, que são de alto consumo e
alvo de discussão no que diz respeito à segurança e ao monitoramento.
O farmacêutico pode estar envolvido em uma série de atividades, tais como o
acompanhamento e monitoramento da prescrição médica referente ao medicamento prescrito,
dose, intervalo, via, diluição e administração, suas incompatibilidades medicamentosas e
avaliar o risco da utilização para cada paciente individualmente; busca de atualização na
literatura científica, para identificar padrões de administração de medicamentos e elaborar
protocolos, garantindo a utilização segura e racional de medicamentos; auxiliar na promoção
da educação continuada, promovendo a troca de conhecimentos na equipe multiprofissional,
dando suporte técnico cabível e promovendo treinamentos; monitorando eventos adversos e
interações medicamentosas, otimizando a terapêutica e reduzindo custos para os hospitais.
20
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abrams AC. Farmacoterapia clínica: princípios para prática de enfermagem. 7th ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan; 2006.
Abrantes, Patrícia de Magalhães; Magalhaes, Sérgia Maria Starling; ACURCIO, Francisco de
Assis and Sakurai, Emília.A qualidade da prescrição de antimicrobianos em ambulatórios
públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, MG. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2008, vol.13, suppl., pp. 711-720. ISSN 1413-8123. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232008000700021.
Acar, J. F. Resistance mechanisms. Semin Respir Infect, v. 17, n. 3, p.184-8, 2002.
al. Implementation of strategies to prevent and control the emergence and spread of
antimicrobial-resistant microorganisms in U.S. hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol
2005;26(1):21-30. Bactericidal mechanisms of action in the treatment of Gram positives
bacterial
Baughman, R. P. Antibiotic resistance in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care, v. 8, n.
5, p.430-4, 2002.
Cardoso SR, Pereira LS, Souza ACS, Tipple AFV, Pereira MS, Junqueira ALN. Anti-sepsia
para administração de medicamentos por via endovenosa e intramuscular. Rev. Eletr. Enf.
[Internet].
2006
[cited
2010
sep
29];8(1):75-82.
Disponível
em:
http://www.fen.ufg.br/revista8_1/original_10.htm Care Unit. Rev Latino-Am Enferm
[Internet]. 2010
Carneiro, Marcelo et al.O uso de antimicrobianos em um hospital de ensino: uma breve
avaliação. Rev. Assoc. Med. Bras. [online]. 2011, vol.57, n.4, pp. 421-424. ISSN 0104-4230.
Disponível
em:
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302011000400016
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_em Elsevier (Eds.), Microbiologia Médica (6ª ed.,
pp 90 - 136). Rio de Janeiro.
Gacouin A, Barbarot N, Camus C, Salomon S, Isslame S, Marque S, et al. Late-Onset
Ventilator-Associated Pneumonia in Nontrauma Intensive Care Unit Patients. Anest Analg.
2009;109(5):1584 – 90.
Goodman & Gilman's. (2008). Manual of Pharmacology and Therapeutics. Nova infections.
Oxford Journals, 38, 864-865. Iorque: McGraw Hill Jornadas bioMérieux.
Katzung BG. Farmacologia: básica e clínica. 9th ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.
Katzung, B. (2007). Farmacologia Básica e Clínica (10ª ed.). Brasil: McGraw Hill.
Lago, J. (2011). Mecanismos de Resistência e Selecção de Antibióticos. Lisboa:
Larson, L. L.; Ramphal, R. Extended-spectrum beta-lactamases. Semin Respir Infect, v. 17, n.
3, p.189-94, 2002. Louro E, Romano-Lieber NS, Ribiero E. Adverse events to antibiotics in
patients of a university hospital. Rev Saude Publica. 2007;41(6):1042-8
Motta LB, Aguiar AC. Novas competências profissionais de saúde e o envelhecimento
21
populacional brasileiro: integralidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade. Cien Saude
Colet. 2007;12(2):363-72.
Murray, P., Rosenthal, K., Pfaller, M. (2010). Metabolismo e genética bacterianas.
Oliveira, Adriana Cristina; PAULA, Adriana Oliveira; IQUIAPAZA, Robert
Aldo and LACERDA, Ana Clara de Souza.Infecções relacionadas à assistência em saúde e
gravidade clínica em uma unidade de terapia intensiva. Rev. Gaúcha Enferm. [online]. 2012,
vol.33, n.3, pp. 89-96. ISSN 1983-1447.
http://dx.doi.org/10.1590/S198314472012000300012. Pankey, G., Sabath, L. (2013). Clinical relevance of bacteriostatic versus
Paradisi, F.; Corti, G.; Sbaragli, S., et al. Effect of antibiotic pretreatment on resistance. Semin
Respir Infect, v. 17, n. 3, p.240-5, 2002.
Patterson, J. E. Extended spectrum beta-lactamases: A therapeutic dilemma. Pediatr Infect Dis
J, v. 21, n. 10, p.957-9, 2002.
Rodrigues MCS, Santiago MB. Risco potencial de interações medicamentosas (IM). Nursing
(São Paulo). 2007;107(9):189-94.
Tavares, W. Manual de antibióticos e quimioterápicos antiinfecciosos. 3a ed. São Paulo: Editora
atheneu, 2001. 1. MONTE, R. L.; VICTORIA, M. B. Manual de rotina para coleta
microbiológica. Manaus: Gráfica Máxima, 2002.
Wannmacher L. Erros: evitar o evitável. Uso Racional de Medicamentos: Temas Selecionados
[Internet].
2005
[cited
2010
sep
29];2(7):1-6.
Disponível
em: http://www.opas.org.br/medicamentos/site/UploadArq/HSE_URM_EME_0605.pdf.