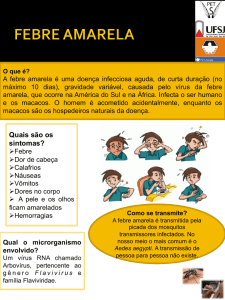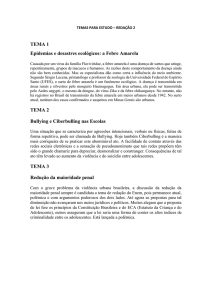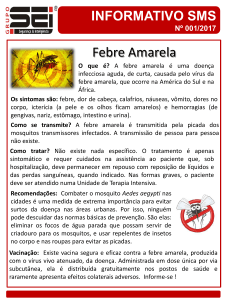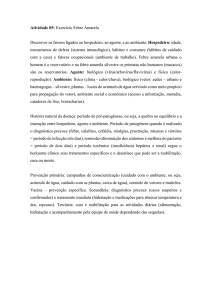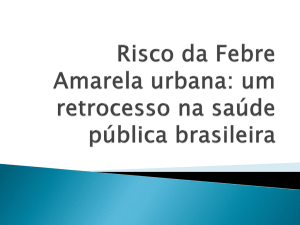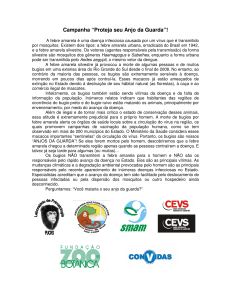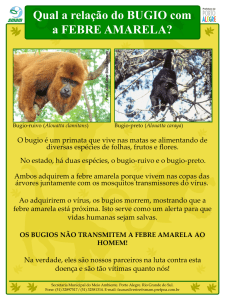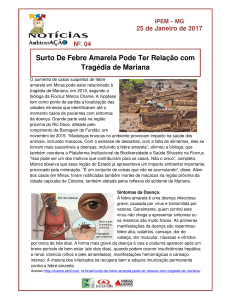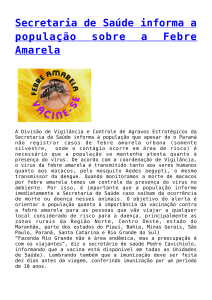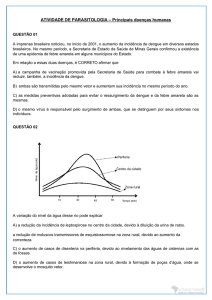10
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA
ZOURAIDE GUERRA ANTUNES COSTA
“ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DA FEBRE AMARELA NO BRASIL, NAS ÁREAS FORA DA
AMAZÔNIA LEGAL, NO PERÍODO DE 1999 A 2003.”
Brasília, Distrito Federal
2005
2
ZOURAIDE GUERRA ANTUNES COSTA
“ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
DA FEBRE AMARELA NO BRASIL, NAS ÁREAS FORA DA
AMAZÔNIA LEGAL, NO PERÍODO DE 1999 A 2003.”
Dissertação apresentada à Escola Nacional de Saúde Pública
Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, como requisito do
Mestrado Profissional em Vigilância em Saúde para obtenção
do título de “Mestre em Saúde Pública”.
Orientador principal: Prof. Paulo Chagastelles Sabroza
Segundo orientador: Prof. Dr. Afonso Diniz Costa Passos
Banca examinadora:
Prof. Dr. Afonso Diniz Costa Passos
Prof. Dr. Carlos Machado de Freitas
Prof. Dr. Pedro Fernando da Costa Vasconcelos
Brasília, Distrito Federal
28 de março de 2005
3
“Estudar é desocultar,
é ganhar a compreensão mais exata do objeto,
é perceber suas relações com outros objetos.
Implica que o sujeito do estudo
se arrisque,
se aventure,
sem o que não cria
nem recria.”
(Paulo Freire)
4
Aos meus pais, Antonio Antunes de Araújo e
Felícia Guerra Antunes, em algum lugar da
espiritualidade, que me ensinaram o valor da
dignidade e da honradez humanas. Professores
escolhidos para me orientar na Escola da Vida,
ele incutiu em nós, seus filhos, que o tesouro
denominado
“sabedoria”
é
o
único
que
conquistamos e não nos pode ser retirado; ela,
entre inúmeras lições ministradas, ressaltou o
capítulo do compartilhamento e da solidariedade,
que apreendi e fiz dele um estilo de vida.
5
A Fabio, companheiro de minha vida, luz de
minha alma. Mesmo sendo um homem das
Ciências Exatas, não me impede de sonhar.
10
AGRADECIMENTOS
Minha participação no mestrado foi impulsionada pela possibilidade de
transformar uma paixão em ferramenta de compromisso e responsabilidade profissionais para
com a Saúde Pública brasileira. Vi despontar uma oportunidade de aproximar as experiências
vividas na prática com o aprofundamento teórico, na esperança de alargar os horizontes para a
compreensão do comportamento de uma doença, que durante quatro séculos, constituiu-se em
um grande desafio à Medicina e ainda hoje, apesar da existência de uma vacina altamente
eficaz, deixa a comunidade científica perplexa diante de suas manifestações inesperadas.
A razão que me moveu a escolher a Febre Amarela como tema foi a minha
inserção direta, desde o início da década de 1990, na vigilância deste importante problema de
saúde pública, bem como a angústia, sempre presente, ao lidar com as incertezas nessa
experiência. Nessa trajetória e, em especial neste momento de investigação, ressalto a
importância de lembrar e agradecer a tantos companheiros que comigo compartilharam e
proporcionaram as mais diferentes contribuições:
A Paulo Chagastelles Sabroza, meu orientador, pela orientação, confiança e apoio
dispensados. Seu olhar aguçado sempre vislumbrando mil e uma possibilidades onde tudo se
mostrava obscuro foi de fundamental importância para me dar segurança na condição de
iniciante nos caminhos da pesquisa científica.
A Afonso Diniz Costa Passos, meu co-orientador, que desde a etapa da
qualificação, com muita simplicidade se propôs a traçar um caminho prático para evitar
tropeços na caminhada.
Às amigas Raquel Santos e Claudete Costa, bibliotecárias da Fundação Nacional
de Saúde, que facilitaram a busca de referências. Em especial, à Raquel, que cuidou com
muito carinho dos ajustes nas referências bibliográficas.
Às companheiras da Biblioteca do Instituto Evandro Chagas, Vânia Barbosa da
Cunha Araújo, Maria José Mateus e Maria Izaleth Batista do Carmo, pela paciência e
compreensão diante das infindáveis listas, nunca medindo esforços para localizar os artigos,
especialmente as “raridades”.
A Rosely Cerqueira, Coordenadora da Coordenação de Doenças Transmitidas por
Vetores e Antropozoonoses (COVEV) e grande amiga, que apostou na minha capacidade de
realizar este trabalho. Sua suavidade e seu sorriso sempre presentes falaram muito mais do
que a palavra expressa. A ela devo minha participação no mestrado.
7
Aos colegas e companheiros da COVEV, que me incentivaram em todos os
momentos, compreenderam e minimizaram as minhas ausências.
A Vera Lúcia Silva, amiga de todas as horas, pelo estímulo constante durante esses
dois anos, em especial por conduzir os rumos do Programa de Vigilância e Controle da Febre
Amarela enquanto eu me dedicava às atividades do mestrado.
A Wanderson Kleber de Oliveira, por disponibilizar os pontos de GPS do “surto
do Serro”, pela solidariedade, paciência e habilidade em me ajudar com as ferramentas de
geoprocessamento e do EpiInfo, bem como pelos “insights” valiosos nas discussões. Sua
contribuição foi fundamental para a realização deste trabalho.
A Guilherme Medina, da equipe do Professor Paulo Sabroza, pelo árduo trabalho
de “tradução” e manejo dos croquis de campo e pela difícil tarefa da análise dos dados
espaciais.
A Walter Ramalho, pela importante ajuda nas questões metodológicas.
A Gandhia Vargas Brandão, pela revisão ortográfica, pela ajuda nas dúvidas com
os textos em inglês e, especialmente, pelo incentivo constante.
À querida amiga Suely Tuboi, por ter disponibilizado os pontos de GPS do “surto
de Divinópolis”, mas principalmente por estar permanentemente a meu lado, mesmo estando
a milhas de distância.
A Rodrigo Gurgel, pela digitação do banco de dados e assessoria constante no
manejo da informática.
À amiga e irmã espiritual Ângela Maron, que há anos acompanha a minha
trajetória profissional e meu esforço na busca do conhecimento, cuja amizade, boas energias e
palavras de incentivo à distância me sustentaram nesses dois últimos anos.
Aos companheiros de vigilância da febre amarela nos estados, que ao longo dos
anos vêm acreditando e apoiando nossos esforços de buscar inovações para melhorar o
controle da febre amarela em nosso País.
Aos companheiros das Secretarias Estaduais de Saúde, Regionais de Saúde e
Núcleos de Apoio às Endemias (NACE) pela generosidade em disponibilizar croquis de
campo, resgatar pontos de GPS e outros dados importantes para o desenvolvimento deste
trabalho: Jesuína Castro e Renato Freitas de Araújo (Bahia); Maria Amélia Torres e Marco
Antonio Almeida (Rio Grande do Sul); Cristiane de Oliveira (Distrito Federal); Luiz Eloy
8
Pereira (Instituto Adolfo Lutz, São Paulo); Gediselma Borges Madalena Lima e Ivaneusa
Gomes de Ávila Maciel (Goiás); Irenício Marques de Souza, Albertino Martins de Oliveira,
Waldomir Alves Bezerra, Claudio Henrique Pace Neves, Sebastião José Rodrigues, Lindomar
de Pontes e Abílio Antonio de Macedo Filho (NACE de Jataí); Rejane Souza Pereira
(Secretaria Municipal de Saúde de Jataí); José Macdovel da Costa, Antonio Pinto Machado,
Gésio Inácio de Almeida e Emílio Peixoto Filho (NACE de Morrinhos); Adair e Udival
(NACE de Formosa); Talita Chamone e Francisco Leopoldo Lemos (Minas Gerais); João
Resende e Edimarcos Xavier (Regional de Montes Claros, Minas Gerais).
À querida colega Janice Magalhães Lamas, pela profunda manifestação de
amizade e profissionalismo, ao se colocar à minha disposição e conseguir administrar seu
precioso tempo na Clínica de Mamografia de Brasília, dedicando parte dele ao repasse de
conhecimento científico e metodológico em um momento crítico dessa trajetória.
Aos meus filhos, Fabio Domingues da Costa Júnior, Thiago Guerra Costa e Pedro
Guerra Costa, às minhas noras e filhas, Gandhia Vargas Brandão, Adriana Mendonça e Lívia
Pinheiro Costa, aos meus queridos netinhos, Clara Lua Vargas Guerra e Luan Pinheiro Costa,
por terem compreendido que o abandono e os momentos roubados para dedicar às tarefas
estudantis nesses dois anos eram necessários.
Às minhas queridas irmãs e irmão, Antonio Antunes Júnior, Zuleide Guerra
Antunes Zerlotini, Zélia Maria Guerra Antunes, Zulene Guerra Antunes e Silva e Felícia
Guerra Filha, que em todas as oportunidades demonstraram apoio irrestrito e orgulho pela
minha coragem de enfrentar uma pós-graduação, apesar de todos os percalços desse momento
de minha vida. Em especial, a vocês duas que moram em Brasília, nunca esquecerei o quanto
fizeram para manter a nossa família unida nos fins de semana.
Aos queridos amigos de muitos anos e aos novos que foram sendo incorporados à
minha vida, por entenderem a minha necessidade de reclusão e terem evitado os convites para
os freqüentes encontros.
Aos colegas de mestrado, em especial às queridas amigas e amigos, sempre
presentes, Beth, Zezé, Rosa Terzela, Maria da Paz, Rui e Alexandre, que me apoiaram nos
momentos em que o mundo parecia ter desabado sobre a minha cabeça. Em seus ombros
depositei dúvidas, ansiedades e até lágrimas, mas também compartilhei conquistas e alegrias.
Aos coordenadores do MPVS, Maria do Carmo Leal e Carlos Machado de Freitas,
pelo apoio incondicional no delicado momento em que o trecho da estrada havia se fechado.
9
Enfim, meu agradecimento sincero aos que me enviaram mensagens de fé e
otimismo pelo correio eletrônico e a tantos outros que, de uma forma ou de outra, puderam
expressar sua amizade e contribuíram para me manter no caminho.
À Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que possibilitou a
realização deste trabalho.
10
RESUMO
A permanência do ciclo silvestre da febre amarela no território brasileiro tem
estimulado estudos sobre sua complexa epidemiologia. No Brasil, esta doença tem um caráter
endêmico e permanente nas regiões Norte e Centro Oeste, porém nos últimos cinco anos tem
se manifestado de forma epidêmica fora da Amazônia Legal. Este trabalho tem como objetivo
verificar a ocorrência e as características da febre amarela nas regiões fora dos limites da
Amazônia Legal e compará-las com algumas características dos casos procedentes desta
região no período de 1999 a 2003, analisando a reemergência de um padrão epizoóticoepidêmico. O referencial teórico aborda aspectos históricos, o ciclo básico da febre amarela
silvestre, a espacialização de doenças, a teoria de foco natural de doenças e o processo
infeccioso. Dois bancos de dados foram analisados, um relativo aos casos humanos e outro às
mortes de primatas não humanos, ambos construídos na Gerência Técnica de Febre Amarela a
partir de notificações oriundas das Secretarias Estaduais de Saúde. Foram confirmados 281
casos de febre amarela silvestre no período, sendo 176 (62,6%) fora da Amazônia Legal.
Foram registradas mortes de primatas não humanos em 176 localidades de 100 municípios em
cinco estados situados fora da Amazônia Legal. Observou-se que o processo epizoótico em
primatas que, em geral, permite o aparecimento de casos humanos de febre amarela, encontrase difundido atualmente para além da Amazônia Legal. A distribuição espacial desses eventos
permitiu identificar sua ocorrência em áreas antropizadas dos diferentes biomas e bacias
hidrográficas, predominando em locais com vegetação do tipo savana. São discutidas também
as perspectivas de utilização das informações espaço-temporais de marcadores de epizootias
no aperfeiçoamento da vigilância e controle de ações prospectivas.
Palavras chave: febre amarela, epizootia, foco de doenças, epidemiologia, análise
espacial.
11
SUMMARY
The permanence of the sylvatic cycle of yellow fever in Brazilian territory has
stimulated a series of studies about the complex epidemiology of this disease. Historically,
yellow fever is endemic in Northern and Central-Western areas of Brazil, but in the last five
years epidemics have occurred outside the Amazon region. We conducted a study with the
objective of verifying the occurrence and characteristics of yellow fever outside the Legal
Amazonian limits, and compared the characteristics of cases occurring between 1999 to 2003,
analyzing the reverse-emergency of an epizootic-epidemic pattern. The theoretical reference
approached historical aspects, the basic cycle of sylvatic yellow fever, the geographical limits
of the disease, the theory of natural focus of diseases and the infectious process. Two
databases were analyzed; one related to yellow fever virus infection in humans, and another
related to yellow fever-related deaths in non-human-primates. Both databases were compiled
by the Technical Coordination for Yellow Fever (COVEV) in the Ministry of Health’s
National Health Surveillance Secretariat (SVS), based on reports originating from State
Secretariats of Health. Among a total of 281 confirmed human sylvatic yellow fever cases,
176 (62.6%) occurred outside the Legal Amazon region. Deaths among non-human primates
were registered in 176 areas of 100 municipalities in five states located outside the Legal
Amazon area. It was observed that the epizootic process among non-human primates was
related to the emergence of yellow fever infection among humans which has now spread
beyond the Legal Amazonian. The spatial distribution of those events allowed the
identification of occurrence in areas of the different biomes and hydrographical basins
modified by humans, most commonly in areas with savannah-type vegetation. Using
perspectives of space and time information related to epizootic markers to improve
surveillance and strengthen prospective actions to improve control of yellow fever were also
discussed.
Key words: yellow fever, epizootic, foci of diseases, epidemiology, spatial
analysis.
12
SUMÁRIO
Assunto
RESUMO
SUMMARY
CAPÍTULO 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
CAPÍTULO 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
CAPÍTULO 3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.2.
Descrição
INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
Introdução
Justificativa do estudo
Objetivos
Geral
Específicos
REVISÃO DO CONHECIMENTO E DOS FUNDAMENTOS
TEÓRICOS
Aspectos históricos
Situação do problema no Brasil após 1950
Marcos conceituais
A espacialização do processo enzoótico-epizoótico da febre
amarela
Características do ciclo básico da febre amarela
Padrão de dispersão espaço-temporal do processo enzoóticoepizoótico
Estratificação de áreas de risco para febre amarela silvestre no
Brasil
ANÁLISE DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE FEBRE
AMARELA DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL
Material e métodos
Fontes de dados e procedimentos utilizados
Critérios adotados para a definição de casos e marcadores de
situações
Variáveis selecionadas para análise
Procedimentos laboratoriais considerados para comprovação de
febre amarela
Procedimentos utilizados na análise dos dados e apresentação
dos resultados
Aspectos éticos
Resultados
Comparação das características epidemiológicas dos casos de
febre amarela da Área Extra Amazônica e Amazônia Legal
Resumo comparativo dos atributos dos casos ocorridos na área
Extra Amazônica e na Amazônia Legal
Características epidemiológicas dos casos humanos e descrição
dos registros qualitativos das investigações epidemiológicas dos
surtos registrados no período de 1999 a 2003, fora da Amazônia
Legal
Página
10
11
18
18
21
22
22
22
24
24
35
39
39
44
46
48
51
51
52
54
55
56
57
58
59
59
68
69
13
Assunto
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
Descrição
Investigação epidemiológica do surto de Goiás – 1999/2000
Investigação epidemiológica do surto da Bahia – 2000
Investigação epidemiológica do surto de Minas Gerais – 2001
3.2.2.4.
Investigação epidemiológica do surto de Minas Gerais –
2002/2003
Resultados da análise das características sócio-ambientais dos
focos de ocorrência dos surtos
3.2.3.
Página
69
74
78
86
91
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.3.4.
Aspectos sócio-ambientais do foco de Goiás – 1999/2000
Aspectos sócio-ambientais do foco da Bahia – 2000
Aspectos sócio-ambientais do foco de Minas Gerais – 2001
Aspectos sócio-ambientais do foco de Minas Gerais – 2002/2003
91
94
96
98
3.2.4.
Comparação de características epidemiológicas e ambientais
entre os quatro focos de ocorrência de surtos de febre amarela
101
3.3.
Características da distribuição espacial das epizootias em
primatas não humanos suspeitas e confirmadas de febre amarela
notificadas no período de 1999 a 2003 fora da Amazônia Legal
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Fatores que podem ter influído na validade dos resultados deste
estudo
Fatores relacionados à metodologia
CAPÍTULO 4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
Fatores ligados ao conhecimento relativo ao “hospedeiro
acidental” (humano)
Fatores relacionados ao meio ambiente
108
113
115
115
117
117
4.3.1.
Fatores que poderiam influir na diferença de morbidade da febre
amarela nas regiões da Amazônia Legal e nos surtos ocorridos
fora dessa área
Fatores ligados ao “hospedeiro acidental” (humano) –
comparação de características epidemiológicas
Discussão dos resultados comparando-se os diferentes surtos de
febre amarela em áreas fora da Amazônia Legal
Surto de Goiás – 1999/2000
4.3.2.
Surto da Bahia – 2000
128
4.3.3.
Surto de Minas Gerais – 2001
133
4.3.4.
Surto de Minas Gerais – 2002/2003
136
4.4.
Discussão dos resultados da distribuição espacial das epizootias
em primatas não humanos suspeitas e confirmadas de febre
amarela no período de 1999 a 2003
Discussão do processo epidêmico-enzoótico do período de
estudo
4.2.1.
4.3.
4.5.
118
118
123
123
141
143
14
Assunto
CAPÍTULO 5.
Descrição
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Página
146
5.1.
Conclusões
146
5.2.
Recomendações para o aprimoramento da vigilância
epidemiológica da febre amarela no SUS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
147
6.
152
LISTA DE TABELAS E QUADROS
Descrição
Página
Tabela 1. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por ano 59
segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 2. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área
61
de ocorrência segundo evolução. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 3. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por sexo
61
segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 4. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por faixa
62
etária segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 5. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área
63
de ocorrência segundo situação vacinal. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 6. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área
de ocorrência segundo atividade no momento da exposição. Brasil, 1999 a 2003
64
Tabela 7. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área
de ocorrência segundo zona de residência. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 8. Matriz de concordância dos casos de febre amarela registrados por UF
de infecção segundo UF de residência. Brasil, 1999 a 2003
Tabela 9. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela por área de
ocorrência segundo critério de confirmação. Brasil, 1999 a 2003
65
Tabela 10. Número e percentual de amostras positivas para febre amarela por tipo
de exame laboratorial realizado segundo área de ocorrência do caso. Brasil, 1999 a
2003
Quadro 1. Comparação das características epidemiológicas dos casos de febre
amarela ocorridos na área Extra Amazônica com os ocorridos da Amazônia Legal,
1999 a 2003
Tabela 11. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo sexo. Goiás, 1999 a 2000
Tabela 12. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo faixa etária. Goiás, 1999 a 2000
Tabela 13. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo situação vacinal. Goiás, 1999 a 2000
Tabela 14. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo ocupação. Goiás, 1999 a 2000
Tabela 15. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados que se
infectaram em Goiás segundo UF de residência. Goiás, 1999 a 2000
66
67
60
68
71
71
71
72
72
15
Descrição
Página
Tabela 16. Freqüência e percentual de amostras positivas para febre amarela
segundo tipo de exame laboratorial realizado. Goiás, 1999 a 2000
Tabela 17. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo zona de residência. Bahia, 2000
Tabela 18. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo faixa etária. Bahia, 2000
73
Tabela 19. Freqüência e percentual de amostras positivas segundo tipo de exame
realizado. Bahia, 2000
76
Tabela 20. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo sexo. Minas Gerais, 2001
81
Tabela 21. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo faixa etária. Minas Gerais, 2001
81
Tabela 22. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo atividade no momento da exposição. Minas Gerais, 2001
82
Tabela 23. Freqüência e percentual de amostras positivas para febre amarela
segundo tipo de exame realizado. Minas Gerais, 2001
83
Tabela 24. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo zona de residência. Minas Gerais, 2001
83
Tabela 25. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo município de infecção. Minas Gerais, 2001
84
Tabela 26. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo município de residência. Minas Gerais, 2001
84
Tabela 27. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo faixa etária. Minas Gerais, 2002 a 2003
87
Tabela 28. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo ocupação. Minas Gerais, 2002 a 2003
88
Tabela 29. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo zona de residência. Minas Gerais, 2002 a 2003
88
Tabela 30. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados
segundo município de infecção. Minas Gerais, 2002 a 2003
89
Tabela 31. Freqüência e percentual de amostras positivas para febre amarela
segundo tipo de exame realizado. Minas Gerais, 2002 a 2003
90
Quadro 2. Atributos dos casos de febre amarela silvestre confirmados nos quatro
surtos ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003
101
Quadro 3. Atributos das áreas afetadas nos quatro surtos de febre amarela
silvestre ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003
102
Quadro 4. Imagens de satélite, limites do Kernel e localização de casos nos focos
de febre amarela humana ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003
103
Quadro 5. Classificação do uso do solo e da cobertura vegetal nos quatro focos de
febre amarela humana ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003
105
75
76
16
LISTA DE FIGURAS
Descrição
Página
Figura 1. Número de casos de febre amarela e doses de vacina aplicadas. Brasil,
35
1950 a 2003
Figura 2. Provável rota da disseminação da onda epizoótico-epidêmica de febre
amarela no Brasil, de 1934 a 1940
Figura 3. Progressão da onda epizoótica na América Central, 1948 a 1954
Figura 4. Áreas de risco para febre amarela silvestre. Brasil, 1997 a 2003
Figura 5. Distribuição dos municípios com casos de febre amarela por município
de infecção. Brasil, 1999 a 2003
Figura 6. Distribuição percentual de casos de febre amarela por faixa etária
segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Figura 7. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em
2000, destacando-se a localização do surto registrado no Estado de Goiás
Figura 8. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Goiás, 1999 a 2000
Figura 9. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Bahia, 2000
46
47
49
61
62
70
74
77
Figura 10. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em
2000, destacando-se a localização do surto registrado no Estado da Bahia
77
Figura 11. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Minas Gerais, 2001
85
Figura 12. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em
2001, destacando-se a localização do surto registrado no Estado de Minas Gerais
86
Figura 13. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em
2002 a 2003, destacando-se a localização do surto registrado no Estado de Minas
Gerais
Figura 14. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Minas Gerais, 2002
a 2003
Figura 15. Aspectos da vegetação de Alto Paraíso de Goiás, GO
89
90
92
Figura 16. Aspectos da vegetação de Alto Paraíso de Goiás, GO
Figura 17. Construção de armadilha para captura de vetores silvestres pela equipe
de Nicolas Degallier em Alto Paraíso de Goiás, 2000
Figura 18. Aspectos paisagísticos e da vegetação de Coribe, BA
93
94
Figura 19. Aspectos paisagísticos e da vegetação de Coribe, BA
96
Figura 20. Praia no Rio Lambari, Bom Despacho, MG
Figura 21. Aspectos paisagísticos, Rio Pará, MG
Figura 22. Aspectos da vegetação de Serro, MG
97
98
100
Figura 23. Aspectos da vegetação de Sabinópolis, MG
100
95
17
Descrição
Página
Figura 24. Focos de casos humanos de febre amarela na Região Extra Amazônica.
Brasil, 1999 a 2003
106
Figura 25. Principais cidades, rios e focos de casos humanos de febre amarela na
Região Extra Amazônica. Brasil, 1999 a 2003
106
Figura 26. Principais cidades, rodovias e focos de casos humanos de febre amarela
na Região Extra Amazônica. Brasil, 1999 a 2003
107
Figura 27. Municípios com casos humanos confirmados de febre amarela silvestre
e epizootias suspeitas em primatas não humanos fora da Amazônia Legal. Brasil,
1999 a 2003
Figura 28. Municípios com casos humanos confirmados de febre amarela silvestre
e epizootias suspeitas em primatas não humanos fora da Amazônia Legal, segundo
o tipo de vegetação. Brasil, 1999 a 2003
Figura 29. Provável rota de difusão territorial do vírus da febre amarela no Brasil,
de 1998 a 2003
109
111
112
18
CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
1.1. Introdução
A febre amarela foi considerada o maior flagelo já vivido pelo homem nas áreas
de colonização recente das Américas e da África, nos séculos XVIII e XIX. Até os primeiros
anos do século XX foi a mais importante doença epidêmica no Novo Mundo (SOPER, 1944;
TOMORI, 1999). No Brasil, foi grande protagonista na história sanitária do País, desde o
século XVII até o final do século XIX, registrando-se epidemias nos grandes centros urbanos
com elevadas taxas de mortalidade (FRANCO, 1969).
Na primeira metade do século XX, com as descobertas de sua etiologia,
epidemiologia, meios de transmissão e de prevenção, foram adotadas medidas específicas que
resultaram no desaparecimento da febre amarela urbana nos países das Américas (WHO,
1971), inclusive no Brasil. Permaneceu em muitos deles a modalidade silvestre, cujo ciclo é
complexo e ainda não plenamente conhecido, o que dificulta a compreensão de certos
fenômenos epidemiológicos.
Em nosso país, os registros de febre amarela constantes do banco de dados do
Ministério da Saúde datam do ano de 1930. O coeficiente de incidência médio anual tem
variado em torno de 0,02 casos/100.000 habitantes/ano e a taxa de letalidade média, em torno
de 44,6% (BANCO DE DADOS DO PVCFA/MS).
Embora o risco de adoecer por febre amarela seja baixo, esta enfermidade ainda é
tratada de forma diferenciada pelos organismos internacionais de saúde, sendo uma das três
doenças sujeitas ao Regulamento Sanitário Internacional, o que impõe pronta notificação de
qualquer evento suspeito que sinalize a circulação do vírus em uma área. E por apresentar
grande potencial epidêmico, geralmente com altas taxas de letalidade durante os surtos, bem
19
como por seus impactos adversos sobre o turismo e o comércio, reveste-se de grande
relevância como problema de saúde pública.
Estudos têm mostrado que a atividade da transmissão no ciclo silvestre é afetada
tanto por fatores ecológicos como por outros relacionados ao comportamento humano
(VAINIO & CUTTS, 1998; PATZ & KOVATS, 2002). Algumas variáveis ambientais, como
temperatura, umidade, pluviosidade e duração da estação chuvosa, além de serem decorrentes
de condições regionais e locais, podem também ser influenciadas por determinantes mais
gerais, conforme se verificou entre 1999-2000 em uma epidemia explosiva no centro-oeste do
Brasil (VASCONCELOS ET AL., 2001a), como a presença do fenômeno El Niño ou do
processo de aquecimento global.
Como resultado, poderiam ser observadas mudanças nas áreas de ocorrência de
casos humanos, atingindo grupos populacionais que não eram até agora considerados
vulneráveis, e aumento do risco de introdução do vírus em ciclos urbanos e periurbanos, com
a participação de vetores mais endofílicos e antropofílicos.
Do mesmo modo que em outras doenças propagadas por vetores, a transmissão, a
vigilância, a contenção e o controle dependem da complexa interação entre as populações de
hospedeiros, vetores, reservatórios, patógenos e o meio ambiente.
Embora reconhecendo a complexidade da rede de determinações e interações
envolvidas na produção das endemias, o maior uso dos dados disponíveis nos bancos de
registros permanentes dos serviços de saúde pode vir a possibilitar uma melhor compreensão
destes processos e o aprimoramento de modelos de vigilância e monitoramento tornando-os
mais adequados para esta atual conjuntura, caracterizada pela velocidade das transformações
sociais, ambientais e pela difusão de situações de risco.
20
A investigação destas situações de risco envolve essencialmente uma abordagem
ecológica do problema e a revalorização da aplicação do método descritivo como recurso
relevante para a produção de conhecimentos relativos aos problemas de saúde.
“A análise da distribuição das doenças e de seus determinantes nas populações no
espaço e no tempo é um aspecto fundamental da Epidemiologia” (MEDRONHO & PEREZ,
2003, p. 57).
Recentemente têm sido bem exploradas as perspectivas das análises que
consideram a distribuição espacial das doenças e de seus determinantes ambientais e sociais,
tanto pelas possibilidades trazidas por novas técnicas analíticas, tais como o
geoprocessamento e o processamento de imagens, como por uma maior abertura em relação à
incorporação de conceitos de outros campos do conhecimento aos marcos da epidemiologia,
como a geografia, o método da complexidade e a perspectiva ecossistêmica da saúde.
Mesmo a simples visualização de eventos de saúde em um mapa, a despeito de
seu aspecto “estático”, reflete de forma sintética processos históricos, geográficos e
ambientais que influenciam e são influenciados pela ação do homem (MEDRONHO &
PEREZ, 2003).
Tempo, lugar e pessoa, que constituem a tríade básica da epidemiologia
descritiva, são também o objeto da geografia, considerando-se que esta estuda a relação entre
sociedade e espaço (BARCELLOS, 2000). Muitas doenças possuem padrões geográficos bem
definidos e o seu mapeamento torna-se importante quando se considera a necessidade de
vigilância diante de epidemias. Assim, a determinação dos locais geográficos onde acontecem
ou podem vir a ocorrer os eventos epidemiológicos é fundamental tanto para contribuir na
identificação das causas de sua ocorrência como para propor ações capazes de evitá-las ou,
pelo menos, reduzí-las.
21
Com esse olhar, a questão central que nos move a realizar este trabalho é
descrever a distribuição espacial dos surtos de febre amarela silvestre ocorridos fora da
Amazônia Legal, nos últimos cinco anos, bem como as evidências de circulação do vírus
entre os hospedeiros primários. Com isso pretende-se buscar indícios que possam estabelecer
ligação com o conhecimento atual sobre os focos naturais da doença, bem como outros
modelos de explicação para o seu surgimento em curto espaço de tempo em áreas distantes da
sua região de transmissão conhecida.
1.2. Justificativa do estudo
A elaboração de propostas viáveis para o controle de febre amarela no Brasil deve
advir de dados quantitativos e qualitativos acerca da freqüência e distribuição espacial da
doença, sobretudo nas áreas não endêmicas. O Brasil tem a maior área enzoótica do mundo
para a febre amarela silvestre. Muitos fatores podem atuar no ciclo silvestre da doença
deslocando-a de seu foco natural, onde o vírus se propaga continuamente através de
hospedeiros primários, e contribuir para a expansão da área epizoótica além das áreas de risco
pré-estabelecidas.
O processo epizoótico em primatas não humanos que, em geral, torna possível a
ocorrência de casos humanos de febre amarela, encontra-se difundido atualmente para além
da Amazônia Legal e o mapeamento de casos humanos e epizootias pode permitir a
identificação das características do processo. As características dos doentes e dos locais de
transmissão onde ocorreram surtos podem contribuir para que se reconheça um padrão
epidemiológico distinto, tanto do observado na área endêmica da Amazônia Legal, como
daquele relativo a casos esporádicos, infectados durante contatos com vetores na floresta
durante atividades ocupacionais ou de lazer. Questões relacionadas ao agente hospedeiro, ao
vetor reservatório, bem como a seres humanos suscetíveis e infectados podem influir no perfil
22
epidemiológico da doença e ser responsáveis por surtos na dispersão do vírus da febre
amarela fora da Amazônia Legal.
Condições geográfico-ecológicas especiais determinam a concentração de
doentes, porém o controle biológico pelo homem por meio de vacinação e inseticidas, quando
indicados, pode contrabalançar o risco potencial da transmissão humana e de epidemias.
Identificar os padrões de distribuição da doença no tempo e espaço irá permitir
compreender melhor a complexa epidemiologia da transmissão da enfermidade.
1.3. Objetivos
1.3.1. Geral
Descrever os surtos e as características da febre amarela silvestre no Brasil no
período de 1999 a 2003, nas regiões fora dos limites da Amazônia Legal, e comparar as
características dos casos amazônicos com aqueles notificados nesta área, analisando a
reemergência de um padrão epizoótico-epidêmico.
1.3.2. Específicos
1.3.2.1. Revisar o conhecimento acumulado sobre a epidemiologia da febre
amarela no Brasil, com ênfase nas categorias relevantes para a caracterização do padrão
silvestre e a distribuição espaço-temporal do processo enzoótico-epizoótico.
1.3.2.2. Descrever as características epidemiológicas dos casos confirmados de
febre amarela silvestre que ocorreram fora da Amazônia Legal e compará-las com aquelas dos
casos registrados naquela região.
1.3.2.3. Descrever os surtos de febre amarela silvestre ocorridos durante a
dispersão do vírus fora da Amazônia Legal no período do estudo, com ênfase às
características ambientais dos focos.
23
1.3.2.4. Descrever a distribuição espacial das epizootias em primatas não humanos
suspeitas e confirmadas de febre amarela.
1.3.2.5. Propor a utilização dos resultados deste estudo para revisar o modelo de
vigilância e monitoramento da febre amarela, enfatizando o componente de vigilância de
epizootias em primatas não humanos, no Sistema Único de Saúde.
24
CAPÍTULO 2. REVISÃO DO CONHECIMENTO E DOS FUNDAMENTOS
TEÓRICOS
2.1. Aspectos históricos
Febre amarela é uma enfermidade hemorrágica viral aguda causada por um
arbovírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae. Sua apresentação clínica clássica
caracteriza-se por um quadro de insuficiência hépato-renal que pode levar à morte em até dez
dias por falência múltipla de órgãos.
Até recentemente, a história da procedência do vírus da febre amarela não era
considerada completamente esclarecida, por faltarem registros seguros que identificassem em
que parte do mundo foi originada, se na América Tropical ou na África Ocidental. Os que
defendiam a origem africana acreditavam que essa enfermidade teria sido trazida ao Novo
Mundo pelos navios que faziam o tráfico de escravos (CARTER, 1931; MONATH, 2001;
MCCARTHY, 2001). Franco (1969), em revisão histórica da febre amarela no Brasil, referese a vários estudiosos que procuraram dar sustentação a essa teoria: Pym (1815), Audouard
(1824), Scott (1939) e Faget (1859).
Esse mesmo autor faz referência a diversos episódios da “praga epidêmica” na
América Central durante os séculos XV e XVI. O primeiro deles foi em 1495, na ilha
Espanhola (Haiti), durante a segunda expedição de Cristóvão Colombo, logo após intensa
batalha travada entre os espanhóis e os indígenas. Uma epidemia com sintomas semelhantes
aos da febre amarela fez numerosas vítimas fatais. A partir de então, começaram a surgir
resenhas, notas e monografias referindo-se a uma doença epidêmica existente no Novo
Mundo, desconhecida na Europa (FRANCO, 1969).
Embora alguns pesquisadores tenham encontrado vestígios de surtos epidêmicos
provenientes das selvas que invadiam os povoados na civilização maia (BUSTAMANTE,
25
1958 APUD FRANCO, 1969) antes da chegada dos espanhóis em terras americanas, o
primeiro relato identificável é de um manuscrito maia de 1648, o qual descreve uma doença
epidêmica que cursava com vômito negro, em Yucatan, no México (CARTER, 1931).
Portanto, era provável que a febre amarela poderia ter se originado em qualquer um dos dois
continentes, considerando que ambos se abriram ao comércio europeu entre meados e final do
século XV e que as comunicações entre a América Tropical e a África Ocidental iniciaram
precocemente e passaram a ser regulares, proporcionando o intercâmbio de doenças
infecciosas (ARJONA, S.D)
Estudos recentes, utilizando técnicas de biologia molecular, possibilitaram
estabelecer relações filogenéticas entre as cepas circulantes nos dois continentes,
comprovando a origem africana do vírus (WANG ET AL., 1996; MUTEBI ET AL., 2001).
As cepas da África Ocidental mostraram-se semelhantes à cepa Asibi (Ghana27), a primeira
isolada no mundo, enquanto as demais – Centro Leste da África e cepas da América do Sul –
apresentaram deleção genótipo-específica de alguns nucleotídeos. Além disso, observou-se
duplicação de determinada seqüência nucleotídica dos vírus da África Ocidental. A árvore
filogenética sugeriu que a duplicação teria ocorrido após sua introdução nas Américas
(WANG ET AL., 1996).
Não obstante a comprovação da origem do vírus, o primeiro registro de epidemia
conhecido no continente africano data de 1778, ocorrido entre tropas britânicas em San Luís,
no Senegal, clinicamente descrito como a mesma doença das zonas tropicais das Américas
(HADDOW, 1968). A partir desse episódio, surtos da enfermidade passaram a ocorrer com
freqüência e alta gravidade (FRANCO, 1969; STRANO ET AL., 1975). No século XIX há
relatos de inúmeras epidemias na África Ocidental, a grande maioria delas no Senegal – em
número de 12 –, seguido de Serra Leoa – 6 epidemias –, Costa do Congo, Ilhas Canárias e em
vários outros países (VAINIO & CUTTS, 1998).
26
Repetidas vezes a febre amarela foi introduzida nos portos marítimos da Europa e
dos Estados Unidos através de navios infestados com mosquitos Aedes aegypti que garantiam
a transmissão entre os tripulantes (MONATH, 2003).
Na Europa, há relatos de surtos de febre amarela a partir de 1649, em Gibraltar, na
Espanha, para onde foi trazida por navios na rota da África para as Índias Ocidentais e,
posteriormente, em 1723, na cidade de Lisboa, em Portugal, de onde se espalhou para
Londres, na Inglaterra (VAINIO & CUTTS, 1998). Entretanto, a primeira epidemia
geralmente aceita na Europa ocorreu em 1730, em Cadiz, Espanha, com o registro de 2.200
mortes. Entre 1730 e 1878 surtos importantes ocorreram em Portugal, Espanha, França, Itália
e Inglaterra, dizimando populações e paralisando indústrias e comércios (STRODE, 1951;
VAINIO & CUTTS, 1998).
O continente americano foi palco de epidemias devastadoras em suas regiões
tropicais e subtropicais, fazendo com que a febre amarela se tornasse na doença mais temida
no decorrer dos séculos XVIII e XIX. As rotas comerciais entre as colônias da América do
Norte e das Índias Ocidentais propiciaram a introdução da febre amarela em terras norteamericanas, através de navios onde a água era armazenada em barris de madeira, os quais
serviam de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. O primeiro registro epidêmico teria
sido em 1668, tendo sido descrito como “particularmente destrutivo” nas cidades de Nova
York e Filadélfia (STRODE, 1951).
Epidemias de febre amarela atacaram os Estados Unidos repetidamente nos
séculos XVIII e XIX. No curso da história, a Filadélfia sofreu 20 epidemias, Nova York 15,
Boston 8 e Baltimore 7 (STRODE, 1951; WARREN, 1951 APUD FRANCO, 1969). No final
do século XVIII (1793), a cidade de Filadélfia, à época capital dos Estados Unidos, foi
atingida por uma das mais severas epidemias registradas no país, que vitimou 10% da
população (POWELL, 1949 APUD MONATH, 2003). A doença não era autóctone, as
27
epidemias eram importadas através de navios vindos do Caribe. Antes de 1822, a febre
amarela atacou cidades ao norte, como Boston, mas após esse ano ficou restrita ao sul.
Imigrantes brancos recém-chegados nas cidades portuárias do sul eram os mais vulneráveis
enquanto a população branca e negra local gozava de considerável resistência. Cidades
portuárias foram os primeiros alvos, mas ocasionalmente, nos anos 1800s, a doença se
espalhava até além do Rio Mississipi. As cidades de Nova Orleans, Mobile, Savannah e
Charleston foram as mais atingidas (PATTERSON, 1992).
Muitas outras cidades foram igualmente atingidas, mas a epidemia de febre
amarela com impacto mais devastador na história recente dos Estados Unidos, ocorreu em
1878, no Vale do Mississipi, levando a óbito cerca de 13.000 pessoas e causando uma perda
econômica de mais de 100 milhões de dólares (STRODE, 1951; MORRIS, 1995). A última
epidemia registrada nesse país foi em 1905, em Nova Orleans, com 8.399 casos e 908 óbitos
(SOPER, 1972; MONATH, 2003). Nesse mesmo ano foram identificados casos importados
de Nova Orleans em várias províncias de Cuba (CURBELO, 2000).
A febre amarela começou a atacar o território cubano em 1620. A partir de então,
principalmente do ano 1649, em que a epidemia foi mais extensa (mortalidade de
121,72/100.000 habitantes), a doença permaneceu entre as populações da ilha em forma
endemo-epidêmica, mantendo-se durante os séculos XVII, XVIII, XIX e início do século XX,
até o ano de 1909 (CURBELO, 2000).
A descoberta do vetor transmissor do temido vômito negro, o mosquito Stegomyia
fasciata (Aedes aegypti), pelo cientista cubano Carlos Finlay em 1881, confirmada pela
Comissão Reed em 1901, facilitou a execução das grandes medidas de saneamento ambiental
geral. Tais ações possibilitaram que já em 1909 não houvesse mais casos de febre amarela na
ilha, extinguindo-se um terrível flagelo que ocasionara milhares de mortes de espanhóis e
28
cubanos. Calcula-se que de 1850 a 1904 morreram em toda a ilha de Cuba 103.976 pessoas
por febre amarela (CURBELO, 2000).
A ocorrência da febre amarela no Caribe entre 1620 e 1900 foi documentada por
Scott (SCOTT, 1939 APUD LEWIS, 1991). Durante esse período a região foi devastada por
terríveis epidemias que se espalharam repetidamente através das ilhas causando perdas
enormes. No decorrer dos séculos XVIII e XIX a maioria das epidemias incidiu, com alta
mortalidade, em tropas européias e tripulações de navios em guerra no Caribe.
É digno de nota que em 1869, durante epidemia na ilha de Trinidad, há relato de
morte de macacos nos arredores das cidades afetadas em conseqüência da febre amarela
(KINGSLEY, 1871 APUD LEWIS, 1991). Porém, essa relação só foi estabelecida várias
décadas mais tarde em episódio de febre amarela silvestre ocorrido e documentado no Brasil
por Fred Soper (1933).
Na construção do Canal do Panamá, iniciada no final do século XIX pela França,
morreram milhares de trabalhadores, a maioria de febre amarela, malária, dengue e cólera. Em
1904, já sob a responsabilidade do governo americano, o presidente Theodore Roosevelt
incorporou a descoberta da Comissão Reed em seu plano de construção, pressupondo que a
febre amarela e a malária seriam o maior impedimento para a execução do projeto e que as
mesmas medidas antimosquito que haviam exterminado a febre amarela em Cuba e Estados
Unidos seriam igualmente efetivas no Panamá. Assim, as rigorosas medidas higiênicas e de
combate aos mosquitos possibilitaram a redução dos casos de malária e da taxa de
mortalidade por febre amarela (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1990).
Na América do Sul, a febre amarela que seguiu a rota do Atlântico em 1849,
começando no Rio de Janeiro e estendendo-se para o sul, não chegou ao Chile, porém atingiu,
em 1857, Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina (LAVAL, 2003).
29
Na segunda metade do século XIX, uma grande epidemia de febre amarela
propagou-se por todo o litoral das Américas e estendeu-se pela costa do Oceano Pacífico, do
México ao Peru. No Atlântico, alastrou-se até o Porto de Santos, Brasil. Fora do litoral, a
doença penetrou na Bacia Amazônica. A gravidade sanitária daquele momento pôde ser
traduzida pela situação da cidade de Buenos Aires que, em 1871, vivenciou a maior epidemia
de febre amarela de sua história sanitária (SABATTINI ET AL., 1998); a doença atingiu
13.761 pessoas, dizimou grande parte da população e foi responsável pelo esvaziamento da
cidade, expulsando os sobreviventes para outras regiões.
Posteriormente, a febre amarela não poupou nenhum país na América do Sul, nem
mesmo o Chile. Embora os relatos sobre a existência da doença nesse país sejam
contraditórios, em 1912 foi documentado um surto de grandes proporções em Tocopilla, que
registrou 1.101 casos e 394 mortes, para onde o vírus teria sido levado pelo vapor britânico
"Condor" procedente de Guayaquil, no Equador. As medidas profiláticas estabelecidas contra
o mosquito Aedes aegypti obtiveram resultados rápidos e positivos, pois possibilitaram sua
completa erradicação de todos os lugares em que prevalecia e, desde então, não se voltou a
apresentar um único caso de febre amarela no Chile (LAVAL, 2003).
Em anos recentes ocorreram surtos na América Central, em 1950-1957, e em
Trinidad, em 1954, quando foram registrados os últimos casos de febre amarela urbana na
região do Caribe (WHO, 1971; LEWIS, 1991).
A primeira epidemia descrita no Brasil data de novembro de 1685, no Recife,
Pernambuco, sendo a hipótese mais aceita ter sido trazida em barco procedente de São Tomé,
na África, que teria feito escala em São Domingo, nas Antilhas, onde a enfermidade dizimava
a população (FRANCO, 1969; TEIXEIRA, 2001).
A agressividade do comportamento da doença nessa capital pode ser deduzida de
relatos históricos da época, os quais mostraram que entre 25 de dezembro e 10 de janeiro
30
foram sepultadas no Recife quase seiscentas pessoas (PIMENTA, 1708 APUD FRANCO,
1969). Dentre os aspectos positivos demandados por essa epidemia, destacam-se a primeira
campanha profilática posta em prática, oficialmente, no Novo Continente e o primeiro livro
sobre febre amarela escrito no Brasil, o “Tratado Único da Constituição Pestilencial de
Pernambuco”, ambos da autoria do médico português João Ferreira da Rosa.
A febre amarela permaneceu no Recife pelo menos por dez anos, apresentando-se
em caráter esporádico e, às vezes, recrudescendo na época do inverno. Em 1686, irrompeu em
Salvador, Bahia, havendo relatos de sua presença no estado até meados de 1692, período em
que cerca de 25.000 pessoas adoeceram e 900 morreram (FRANCO, 1969).
Seguiu-se um longo período de silêncio epidemiológico no país que durou cerca
de 150 anos, sugerindo que as epidemias não teriam ocorrido, pelo menos de forma
significativa (FRANCO, 1969; AMARAL & TAUIL, 1983).
Tal silêncio foi rompido pela sua re-emergência no porto de Salvador, em 1849.
Desta vez, manifestou-se dias após a chegada de um navio americano procedente de Nova
Orleans, com escala em Havana, ambas as cidades infectadas pela doença. A partir da Bahia,
propagou-se para o norte e para o sul do país, surgindo, a princípio, nas cidades litorâneas e
avançando posteriormente para o interior, atingindo dezesseis províncias do Império no
período compreendido entre 1849 e 1861.
Embora haja referências anteriores sobre a ocorrência de febres com “icterícia
preta” (1811) e “febres biliosas” (1813) na cidade do Rio de Janeiro (FRANCO, 1969),
considera-se que a capital federal tenha sido atingida pela primeira vez em dezembro de 1849,
após a chegada da barca americana “Navarre”, procedente do porto de Salvador.
Instalou-se ali uma epidemia de grande vulto que se disseminou por toda a cidade
e, durante os nove meses que se seguiram acometeu, aproximadamente, 90.658 pessoas, com
31
4.160 casos fatais, numa população de 166.000 habitantes. O caos sanitário que se instalou na
capital do país foi fator determinante para uma ação governamental enérgica. Assim, em
fevereiro de 1850 a febre amarela se estabeleceu como problema de saúde pública, quando
foram formalizados instrumentos legais específicos “para prevenir e atalhar o progresso” da
doença (AVISO Nº 10, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1850), tais como: avisos, providências,
regulamento sanitário e outras medidas de caráter coletivo e de disciplina dos espaços urbanos
(FRANCO, 1969; BENCHIMOL, 2001).
Debelada a epidemia, possivelmente casos esporádicos continuaram a ocorrer,
pois há relatos da disseminação da doença para outros países a partir do porto do Rio de
Janeiro: para as cidades portuguesas do Porto (1851 e 1856) e Lisboa (1857), para
Montevidéu e Buenos Aires (1857). Na capital federal a doença encontrou condições
adequadas para permanecer por 59 anos, contabilizando 58.063 óbitos nesse período
(FRANCO, 1969).
O início do século XX foi marcado pela descoberta do modo de transmissão da
febre amarela. Em janeiro de 1901, antes mesmo de William Gorgas iniciar o controle do
Aedes aegypti nas ações contra a febre amarela em Havana, Emílio Ribas, diretor do Serviço
Sanitário do Estado de São Paulo, deflagrava a primeira campanha contra o mosquito na
cidade de Sorocaba. Outros trabalhos exitosos foram empreendidos em outras cidades
paulistas, porém a campanha contra a enfermidade no Rio de Janeiro, de 1903 a 1907, foi
considerada uma das páginas gloriosas da medicina brasileira, que consagrou o nome de
Oswaldo Cruz e projetou o Brasil no cenário internacional (ALMEIDA, 2000; REZENDE,
2001).
Decorridos dez anos dessa obra gigantesca, o Rio de Janeiro vivenciou novamente
uma grande epidemia urbana, entre maio de 1928 e setembro de 1929, a última registrada no
Brasil, que computou 738 casos e 478 óbitos, com uma taxa de letalidade de 64,8%. A
32
ocorrência dessa epidemia revelou a dificuldade de se manter serviços permanentes contra o
Aedes aegypti, pois não era possível garantir um bom nível de eficiência sem os recursos
necessários, que eram retirados quando terminada a ameaça imediata das epidemias
(FRANCO, 1969).
A Fundação Rockfeller, criada em 1913, desempenhou importante papel nos
países afetados pela febre amarela, com os quais se comprometeu a colaborar na erradicação
da doença. Sua atuação junto ao governo brasileiro iniciou-se em 1923. A base dos trabalhos
da Fundação era a teoria dos chamados “focos-chave”, que consistia na eliminação dos locais
onde procriava o Aedes aegypti em alguns centros endêmicos. Segundo essa teoria, uma vez
eliminadas as condições de procriação do vetor no foco principal, este se extinguia e a febre
amarela desapareceria espontaneamente das cidades e aldeias circundantes. E, para isso, não
seria necessária a eliminação completa das larvas do mosquito, mas apenas uma redução de
sua densidade a níveis iguais ou inferiores ao “índice crítico” de 5% (FRANCO, 1969).
Os resultados positivos da estratégia adotada pela Fundação puderam ser
observados imediatamente após a realização das primeiras campanhas de saneamento em
centros endêmicos, como Recife, Manaus e Salvador, nos quais a doença ia se extinguindo e
desaparecendo espontaneamente das aldeias ligadas a esses centros. Todavia a teoria dos
“focos-chave” logo se mostrou inadequada diante dos constantes relatos de casos em
comunidades rurais e reintroduções da doença nas cidades onde havia sido eliminada. Em
1930, sob o comando de Fred Soper, a Fundação Rockfeller adotou nova estratégia de ação
antivetorial visando à erradicação do Aedes aegypti, por meio de uma rigorosa organização
hierárquica do serviço, do tipo piramidal. Com essa estrutura, em 1933, os métodos adotados
conduziram à erradicação do mosquito em uma série de cidades brasileiras, muito antes da
introdução do DDT (BENCHIMOL, 2001).
33
Nesse ínterim, foi descoberto o ciclo silvestre da doença, em 1932, no Vale do
Canaã, Estado do Espírito Santo (SOPER, 1933). O fato teve repercussões de caráter
epidemiológico seríssimas, pois significou a derrota do sonho brasileiro e da própria
Fundação Rockfeller de erradicação da febre amarela, uma vez que os métodos de combate ao
vetor urbano não poderiam ser empregados para combater os vetores silvestres. Impôs-se,
então, uma revisão dos conceitos vigentes sobre a epidemiologia da enfermidade, obrigando
os pesquisadores a reavaliar o problema de prevenção da modalidade urbana. Ao mesmo
tempo, a febre amarela das matas passou a ser objeto de intervenções visando ao seu controle
por representar uma ameaça permanente para os povoados e cidades.
Nessa época, no período de 1934 a 1940, foi documentado o primeiro e maior
surto de febre amarela silvestre no Brasil, com a ocorrência também de casos em áreas
urbanas. Registraram-se 1.038 casos da forma silvestre e 21 urbanos, atingindo nove estados:
Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e Espírito Santo, alcançando inclusive o Paraguai e parte da Província de
Missiones, Argentina (BARRETO, 1949; FRANCO, 1969; SOPER ET AL, 1972; BANCO
DE DADOS DO PVCFA).
Era de consenso geral que para evitar epidemias urbanas provocadas por surtos
silvestres seria necessário erradicar o Aedes aegypti. Neste sentido, em 1934, o Serviço
Nacional de Febre Amarela passou a por em prática a estratégia de erradicação do mosquito,
vindo a ser adotada oficialmente pelo Governo do Brasil somente em 1942.
Exceção feita a dois surtos ocorridos em 1937 e 1938, respectivamente, nos
estados de São Paulo e Santa Catarina, nos anos que se seguiram à implantação das medidas
anti-aedes observou-se uma redução gradativa dos casos urbanos, até seu desaparecimento a
partir de 1939. Reapareceu em 1942 no território do Acre, onde três casos ocorreram na
pequena cidade de Sena Madureira, conseqüentes a um surto silvestre na zona rural. Desde
34
esse episódio, não mais se registraram casos de febre amarela urbana em território brasileiro
(FRANCO, 1969; TAUIL, 1998).
Em 1947 tornaram-se conhecidas as propriedades inseticidas e larvicidas do DDT,
cuja ação residual o elegeu como arma estratégica eficaz na luta contra o Aedes aegypti,
aliado ao petróleo, já de uso corrente. Assim, o objetivo da erradicação, considerado
impossível, dada a grande extensão geográfica do país e a ampla dispersão do vetor em todos
os estados e territórios, foi alcançado e reconhecido pela Organização Sanitária PanAmericana durante a XV Conferência Sanitária Pan-Americana realizada em Porto Rico, em 2
de outubro de 1958 (FRANCO, 1969).
O impacto do programa brasileiro não passou despercebido aos países
empenhados na luta antiaédica, muitos dos quais já adotavam os métodos aqui utilizados
(FRANCO, 1969). Em 1947, antes mesmo da certificação do Brasil, a Organização Sanitária
Pan-Americana aprovou um plano de erradicação continental do Aedes aegypti, que resultou,
em 1962, na sua eliminação em 18 países do continente americano (OPAS, 1966; TAUIL,
1998).
O sucesso obtido foi prejudicado pelo fato de alguns países do continente não
terem aderido ao plano, o que possibilitou a reinfestação de vários dos que haviam logrado
sua erradicação (TEIXEIRA & BARRETO, 1996). No Brasil, em 1967, o mosquito foi
detectado na cidade de Belém, vindo a ser eliminado em 1973 (AMARAL & TAUIL, 1983).
Posteriormente, em 1976, foi encontrado na área portuária de Salvador, de onde se dispersou,
gradativamente, para outros estados. Atualmente, os registros do Ministério da Saúde, de
agosto de 2003, assinalam sua presença em 3.794 municípios brasileiros, situação que causa
preocupação devido ao risco de ocorrência de casos urbanos de febre amarela.
35
2.2. Situação do problema no Brasil após 1950
Todos os anos, África e América do Sul notificam casos à Organização Mundial
de Saúde. Recentemente, no período de 1990 a 1999, foram notificados na África 11.297
casos e 2.648 óbitos, sendo a Nigéria o país com maior ocorrência. No mesmo período, a
América do Sul notificou 1.939 casos e 941 óbitos, distribuídos em sete países, sendo que
Peru, Bolívia e Brasil, foram, nessa ordem, os países com maior número de casos. Entretanto,
estima-se que o número real seja pelo menos 10 vezes maior (MONATH, 2001) ou mesmo
500 vezes maior que o dos dados oficiais (WHO, 1986, 1990, 2005).
No Brasil, a partir de 1950 até 2003, foram investigados e confirmados 1.240
casos de febre amarela, todos considerados de transmissão silvestre, levando em conta o local
provável de infecção (BANCO DE DADOS DO PVCFA/MS).
Na Figura 1 está representada a evolução histórica do processo epidêmico nesse
período.
Figura 1. Número de casos de febre amarela e doses de vacina aplicadas. Brasil, 1950 a 2003.
36
Observa-se que até 1997 a incidência de casos apresentava uma certa
regularidade, com epidemias sugerindo um padrão cíclico de cinco a sete anos, alternados por
períodos com pequena ocorrência de casos. Entretanto, a partir de 1998 esta tendência se
modificou, com aumento progressivo do número de casos, ao mesmo tempo em que se
observaram modificações de caráter espacial no perfil epidemiológico de ocorrência. Durante
os anos de 1999 e 2000 houve um deslocamento para o sul e para o leste que permaneceu em
2003, à medida que iam ocorrendo surtos e epidemias que extrapolavam as áreas de risco préestabelecidas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; VASCONCELOS ET AL., 2003).
Esse
comportamento
parece
sugerir
uma
reemergência
da
doença,
semelhantemente ao que se observou a partir de 1995 no Peru e na Bolívia, países vizinhos ao
Brasil com os quais compartilhamos ecossistemas. Nesses países houve uma intensificação da
circulação viral acompanhada de alta letalidade, mostrando uma reemergência não esperada
(ROBERTSON ET AL., 1996; GUBLER, 2004).
Nesse período de 53 anos algumas epidemias merecem destaque, quer pelo grande
número de casos registrados, quer pela abrangência no território nacional. Entre fins de 1950
e meados de 1953 uma epidemia que teve início em Goiás disseminou-se no Estado,
registrando-se atividade viral em 16 municípios, propagando-se para Minas Gerais, onde
atingiu 26 municípios. Seguiu para Mato Grosso, afetando 12 municípios, e depois para São
Paulo, onde se disseminou amplamente para 39 municípios, não tendo havido transmissão
apenas nas regiões leste e sul do território paulista. No caminho para o sul do país alcançou o
Paraná, onde se estancou após deixar um saldo de 46 casos em 13 municípios. Ao final do
período, foram contabilizados 310 casos, dos quais 129 (42%) ocorreram no Estado de São
Paulo, 68 em Minas Gerais, 46 no Paraná, 43 em Goiás e 24 em Mato Grosso. Casos isolados
foram detectados também no leste da Bahia, leste do Maranhão e no Acre (FRANCO, 1969;
BANCO DE DADOS DO PVCFA/MS). Cabe destacar que só eram aceitos como casos da
37
doença aqueles confirmados no laboratório, com o exame de amostras de fígado obtidas por
viscerotomia, portanto é provável que o real número de casos tenha sido muito superior aos
registros existentes, já que nem todos evoluem para o óbito e muitos podem ter ocorrido em
áreas longínquas, não alcançáveis pelos serviços de viscerotomia. Ainda assim, expressa a
força de transmissão do vírus da febre amarela, cujo padrão epidêmico só voltou a se repetir
cerca de 50 anos depois.
A partir daí, o país vivenciou a ocorrência de epidemias de menor magnitude, mas
nem por isso menos relevantes. Em 1973, uma epidemia em Goiás, com 60 casos
confirmados, envolveu 36 municípios na transmissão (PINHEIRO ET AL., 1978). Na década
seguinte, em 1984, uma epidemia na Região Norte deixou um saldo de 45 casos, com 64,4%
deles no Pará (TRAVASSOS DA ROSA ET AL., 1984). Em 1993, foram registrados 83
casos no país, dos quais, 74 (89,1%) no Maranhão (VASCONCELOS ET AL., 1997a).
Na virada do século, entre os anos de 1998 e 2003, observou-se a repetição do
processo epizoótico-epidêmico continental dos anos 50. Uma epidemia de grandes proporções
teve lugar no Centro Oeste, particularmente nos estados de Tocantins e Goiás, provavelmente
como parte de uma onda que teve como ponto de partida a Região Norte, no início de 1998.
De Goiás disseminou-se para o nordeste e atingiu o oeste da Bahia e no sentido oeste
alcançou o Estado de Mato Grosso. Em sua marcha para o sudeste passou por São Paulo,
atingindo dois municípios na fronteira com Minas Gerais. Neste Estado ocorreram dois surtos
explosivos em diferentes regiões, em anos consecutivos. Não houve detecção de casos
humanos nos estados do Sul, porém foram registradas epizootias no Paraná e no Rio Grande
do Sul. À exceção de São Paulo e Distrito Federal, em todos os estados com ocorrência de
casos da doença houve registro de morte de primatas não humanos associadas ao vírus da
febre amarela. Nesse percurso o vírus amarílico atingiu as cinco regiões brasileiras e nos
estados citados deixou um saldo de 315 casos, dos quais 98 ocorreram em Minas Gerais, 64
38
em Goiás, 64 no Pará, 22 em Tocantins, 20 em Mato Grosso, 18 no Amazonas, 13 em
Roraima, 10 na Bahia e seis casos isolados em São Paulo, Distrito Federal, Acre e Rondônia
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; VASCONCELOS ET AL., 2003; BANCO DE DADOS
DO PVCFA/MS).
Em todas as situações epidêmicas dos últimos 50 anos o impacto do uso da vacina
contra febre amarela foi bastante evidente, resultando na rápida redução do número de casos
(Figura 1). A produção da vacina no Brasil iniciou-se em 1937 (cepa 17 DD, procedente da
amostra africana Asibi) e nesse mesmo ano foi usada pela primeira vez em maior escala,
durante um surto de febre amarela ocorrido em municípios de Minas Gerais recém-infectados
pela febre amarela silvestre. A vacinação começou no mês de junho, em Varginha,
principalmente em trabalhadores rurais das plantações de café, estendendo-se, posteriormente,
para Lavras, Três Corações e Três Pontas, para toda a população a partir de dois anos de
idade. Até o final daquele ano foram vacinadas 38.077 pessoas (FRANCO, 1969;
BENCHIMOL, 2001).
A partir de 1946, quando foram delimitadas pela primeira vez as duas “zonas
endêmicas” para febre amarela no Brasil – a área endêmica, que se estendia por toda a
Amazônia e incluía os municípios de Ilhéus e Itabuna, da zona cacaueira da Bahia e a área
epidêmica, abaixo desse limite (BRASIL, 1950) –, a vacina passou a ser utilizada na área
endêmica ou enzoótica, de forma sistemática a cada cinco anos, às vezes em campanhas de
vacinação em massa ou mesmo como intensificação da vacinação de rotina. Em todos esses
anos tem sido comprovado que quando adequadamente aplicada, impede a transmissão
humana, sendo, portanto um meio eficaz para prevenir a doença.
Em abril de 1991, com a criação da Fundação Nacional de Saúde, a execução das
atividades de vacinação passou a ser de responsabilidade do Programa Nacional de
Imunizações (PNI). As estratégias para a operacionalização passaram a ser estabelecidas em
39
conjunto com a Gerência Técnica de Febre Amarela e Dengue, incluindo: vacinação regular,
por equipes móveis, campanhas de multivacinação, campanhas de intensificação e vacinação
de bloqueio. A idade para iniciar a vacinação foi estabelecida recentemente para os 9 meses
de idade (PORTARIA 597/MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE 08 DE ABRIL DE 2004).
2.3. Marcos conceituais
2.3.1. A espacialização do processo enzoótico-epizoótico da febre amarela
A vinculação de problemas de saúde pública com o meio ambiente tem sido
referenciada desde os tempos antigos e aparece em quase todos os tratados da medicina desde
Hipócrates (WISLOW, 1967).
Entretanto, somente na terceira década do século XX a compreensão da relação
entre o espaço como totalidade organizada e a ocorrência de doenças adquire maior
materialidade, a partir dos estudos desenvolvidos por Pavlovsky sobre os processos de
transmissão de doenças, mais especificamente das doenças transmitidas por vetores, em 1939,
na União Soviética (PAVLOVSKY, 1989; CZERESNIA & RIBEIRO, 2000).
Pavlovsky estabeleceu o conceito de foco natural das enfermidades, relacionandoo com uma paisagem geográfica específica, modificada ou não por ação antrópica, delimitada
por certas comunidades bióticas, que apresentam as condições favoráveis para a circulação de
agentes. A paisagem do foco é concebida como uma categoria epidemiológica, com suas
características relacionadas àquelas do ecossistema local (SILVA, 1997).
Na lógica de Pavlovsky, hospedeiros animais, vetores e agentes patogênicos são
todos membros de uma patobiocenose associada a um território geográfico particular
(PAVLOVSKY, 1989). Nesse ambiente a doença circula entre animais, aos quais os agentes
patogênicos são transmitidos por vetores, especialmente artrópodes. O homem não é um
elemento essencial desse foco natural, porém, eventualmente sua ação nesse espaço pode
40
resultar em desequilíbrio e, em conseqüência, na eliminação ou amplificação da extensão do
foco e de seu potencial para reprodução dos parasitas e produção de doenças. (ROSICKY,
1967).
Quando isso ocorre, ou seja, quando o homem passa a ocupar os focos naturais,
“esta (a doença) passa a ter como que uma personalidade própria e se incorpora no contexto
ecológico, sendo vista como parte integrante do ecossistema.” (SILVA, 1997:589).
Embora Pavlovsky tenha trazido uma nova conotação de espaço enquanto lugar de
transmissão de parasitas, como foi mencionado por Silva e reforçado por Czeresnia &
Ribeiro, existem limitações em sua teoria, na medida em que não explica o comportamento de
uma doença quando ela transcende o seu meio natural e se incorpora a uma sociedade humana
(SILVA, 1997; CZERESNIA & RIBEIRO, 2000).
O desenvolvimento dos fundamentos da teoria de focos naturais permitiu a
realização de vários estudos posteriores para explicar os processos de produção das doenças.
Rosicky aprofundou a discussão sobre a estrutura biótica do foco natural mostrando sua
estreita conexão com a estrutura espacial. Esta consiste na distribuição espacial dos
componentes dos ciclos e na composição de ecossistemas específicos, com as relações
biocenóticas importantes para a formação e existência de um foco natural. Segundo este autor,
o agente patogênico não se distribui de forma homogênea no território; em algumas partes sua
existência depende da densidade populacional de reservatórios e vetores, o que a torna
limitada por um certo tempo, enquanto que em outras partes as condições são mais adequadas
para manutenção e permanência do agente por um longo tempo (ROSICKY, 1967).
Este ponto nos remete ao conceito de nosoárea apresentado por Sinnecker, que
corresponde àquela unidade espacial onde o agente infeccioso é mantido permanentemente e
fatores ecológicos e sociais são precondições da ocorrência de enfermidades. Estas são
distribuídas de formas distintas nos territórios e as atividades humanas nestes espaços podem
41
promover ou inibir o desenvolvimento de doenças. Para este autor, o processo infeccioso
(epidêmico-epizoótico) é um sistema multifatorial que envolve elementos básicos
(hospedeiros, reservatórios, processo de transmissão e suscetibilidade da população) e fatores
geográficos, ecológicos e sociais que atuam como “ativadores” desses elementos
(SINNECKER, 1976).
Uma outra proposta relativa aos estudos das relações entre espaço e saúde foi
formulada paralelamente por um geógrafo francês, na metade do século XX.
A teoria do complexo patogênico de Maximilian Sorre surgiu nos anos 1940
englobando, além dos elementos citados por Pavlovsky – hospedeiros, agente patogênico e
seus vetores –, todos os seres que condicionam ou comprometem sua existência (SORRE,
1947). Esse autor procurou trabalhar a importância da ação humana na formação e na
dinâmica do complexo patogênico. Portanto, a compreensão desse complexo deve ser
apreendida no conjunto de três planos onde se desenvolve a atividade humana: na geografia –
plano físico – nas ciências sociais e nas ciências biológicas (BARRETO, 2000; LEMOS &
LIMA, 2002).
As contribuições brasileiras no campo da Geografia Médica tiveram a sua origem
no higienismo e na proximidade cultural do país com a França, num período de intensas
mudanças marcadas pelo fim da escravidão e do Império. Limitavam-se ao estudo da
distribuição geográfica de certas doenças transmissíveis e de seus vetores, principalmente a
febre amarela. A partir do final do século XIX, a reforma sanitária se impôs nas cidades
brasileiras, constituindo-se em experiências urbanísticas que visavam ao controle das
epidemias. Médicos e engenheiros sanitaristas, que se colocaram à frente na tarefa de sanear o
espaço urbano, conferiram enorme prestígio aos estudos geográficos, que se consolidaram
como um dos principais discursos ideológicos de parcelas significativas da elite intelectual
brasileira (BENCHIMOL, 2001).
42
Posteriormente, com o desenvolvimento da tradição da Medicina Tropical, o
pensamento de Pavlovsky e Sorre, principalmente do primeiro, orientou discussões e
fundamentou bases conceituais em geografia médica na América Latina. No Brasil, Samuel
Pessoa (1978) ao estudar as endemias tropicais, especialmente as transmitidas por vetores,
afirmou que:
O meio geográfico cria, indiscutivelmente, condições constantes e necessárias para a incidência e
propagação de inúmeras moléstias reinantes nos trópicos e, principalmente em relação às doenças
metaxênicas... como por exemplo, a malária, a febre amarela, as filarioses transmitidas por
mosquitos, a esquistossomose por moluscos. (Pessoa, 1978:151).
Ainda na década de 1970, mas no contexto do projeto desenvolvimentista do
Governo Militar Brasileiro, a questão da distribuição geográfica das doenças foi considerada
de interesse estratégico.
Para Lacaz (1972), no seu Introdução à Geografia Médica no Brasil,
Quando se estuda uma doença, principalmente as metaxênicas (doenças que possuem um
reservatório na natureza e um vetor biológico no qual se passa uma das fases do ciclo evolutivo do
agente infectante), sob o ângulo da Geografia Médica, devemos considerar, ao lado do agente
etiológico, do vetor, do reservatório, do hospedeiro intermediário e do Homem suscetível, os
fatores geográficos representados pelos fatores físicos (clima, relevo, solos, hidrografia, etc.),
fatores humanos ou sociais (distribuição e densidade da população, padrão de vida, costumes
religiosos e superstições, meios de comunicação) e os fatores biológicos (vidas vegetal e animal,
doenças predominantes, grupos sanguíneos da população, etc. (Lacaz, 1972:1).
Mais recentemente, a tradição dos estudos das relações entre espaço e saúde, na
perspectiva da epidemiologia social foi retomada quando pesquisadores da área da saúde
(CARVALHEIRO, 1983; SILVA, 1986) procuraram articular os modelos ecológicos da
Medicina Tropical com o conhecimento teórico e metodológico da geografia crítica, a partir
da leitura dos textos de Milton Santos (SANTOS, 1980, 2002).
43
Novas propostas de análises da espacialização dos processos endêmicoepidêmicos procuraram articular as análises da dinâmica dos processos de produção de
doenças e a construção social do espaço (SABROZA ET AL, 1992; SILVA, 1997; COSTA &
TEIXEIRA, 1999).
A utilização das categorias do espaço no campo da saúde tem também sido
facilitada com a incorporação de novas ferramentas, como a cartografia e geoprocessamento
(BARCELLOS, 2000) e vem contribuindo para identificar padrões de distribuição de eventos
que ocorrem no tempo e no espaço. Desta maneira, esse arsenal tecnológico abre novos
caminhos para incrementar o potencial descritivo e analítico da epidemiologia dos processos
enzoótico-epizoóticos.
A febre amarela se encaixa nos moldes dessas discussões. Nos últimos cinco anos
a atividade do vírus amarílico tem se manifestado de forma intensa no Brasil, com reativação
ou ativação de novos focos da doença em áreas silenciosas há cerca de meio século,
instigando cientistas a teorizarem sobre a possibilidade de explosões de focos múltiplos
(VASCONCELOS ET AL., 2001a).
Do mesmo modo, o reaparecimento da febre amarela nos anos 1930 em diversas
colônias africanas distantes umas das outras e sem conexão entre elas, das quais a doença
desaparecera na década de 1920, havia sido explicado pela persistência de foco natural latente
(LEAGUE OF NATIONS, 1932).
Seguindo a teoria de Sorre, Bejarano desenvolveu em 1971 modelos de
complexos patogênicos das doenças transmissíveis, incluindo a febre amarela. Segundo esse
autor, o complexo patogênico da febre amarela pode expressar-se em uma forma geral, que
compreende os elementos, fatores ou condições abióticas e bióticas necessárias para que a
doença ocorra ou não; pode se expressar ainda em formas especiais, que compreendem os
elementos, fatores ou condições que concorrem para a sua apresentação em diferentes regiões,
44
zonas e localidades, de acordo com os elementos que compõem a paisagem. Em qualquer
forma que se apresente, o conhecimento de sua dinâmica e da maneira como se estruturam
permite assinalar em que elo da transmissão do agente patogênico se pode atuar com o
conhecimento científico e a tecnologia disponível para desintegrá-los e assim proteger o
homem (BEJARANO, 1971).
2.3.2. Características do ciclo básico da febre amarela
Os aspectos epidemiológicos e ecológicos da febre amarela são diferentes nos dois
continentes onde ocorre. Na África, identificam-se três níveis de transmissão: silvestre, rural e
urbano, envolvendo diferentes espécies de mosquitos do gênero Aedes, zonas ecológicas e
padrões de chuvas distintos (VAINIO & CUTTS, 1998; VASCONCELOS, 2003).
Nas Américas, o vírus da febre amarela foi mantido em dois ciclos de
transmissão: urbano, ausente desde os anos 50, no qual o vírus é transmitido de um
hospedeiro humano para outro através da picada da fêmea infectada do mosquito Aedes
aegypti; e silvestre, que permanece ativo em vários países. Este é uma zoonose típica que
ocorre nas selvas, onde os hospedeiros naturais são primatas não humanos, os quais
desempenham o papel de amplificadores e disseminadores do vírus (HERVÉ ET AL., 1985;
DEGALLIER ET AL., 1992; MONDET ET AL., 1996); os vetores são mosquitos silvestres,
principalmente os dos gêneros Haemagogus – em especial o Hg. janthinomys, no Brasil – e
Sabethes, que desempenham o papel de reservatórios para o vírus (HERVÉ ET AL, 1985;
VASCONCELOS, 2003). Essas espécies são fortemente primatofílicas e também
antropofílicas, têm atividade diurna, especialmente nas horas de maior luminosidade e mais
quentes do dia, sendo mais abundantes nas copas das árvores, lugar preferencial dos macacos
(HERVÉ & TRAVASSOS DA ROSA, 1983). O homem entra nesse ciclo, acidentalmente, e
esse contato ocasional propicia o surgimento de casos de febre amarela silvestre, quase
45
sempre esporádicos e, às vezes em forma de pequenos surtos conseqüentes à migração de
pessoas não imunes (VASCONCELOS ET AL., 2001b; VASCONCELOS, 2003).
O descobrimento do ciclo silvestre estimulou investigações em vários países que,
entre outras contribuições, levaram ao reconhecimento do padrão cíclico envolvendo macacos
e mosquitos silvestres. A suscetibilidade dos macacos ao vírus da febre amarela testada em
laboratório foi comprovada em todas as espécies estudadas (SOPER, 1942; STRODE, 1951),
em maior ou menor grau, entretanto nem todas têm a mesma importância na manutenção do
ciclo silvestre, em razão de hábitos e distribuição geográfica. É o caso do Saimiri, Cebus e
Aotus, todos da Família Cebidae (WHO, 1971; STRANO ET AL., 1975).
O primeiro é suscetível, apresenta alta letalidade, mas é encontrado apenas ao
norte na América do Sul e na Amazônia brasileira, fato que não permite a propagação da
doença no continente. O macaco Cebus, vulgarmente conhecido como “macaco prego”, é
amplamente distribuído no território brasileiro, não sendo encontrado apenas no Rio Grande
do Sul, mas parece ter um papel secundário como hospedeiro no ciclo; o aumento do número
de macacos desta espécie em relação a outras espécies em áreas recém-afetadas por febre
amarela fala a favor de sua relativa imunidade ao vírus.
O Aotus ou “macaco da noite”, embora habite as bacias dos rios Amazonas,
Orinoco e Madalena – os grandes focos sul-americanos do vírus amarílico – tem hábitos
noturnos e dorme de dia em ocos de árvores, o que dificulta o contato com os mosquitos,
cujas atividades são exclusivamente diurnas. No entanto, por ser muito suscetível ao vírus,
pode contribuir para a manutenção do ciclo em áreas onde não existam outros primatas
(STRANO ET AL., 1975).
Ao contrário destes, o Ateles ou “macaco aranha” e, em especial, o Alouatta,
conhecido como “macaco berrador” ou “guariba”, ambos da Família Atelidae, desempenham
papel importante na manutenção da febre amarela silvestre. Este último tem ampla
46
distribuição nas Américas, sendo encontrado desde a Argentina até o sul do México e é
altamente suscetível ao vírus da febre amarela. Sua função no ciclo silvestre é tão dominante
que o repentino silêncio nas matas serve de sinal aos habitantes para a circulação do vírus
amarílico (STRANO ET AL., 1975).
2.3.3. Padrão de dispersão espaço-temporal do processo enzoótico-epizoótico
Tem sido possível acompanhar o processo geográfico de certas epidemias através
do traçado de mortes desses animais. Um exemplo foi o que ocorreu no Brasil, durante a
epidemia de 1934 até 1940 (Figura 2), quando o vírus amarílico se deslocou desde o Estado
de Mato Grosso até Santa Catarina e Espírito Santo através de sete ondas epizoóticoepidêmicas anuais sucessivas (SOPER, 1942; TAYLOR, 1951; HERVÉ & TRAVASSOS DA
ROSA, 1983).
Figura 2. Provável rota da disseminação da onda epizoótico-epidêmica de febre amarela no
Brasil, de 1934 a 1940 (Foto FR (SFA-EC) 12-5 de A. Fialho. Pesquisa no Arquivo da Casa de Oswaldo
Cruz realizada por Rose Olyveira e Jean Maciel).
Importante destacar que, como relata Pessoa (1949), citando Soper (1942), a
epidemia além de atingir estados do Centro Oeste e do Sul, estendeu-se até o Sudeste,
47
incluindo os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mostrando o potencial
do complexo patogênico de se expressar no bioma Mata Atlântica.
Posteriormente, na América Central, no final da década de 1940 até meados dos
anos 1950, uma onda epizoótica provavelmente originada dos focos colombianos, em
novembro de 1948, contaminou bandos de macacos Alouatta suscetíveis à oeste do Canal do
Panamá, cruzou essa barreira em 1950 e atravessou a América Central nos seis anos que se
seguiram (BOSHELL, 1957; SMITH, 1971; OMS, 1974), fazendo um percurso de 1.200 km
(Figura 3).
Figura 3. Progressão da onda epizoótica na América Central, de 1948 a 1954 (Transcrito de
Bull Soc Pathol Exot 64(5), p. 686.)
Ao final dessa extensa onda epizoótica ocorreu um grande surto nas selvas do
sudeste mexicano, no período de 1957 a 1959, resultando nos últimos casos de febre amarela
silvestre no México (ALBA-GARCIA & SALCEDO-ROCHA, 2002). Outros exemplos
48
dessas excursões metaenzoóticas foram observados em 1966, nos três estados da região sul do
Brasil, que atingiu o noroeste da Argentina, onde foram registradas extensas epizootias nas
províncias de Corrientes e Missiones e a primeira epidemia de febre amarela silvestre
reconhecida neste país (BEJARANO, 1974); posteriormente, em 1979, observou-se fato
semelhante em Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia (GROOT ET AL., 1996).
2.3.4. Estratificação de áreas de risco para febre amarela silvestre no Brasil
O Brasil tem a maior área enzoótica para febre amarela silvestre no mundo, cerca
de 5 milhões de km², o que representa quase dois terços de seu território (VASCONCELOS
ET AL., 1997a; TAUIL, 2002). Constituída pelos estados da região Amazônica e Centro
Oeste, além do estado do Maranhão, nela estão inseridos 1.112 municípios com uma
população de 29.327.171 habitantes (Figura 4).
Nessa área a doença se mantém em seu foco natural, onde o vírus se propaga
continuamente através de grupos de hospedeiros primários, originando ondas de transmissão
que se movimentam pela selva (PEREIRA & HINRICHSEN, 1987), propiciando o
surgimento de casos em humanos.
Segundo Mondet (2001), a Bacia Amazônica é o grande reservatório endêmico do
vírus amarílico no Brasil, mas reconhece uma área epizoótica - atualmente denominada de
transição – fora da bacia Amazônica, na qual o vírus circula epizoótica e ocasionalmente entre
primatas não humanos e se manifesta de forma epidêmica na população humana, em função
do estado imunológico e da abundância de vetores. Em caráter esporádico, o vírus apareceria
nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo, mudando para outra bacia hidrográfica. As
epidemias nessas regiões seriam diretamente ligadas à área endêmica, precedidas de
epizootias, geralmente despercebidas.
49
Há cerca de duas décadas, estudiosos já defendiam essas excursões do vírus para
além da região Amazônica; ao estudar uma epidemia que ocorreu entre dezembro de 1972 e
março de 1973, em Goiás, não encontraram o elo de ligação e atribuíram o fato a uma falha da
vigilância (PINHEIRO ET AL., 1978).
2001
1997
2003
Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS
Figura 4. Áreas de risco para febre amarela silvestre. Brasil, 1997 a 2003
Devido ao caráter pouco sistemático dessas incursões virais para além da
Amazônia, as áreas de risco para febre amarela silvestre são reavaliadas periodicamente pelo
Ministério da Saúde (Figura 4) com a finalidade de estabelecer políticas de intervenção
distintas. A epizoótica ou de transição é a que tem sofrido maiores alterações, com ampliação
50
de seus limites. Atualmente esta área abrange uma faixa que vai da região centro-sul do Piauí,
oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, composta por 1.149 municípios com uma população de 22.347.837 habitantes.
A área indene corresponde àquela onde não há evidências da circulação do vírus
amarílico e abrange os estados da região nordeste, sudeste e sul; em 2003 foi estabelecida
uma área indene de risco potencial, que são zonas contíguas e com ecossistemas semelhantes
à área de transição, de maior risco para circulação viral. Compreende os municípios do sul de
Minas Gerais e da Bahia e a região centro-norte do Espírito Santo.
51
CAPÍTULO 3. ANÁLISE DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE FEBRE AMARELA
DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO
BRASIL
3.1. Material e métodos
- Tipo de estudo. A pesquisa desenvolvida se caracteriza como um estudo
descritivo, a partir de dados secundários, na qual o problema da febre amarela é analisado em
dois níveis: o individual, quando são analisadas características dos casos humanos
confirmados e suas distribuições temporal e geográfica, e a ecológica ou coletiva, quando
foram estudadas algumas características epidemiológicas e sócio-ambientais de surtos e
epizootias de febre amarela silvestre registrados no período considerado.
O estudo apresenta ainda algumas particularidades de cunho comparativo, ao
procurar identificar diferenças e similaridades entre os casos registrados fora da Amazônia
Legal e aqueles desta região, e entre as características dos quatro surtos investigados.
- Período do estudo: O período de estudo foi aquele compreendido de 1999 a
2003, um ano após a implantação de normas e diretrizes para a reorganização da proposta de
vigilância da febre amarela no Brasil.
- Área de abrangência do estudo: Para a análise das características
epidemiológicas dos casos registrados foi considerada como área de estudo o conjunto do
Território Nacional, de modo a possibilitar a comparação da freqüência de atributos nas duas
áreas consideradas: a Amazônia Legal, entendida como a região composta pelos estados do
Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, e a
outra definida pelo conjunto das demais unidades federadas do País.
Para o estudo das características dos surtos humanos e epizootias registrados e
investigados no período, foi considerada como área de abrangência a região composta pelas
52
unidades federadas não incluídas na Amazônia Legal: todas das Regiões Sudeste e Sul, todas
da região Nordeste, exceto o Maranhão, e ainda Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul,
da Região Centro-Oeste.
- Objetos do estudo: Este estudo focalizou três objetos:
•
O padrão epidemiológico dos casos humanos de febre amarela registrados no
Brasil, analisado a partir dos casos registrados e confirmados classificados
pela CID-10 código A95, no período considerado.
•
O conjunto dos quatro surtos de febre amarela identificados fora da Amazônia
Legal no período do estudo.
•
A ocorrência de registros de epizootias suspeitas de febre amarela em primatas
não humanos nas Unidades Federadas fora da Amazônia Legal, durante o
período do estudo.
3.1.1. Fontes de dados e procedimentos utilizados
Foram utilizados dados secundários de sistemas de registro contínuo do Programa
de Vigilância e Controle da Febre Amarela (PVCFA), dados acumulados durante as
investigações epidemiológicas dos surtos e indicadores demográficos e ambientais das bases
de dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Considerando-se os diferentes objetos de estudo, utilizou-se:
• Para analisar o padrão epidemiológico dos casos confirmados de febre amarela
silvestre a fonte de dados foi o banco do Programa de Vigilância e Controle da Febre Amarela
digitado na Gerência Técnica de Febre Amarela (GT-FA) do Ministério da Saúde,
estabelecido como “padrão ouro”. O banco foi construído a partir da instalação do módulo de
entrada de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), permitindo
sua alimentação mediante a digitação dos dados das fichas de investigação individual
53
recebidas das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), referentes a todos os casos confirmados
de febre amarela no período de 1999 a 2003. Contém as mesmas variáveis do banco de dados
oficial do SINAN, contemplando os 79 (setenta e nove) campos da Ficha de Investigação
Individual de Febre Amarela.
A construção desse banco teve como finalidade primária possibilitar a
comparação com as informações digitadas no nível municipal, no banco do SINAN,
verificando sua consistência e confiabilidade, para posterior recomendação às SES sobre a
necessidade de melhorar a qualidade dos dados, quando necessário.
A opção pelo uso desse banco se deveu ao resultado desfavorável encontrado em
recente avaliação da consistência do banco de dados oficial realizada pela equipe técnica da
GT-FA (novembro de 2003), que mostrou equivocadamente a existência de 52 (cinqüenta e
dois) casos confirmados classificados como febre amarela urbana no Brasil, além de 36 casos
inconclusivos e 726 com classificação final ignorada no período eleito para este estudo.
• Para analisar os surtos de casos em humanos ocorridos na dispersão do vírus da
febre amarela fora da Amazônia Legal a principal fonte de dados foi o banco do Programa de
Vigilância e Controle da Febre Amarela. Como fontes secundárias foram utilizados boletins e
relatórios de investigações epidemiológicas dos surtos, elaborados à época de sua ocorrência,
tanto pelas equipes do Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema
Único de Saúde (EPI-SUS) e Programa Nacional de Imunizações (descrição dos dois surtos
de Minas Gerais), como das Secretarias Estaduais de Saúde (surto da Bahia). Informações
sobre dados ambientais foram coletadas em sítios WEB especializados, como os do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), IBGE, Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET).
54
• Para descrever a distribuição espacial das epizootias suspeitas e confirmadas de
febre amarela em primatas não humanos a fonte de dados foi o banco de registro de epizootias
do Programa de Vigilância e Controle da Febre Amarela digitado na GT-FA do nível central.
O registro desses eventos foi feito em planilhas do Excel a partir de informações recebidas das
SES, indicando a localidade, quando possível, o município e o mês de ocorrência da
epizootia. Informações sobre dados ambientais foram coletadas em sítios WEB
especializados, já referidos anteriormente.
3.1.2. Critérios adotados para a definição de casos e marcadores de situações
a) Caso confirmado de febre amarela por critério laboratorial:
“Todo caso suspeito que tenha pelo menos uma das seguintes condições:
detecção de anticorpos do tipo IgM pela técnica de MAC-ELISA em indivíduos
não vacinados ou com aumento de 4 vezes ou mais nos títulos de anticorpos do
tipo IgG, pela técnica de Inibição da Hemaglutinação; isolamento do vírus da
febre amarela; achados histopatológicos compatíveis com febre amarela;
detecção de antígenos virais e detecção de genoma viral.” (BRASIL, 1999).
b) Caso confirmado de febre amarela por critério clínico-epidemiológico:
“Caso suspeito de febre amarela que evoluiu para óbito em até 7 dias, sem
confirmação laboratorial, no início ou curso de um surto ou epidemia em que
outros casos já tenham sido comprovados laboratorialmente” (BRASIL, 1999).
A partir do ano 2000, passou-se a utilizar também a seguinte definição:
c) Caso confirmado de infecção por febre amarela:
“Todo indivíduo assintomático ou oligossintomático originado de busca ativa que
não tenha sido vacinado e que apresente sorologia (MAC-ELISA) positiva para
febre amarela”(BRASIL, 2002).
d) Epizootia suspeita de febre amarela:
“Primata não humano de qualquer espécie, não domesticado, encontrado morto
(incluindo ossadas) ou doente, em qualquer local do território nacional”
(BRASIL, 2004).
e) Epizootia confirmada de febre amarela:
“Epizootia suspeita com resultado laboratorial específico positivo para febre
amarela ou epizootia suspeita na qual não foi possível a coleta de amostra,
ocorrida em local onde há isolamento de febre amarela em vetores ou caso
humano confirmado” (BRASIL, 2004).
55
3.1.3. Variáveis selecionadas para análise
Foram selecionadas as seguintes variáveis, de acordo com o objeto de análise:
- Para analisar o padrão epidemiológico dos casos confirmados de febre amarela silvestre:
- Variáveis relativas às pessoas:
• sexo e idade (em anos e agrupada por faixas etárias de 1-9 anos, 10-19 anos,
20-49 anos, 50 anos e mais);
• ocupação ou tipo de atividade realizada pelo indivíduo no momento da
exposição. Na categoria “trabalhador urbano” foram incluídos indivíduos de diferentes
ocupações ou atividades que eventualmente se expõem ao ciclo silvestre, quais sejam,
telefonista, comerciante, enfermeiro, cozinheiro, professor, mecânico, borrifador e autônomo.
Na categoria “atividades do domicílio” foram incluídos indivíduos que permanecem a maior
parte do tempo no ambiente doméstico, tais como donas de casa, crianças e estudantes;
• situação vacinal (situação do indivíduo em relação à vacina contra febre
amarela), comprovada mediante apresentação da carteira de vacinação. O indivíduo que
recebeu a vacina até dez dias antes do início dos sintomas foi considerado não vacinado, uma
vez que este é o tempo requerido para a indução da imunogenicidade da vacina (MONATH,
1999);
• exame laboratorial comprobatório do caso; critério de classificação do caso
(critério utilizado para confirmação do caso, se laboratorial ou clínico-epidemiológico).
-
Variáveis relativas ao lugar:
•
Zona de residência (rural ou urbana) e local provável de infecção: município e
unidade federada onde o indivíduo se expôs ao ciclo silvestre da doença;
•
condição de autoctonia do caso.
56
-
Variáveis relativas ao tempo
•
data do início dos sintomas (data em que o indivíduo apresentou o primeiro
sintoma da doença). Para os casos assintomáticos detectados em busca ativa
considerou-se a data da coleta do soro.
- Para analisar os surtos ocorridos na dispersão do vírus da febre amarela fora da Amazônia
Legal:
• características ambientais das áreas de ocorrência;
• incidência semanal (padrão da curva epidêmica);
• localização dos casos segundo local provável de infecção;
• principais atividades econômicas das áreas afetadas.
- Para descrever a distribuição espacial das epizootias suspeitas e confirmadas de febre
amarela em primatas não humanos:
• variáveis relativas aos animais: gênero e espécie de primata não humano
encontrado doente ou morto (carcaças); critério de confirmação da epizootia (se laboratorial
ou vínculo epidemiológico);
• variáveis relativas ao lugar: município e unidade federada de ocorrência da
epizootia: bioma e tipos de vegetação predominantes na área de ocorrência da epizootia; bacia
hidrográfica da região de ocorrência da epizootia.
3.1.4. Procedimentos laboratoriais considerados para comprovação de febre amarela
Os exames laboratoriais considerados para comprovação do caso (em humanos e
em primatas não humanos) foram aqueles utilizados pelo Programa de Vigilância e Controle
da Febre Amarela:
57
• sorologia (detecção de IgM pela técnica de MAC-ELISA) e/ou aumento de 4
vezes ou mais nos títulos de anticorpos do tipo IgG, pela técnica de Inibição da
Hemaglutinação;
• isolamento do vírus da febre amarela no sangue ou em tecidos;
• histopatologia;
• imunohistoquímica.
3.1.5. Procedimentos utilizados na análise dos dados e apresentação dos resultados
Para análise das variáveis dos casos e surtos foram utilizados os recursos de
estatística descritiva do software EpiInfo 2000 versão 3.2.2. e do Excel.
Quando indicada a realização de testes de hipótese, foi aplicado o Qui-Quadrado,
adotando-se o valor de p < 0,05 como nível crítico de significância. Os resultados foram
apresentados nas formas de tabelas, gráficos, fotos e mapas.
Foram utilizadas neste estudo imagens do satélite Landsat 7 ETM+ (bandas 5, 4 e
3), ano de 2000, adquiridas no site da National Space Agency (NASA) – www.nasa.gov e da
EMBRAPA – www.embrapa.gov.br. As bases digitais de dados cartográficos vetoriais foram
retiradas do aplicativo SigEpi (2001), elaborado pelo Programa Especial de Análise de Saúde
da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).
Já os casos humanos de febre amarela e os de primatas não humanos com suspeita
de febre amarela foram georreferenciados por Geographic Positioning System (GPS) na
projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) ou, na ausência desta informação, através
de croquis de reconhecimento geográfico (RG) fornecidos por servidores da Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), atualmente em exercício nas Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde.
58
As imagens de satélite foram georreferenciadas na projeção longitude e latitude Datum SAD69 e as demais bases de dados foram configuradas na mesma projeção, de modo a
compatibilizar as diferentes bases cartográficas.
Para se obter uma estimativa de intensidade de pontos por área na delimitação dos
focos, através de análise Kernel (análise da área de influência) foi utilizado o programa
Spring, versão 4.0, adquirido no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) –
www.inpe.br, onde foi considerado um raio de 75 km para cada localidade com 1 caso de
febre amarela.
Para reconhecer padrões homogêneos segundo o uso do solo e do tipo de
vegetação, as imagens dos focos foram classificadas. Nessa classificação foram utilizadas
imagens adquiridas da EMBRAPA, com a banda 5 no canal vermelho, a banda 4 no canal
verde e a banda 3 no canal azul, onde foram colhidas amostras de pixels para cada classe
temática, as quais serviram como padrão para o agrupamento dos demais pixels da imagem e
geração do mapa de cobertura vegetal e uso do solo. Esta etapa também foi elaborada no
programa Spring 4.0.
Para a elaboração final dos mapas foi utilizado o programa MapInfo, versão 7.0,
onde foram agrupados os diversos planos de informação específicos para cada mapa.
3.1.6. Aspectos éticos
Este trabalho utilizou dados secundários disponíveis no nível nacional. Foi
preservada a identidade dos casos, uma vez que a análise foi realizada de forma agregada. O
projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde
Pública – FIOCRUZ, tendo sido aprovado de acordo com o Parecer Nº 87/04, CAAE Nº
0013.0.031.000-04, em 10/11/2004.
59
3.2. Resultados
Neste item apresentaremos os resultados da análise comparativa entre os casos das
áreas Extra Amazônica e Amazônia Legal, a descrição qualitativa das informações não
estruturadas, coletadas durante as investigações dos surtos e os resultados quantitativos
referentes aos bancos de dados.
3.2.1. Comparação das características epidemiológicas dos casos de febre amarela da
Área Extra Amazônica e Amazônia Legal
No período de 1999 a 2003 foram confirmados 281 casos de febre amarela
silvestre no Brasil. A maioria (176 casos) ocorreu fora da Amazônia Legal, o que representa
62,6%. O ano 2000 foi o de maior ocorrência de casos da doença (n = 84), com 30% do total,
seguido do ano de 1999, com 77 casos (27,4%) e 2003, com 63 casos registrados (22,4%). O
ano de 2002 apresentou o menor número de registros (n = 16 casos). A Tabela 1 mostra o
número e percentual dos casos ocorridos por ano e por área de estudo.
Tabela 1. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por ano
segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Ano
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
1999
12
15,6
65
84,4
77
100,0
2000
68
81,0
16
19,0
84
100,0
2001
32
78,0
9
22,0
41
100,0
2002
7
43,8
9
56,2
16
100,0
2003
57
90,5
6
9,5
63
100,0
Total
176
62,6
105
37,4
281
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
60
A distribuição dos municípios com casos de febre amarela por ano de ocorrência
segundo município de infecção é apresentada na Figura 5.
Legenda:
Casos de FA
Amazônia Legal
Extra Amazônica
Figura 5. Distribuição dos municípios com casos de febre amarela por município de infecção.
Brasil, 1999 a 2003
A distribuição dos casos de acordo com a evolução é apresentada na Tabela 2. Do
total de casos, 159 (56,8%) evoluíram para cura e 121 (43,2%) foram a óbito. Essa elevada
61
taxa de letalidade foi semelhante nas duas áreas (43,2% e 43,3%), não havendo, portanto,
diferença entre o risco de um caso morrer por febre amarela na Amazônia Legal ou fora dela.
Para um dos casos a evolução foi considerada ignorada.
Tabela 2. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área de
ocorrência segundo evolução. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Evolução
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
Cura
100
56,8
59
56,7
159
56,8
Óbito
76
43,2
45
43,3
121
43,2
Total
176
100,0
105
100,0
280
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui-Quadrado = 0,00; p = 0,98
Na Tabela 3 está representada a freqüência e percentual dos casos por gênero. O
sexo masculino foi o mais atingido, numa razão de 5:1 em relação ao sexo feminino. Quando
se comparou esse resultado nas duas áreas de ocorrência observou-se o mesmo padrão, sem
diferença estatisticamente significante.
Tabela 3. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por sexo
segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Sexo
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
Feminino
28
15,9
17
16,2
45
16,0
Masculino
148
84,1
88
83,8
236
84,0
Total
176
100,0
105
100,0
281
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui-Quadrado = 0,00; p = 0,95
A freqüência dos casos por idade está representada na Tabela 4 e Figura 6. Na
Amazônia Legal a mediana da idade foi de 21 anos com intervalo de 11 meses a 72 anos,
enquanto na Extra Amazônica a mediana foi de 36 anos com intervalo de 3 a 82 anos. A
62
maior concentração dos casos foi observada entre 20 e 49 anos de idade em ambas as áreas.
As faixas etárias menos prevalentes foram as de 1 a 9 anos na Extra Amazônica e 50 anos e
mais na Amazônia Legal, mostrando haver significância estatística (p = 0,00).
Tabela 4. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por faixa
etária segundo área de ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Faixa etária (anos)
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
1 – 9 anos
4
2,3
17
16,2
21
7,5
10 - 19 anos
14
8,0
31
29,5
45
16,0
20 - 49 anos
125
71,0
54
51,4
179
63,7
50 anos e +
33
18,7
3
2,9
36
12,8
Total
176
100,0
105
100,0
281
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui-Quadrado = 53,08; p = 0,00
Figura 6. Distribuição percentual de casos de febre amarela por faixa etária segundo área de
ocorrência. Brasil, 1999 a 2003
63
A situação vacinal dos casos, apresentada na Tabela 5, evidenciou que 217
(90,8%) indivíduos não eram vacinados contra febre amarela e 22 (9,2%) tinham história
anterior de terem recebido uma dose da vacina. Destes, 13 (14,8%) adquiriram a infecção na
Amazônia Legal. Esse achado teve significância estatística (p = 0,02). A data da vacina só foi
informada para 5 pessoas e apresentou uma variação de 14 dias a 5 anos em relação à data do
início dos sintomas. Destes, apenas dois casos eram procedentes da área Extra Amazônica
(Minas Gerais): um recebeu a vacina 14 dias e outro, 1 ano 11 meses e 14 dias antes dos
primeiros sintomas da doença. Oito pessoas foram vacinadas entre 0 e 4 dias antes do inicio
dos sintomas, tendo sido consideradas não vacinadas. Em 42 casos (14,9%) não foi possível
obter informação sobre o estado vacinal.
Tabela 5. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área de
ocorrência segundo situação vacinal. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Vacinado
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
Sim
9
6,0
13
14,8
22
9,2
Não
142
94,0
75
85,2
217
90,8
Total
151
100,0
88
100,0
239
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui-Quadrado = 5,14; p = 0,02
A atividade no momento da exposição, mostrada na Tabela 6, foi informada em
272 casos. Predominou a de trabalhadores rurais (144 casos), representando 52,9% de todos
os casos confirmados. Quando foram consideradas separadamente as duas áreas verificou-se
que esse grupo representou 44,4% na Amazônia Legal e 57,8% na Extra Amazônica. O grupo
correspondente a atividades no domicílio apareceu em segundo lugar em ambas as áreas, com
16,8% (n = 29) fora da Amazônia e 32,3% (n = 32) na Amazônia Legal, totalizando 61 casos
(22,4%). Essas duas categorias juntas representaram 75,3% do total de casos. Os turistas e
indivíduos que desempenhavam alguma atividade de lazer apareceram numa proporção de
64
10,7% (29 casos), sendo 21 casos na região Extra Amazônica e 8 na Amazônia Legal. Houve
significância estatística (p = 0,04).
Tabela 6. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área de
ocorrência segundo atividade no momento da exposição. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Atividade no momento
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
da exposição
N
%
N
%
N
%
Trabalhador rural
100
57,8
44
44,4
144
52,9
Atividades do domicílio
29
16,8
32
32,3
61
22,4
Turismo + lazer
21
12,1
8
8,1
29
10,7
Trabalhador urbano
11
6,4
6
6,1
17
6,3
Trab. da construção civil
7
4,0
7
7,1
14
5,1
Caminhoneiro
5
2,9
2
2,0
7
2,6
Total
173
100,0
99
100,0
272
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui-Quadrado igual a 11,20; p = 0,04
A Tabela 7 apresenta a distribuição dos casos de acordo com a zona de residência.
A maior parte dos casos era de moradores de zona rural (n = 178), correspondendo a 64,5%.
Ao se comparar essa variável nas duas áreas de estudo, observou-se que na área Extra
Amazônica 57,1% (n = 100) eram residentes na zona rural, enquanto na região da Amazônia
Legal essa proporção foi de 77,2% (n = 78). Apenas um indivíduo residia em zona
considerada urbana/rural e em quatro casos da Amazônia Legal a zona de residência era
ignorada. Houve significância estatística (p = 0,00).
65
Tabela 7. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados por área de
ocorrência segundo zona de residência. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Zona de residência
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
Urbana
75
42,9
23
22,8
98
35,5
Rural
100
57,1
78
77,2
178
64,5
Total
175
100,0
101
100,0
276
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui-Quadrado = 11,24; p = 0,00
A Matriz de Concordância (Tabela 8) mostra a distribuição dos casos em relação à
autoctonia. Observou-se que houve transmissão em doze Unidades Federadas (UF).
Considerando-se a UF de residência em relação à UF onde ocorreu a infecção, verificou-se
que 244 pessoas (86,8%) infectaram-se na própria UF onde residiam e 37 (13,2%) adquiriram
a doença em UF diferente de sua residência. Seis UFs apresentaram 100% de concordância
entre ser a UF de infecção e a UF de residência, sendo três delas pertencentes à Amazônia
Legal (AC, RO e RR) e três à área Extra Amazônica (BA, DF e SP). A UF que registrou o
maior número de casos autóctones foi Minas Gerais (n = 97), equivalendo a 34,5% do total.
Do total de pessoas que se infectaram e adoeceram em Goiás, 25 (64,1%) eram residentes em
outras unidades federadas.
66
Tabela 8. Matriz de concordância dos casos de febre amarela registrados por UF de
infecção segundo UF de residência. Brasil, 1999 a 2003
UF de
UF de Residência
Infecção AC AL AM AP BA DF GO MG MT PA PR RJ RN RO RR SP TO Ext* Total
AC
AL
AM
AP
BA
DF
GO
MG
MT
PA
PR
RJ
RN
RO
RR
SP
TO
Ext*
1
-
1
-
14
1
-
1
-
10 - 2
- 19 39
- 1
- 2 2
-
97
-
1
17 1
- 39
-
-
1
-
1
-
1
-
6
-
4
2
1
-
16
-
1
-
1
15
10
2
64
98
19
41
1
6
2
22
-
Total
1
1
15
1
10 24 41
97
18 40
0
1
1
1
6
7
16
1
281
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
(*) Ext.= Exterior. Um caso que se infectou no Amazonas era residente no Texas, Estados Unidos.
A Tabela 9 mostra a freqüência e percentual dos casos segundo critério de
confirmação. Predominou o critério laboratorial, com 265 casos (94,3%). Na Amazônia Legal
o percentual de confirmação laboratorial (98,1%) foi maior que na área Extra Amazônica
(92,0%), havendo significância estatística (p = 0,03).
67
Tabela 9. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela por área de ocorrência
segundo critério de confirmação. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Critério de confirmação Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
Laboratorial
162
92,0
103
98,1
265
94,3
Vínculo epidemiológico
14
8,0
2
1,9
16
5,7
Total
176
100,0
105
100,0
281
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Qui -Quadrado = 4,46; p = 0,03
A técnica laboratorial mais utilizada para confirmação diagnóstica (Tabela 10) foi
o MAC-ELISA (teste imunoenzimático de captura de IgM), com 210 amostras positivas
(61,6%). A segunda técnica mais utilizada foi a imunohistoquímica (n = 53), que confirmou
15,5% dos casos, seguida pelo exame histopatológico, positivo em 48 casos (14,1%). Esse
padrão foi mantido nas duas áreas de estudo.
Observou-se que 60 casos foram confirmados por mais de uma técnica
laboratorial (não mostrados na tabela), sendo 45 deles na área Extra Amazônica e 15 na
Amazônia Legal. De igual modo, 27 casos tiveram mais de dois exames laboratoriais
comprobatórios, dos quais, 22 foram infectados na área Extra Amazônica. Observou-se ainda
que do total de 260 casos confirmados laboratorialmente, seis o foram através de quatro
diferentes exames, dos quais cinco se infectaram na área Extra Amazônica.
68
Tabela 10. Número e percentual de amostras positivas para febre amarela por tipo de
exame laboratorial realizado segundo área de ocorrência do caso. Brasil, 1999 a 2003
Área de ocorrência
Tipo de exame
Extra Amazônica
Amazônia Legal
Total
N
%
N
%
N
%
IgM (MAC-ELISA)
87
68,5
123
58,6
210
61,6
Isolamento de vírus
6
4,7
24
11,2
30
8,8
Imunohistoquímica
18
14,2
35
16,4
53
15,5
Histopatológico
16
12,6
32
15,0
48
14,1
Amostras examinadas
127
100,0
214
100,0
341
100
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
3.2.1.1. Resumo comparativo dos atributos dos casos ocorridos na área Extra
Amazônica e na Amazônia Legal
No Quadro 1 é apresentado um resumo das características eleitas para comparação
entre as duas áreas analisadas, destacando-se aquelas que apresentaram significância
estatística.
Quadro 1. Comparação das características epidemiológicas dos casos de febre amarela
ocorridos na área Extra Amazônica com os ocorridos da Amazônia Legal, 1999 a 2003
Extra
Amazônica
Amazônia
Legal
QuiQuadrado
Valor de p
Feminino
Masculino
15,9
84,1
16,2
83,8
0,00
0,95
Idade mediana(1) (anos)
Intervalo (anos)
Atividades de turismo+lazer (%)
Sim
Não
Atividades rurais (%)
Sim
Não
Critério de confirmação (%)
Laboratório
Vínc. Epid.
Vacinado contra FA (%)
Sim
Não)
Zona de residência (%)
Rural)
Urbana
36
(3 – 82)
21
(11 m - 72)
53,08 (1)
< 0,05
11,9
88,1
7,6
92,4
1,32
0,25
56,8
43,2
41,9
58,1
5,83
< 0,05
92,0
8,0
98,1
1,9
4,47
< 0,05
6,0
94,0
14,8
85,2
5,14
< 0,05
57,1
42,9
77,2
22,8
11,24
< 0,05
Características epidemiológicas
Sexo (%)
(1): Para testar a diferença em relação a esta variável foi usado o Qui-Quadrado calculado para a variável idade considerada em estratos
como na Tabela 4.
69
3.2.2. Características epidemiológicas dos casos humanos e descrição dos registros
qualitativos das investigações epidemiológicas dos surtos registrados no período de 1999
a 2003, fora da Amazônia Legal
3.2.2.1. Investigação epidemiológica do surto de Goiás – 1999/2000
Em maio de 1999, a Secretaria de Saúde de Goiás (SES/GO) recebeu a notificação
de um óbito por febre amarela que teria sido atendido em um hospital de Goiânia, proveniente
de Figueirópolis, município situado ao sul do Estado de Tocantins. Outras evidências da
circulação do vírus amarílico no estado vizinho, tais como a existência de seis casos suspeitos
no município de Paranã e a ocorrência de morte de macacos em Palmeirópolis, limite com
Minaçu (norte de Goiás), levaram a SES/GO a intensificar a vacinação contra febre amarela
em Minaçu e municípios vizinhos.
Decorridos sete meses, casos esporádicos da doença continuaram a ocorrer na
região norte de Tocantins, porém sem notificações no sul do estado. No mês de dezembro de
1999, na semana epidemiológica nº 49, foi notificado o primeiro óbito suspeito de febre
amarela no Estado de Goiás, tendo iniciado os primeiros sintomas em 9/12/1999. Tratava-se
de um óbito por doença febril íctero-hemorrágica de uma criança de 6 anos de idade
procedente da zona rural de Minaçu, município situado na região norte de Goiás, limítrofe ao
Estado de Tocantins. Na investigação do caso foram identificados dois irmãos do paciente,
com 7 e 8 anos de idade, que apresentavam quadro clínico semelhante, vindo a comprovaremse laboratorialmente como febre amarela de transmissão silvestre.
Com o surgimento de novos casos nos municípios de Niquelândia, Goiás, Colinas
do Sul e Alto Paraíso de Goiás, desencadeou-se um processo epidêmico intenso, que teve este
município como foco principal.
Houve registro de epizootias em primatas não humanos em 32 municípios, dos
quais 15 apresentaram transmissão humana; ao mesmo tempo, foram constatados casos
70
humanos em 32 municípios sendo que em 17 deles não houve informação sobre atividade do
vírus entre macacos. Ao final, 49 municípios apresentaram evidências de circulação do vírus.
Na Figura 7 observa-se a localização espacial do surto com os municípios onde ocorreram
casos humanos.
Goiás
Figura 7. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em 2000,
destacando-se a localização do surto registrado no Estado de Goiás
Findo o surto, foram confirmados, durante o período considerado, 64 casos da
doença no estado, dos quais, 36 (56,3%) sobreviveram e 28 evoluíram para óbito, registrandose uma taxa de letalidade de 43,8%.
A distribuição por sexo é apresentada na Tabela 11. A maior proporção dos casos
(76,6%) ocorreu em pessoas do sexo masculino com uma razão de 3,3:1 em relação ao sexo
feminino.
71
Tabela 11. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo sexo.
Goiás, 1999 a 2000
Sexo
N
%
Feminino
15
23,4
Masculino
49
76,6
Total
64
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
A mediana da idade foi de 31 anos, variando de 3 a 75 anos. A maioria dos casos
(71,9%) estava na faixa etária de 20 a 49 anos (Tabela 12).
Tabela 12. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
faixa etária. Goiás, 1999 a 2000
Faixa etária (anos)
N
%
1 - 9 anos
4
6,3
10 - 19 anos
5
7,8
20 - 49 anos
46
71,9
50 anos e +
9
14,1
Total
64
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Na Tabela 13 está apresentada a distribuição dos casos quanto ao estado vacinal
contra febre amarela. Observa-se que 47 pessoas (73,4%) não tinham história de vacinação
prévia e 6 delas (9,4%) apresentaram comprovante de vacinação.
Tabela 13. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
situação vacinal. Goiás, 1999 a 2000
Vacinado
N
%
Sim
6
9,4
Não
47
73,4
Ignorado
11
17,2
Total
64
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
72
A Tabela 14 mostra a freqüência dos casos em relação à ocupação no momento da
exposição. Vinte e duas pessoas (34,9%) eram trabalhadores rurais e 10 (15,9%) praticavam
ecoturismo ou desenvolviam outra atividade de lazer, como pescaria e passeios a fazendas.
Em um caso não se obteve essa informação.
Tabela 14. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
ocupação. Goiás, 1999 a 2000
Ocupação
N
%
Trabalhador rural
22
34,9
Atividades no domicílio
18
28,6
Turista + lazer
10
15,9
Trabalh. construção civil
4
6,3
Caminhoneiro
1
1,6
Outros
8
12,7
Total
63
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Em relação à procedência dos casos, a maior parte (57,8%) residia em zona
urbana (n = 37) e 27 casos (42,2%) eram moradores da zona rural.
Do total de infectados, 39 (60,9%) eram residentes em Goiás e 25 pessoas
(39,1%) residiam em outras Unidades Federadas, das quais predominou o Distrito Federal,
com 29,7% dos casos (Tabela 15).
Tabela 15. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados que se
infectaram em Goiás segundo UF de residência. Goiás, 1999 a 2000
UF de residência
N
%
GO
39
60,9
DF
19
29,7
SP
4
6,2
MT
1
1,6
RJ
1
1,6
Total
64
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
73
Em Goiás, o município que apresentou o maior número de pessoas infectadas foi
Alto Paraíso de Goiás, com 10 casos (15,6%), seguido de Planaltina, com 7 casos (10,9%),
Niquelândia e Minaçu, ambos com 5 casos confirmados, que corresponde a 7,8% do total.
Esses três municípios localizam-se próximos a Alto Paraíso de Goiás.
Quanto ao critério de confirmação, 4 casos (6,2%) foram confirmados por vínculo
epidemiológico e 60 (93,8%) por critério laboratorial. Destes, 87 amostras (de soro ou
tecidos) foram positivas em algum teste realizado, conforme observado na Tabela 16: o teste
imunoenzimático de MAC-ELISA apresentou positividade em 52 amostras (59,8%); entre os
que evoluíram para óbito, 17 (19,5%) tiveram amostras de vísceras positivas através de
imunohistoquímica e 15 (17,2%) pela histopatologia (Tabela 16).
Tabela 16. Freqüência e percentual de amostras positivas para febre amarela segundo
tipo de exame laboratorial realizado. Goiás, 1999 a 2000
Tipo de exame
N
%
IgM (MAC-ELISA)
52
59,8
Isolamento de vírus
3
3,4
Histopatológico
15
17,2
Imunohistoquímica
17
19,5
Amostras examinadas
87
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
A curva epidêmica é apresentada na Figura 8. A data dos sintomas do primeiro caso
confirmado foi 9/12/1999 e do último, 01/06/2000. Houve uma maior concentração entre as
semanas 52/1999 e 3/2000, período em que foram confirmados 24 casos. A epidemia
estendeu-se por 19 semanas, tendo apresentado o pico máximo da curva na semana
epidemiológica 7.
74
Figura 8. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Goiás, 1999 a 2000
3.2.2.2. Investigação epidemiológica do surto da Bahia – 2000
Em 10/04/2000, a Secretaria de Saúde da Bahia foi notificada de um óbito
ocorrido em um hospital de Brasília, Distrito Federal, de um lavrador de 26 anos de idade, por
doença febril ictérica, procedente da Fazenda Olho D`Água, localizada no município de
Coribe, Bahia. Dois dias depois, um irmão desse paciente, apresentando sintomas
semelhantes, faleceu quando estava sendo transportado para o mesmo hospital. Os resultados
de exames laboratoriais confirmaram a suspeita de febre amarela de transmissão silvestre, o
que evidenciou uma situação de emergência epidemiológica no estado da Bahia e deixou as
autoridades de saúde em estado de alerta. Os últimos registros de febre amarela no Estado
datavam de 1950, ocorridos na região leste.
75
Posteriormente, cerca de um mês depois, foram notificados mais dois casos
suspeitos. Eram dois jovens irmãos, que foram participar de uma pescaria na Fazenda São
José, município de Coribe, distante cerca de 4 quilômetros da primeira.
Na investigação epidemiológica realizada nos locais prováveis de infecção
foram coletadas amostras de sangue de 17 (dezessete) trabalhadores rurais sem história prévia
de vacinação anti-amarílica, evidenciando-se a presença de anticorpos IgM para febre amarela
em seis indivíduos assintomáticos, demonstrando, assim, infecção recente pelo vírus da febre
amarela. Nas proximidades havia carcaças de macacos identificados por moradores como
Cebus apella.
Na pesquisa entomológica realizada em campo, entre 23/05/2000 e 07/06/2000,
foram capturados 1.635 exemplares de culicídeos, dos quais 1.359 (83,1%) eram da espécie
Ochlerotatus scapularis. Os principais vetores da febre amarela (Haemagogus janthinomys e
Sabethes chloropterus) foram capturados em pequena quantidade (22 exemplares).
Findo o surto, foram confirmados 10 casos com três óbitos, registrando-se uma
taxa de letalidade de 30%. Todos os casos eram de indivíduos do sexo masculino, sendo que
oito deles (80%) residiam e trabalhavam na zona rural do município de Coribe. Dois eram
residentes na zona urbana do vizinho município de Jaborandi e se infectaram em Coribe
(Tabela 17).
Tabela 17. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo zona
de residência. Bahia, 2000
Zona de residência
N
%
Urbana
2
20,0
Rural
8
80,0
Total
10
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
76
A mediana de idade foi de 27 anos, com intervalo de variação de 13 a 52 anos. A
distribuição por faixa etária apresentada na Tabela 18 mostra que 60% dos casos (n = 6)
tinham idade entre 20 e 49 anos e 30% (n = 3) eram jovens com idade de 10 a 19 anos.
Tabela 18. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
faixa etária. Bahia, 2000
Faixa etária (anos)
N
%
1 - 9 anos
-
-
10 - 19 anos
3
30,0
20 - 49 anos
6
60,0
50 anos e +
1
10,0
Total
10
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Nenhum dos casos era vacinado contra febre amarela e todos foram confirmados
laboratorialmente. Nove (90%) foram confirmados através do teste imunoenzimático de
MAC-ELISA; dos três casos que evoluíram para óbito foi possível realizar exame
histopatológico em dois, os quais tiveram resultado compatível com febre amarela, sendo que
um deles também resultou positivo na imunohistoquímica (Tabela 19). Três casos tiveram
mais de um exame laboratorial confirmatório.
Tabela 19. Freqüência e percentual de amostras positivas segundo tipo de exame
realizado. Bahia, 2000
Tipo de exame
N
%
IgM (MAC-ELISA)
9
64,3
Isolamento de vírus
2
14,3
Histopatológico
2
14,3
Imunohistoquímica
1
7,1
Amostras examinadas
14
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
77
Figura 9. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Bahia, 2000
A Figura 9 representa a curva epidêmica. Teve uma duração de 7 semanas com
pico na semana epidemiológica 15. Na leitura desta curva deve-se levar em conta a inclusão
dos casos assintomáticos e oligossintomáticos encontrados na busca ativa, cuja coleta de soro
foi realizada na semana 15.
A localização espacial do surto é mostrada na Figura 10.
Bahia
Figura 10. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em 2000,
destacando-se a localização do surto registrado no Estado da Bahia
78
As medidas de controle acionadas imediatamente, bem como o envolvimento de
parcerias importantes da região, como donos de fazendas, sindicatos dos trabalhadores da
agricultura e do INCRA, professores de escolas rurais e Agentes Comunitários de Saúde
possibilitaram o rápido controle do surto (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA
BAHIA, 2000).
Entre as ações desencadeadas em Coribe e nos municípios vizinhos, destacam-se:
a) reunião com todos os Secretários de Saúde dos 15 municípios que compõem a 26ª DIRES
para discussão do risco epidemiológico para febre amarela e da definição de vacinar 100% da
população de cada município; b) vacinação em massa, com estratégia casa a casa, na zona
rural. Foram vacinadas 13.241 pessoas em Coribe, elevando a cobertura vacinal acima de
100%, uma vez que 2.659 habitantes já haviam recebido uma dose da vacina em 1999. Em
toda a 26ª DIRES foram aplicadas 264.825 doses de vacina, ressaltando-se que a média de
doses aplicadas nos dois últimos anos na Regional era de 16.186; c) intensificação da
vigilância de doenças febris íctero-hemorrágicas nos serviços de saúde da região; d)
levantamento de índice de infestação por Aedes aegypti na zona urbana do município de
Coribe; e) pesquisa entomológica com captura de vetores silvestres em todas as localidades de
percurso dos casos (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2000). Foi
isolado o vírus da febre amarela em mosquitos da espécie Ochlerotatus scapularis coletados
através de isca humana na Fazenda São José, município de Coribe.
3.2.2.3. Investigação epidemiológica do surto de Minas Gerais – 2001
Em janeiro de 2001, foi notificado um óbito de um lavrador de 51 anos, residente
em Martinho Campos, município situado na região centro oeste de Minas Gerais, inserido
administrativamente na Regional de Saúde de Divinópolis (DRS-Divinópolis). O paciente
desenvolveu um quadro febril hemorrágico agudo com evolução de nove dias. Outros casos
79
semelhantes de febre hemorrágica com falência hepática surgiram em municípios vizinhos,
levantando-se a suspeita de febre amarela, que foi confirmada posteriormente por sorologia.
Numa primeira avaliação, a situação mostrava-se grave: sete municípios não
estavam na relação daqueles que compunham a área de risco delimitada no Estado. Além
disso, a análise das coberturas vacinais para febre amarela nos 54 municípios da DRSDivinópolis, em série histórica de 1997 a 2000, evidenciou grande heterogeneidade. Onze
municípios (20,37%) estavam com cobertura acima de 100%, 21 (38,88%) apresentavam
cobertura de 80 a 99% e 22 (40,75%) com coberturas menores de 80%.
Na investigação do surto houve uma somação de esforços multiprofissional e
multiinstitutcional que contou com a participação de técnicos do EPI-SUS, da Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), de diferentes segmentos da Secretaria de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG, DVE, FUNED), DRS/Divinópolis, órgãos afins (Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros), Faculdade de Enfermagem de Divinópolis e as Secretarias Municipais de Saúde
dos municípios envolvidos.
Assim, para efeito de aplicação das medidas de controle contra a epidemia, foi
delimitada uma área de risco de transmissão que englobava 100 municípios: além da DRSDivinópolis, foram incluídos 37 municípios da DRS-Metropolitana e nove da DRS-Sete
Lagoas. As atividades de intensificação da vacinação contra febre amarela tiveram início em
23 de fevereiro e foram encerradas em 31 de março. Na zona urbana incluíram as Unidades de
Saúde, rodoviárias e escolas. Na zona rural, vacinação casa a casa, além de postos de
vacinação instalados nas principais rodovias.
Para o desenvolvimento dos trabalhos de campo foram locados 43 veículos pelo
Ministério da Saúde, além dos disponibilizados pela SES/MG, totalizando 77 veículos. Foram
treinados 87 vacinadores e seis supervisores para acompanhar as ações.
80
Ao final do período, foram vacinadas 1.191.361 pessoas na DRS-Divinópolis,
alcançando-se coberturas vacinais de 100% em 40 municípios, 80-99% em oito; seis
municípios não obtiveram coberturas acima de 80%. Na DRS-Metropolitana as coberturas
atingiram 91%, com a aplicação de 3.930.011 doses de vacina.
Em relação à pesquisa entomológica, quatro equipes do Estado de Minas Gerais
(FUNASA Regional e SES) realizaram capturas de vetores em 17 municípios, particularmente
nos locais prováveis de infecção e proximidades das residências dos casos, identificando os
gêneros Ochlerotatus, Haemagogus e Sabethes em áreas silvestres e Aedes nas localidades
urbanas. O vírus da febre amarela foi isolado em “pool” de mosquitos Haemagogus
janthinomys. Foram intensificadas as ações de controle do Aedes aegypti nas sedes municipais
com vistas a evitar a transmissão urbana.
Foram notificadas epizootias em 27 municípios de Minas Gerais entre os meses de
janeiro a julho de 2001, e durante todo o ano 31 municípios registraram morte de macacos no
Estado. No município de Leandro Ferreira foi recolhido um cadáver da espécie Callihtrix
penicillata, recém falecido, porém a pesquisa de antígenos virais foi negativa.
Para assegurar o atendimento médico adequado aos pacientes foram ministradas
palestras para os médicos da região, concomitante com a organização da rede assistencial e
estabelecimento de unidades hospitalares de referência. Além disso, foi implantado protocolo
de monitoramento de eventos adversos graves à vacina contra febre amarela, o que permitiu a
detecção de um óbito temporalmente associado à mesma.
Entre 1 de janeiro e 8 de maio foram notificados 99 casos suspeitos de febre
amarela, dos quais 32 foram confirmados. Metade dos casos confirmados (n = 16) evoluiu
para óbito, alcançando-se uma taxa de letalidade de 50%.
81
Em relação à distribuição por sexo, a maioria (29 casos) era do sexo masculino, o
que representa 90,6%, numa razão de 9,6:1 em relação ao sexo feminino (Tabela 20).
Tabela 20. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo sexo.
Minas Gerais, 2001
Sexo
N
%
Feminino
3
9,4
Masculino
29
90,6
Total
32
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Quanto à distribuição por idade, a mediana encontrada foi de 40 anos, com
intervalo de 16 a 69 anos. Na Tabela 21 é apresentada a freqüência segundo faixa etária.
Observa-se que a maior concentração de casos (65,6%) foi no grupo etário de 20 a 49 anos de
idade. Não houve registro em menores de 10 anos de idade.
Tabela 21. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
faixa etária. Minas Gerais, 2001
Faixa etária (anos)
N
%
1 - 10 anos
-
-
10 - 19 anos
4
12,5
20 - 49 anos
21
65,6
50 anos e +
7
21,9
Total
32
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Em relação à situação vacinal, um caso relatou e comprovou ter recebido uma
dose de vacina contra febre amarela 14 dias antes do início dos sintomas, o que fez levantar a
suspeita de evento adverso grave. Entretanto, o seqüenciamento genético do vírus isolado do
paciente durante a investigação concluiu tratar-se de caso de doença pelo vírus silvestre.
82
A atividade realizada no momento da exposição foi informada em 31 casos
(Tabela 22), tendo predominado o grupo de trabalhadores rurais (41,9%) e de indivíduos que
desenvolviam atividades de lazer em ambiente silvestre (19,4%).
Tabela 22. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
atividade no momento da exposição. Minas Gerais, 2001
Atividade
N
%
Trabalhador rural
13
41,9
Lazer/pescaria
6
19,4
Atividades do domicílio
6
19,4
Caminhoneiro
3
9,7
Trabalhador urbano
2
6,5
Trabalhador da construção civil
1
3,2
Total
31
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
A confirmação foi feita por critério laboratorial em 29 casos (90,6%) e por critério
clínico-epidemiológico em 3 casos (9,4%).
A Tabela 23 apresenta a distribuição das amostras de material biológico dos casos,
que resultaram positivas de acordo com o tipo de exame realizado.
Tabela 23. Freqüência e percentual de amostras positivas para febre amarela segundo
tipo de exame realizado. Minas Gerais, 2001
Tipo de exame
N
%
IgM (MAC-ELISA)
26
72,2
Isolamento de vírus
2
5,6
Histopatológico
4
11,1
Imunohistoquímica
4
11,1
Amostras examinadas
36
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
O teste imunoenzimático de MAC-ELISA foi a técnica laboratorial que
apresentou o maior percentual de confirmação de amostras (72,2%). Quatro casos tiveram
83
confirmação através de mais de um teste laboratorial, sendo que um deles foi positivo
mediante quatro técnicas diferentes (MAC-ELISA, isolamento de vírus, histopatologia e
imunohistoquímica).
As tabelas 24, 25 e 26 mostram a distribuição dos casos de acordo com a zona de
residência, município de infecção e município de residência, respectivamente. A maior parte
dos casos (n = 24) residia em zona urbana, com um percentual de 75% (Tabela 24). Um caso,
que não relatou exposição ocupacional ou turística a área silvestre, morava em residência
urbana de bairro periférico, próximo a nascente com vegetação, não sendo possível concluir
se houve transmissão urbana. A busca ativa desencadeada na vizinhança, com vacinação casa
a casa, precedida de coleta de soro, não detectou nenhum outro infectado. Cabe destacar que
muitas cidades da região possuem as áreas urbanas muito próximas de veredas (mata
selvagem).
Tabela 24. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo zona de
residência. Minas Gerais, 2001
Zona de residência
N
%
Urbana
24
75,0
Rural
8
25,0
Total
32
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
A transmissão se deu em 12 municípios. Dos casos confirmados, seis (19%)
tinham o município Leandro Ferreira como local de residência e 7 (21,9%) como local
provável de infecção, tendo sido o município com maior número de casos. Os municípios de
Bom Despacho, Nova Serrana e Santo Antonio do Monte registraram 4 casos (12,5%) cada
um. Um menor número de casos foi confirmado em outros oito municípios da região (Tabela
25).
84
Tabela 25. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
município de infecção. Minas Gerais, 2001
Município de infecção
Leandro Ferreira
Bom Despacho
Nova Serrana
Sto Antonio do Monte
Serra da Saudade
Martinho Campos
São Gotardo
Dores do Indaiá
Conceição do Pará
Pitangui
Pará de Minas
Luz
Total
N
%
7
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
32
21,9
12,5
12,5
12,5
9,3
6,3
6,3
6,3
3,1
3,1
3,1
3,1
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Com exceção de um caso residente em outra Unidade Federada (Alagoas), todos
os demais eram residentes em Minas Gerais (Tabela 26).
Tabela 26. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
município de residência. Minas Gerais, 2001
Município de residência
Leandro Ferreira
Nova Serrana
Sto Antonio do Monte
Belo Horizonte
Contagem
Martinho Campos
Bom Despacho
Divinópolis
Conceição do Pará
Dores do Indaiá
Pará de Minas
Luz
São Gotardo
Maceió
Serra da Saudade
Total
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
N
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
32
%
18,8
12,5
12,5
9,4
9,4
6,3
6,3
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
100,0
85
A curva epidêmica está representada na Figura 11. Teve uma duração de 9
semanas, com o início dos sintomas do primeiro caso em 14/01/2001 e do último em
13/03/2001. Apresentou uma concentração de 59,4% dos casos entre as semanas
epidemiológicas 6 e 9 (n = 19), com o pico máximo na semana epidemiológica 9.
Figura 11. Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Minas Gerais, 2001.
A localização espacial do surto é mostrada na Figura 12. No destaque, o Estado de
Minas Gerais, com a localização dos municípios com transmissão, ressaltando-se o Município
de Leandro Ferreira (em azul claro), que registrou o maior número de casos.
86
Figura 12. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em 2001,
destacando-se a localização do surto registrado no Estado de Minas
3.2.2.4. Investigação epidemiológica do surto de Minas Gerais – 2002/2003
Em 24 de dezembro de 2002, o Hospital de Serro, Minas Gerais, pertencente à
DRS/Diamantina, começou a atender pacientes moradores da localidade rural denominada
Lucas, no município de Serro, que apresentavam febre e icterícia acompanhadas ou não de
hemorragia. O encontro de anticorpos tipo IgM específicos contra o vírus da febre amarela em
quatro doentes confirmou o início de um surto silvestre da doença, que atingiu outros
municípios vizinhos.
Serro foi o município que registrou o maior número de casos, porém houve
transmissão também em Sabinópolis, Alvorada de Minas e Materlândia, todos pertencentes à
DRS-Diamantina, além dos municípios de Guanhães e Senhora do Porto, ambos da DRSItabira.
Nas matas da região foram identificados primatas não humanos dos gêneros
Alouatta (guariba), Cebus (guigó) e Callithrix (soim), este último observado com freqüência
no peridomicílio. Na localidade Lucas foi identificada epizootia em Callithrix, próxima a
87
residências de casos confirmados, em janeiro de 2003. Foi realizada investigação
entomológica nos municípios envolvidos no surto, tendo sido capturados mosquitos dos
gêneros Haemagogus e Sabethes (102 exemplares), entretanto até o momento não foi possível
realizar as provas laboratoriais para tentativa de isolamento viral.
Decorridos três meses, quando o último caso foi detectado, foram notificados 93
casos suspeitos de febre amarela silvestre, dos quais 63 (67,7%) foram confirmados e 30
(32,3%) descartados. Vinte e três pessoas morreram, sendo a taxa de letalidade pela doença
igual a 36,5%. O sexo masculino representou 85,7% dos casos confirmados (n = 54), numa
relação de 6:1 em relação ao sexo feminino.
Na Tabela 27 está representada a distribuição dos casos por faixa etária. Observase uma pequena proporção de casos entre 10 e 19 anos de idade (3,2%), porém a maior
concentração ocorreu em pessoas com idade entre 20 e 49 anos (71,4%), seguindo-se o grupo
de indivíduos com 50 anos e mais (25,4%). A mediana de idade foi de 39 anos (intervalo: 16
anos a 82 anos).
Tabela 27. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
faixa etária. Minas Gerais, 2002 a 2003
Faixa etária
N
%
1 - 9 anos
-
-
10 - 19 anos
2
3,2
20 - 49 anos
45
71,4
50 anos e +
16
25,4
Total
63
100,0
4 Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Um caso (1,6%) tinha registro de vacinação na carteira há cerca de um ano e onze
meses antes da data de início dos sintomas; os demais, 52 (82,5%) não relataram história
anterior de vacinação e em 10 casos (15,9%) não foi possível obter essa informação.
88
A distribuição dos casos segundo a ocupação no momento da exposição é
mostrada na Tabela 28. A maior freqüência foi observada entre trabalhadores rurais (n = 54),
que representou 87,1% dos casos. Para um caso não foi possível obter a informação.
Tabela 28. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
ocupação. Minas Gerais, 2002 a 2003
Atividade
N
%
Trabalhador rural
54
87,1
Lazer/pescaria
-
-
Atividades do domicílio
5
8,1
Caminhoneiro
-
-
Trabalhador urbano
1
1,6
Trabalh. Construção civil
2
3,2
Total
62
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Nas tabelas 29 e 30 estão distribuídos os casos de acordo com a procedência.
Observa-se que 54 (85,7%) residiam e trabalhavam em área rural (Tabela 29).
Tabela 29. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
zona de residência. Minas Gerais, 2002 a 2003
Zona de residência
N
%
Urbana
8
12,7
Rural
54
85,7
Urbana/rural
1
1,6
Total
63
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
Todos os infectados eram do Estado de Minas Gerais. Os municípios de Serro e
Sabinópolis foram os mais atingidos, os quais registraram 39,7% e 34,9% dos casos,
respectivamente (Tabela 30).
89
Tabela 30. Freqüência e percentual dos casos de febre amarela registrados segundo
município de infecção. Minas Gerais, 2002 a 2003
Município de infecção
N
%
Serro
25
39,7
Sabinópolis
22
34,9
Senhora do Porto
6
9,5
Alvorada de Minas
6
9,5
Guanhães
3
4,8
Materlândia
1
1,6
Total
63
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
A localização do surto é mostrada na Figura 13.
Figura 13. Mapa do Brasil com registro de atividade do vírus da febre amarela em 20022003, destacando-se a localização do surto registrado no Estado de Minas Gerais.
A confirmação se deu por critério laboratorial em 57 casos (90,5%) e por vínculo
epidemiológico em 6 casos (9,5%), nos quais não foi possível realizar exames laboratoriais. O
90
exame que mais confirmou casos foi o teste de MAC-ELISA, com 32 amostras positivas
(50,8%), seguido do isolamento de vírus, que foi positivo em 11 casos (Tabela 31).
Tabela 31. Freqüência e percentual de amostras positivas para febre amarela segundo
tipo de exame realizado. Minas Gerais, 2002 a 2003
Tipo de exame
N
%
IgM (MAC-ELISA)
32
50,8
Isolamento de vírus
11
17,4
Histopatológico
10
15,9
Imunohistoquímica
4
15,9
Amostras examinadas
63
100,0
Fonte: Banco de dados do PVCFA/SVS/MS
A curva epidêmica é apresentada na Figura 14. O surto durou onze semanas. O
pico mais alto ocorreu na semana epidemiológica 3, decorridas quatro semanas do
aparecimento do primeiro caso. Vinte e dois casos (35%) foram registrados nesta semana.
Entre as semanas 1 e 6 concentraram-se 84,1% dos casos (n = 53).
Figura 14 . Curva epidêmica. Surto de febre amarela silvestre. Minas Gerais, 2002 a 2003.
91
3.2.3. Resultados da análise das características sócio-ambientais dos focos de ocorrência
dos surtos
3.2.3.1. Aspectos sócio-ambientais do foco de Goiás – 1999/2000
O epicentro do surto de febre amarela ocorrido em Goiás entre dezembro de 1999
e início do ano 2000 foi o município de Alto Paraíso de Goiás. Distante 230 km de
Brasília/DF, está localizado na Rodovia GO-118, no limite do Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros.
O principal rio que corta o Parque Nacional é o Rio Preto, afluente do Rio
Tocantins, que comporta inúmeras cachoeiras. O bioma presente no trecho goiano da Bacia do
Tocantins é o Cerrado, caracterizado por árvores esparsas e vegetais rasteiros. Existem matas
de galerias (matas primárias contínuas) geralmente confinadas a estreitos cinturões ao longo
dos rios e encostas de morros, com árvores que alcançam 15 a 25 metros de altura, espaçadas
de tal forma que a luz solar atinge o solo (Figuras 15 e 16).
Figura 15. Aspectos da vegetação de Alto Paraíso de Goiás, GO (Foto cedida pela SES/GO)
92
Figura 16. Aspectos da vegetação de Alto Paraíso de Goiás, GO (Foto cedida pela SES/GO)
O município de Alto Paraíso de Goiás apresenta uma grande variação altimétrica,
que vai de 600 até cerca de 1.676 m, o que torna o clima bastante ameno. No Estado de Goiás,
a estação chuvosa ocorre entre outubro e maio, o clima é tropical semi-úmido, com duas
estações bem definidas, verão úmido e inverno seco.
Dados relativos a balanço hídrico e temperatura obtidos junto ao Instituto
Nacional de Meteorologia mostraram que intensa quantidade de chuvas caiu sobre o Estado
de Goiás no período de dezembro de 1999 a março de 2000, correspondendo ao verão. A
precipitação variou de 281/mm em março a 390/mm no mês de janeiro (média de 326,5/mm
nesse período), diminuindo a partir do mês de abril e chegando a zero em junho. No mesmo
período, a temperatura média atingiu o máximo de 24,1ºC nos meses de janeiro e março,
diminuiu a partir de maio, registrando-se a temperatura média mais baixa (20ºC) no mês de
junho.
O município possui uma crescente estrutura voltada para o turismo, com
pousadas, hotéis e áreas de camping. Uma das mais importantes atividades econômicas na
região de Alto Paraíso é o artesanato ligado à confecção de arranjos decorativos com plantas
93
regionais. Feitos principalmente com flores, frutos e sementes e comercializados com o nome
“Flores do Cerrado”, esses arranjos dão empregos a diversas pessoas e chegam atingir o
mercado externo.
Alto Paraíso de Goiás é o santuário goiano da ecologia, do misticismo, das
terapias naturais, do espiritualismo e da paz. Ali estão instalados mais de 40 grupos místicos,
filosóficos e religiosos sendo reconhecida pelos espiritualistas de todo mundo como uma das
regiões do planeta destinadas a receber seres escolhidos pelos planos superiores da vida, Alto
Paraíso se destaca no Brasil e no mundo como a Capital Brasileira do Terceiro Milênio. O
paralelo 14, que atravessa a lendária cidade de Machu Pichu, no Peru, também passa sobre
Alto Paraíso, em um local denominado Jardim Zen, onde pedras e flores compõem um
cenário místico, originando fantásticas histórias sobre discos voadores e seres extraterrestres.
Visitantes de todas as partes são atraídos pela maravilha selvagem e praticamente intacta do
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (www.chapada.com/portugues/altoparaiso.htm ,
acessado em 19/08/2004).
Na virada do ano de 1999 para 2000, centenas de turistas de São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília atenderam ao chamado da mídia para o “Reveillon do Milênio” em Alto
Paraíso, e muitos deles adoeceram, alguns até morreram de febre amarela. A ameaça vinda
das matas assustou os moradores das grandes capitais, o que levou milhares de brasileiros aos
postos de vacinação. A epidemia foi notícia nos principais jornais do país. Sob o título
“Cientista francês caça mosquito Janthinomys”, o Jornal de Brasília disparou:
Uma trilha de guerrilha, tal qual as que conheci na realidade, quando vivi, como jornalista, a
Guerra de Angola, na África. Os mesmos percalços e suspense de uma expedição de risco pela
floresta fechada. Só então o cientista francês Nicolas Degallier viu-se frente a frente com o
Haemagogus janthinomys, o mosquito da febre amarela silvestre. Nicolas levantou a calça, expôs
a perna e, em segundos, uma onda de Janthinomys veio picá-lo. Com um "puçá" o francês sugava
rapidamente o mosquito. Estávamos no epicentro do foco de febre amarela silvestre, na mata que
94
cerca o pequeno vilarejo de Moinho, a seis quilômetros de Alto Paraíso, o que significa dizer, a
256 quilômetros da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ali foram encontrados sinais de que a
epidemia de febre amarela silvestre mata os seres da floresta: dois macacos mortos (JORNAL DE
BRASÍLIA, 19/1/2000, p. 1-B) (Figura 17).
Figura 17. Construção de armadilha para captura de vetores silvestres pela equipe de Nicolas
Degallier em Alto Paraíso de Goiás, 2000 (Foto cedida pela SES/GO).
3.2.3.2. Aspectos sócio-ambientais do foco da Bahia – 2000
O município de Coribe está situado no sudoeste da Bahia, banhado pelos rios
Formoso e Corrente, na Bacia do Médio São Francisco. Administrativamente, faz parte da 26ª
Diretoria Regional de Saúde (DIRES) – Santa Maria da Vitória. Situa-se a uma altitude de
657 metros acima do nível do mar, com sol abundante durante todo o ano e clima semi-árido,
típico do polígono da seca, com temperaturas elevadas e chuvas escassas e irregulares entre
os meses de outubro e março, com 4 a 5 meses secos durante o ano. A pluviosidade anual
varia, em média, entre 0 e 100 mm, na estação seca (inverno) e no período chuvoso (verão),
respectivamente.
O município de Coribe está inserido em área de tensão ecológica entre os biomas
Caatinga e Cerrado, em que a vegetação predominante mistura espécies de ambos, porém os
ecossistemas encontram-se bastante antropizados, com a substituição de espécies vegetais
95
nativas por cultivos e pastagens. Sua população total é de 15.148 habitantes, com 5.695
habitantes na zona urbana e 9.453 na zona rural, distribuídos em uma área de 2.845 km2
(IBGE, 2000). Tem a sua base econômica fundamentada principalmente no binômio
agricultura/pecuária, e hoje se constitui na mais nova fronteira agrícola da Bahia, com ênfase
à produção de soja, café, milho e algodão (http://www.coribe.hpg.ig.com.br/ acessado em
13/Out/2004).
A localidade de ocorrência do surto de febre amarela, Fazenda Olho D`Água,
também conhecida como Assentamento Lagartixa, dista cerca de 25 quilômetros da sede do
município de Coribe. Caracterizava-se, à época, como uma área de assentamento do INCRA,
onde as moradias apresentavam aspecto provisório, algumas com cobertura de plástico,
situadas em meio à mata (Figuras 18 e 19).
Figura 18. Aspectos paisagísticos e da vegetação de Coribe, BA (Foto cedida pela SES/BA)
96
Figura 19. Aspectos paisagísticos e da vegetação de Coribe, BA (Foto cedida pela SES/BA)
3.2.3.3. Aspectos sócio-ambientais do foco de Minas Gerais – 2001
O surto de febre amarela de Minas Gerais em 2001, teve lugar,
predominantemente, na Regional de Saúde de Divinópolis (DRS-Divinópolis), envolvendo
também municípios da região metropolitana de Belo Horizonte (DRS-Metropolitana) e da
Regional de Saúde de Sete Lagoas (DRS-Sete Lagoas).
A DRS-Divinópolis está situada na região centro oeste de Minas Gerais,
aproximadamente a 150 km de Belo Horizonte, sendo composta por 54 municípios. Tem uma
população total de 1.027.967 habitantes (IBGE, 2001), com aproximadamente 86% vivendo
na zona urbana e 14% na zona rural. É uma região de clima tropical, contando apenas com
duas estações, inverno seco e verão chuvoso, com temperaturas médias variando entre 27º e
22ºC. Ocupada pelo segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado, tem a savana como vegetação
predominante, em seu estrato gramíneo-lenhoso composto predominantemente por árvores
esparsas e vegetais rasteiros, apresentando extensas áreas antropizadas. Ao longo dos cursos
d’água, as florestas de galeria fazem parte da fisionomia da savana, em terrenos relativamente
97
férteis, dotados de locais agradáveis para a prática de pescaria e banhos de rios, como foi
possível observar nos rios Lambari, Picão e Pará, que cortam a região e fazem parte da Bacia
do Rio São Francisco (Figuras 20 e 21).
O Centro Oeste destaca-se como uma das regiões mais populosas de Minas
Gerais, tendo apresentado a terceira maior taxa de crescimento populacional no Estado
(14,93%) entre 1991 e 2000, sendo superada apenas pela região Central e Triângulo Mineiro.
São 987.765 habitantes (Censo 2000), 845.505 deles vivendo na zona urbana e 142.260
habitantes na zona rural, com um grau de urbanização de 85,60%, o terceiro maior do Estado.
Figura 20. Praia no Rio Lambari, Bom Despacho, MG (Foto cedida por Roberto Dusi)
98
Figura 21. Aspectos paisagísticos, Rio Pará, MG (Foto cedida por Roberto Dusi)
A atividade econômica principal está no setor de serviços, atualmente em franca
expansão, tendo à frente o turismo de negócios firmando-se como tendência regional. No
parque industrial destaca-se a metalurgia (maior produtor de utensílios de alumínio do país),
confecções (pólo nacional com mais de 700 empresas instaladas), bebidas e alimentos. Na
pecuária, destacam-se a produção de leite, suínos e aves (SCAVAZZA, 2003).
3.2.3.4. Aspectos sócio-ambientais do foco de Minas Gerais – 2002/2003
Entre dezembro de 2002 e março de 2003, ocorreu um surto de febre amarela na
região nordeste do Estado de Minas Gerais. Serro foi o município mais atingido, porém houve
transmissão também em Sabinópolis, Alvorada de Minas e Materlândia, todos da Regional de
Saúde DRS-Diamantina, além do registro de autoctonia nos vizinhos municípios de Guanhães
e Senhora do Porto, ambos da DRS-Itabira (DIMECH ET AL., 2003).
Nessa região vive uma população aproximada de 1 milhão de pessoas com cerca
de 75% vivendo em área rural, cuja atividade econômica predominante caracteriza-se pela
99
prática de agricultura e pecuária rudimentares. É uma região montanhosa, cortada por muitos
córregos, ribeirões e rios, como o Ribeirão do Lucas e Rio Guanhães, que fazem parte da
bacia hidrográfica do Rio Doce.
A região insere-se no bioma Cerrado, em que a vegetação predominante é o
cerrado em suas formações florestais savana e campos rupestres. Parte da mesma está inserida
em área de tensão ecológica, de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, onde a cobertura
vegetal se caracteriza por campos de altitude e vegetação de florestas semi-caduciformes.
O solo é árido, em maior parte, sendo castigado regularmente por secas e
enchentes. A fitofisionomia predominante já foi muito descaracterizada pela ação antrópica
com as derrubadas para o aproveitamento de lenha para carvão, atividade econômica muito
praticada na região. Vastos reflorestamentos com plantações de eucalipto substituíram
grandes trechos do cerrado original nas superfícies planas das chapadas, sendo utilizadas para
celulose e carvão vegetal o que, de uma certa forma, ameniza um pouco a situação, pois criam
utilidade econômica para algumas parcelas do solo. Ainda assim, remanescentes do cerrado
misturam-se aos restos das matas de galeria ao longo dos ribeirões, ao tempo em que se
observam árvores típicas da Mata Atlântica (www.ambientebrasil.com.br , acessado em
19/08/2004) (Figuras 22 e 23).
100
Figura 22. Aspectos da vegetação de Serro, MG (Foto cedida por Wanderson Kleber de
Oliveira)
Figura 23. Aspectos da vegetação de Sabinópolis, MG (Foto cedida por Wanderson Kleber
de Oliveira)
O clima é marcado por temperaturas cujas médias anuais giram em torno dos
18ºC. A média das máximas é de aproximadamente 23,8ºC enquanto que a média das
mínimas encontra-se próximo dos 14ºC. Os meses mais frios são junho, julho e agosto, e no
101
verão, o mês de janeiro destaca-se como o mais quente, com a máxima de 27,8ºC (as
informações referem-se a normais climatológicas do INMET para o período 1961 - 2000 da
estação de Diamantina, por não existirem dados climáticos específicos para a região).
A maior quantidade de chuvas concentra-se no mês de janeiro, com um montante
de 307 mm. O inverno é seco, sendo julho o mês de menor índice pluviométrico. A umidade
relativa varia ao longo do ano em torno de 70%, sendo agosto o mês que apresenta o valor
mais baixo. Em dezembro, quando a disponibilidade hídrica é maior, a umidade relativa do ar
chega a quase 82%.
3.2.4. Comparação de características epidemiológicas e ambientais entre os quatro focos
de ocorrência de surtos de febre amarela
Nos Quadros 2 e 3 é apresentado um resumo dos principais atributos dos casos
registrados nos quatro surtos e das áreas afetadas.
Quadro 2. Atributos dos casos de febre amarela silvestre confirmados nos quatro surtos
ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003.
Atributo
Goiás
Bahia
Minas Gerais 1
Minas Gerais 2
76,6
23,4
31
(3 – 75)
100,0
27
(13 - 52)
90,6
9,4
40
(16 - 69)
85,7
14,3
39
(16 - 82)
Atividades de turismo + lazer (%)
15,9
20,0
19,3
Atividades rurais (%)
31,7
80,0
41,9
Casos com < 20 anos (%)
14,1
30,0
12,5
Percentual (%) de autoctonia no LPI(1)
Casos vacinados contra FA (%)
61,0
100,0
98,4
100,0
9,4
-
-
1,6
57,8
20,0
75,0
-
43,8
30,0
50,0
36,5
19
7
9
11
Sexo
Masculino (%)
Feminino (%)
Idade mediana (anos)
Intervalo (anos)
Casos de transmissão silvestre residentes
em zona urbana (%)
Letalidade (%)
Duração do surto
(semanas)
(1) LPI = local provável de infecção (a unidade de análise foi o município)
87,1
3,2
102
Quadro 3. Atributos das áreas afetadas nos quatro surtos de febre amarela silvestre
ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003.
Atributo
Goiás
Bahia
Minas Gerais 1
Minas Gerais 2
49
1
35
6
Haemagogus
janthinomys
Ochlerotatus
scapularis
Haemagogus
janthinomys
Haemagogus
janthinomys
Alouatta
Cebus
Callithrix
Callithrix
Endêmica
Indene
Transição +
Indene
Indene
Entre 500 e 1000
Entre 500 e 800
Entre 500 e 1100
Entre 500 e 1100
42,8
50,1
28,4
52,2
Rio Tocantins/
Rio Araguaia
Rio Paraná
Rio São Francisco
Rio São Francisco
Rio Doce
Cerrado
Área de tensão
ecológica entre
Caatinga e Cerrado
Cerrado
Área de tensão
ecológica entre
Cerrado e Mata
Atlântica
Nº municípios atingidos
(casos e epizootias)
Vetor predominante
PNH(1) predominante na
epizootia
Área de estratificação
epidemiológica do PVCFA
Altitude (limites em
metros)
Uso do solo (cultura, solo
exposto, área edificada) (%)
Bacia hidrográfica
Bioma
(1)
PNH = primata não humano
O Quadro 4 apresenta e compara as imagens de satélite dos quatro focos de febre
amarela identificados no período, considerando também a localização dos casos registrados
segundo provável local de ocorrência, a distribuição da rede rodoviária e a malha fluvial.
103
Quadro 4. Imagens de satélite, limites do Kernel e localização de casos nos focos de
febre amarela humana ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003.
Focos de Goiás – 1999/2000
Foco de Minas Gerais – 2001
Foco da Bahia – 2000
Foco de Minas Gerais – 2002/2003
No Estado de Goiás observou-se que a maior parte dos casos se concentrou numa
faixa de vegetação classificada como cerradão ou cerrado alto, que atravessa o norte da
fronteira com Tocantins até o Distrito Federal, na bacia do Tocantins-Araguaia. Verificou-se
também a presença de dois focos menores, não contínuos, um no limite do Estado de Minas
Gerais, na bacia do Paraná, e outro no limite com Mato Grosso, na bacia do Araguaia. Já no
foco da Bahia destaca-se uma pequena área de vegetação mais densa, onde se concentraram
os casos. Os dez casos registrados ocorreram em apenas duas localidades bem próximas a um
entroncamento rodoviário.
104
Os casos do foco de Minas Gerais - 2001 concentraram-se em área já bastante
modificada por atividades antrópicas, com pequenos trechos de vegetação de mata rarefeita
distribuída de forma descontínua, acompanhando as margens dos rios. Uma das características
importantes é a extensão da malha fluvial e também a importância da rede rodoviária, dado
que a área se localiza próxima da cidade de Belo Horizonte.
O foco de Minas Gerais - 2002/2003 se mostrou como aquele onde a área estava
mais modificada pelas atividades humanas. Os fragmentos florestais, alem de descontínuos,
apresentaram-se rarefeitos. Os casos se concentraram em localidades próximas a um
entroncamento rodoviário, com solo exposto e, portanto, muito desmatadas.
Como foi observado, as paisagens dos diferentes focos foram bem distintas, indo
desde o foco difuso de Goiás, onde havia uma vegetação de cerradão preservada, inclusive
integrando como corredor diferentes áreas de preservação ambiental, até o foco de Minas
Gerais, na cabeceira do Rio Doce, já profundamente desmatada há muitos anos, por atividades
de extração de madeira para produção de carvão.
Todos os focos ocorreram em áreas próximas de rodovias e de rios.
O Quadro 5 mostra as imagens classificadas dos focos segundo a vegetação
predominante e as mais diversas formas de utilização do solo, além dos casos
georreferenciados segundo provável local de ocorrência.
As imagens classificadas permitem visualizar melhor a participação dos diferentes
tipos do uso do solo nos distintos focos, observando-se o efeito de mosaico em todos eles.
Destaca-se a ocorrência de focos em áreas de transição, ecótonos, entre vegetação preservada
como o cerradão, cerrado, mata ciliar e áreas de cultura (Quadro 5).
105
Quadro 5. Classificação do uso do solo e da cobertura vegetal nos quatro focos de febre
amarela humana ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2003.
Foco da Bahia – 2000
Foco de Goiás – 1999/2000
Foco de Minas Gerais – 2001
Foco de Minas Gerais – 2002/2003
Localidade com caso de febre amarela
A Figura 24 apresenta a distribuição espacial dos focos de febre amarela humana
na área Extra Amazônica, de modo a mostrar a distância entre eles e suas áreas de
abrangência, determinadas através de uma estatística Kernel. Pode-se observar que enquanto o
foco de Goiás se mostrou difuso, distribuindo-se em uma grande área, os outros focos e,
principalmente o da Bahia, apresentaram-se com características típicas de focos limitados.
106
Limite da área
de estudo
Focos de FA
Figura 24. Focos de casos humanos de febre amarela na Região Extra Amazônica. Brasil,
1999 a 2003
Bacia do Rio
Tocantins
Bacia do Rio São
Francisco
Bacia do Rio
Paraná
Bacia do Rio
Doce
Legenda:
Rios principais
Limite dos focos
Municípios com mais
de 50.000 hab.
Figura 25. Principais cidades, rios e focos de casos humanos de febre amarela na Região
Extra Amazônica. Brasil, 1999 a 2003
107
As Figuras 25 e 26 seguintes mostram as relações espaciais entre os focos e as
bacias hidrográficas da região, a rede rodoviária e as cidades com mais de 50.000 habitantes.
Na Figura 25 observa-se a proximidade dos focos em diferentes bacias: a dos rios
Tocantins-Araguaia, do São Francisco, do Paraná e do Doce, mostrando como o processo
enzoótico-epizoótico se deslocou amplamente nas regiões Centro Oeste e Sudeste, alcançando
áreas que não estão diretamente interligadas através de vegetação florestal.
Legenda:
Rodovias
Limite dos focos
Municípios com mais
de 50.000 hab.
Figura 26. Principais cidades, rodovias e focos de casos humanos de febre amarela na Região
Extra Amazônica. Brasil, 1999 a 2003.
Na Figura 26 observa-se a proximidade dos focos de cidades com mais de 50.000
habitantes, principalmente nos estados de Goiás e Minas Gerais. A distribuição das estradas
de rodagem mostra que esses focos são próximos de rodovias e até mesmo de entroncamentos
rodoviários, localizando-se em áreas com forte pressão antrópica.
108
3.3. Características da distribuição espacial das epizootias em primatas não humanos
suspeitas e confirmadas de febre amarela notificadas no período de 1999 a 2003 fora da
Amazônia Legal
No período deste estudo foram notificadas mortes de primatas não humanos em
171 localidades de 100 municípios em cinco estados situados fora da Amazônia Legal.
Das 171 notificações, dezoito (10,5%) foram confirmadas laboratorialmente (8 em
Goiás, 6 em Minas Gerais, 3 no Rio Grande do Sul e 1 na Bahia). Na Bahia a confirmação se
deu de forma indireta, mediante o isolamento do vírus da febre amarela em mosquitos
silvestres Ochlerotatus scapularis capturados no local da epizootia, uma vez que só foram
encontrados cadáveres dos animais mortos, impróprios para exames. De igual modo, uma
epizootia no município de Minaçu, Goiás, foi confirmada pelo isolamento de vírus em
Haemagogus janthinomys coletados durante a investigação.
O maior número de registros de epizootias foi no Estado de Minas Gerais, com 49
municípios envolvidos (49%), seguido de Goiás, com 36 municípios (36%), Rio Grande do
Sul, com 13 municípios (13%), Bahia, com registro em um município e Paraná, onde o
mesmo município notificou epizootias em dois anos consecutivos.
Considerando o município de ocorrência, 25 epizootias (25%) geraram casos
humanos (15 municípios de Goiás, 9 de Minas Gerais e 1 da Bahia).
109
Figura 27. Municípios com casos humanos confirmados de febre amarela silvestre e
epizootias suspeitas em primatas não humanos fora da Amazônia Legal. Brasil, 1999 a 2003.
No mapa do Brasil apresentado na Figura 27 foi feita a distribuição espacial das
epizootias notificadas como suspeitas de febre amarela e dos casos humanos confirmados fora
da Amazônia Legal, tendo como unidade de análise o município provável de infecção. De um
modo geral, observou-se uma proximidade geográfica entre os dois eventos. No Rio Grande
do Sul não houve registro de casos humanos, apesar de ter ocupado o terceiro lugar em
notificações de epizootias.
Em 84 eventos foi informado o gênero do primata não humano envolvido. Cabe
ressaltar que em cinco localidades de Goiás foram encontrados macacos dos gêneros Alouatta
e Cebus na mesma epizootia e em Minas Gerais foi citado um primata vulgarmente conhecido
como “macaco da Angola”, o qual não pôde ser identificado como nenhum dos gêneros
conhecidos. Desta forma, totalizaram-se 89 informações sobre os gêneros dos primatas, assim
distribuídos: Alouatta (guariba) esteve presente em 48 epizootias (53,9%), seguido do Cebus
110
(macaco prego) e do Callithrix (soim), ambos citados em 20 situações (22,5%) e o “macaco
da Angola”, citado uma vez (1,1%).
A análise por estado permitiu observar algumas particularidades: (a) o gênero
presente em todas as epizootias do Rio Grande do Sul foi o Alouatta; (b) apenas a espécie
Cebus apella foi encontrada na Bahia e no Paraná; (c) em Minas Gerais foram notificadas
epizootias em 49 municípios, em um total de 106 localidades, porém o gênero só foi
identificado em 41 casos. Neste Estado, o gênero Callithrix predominou sobre os demais,
tendo sido citado em 20 eventos (48,8%), seguido do Alouatta, com 16 registros (39%) e, por
último, o Cebus, encontrado em 5 (12,2%) situações; (d) em Goiás só houve informação sobre
o gênero em 20 casos, sendo 11 (55%) identificados como Cebus e nove (45%) como
Alouatta.
Ao proceder à distribuição espacial das epizootias no mapa do Brasil observou-se
que nas regiões Sudeste e Centro Oeste a altimetria variou entre 400 e 1300 metros, enquanto
na região Sul as áreas de distribuição eram mais planas, localizadas entre 100 e 700 metros de
altitude.
Com a utilização de mapas temáticos para identificação dos tipos de vegetação
(Figura 28), observou-se que a maioria dos eventos (epizootias e casos humanos) ocorreu em
paisagens de savanas (cerrado), especialmente em Goiás e Minas Gerais, com grandes
extensões de áreas de vegetação secundária e atividades agrícolas. Verificou-se também a
ocorrência de ambos os eventos em áreas de savana estépica no semi-árido baiano e em áreas
de tensão ecológica em Minas Gerais (caracterizadas por vegetação de floresta estacional
semi-decidual, savana e campos de altitude). As epizootias do Rio Grande do Sul ocorreram
com ausência de casos humanos, em áreas com vegetação do tipo estepe, caracterizada por
campos com formações gramíneo-lenhosas, intercaladas com capões de matas.
111
Figura 28. Municípios com casos humanos confirmados de febre amarela silvestre e
epizootias suspeitas em primatas não humanos fora da Amazônia Legal, segundo o tipo de
vegetação. Brasil, 1999 a 2003
Em relação à bacia hidrográfica, observou-se a ocorrência de epizootias nas
seguintes: Bacia do Tocantins (Goiás), Bacia do São Francisco (Minas Gerais e Bahia), Bacia
do Rio Doce (Minas Gerais), Bacia do Paraná (Goiás, Minas Gerais e Paraná), Bacias do
Uruguai e do Guaíba (Rio Grande do Sul).
As temperaturas médias das áreas com epizootias variaram de acordo com o tipo
de clima, já descrito na caracterização ambiental dos focos. Nas áreas de clima tropical
alternadamente úmido e seco – Minas Gerais, Goiás, trechos da Bahia –, as médias térmicas
situam-se entre 20 °C e 28 °C. Nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, localizados abaixo
do trópico de Capricórnio, o clima é subtropical úmido, com temperaturas médias anuais
abaixo de 20 ºC, sendo a média do mês mais frio inferior a 18 °C. Cabe ressaltar que a
primeira epizootia do Rio Grande do Sul ocorreu no município de Garruchos, no primeiro dia
do mês de maio, quando a temperatura local já estava em declínio pelo início da estação fria.
112
O processo epizoótico-epidêmico da febre amarela no Brasil, no período de 1998
a 2003 é apresentado esquematicamente na Figura 29.
1998
1999
3
1999
2000
2000
1999
2000
Legenda:
2000
Área de ocorrência do evento
Amazônia Legal
2000
2001
2002
2003
A
N
O
S
Extra Amazônica
Tipo do evento
Casos humanos
2001
2002
Epizootias
Casos e epizootias
2001
2002
2003
Fonte: SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/MS
Figura 29. Provável rota de difusão territorial do vírus da febre amarela no Brasil, de 1998 a
2003.
Pode-se observar que após a ocorrência do evento no Estado do Pará, em 1998,
progressivamente foram atingidos os estados de Tocantins e Goiás em direção sul. A partir do
ano da ocorrência da febre amarela silvestre em Goiás, os estados vizinhos, como Bahia,
Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo foram também atingidos, vindo a alcançar,
posteriormente, dois dos estados do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, sugerindo uma
propagação espaço-temporal que podemos considerar uma onda enzoótica-epizoótica e não
apenas um conjunto de eventos isolados.
113
CAPÍTULO 4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise da distribuição espacial dos eventos relacionados à presença do vírus da
febre amarela fora da Amazônia Legal no período de 1999 a 2003 permitiu encontrar
resultados que contribuirão para melhor conhecimento do comportamento da doença no Brasil
e uma melhor orientação das ações de vigilância e controle.
O fato de envolver animais silvestres, em cujo ciclo o homem entra
esporadicamente, é fator impeditivo para a erradicação da doença e para a intervenção efetiva
sobre os processos de transmissão. Entretanto a incorporação de novas abordagens possibilita
a produção de conhecimentos que podem permitir o melhor direcionamento de recursos
visando ao seu controle.
Neste trabalho, apesar do seu foco principal ter sido a descrição da distribuição da
doença em áreas fora da Amazônia Legal, comparamos os atributos epidemiológicos dos
casos com as características daqueles ocorridos nos focos endêmicos tradicionais da
Amazônia Legal. Esta abordagem permite prever se a implantação de um programa de
vigilância de epizootias poderá contribuir para a redução da morbimortalidade por febre
amarela e para evitar o risco de reurbanização no Brasil, já que o complexo causal da doença
depende relativamente pouco de fatores socioeconômicos, podendo ser controlada com
investimentos unidirecionais (PEREIRA, 1995) através de uma vacina reconhecidamente
eficaz e passível de ser usada em grande escala.
Há de se considerar que o sucesso do controle da doença está em identificar
fatores ambientais e comportamentais que explicam como vão sendo produzidos os processos
endêmico-epidêmicos (SABROZA ET AL, 1972), em conhecer a distribuição dos vetores,
reservatórios e hospedeiros, em identificar comportamentos de riscos, e em identificar e
proteger o grupo de suscetíveis.
114
A distribuição da febre amarela no Brasil no período estudado contabilizou 62,6%
do total de casos conhecidos como tendo ocorrido fora da zona endêmica da Amazônia Legal.
Tem sido descrito que as incursões do vírus amarílico para fora da bacia Amazônica – mais
especificamente, na área considerada de transição – se dão em caráter esporádico, ocasiões em
que circula epizoóticamente entre primatas não humanos e se manifesta de forma epidêmica
na população humana (MONDET, 2001; VASCONCELOS ET AL., 2001a). Em termos
comparativos, neste estudo ecológico a febre amarela apresenta uma distribuição geográfica e
temporal distinta, considerando que no curto período de cinco anos ocorreram quatro surtos
com casos humanos fora da bacia Amazônica.
Vários fatores intervêm na complexa cadeia de eventos da doença, o que pode
explicar diferentes resultados, comparando-se áreas endêmicas com não endêmicas ou
diferentes regiões geográficas não endêmicas.
No ciclo silvestre da febre amarela a transmissão do vírus se dá entre macacos
através da picada de diferentes espécies de mosquitos silvestres infectados dos gêneros
Haemagogus e Sabethes e, em algumas ocasiões, o homem entra no espaço de transmissão,
quando então pode vir a ser infectado.
A partir daí, acredita-se que, se houver condições adequadas, pode vir a ser
iniciada uma nova cadeia de transmissão, inter-humana, também intermediada por mosquitos,
adaptados ao ambiente urbano. Assim, características do agente patogênico, do hospedeiro,
dos reservatórios vetores e do meio ambiente devem ser consideradas para se entender
diferentes manifestações espaciais da doença. A importância da reemergência do ciclo urbano
da febre amarela no Brasil é tão grande que a compreensão dos fatores fundamentais do ciclo
básico da febre amarela silvestre e seus padrões de difusão pode ser considerada uma questão
de interesse estratégico, pois transcende a área da saúde.
115
4.1. Fatores que podem ter influído na validade dos resultados deste estudo
4.1.1. Fatores relacionados à metodologia
A diferença da freqüência de febre amarela, nas diversas regiões não
endêmicas investigadas, pode ser explicada em parte pela variação regional do grau de
exposição ao risco. No entanto, aspectos de natureza conceitual e metodológica podem
também explicar parte dessas diferenças.
A duração do tempo de avaliação é um fator que influi nos resultados,
principalmente na análise de padrões de ciclicidade. Períodos curtos fornecem pouca
informação. Não incluímos na análise epidemiológica dos casos período anterior a 1999,
considerando-se a maior precisão dos dados após a implantação de normas e diretrizes pelo
Ministério da Saúde para a vigilância epidemiológica da febre amarela no Brasil.
A definição do que deve ser considerado um “caso” é crucial para a validade de
estudos de morbidade. O progresso científico e tecnológico, bem como situações
epidemiológicas distintas, requerem revisões periódicas das definições de “caso”, de modo a
incorporar novos conhecimentos e tornar mais útil a produção de informação e a comparação
estatística de diferentes áreas geográficas e épocas. Segundo Pereira, entre os fatores que
influenciam o diagnóstico da doença, pode-se relacionar a própria disponibilidade de serviço
de saúde na localidade, o seu nível de competência e complexidade, sua maior ou menor
acessibilidade à população, a continuidade do atendimento que proporciona e o
comportamento das pessoas diante das instituições e dos problemas de saúde (PEREIRA,
1995). Neste estudo foram utilizados somente casos humanos confirmados pelos métodos de
diagnóstico disponíveis ou, em raras situações, por vínculo epidemiológico diante da
impossibilidade de realização de exames laboratoriais específicos.
116
Outra questão metodológica diz respeito à representatividade dos casos, uma vez
que a subnotificação pode ocorrer em grau variável nas diversas regiões comparadas e serem
responsáveis pelas diferenças nas variações geográficas ou quando se comparam
características da febre amarela fora da área endêmica com as particularidades dos focos
endêmicos. Grandes variações podem refletir a cobertura desigual dos registros, resultante do
grau de acesso dos pacientes aos serviços de saúde.
Ademais, casos subclínicos de febre amarela geralmente não são alcançados pelas
estatísticas, exceto quando se realiza busca ativa ou investigações especiais, portanto as
notificações raramente representam todos os casos ocorridos, o que reflete diretamente na
elevada letalidade da doença que traduz a notificação de casos clínicos graves (TAUIL, 1998;
MONATH, 2001; VASCONCELOS ET AL., 1997b, VASCONCELOS, 2003). Por outro
lado, a investigação epidemiológica nos focos costuma identificar, a partir do caso índice, um
conjunto de outros casos, produzindo um agregado e distorcendo padrões de distribuição
espacial.
Questões metodológicas, tais como a forma de obtenção dos dados ou a maneira
de analisá-los, constituem ameaças à validade. Com vistas a reduzir tais ameaças, os dados
utilizados neste estudo foram todos retirados do Banco do Programa de Vigilância e Controle
da Febre Amarela do Ministério da Saúde, estabelecido como “padrão ouro”.
Outro ponto relacionado à qualidade da informação diz respeito à determinação
do local provável de infecção humana e epizootias suspeitas e confirmadas de febre amarela
em macacos. Certamente teria sido mais preciso se as coordenadas geográficas de todos os
locais de ocorrência dos eventos houvessem sido marcadas à época das investigações
epidemiológicas, com a utilização de equipamentos tecnologicamente mais avançados, como
o GPS. No atual estudo, muitos deles, especialmente os referentes aos locais das epizootias,
117
só foram marcados após decorridos meses e até anos, mediante a utilização de croquis de
campo desatualizados, que não contemplam as novas localidades.
Em relação às variáveis selecionadas, como se trata de uma análise de dados
secundários dos serviços de saúde, muitas vezes evidenciaram-se perdas que eventualmente
poderiam interferir na validade da análise.
4.1.2. Fatores ligados ao conhecimento relativo ao “hospedeiro acidental” (humano)
Vários fatores que não foram considerados neste estudo poderiam ter sido
responsáveis pelas diferenças geográficas ou pelo aglomerado de casos nas diferentes áreas
estudadas. Dentre eles, podem ser citados: fatores comportamentais relacionados a estilo de
vida, hábitos culturais e sociais que possibilitem diferentes níveis de exposição ao ciclo
natural da doença (que podem variar com a idade e o sexo); mobilidade de migrantes
contaminados em período virêmico, que podem carregar o vírus para áreas distantes do foco
natural e disseminar a doença; disponibilidade de hospedeiros suscetíveis na região afetada;
maior ou menor suscetibilidade para adquirir infecção; estado imunológico; atratividade aos
vetores locais como fonte de repastos sanguíneos e, finalmente, acessibilidade aos serviços de
saúde.
4.1.3. Fatores relacionados ao meio ambiente
Um dos problemas constatados foi a insuficiência de informação relativa aos
componentes do processo infeccioso básico da febre amarela nos focos naturais,
principalmente nas áreas fora da Amazônia. Isto se refere tanto à dinâmica populacional dos
vetores como aos hospedeiros vertebrados e à interface com o meio ambiente modificado pelo
trabalho humano.
Os dados de registro permanente dos serviços de saúde e aqueles das
investigações dos surtos ainda estão direcionados para o registro e a confirmação laboratorial
118
dos casos, havendo pouca integração entre as atividades de vigilância epidemiológica e
vigilância ambiental.
Fatores biológicos referentes a aspectos do vírus e vetores (reservatórios) podem
afetar a transmissão da febre amarela. Por exemplo, os vetores com mais tempo de vida
podem não ter tempo suficiente para sobreviver ao longo período extrínseco de incubação do
vírus nas condições naturais; podem existir em número suficiente para tornar-se
epidemiologicamente eficazes sob quaisquer condições de suprimento de vírus e distribuição
de hospedeiro não imune; além disso, o grau de contato com o vírus e com os hospedeiros
receptivos pode ser determinante para a produção da infecção. Por sua vez, o vírus pode
sofrer variações no período extrínseco de incubação, dependendo da espécie de mosquito;
pode ainda ter dificuldade de adaptação e de interação com o ambiente onde é introduzido
(SOPER, 1942).
Fatores físicos, como pluviosidade, altitude, vegetação, umidade relativa do ar,
condições de temperatura e de saneamento ambiental, conforme já amplamente comentado na
revisão da literatura, podem favorecer a adaptação e perpetuação dos vetores
(LEARMONTH, 1988; PEREIRA, 1995), mantendo a endemia e/ou propiciando condições
de estabelecimento do padrão enzoótico-epizoótico.
4.2. Fatores que poderiam influir na diferença de morbidade da febre amarela nas
regiões da Amazônia Legal e nos surtos ocorridos fora dessa área
4.2.1. Fatores ligados ao “hospedeiro acidental” (humano) – comparação de
características epidemiológicas
A ocorrência do maior número de casos de febre amarela fora da Amazônia Legal
possivelmente reflete a grande massa de pessoas vacinadas na região endêmica brasileira,
onde a tradição com o uso da vacina vem sendo desenvolvida desde a década de 1930. Exceto
119
um surto em Tocantins e outro no Pará, em 1999 (não apresentados aqui por não serem
objetos deste trabalho), a maioria dos casos na Amazônia Legal ocorreu em caráter
esporádico, como era de se esperar pelos relatos de outros autores (MONDET, 2001;
VASCONCELOS ET AL., 2001b, 2004; VASCONCELOS, 2003). Ao contrário, na área
Extra Amazônica a doença ocorreu em forma de surtos, onde grande parte da população não
tem história de vacinação. Faz-se necessária uma ressalva quanto ao Estado de Goiás que, por
fazer parte da área endêmica, tem prática no uso da vacina desde que foi introduzida no país;
este fato, porém, não impediu a ocorrência de epidemias, provavelmente por apresentar
coberturas vacinais heterogêneas e devido ao fluxo de pessoas não vacinadas procedentes de
outras áreas do Brasil e do exterior.
Foram observados casos de febre amarela em 22 indivíduos com história de
vacinação anterior, alcançando 14,8% dos casos registrados na Amazônia Legal e 6% dos
casos ocorridos fora dessa área. Conforme a norma do PNI, todos os casos considerados
vacinados possuíam registro na carteira de vacinação do SUS. A análise desse achado ficou
prejudicada pelo fato de não ter sido possível obter a informação sobre a data da aplicação da
vacina para todos os casos. Entretanto, reveste-se de importância epidemiológica, pois reforça
que a soroconversão após vacinação, embora bastante elevada, não atinge 100% em todas as
pessoas, como demonstrado por vários autores (SMITH ET AL., 1938, ARYA, 1999 E
LANG ET AL., 1999 APUD MONATH, 2003).
Por outro lado, devido aos problemas operacionais nas áreas endêmicas, pode-se
considerar que a explicação mais provável seja a dificuldade de conservação da vacina em
condições de campo, nestas áreas remotas, com alta umidade e temperatura.
Na literatura mundial existem poucos relatos de indivíduos vacinados com a cepa
17 D que tenham desenvolvido a doença. Elliot faz referência a três casos ocorridos em
soldados ingleses e aliados servindo na África Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial
120
(ELLIOT, 1944 APUD MONATH, 2003); Ross relata um caso fatal em europeu trabalhando
em Uganda, África, em 1952 (ROSS ET AL., 1953 APUD MONATH, 2003). Em nenhum
destes casos foi esclarecido se houve problemas de armazenamento e manuseio após a
reconstituição ou, simplesmente, se houve falha pessoal de resposta imune à vacina. Em
1988, uma mulher espanhola que havia sido vacinada cinco anos antes e possuía um
certificado internacional válido, contraiu febre amarela em viagem à África; neste caso, ao
tempo em que atribuem a falha vacinal a algum defeito imunológico, os próprios autores
refutam a idéia pelo fato da paciente ter sido sempre uma pessoa saudável (NOLLA-SALAS
ET AL., 1989).
Em 1998, há relato de mulher indígena com história de vacinação prévia há treze
anos, que adoeceu e morreu por febre amarela na Guiana Francesa; os autores comentaram
que embora possa ter havido falha vacinal, demonstrada pela ausência de anticorpos
neutralizantes nove anos após a aplicação da vacina, a justificativa mais provável seria
estocagem inadequada da vacina (HERAUD ET AL., 1999). Entre nossos casos, encontrou-se
uma criança vacinada na Amazônia Legal aos 6 meses de idade, que contraiu a doença aos 11
meses, fato que levanta a questão da idade mínima para a introdução da vacina no Calendário
Básico em áreas endêmicas.
Em relação à taxa de letalidade no período, observou-se que foi muito elevada e
se manteve igual em ambas as áreas. Considerando que as epidemias despertam o interesse
dos profissionais de saúde levando a uma maior suspeita diagnóstica, tratamento oportuno e
busca ativa de casos suspeitos no foco, propiciando a detecção de casos leves e benignos, era
de se esperar níveis de letalidade mais baixos, principalmente na área Extra-Amazônica.
Entretanto, pelo fato de grande parte da população da Amazônia Legal e do Estado de Goiás
já ter recebido pelo menos uma dose de vacina contra febre amarela, torna-se difícil encontrar
outros doentes durante a investigação de campo, como verificado na epidemia de 1999/2000,
121
em Goiás. Isto sugere, entretanto, uma alta força de transmissão nos focos, de modo que os
poucos indivíduos suscetíveis estiveram sob alto risco nas duas áreas.
Outro fator importante foi observado durante o surto de 2001 em Minas Gerais.
Houve perda, por hemólise, de aproximadamente 110 amostras de soros de indivíduos
suspeitos coletadas durante busca ativa. Presume-se que muitas delas poderiam apresentar
positividade nos testes sorológicos, considerando-se que as formas que apresentam evolução
benigna, com ou sem sintomas, representam cerca de 90% de todos os quadros clínicos da
virose (VASCONCELOS ET AL., 1997b; VASCONCELOS, 2003). Isso foi observado em
1993 durante a investigação de um surto de febre amarela no Estado do Maranhão
(VASCONCELOS ET AL., 1997a), em que a detecção de grande número de formas leves e
assintomáticas possibilitou registrar uma letalidade de 14,9%, a menor taxa encontrada em um
surto desta virose no Brasil, nos últimos 30 anos. Na situação verificada em Minas Gerais
ocorreu um problema decorrente de falha operacional, que possivelmente contribuiu para o
registro da elevada taxa de letalidade.
As diferenças na distribuição por idade foram significantes, quer seja na mediana
(21 anos na Amazônia Legal e 36 na Extra Amazônica), quer seja na discriminação por faixas
etárias. Se considerarmos apenas dois grupos etários - menor e maior de 20 anos - ficam mais
evidentes as diferenças proporcionais por área de ocorrência. Enquanto na Amazônia Legal os
percentuais foram de 45,7% e 54,3%, na Extra Amazônica foram iguais a 10,3% e 89,7%,
respectivamente.
A alta freqüência de casos em menores de 20 anos na região da Amazônica Legal
parece refletir um padrão mais seletivo de exposição ao foco natural, possivelmente associado
a uma maior mobilidade deste grupo populacional decorrente de atividades de lazer ou, mais
provavelmente, de atividades ocupacionais, devido à necessidade de obtenção de alimento e
de gerar renda familiar; e uma menor freqüência relativa à faixa etária mais jovem na área
122
Extra Amazônica pode refletir a cobertura vacinal que vem se acumulando nas áreas de
transição.
A literatura tem mostrado que as diferenças de distribuição dos casos de febre
amarela silvestre por idade e gênero variam de acordo com o grau de contato com a mata nos
diversos grupos de população, dependendo das condições locais (SOPER, 1942). Em nossos
resultados, essas diferenças podem ser um reflexo dos hábitos culturais, como ocorre durante
a extração de palmito e açaí, produtos alimentícios típicos da região Amazônica.
Por questões de sobrevivência, famílias inteiras adentram as matas, onde erguem
habitações temporárias, geralmente sem paredes que as protejam contra os mosquitos, e nelas
permanecem enquanto durar a estação daqueles produtos. Resultados semelhantes foram
encontrados por outros autores ao estudar uma epidemia ocorrida na região sudeste do Estado
do Maranhão, entre 1993 e 1994, os quais relacionaram seus achados à prática de coleta de
feijão por mulheres e crianças (VASCONCELOS ET AL., 1997a).
De qualquer modo, considerando que a vacina contra febre amarela foi inserida
no Calendário Básico (Programa Ampliado de Imunizações - PAI) em 1998, essa constatação
é, no mínimo, preocupante, pois reflete a dificuldade de adotar estratégias adequadas para
atingir determinadas parcelas da população que habitam áreas de difícil acesso aos serviços
de saúde.
A ocupação no momento da exposição, um dos fatores sociais a influir nos
resultados, embora tenha apresentado significância estatística, não mostrou grandes
disparidades entre as duas áreas, predominando em ambas os trabalhadores rurais (44,4% na
Amazônia Legal e 57,8% na Extra Amazônica). Entretanto, apontou a emergência da
categoria “turistas/lazer” como um novo grupo de risco fora da Amazônia Legal,
particularmente nos anos 2000 e 2001. Este grupo tende a crescer em importância
epidemiológica na medida em que aumenta o leque de ofertas de locais de ecoturismo e de
123
prática de atividades de lazer e esportes radicais no Brasil, inclusive veiculados pela mídia. O
caráter de informalidade que o caracteriza coloca um desafio para o Programa Nacional de
Imunizações no que concerne à inovação de estratégias diferenciadas que permitam alcançálo e protegê-lo, visto ser constituído, em grande parte, de jovens e adultos.
4.3. Discussão dos resultados comparando-se os diferentes surtos de febre amarela em
áreas fora da Amazônia Legal
4.3.1. Surto de Goiás – 1999/2000
Entre o final do ano de 1999 e início do ano 2000, ocorreu um surto de febre
amarela silvestre em Goiás, que atingiu todas as regiões do estado, e acometeu moradores de
área urbana de outros estados que fizeram ecoturismo em área silvestre e pessoas que
desenvolviam atividades relacionadas ao ambiente rural, pessoas não vacinadas contra febre
amarela, adultos do sexo masculino, em maior freqüência. O surto durou dezenove semanas.
Segundo a estratificação epidemiológica do Programa de Vigilância e Controle de
Febre Amarela, o Estado de Goiás está situado na área considerada endêmica para febre
amarela silvestre.
Neste estado, a distribuição dos casos ocorreu em 32 municípios, mostrando
ampla dispersão territorial do processo enzoótico-epizoótico, caracterizando o que podemos
considerar padrão de um foco difuso, segundo o modelo de Rosicky (1967).
No banco de dados do PVCFA estão registradas sete epidemias no Estado de
Goiás nos últimos 73 anos. A primeira, em 1935, faz parte da grande onda epidêmicoepizoótica que teria se iniciado em 1934 em Mato Grosso e terminou em 1940 no Espírito
Santo e em Santa Catarina. A passagem dessa onda em Goiás resultou em 49 casos da doença
em 14 municípios. A segunda epidemia, em 1945, registrou 84 casos em 28 municípios da
região centro-leste do estado. Em 1951, a doença apresentou-se pela terceira vez de forma
124
epidêmica, atingindo doze municípios e deixando um saldo de 29 casos. Em 1958, um surto
em cinco municípios próximos à capital, inclusive nesta, registrou dezesseis casos. A quinta
epidemia, ocorrida entre dezembro de 1972 e maio de 1973 (PINHEIRO ET AL., 1978), foi a
que envolveu o maior número de municípios na transmissão da doença; confirmaram-se 60
casos em 36 municípios distribuídos nas regiões central e sul do estado, não atingindo
nenhum dos municípios que hoje compõem o Estado de Tocantins. Esta epidemia alcançou
inclusive área do entorno de Brasília, a capital federal. A sexta epidemia ocorreu em 1980 e
envolveu quinze municípios com um total de 19 casos confirmados.
Por sua distribuição geográfica e temporal a epidemia de 1972/73 foi muito
semelhante à sétima “epidemia da virada do Milênio”, objeto deste estudo. Ambas tiveram
ampla abrangência territorial e igual duração, entretanto, há uma diferença fundamental: a
primeira parece ter sido um foco epidêmico limitado ao Estado de Goiás sem propagação para
outros estados, apesar da ocorrência de dois casos no município de Paracatu (Minas Gerais), e
um caso em Barra do Garças (Mato Grosso), ambos em áreas de fronteira com Goiás. A
sétima epidemia ocorreu na virada do milênio, em que milhares de turistas deslocaram-se até
Alto Paraíso para desfrutar o “Reveillon do Milênio”. A grande concentração de pessoas
suscetíveis, a presença suspeita do vírus amarílico na área, demonstrada pela morte de
macacos Allouatta (guariba) durante o mês de dezembro, além da alta pluviosidade registrada
no final do ano em todo o Estado de Goiás, provavelmente favoreceram e asseguraram a
circulação viral, que, a partir dali, disseminou-se para vários municípios goianos e para outros
estados.
Analisando a epidemia de 1972/73, limitada ao Estado de Goiás, pesquisadores
atribuíram tal comportamento às altas coberturas vacinais contra febre amarela nos estados
vizinhos, bem como ao intenso desmatamento ocorrido naquelas áreas, que poderiam atuar
como barreira para deter a disseminação do vírus (PINHEIRO ET AL., 1978).
125
Alguns fatores ecológicos podem ter sido responsáveis ou pelo menos ter
contribuído para a ocorrência da “epidemia da virada do Milênio”. Embora não esteja
completamente esclarecido como as alterações climáticas afetam a força de transmissão de
muitos patógenos e os ciclos de vida de seus vetores, existem evidências acumuladas que
atestam, direta ou indiretamente, a vulnerabilidade desses seres a mudanças climáticas e
ambientais.
A epidemia de 1999/2000 deve ser analisada como parte de um cenário mais
amplo, cuja manifestação inicial se deu na Ilha de Marajó, no Estado do Pará, em fevereiro de
1998, prosseguindo durante 1999 com registro de casos em alguns municípios do sul do
estado. Alcançou o Estado de Tocantins em meados de 1999, onde se observou atividade viral
em 26 municípios, 19 dos quais apenas com registro de mortes de macacos. Como já visto, o
Estado de Goiás foi atingido no final daquele ano, tornando-se palco de uma dramática
epidemia em que foi possível observar e acompanhar a manifestação explosiva do vírus
amarílico e seu elevado potencial de disseminação espacial.
Tem sido citado freqüentemente que fatores meteorológicos como temperatura,
chuva e umidade afetam a dinâmica de transmissão de doenças transmitidas por vetores
(GUBLER ET AL, 2001; PATZ & KOVATS, 2002); na febre amarela há demonstração de
que as taxas de transmissão alcançam níveis muito altos quando esses fatores ambientais se
encontram elevados (STRODE, 1951; BOSHELL, 1957; REITER, 1988; MONATH, 2003),
dado que essas condições propiciam o aumento da população de mosquitos e parecem elevar
a freqüência de picadas. A longevidade dos mosquitos também é beneficiada pela umidade
relativa (VAINIO & CUTTS, 1998) e essa característica favorece a disseminação de um
surto, caso não sejam aplicadas medidas de controle, porquanto uma vez infectado, o
mosquito mantém a capacidade de transmitir o vírus até o final de sua vida.
126
Nossos resultados estão em concordância com aqueles encontrados em 1949 por
Causey & Santos, ao realizar estudo sobre variações pluviométricas e sua relação com
prevalência de vetores silvestres e incidência de febre amarela em Passos, Minas Gerais
(CAUSEY & SANTOS, 1949 APUD KUMM, 1950). O pico da pluviosidade foi registrado
no mês de dezembro, observando-se maior prevalência de mosquitos Haemagogus em janeiro
e incidência máxima de casos de febre amarela em fevereiro. Estudo semelhante realizado em
1945 na Colômbia por Gast-Galvis & Bates mostrou que o pico das chuvas observado no mês
de maio foi seguido por alta prevalência de Haemagogus em junho e um mês mais tarde pelo
pico de casos de febre amarela (GAST-GALVIS & BATES, 1945 APUD KUMM, 1950).
Surtos de febre amarela na África – Gâmbia, 1978 e Nigéria, 1986 – têm sido
associados a períodos de chuvas intensas nos países afetados (GERMAIN ET AL., 1980;
MONATH, 1995 APUD MONATH, 1997). Estudando fatores de risco para explicar a
recrudescência de febre amarela na África Ocidental após a década de 1970, Monath chama
atenção para o aumento da atividade do vírus amarílico no oeste do Senegal coincidindo com
o surgimento de epidemias em outros países africanos. O padrão observado sugeriu que
fatores ecológicos influenciando a atividade viral ocorreram de modo simultâneo em uma
extensa região geográfica. Dentre eles, a intensidade de chuva que se antecipou às epidemias
na Nigéria e Gâmbia, destacou-se como um dos mais importantes para explicar a
amplificação do vírus (MONATH, 1977). Mais recentemente, estudando a situação
epidemiológica da febre amarela no verão de 1999/2000 no Brasil, Vasconcelos et al. (2001a)
relatam que naquele período a quantidade de chuvas foi considerada a mais alta para todas as
regiões do país, especialmente nas áreas onde houve registro de casos da doença, nas quais as
altas taxas de precipitação foram seguidas pelo aumento da população de mosquitos.
127
No campo experimental, Smith (1971), lançando mão de um modelo matemático
simples, mostrou que a transmissão do vírus amarílico pode ser esperada em níveis máximos
quando a temperatura e a umidade relativa estão muito elevadas.
Portanto, parece ser consenso que fatores relacionados ao clima exerçam efeitos
diretos ou indiretos na prevalência de mosquitos e, conseqüentemente na incidência de febre
amarela.
Por outro lado, no Brasil, o verão coincide com o período das férias escolares e da
grande maioria da população trabalhadora, que aproveita esse período para se dedicar a
atividades de lazer, geralmente diurnas e ao ar livre, aumentando a exposição a picadas de
mosquitos, como aconteceu em Goiás, com as inúmeras opções de atividades ecoturísticas.
Outros fatores não relacionados a condições climáticas poderiam também ter
contribuído para a ampla circulação do vírus da febre amarela em Goiás. Por exemplo,
embora a taxa de reprodução de primatas seja baixa, especialmente quando suas populações
são dizimadas, já haviam sido decorridos quase dez anos desde a última epidemia no estado,
tempo suficiente para reposição da população de macacos, resultando diretamente no aumento
da oferta de contato de vetores infectados com animais suscetíveis, e conseqüentemente, na
possibilidade de amplificação e disseminação do vírus.
Concluindo, parece-nos pertinente supor que a alta pluviosidade e a alta
temperatura observadas, assim como a abundância de hospedeiros suscetíveis, possam ter
contribuído para a intensa disseminação do vírus amarílico no Estado de Goiás. Isto
concomitante com o fluxo de pessoas suscetíveis para a área resultou em uma situação
epidêmica.
128
4.3.2. Surto da Bahia - 2000
No início do ano 2000, ocorreu um surto de febre amarela silvestre no Estado da
Bahia, que atingiu duas localidades de um único município, distantes 4 km entre si. Este surto
acometeu moradores de área rural que desenvolviam atividades agrícolas, não vacinados
contra febre amarela, todos adultos jovens do sexo masculino, residentes na Bahia. O surto
durou sete semanas.
Segundo a estratificação epidemiológica do Programa de Vigilância e Controle de
Febre Amarela, todo o Estado da Bahia estava situado, à época, na área indene para febre
amarela silvestre.
A ocorrência desse surto, portanto, foi uma surpresa. Há 52 anos não havia
registro de febre amarela na Bahia. Em 1946, quando foram delimitadas pela primeira vez as
áreas de risco para febre amarela no Brasil, os municípios baianos de Ilhéus e Itabuna,
situados na região sudeste do Estado, em área de Mata Atlântica, foram classificados pela
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) como “epizoóticos”.
Conceitualmente, seriam focos naturais da doença, nos quais o ciclo silvestre estaria presente
e casos humanos poderiam ocorrer, acidentalmente, de forma constante ou esporádica
(BRASIL, 1950).
A pergunta que se coloca é, se durante os últimos 50 anos não houve, de fato,
atividade do vírus amarílico na região. Provavelmente não. Embora não se possa comprovar
que tenham ocorrido mortes de hospedeiros naturais dentro da mata, as quais possam ser
atribuídas à febre amarela, parece improvável que casos humanos tenham passado
despercebidos, visto que a exuberância dos casos clássicos teria chamado a atenção dos
médicos. Assim, a prolongada ausência de registro de casos da doença nessas áreas, bem
como em outros municípios da Bahia, tornou aquela classificação epidemiológica obsoleta e
129
acabou sendo desconsiderada na década de 1980. Olhando por esse ângulo, não era previsível
autoctonia de febre amarela em território baiano.
Entretanto, esse episódio deve ser visto e analisado sob as condições em que
ocorreu: desde o mês de fevereiro de 1999 vinham sendo registrados casos de febre amarela
no Estado de Tocantins, atingindo o Estado de Goiás em dezembro do mesmo ano. Nos meses
de março e abril de 2000, alguns municípios de Tocantins ainda apresentavam casos, como
por exemplo, Aurora do Tocantins, que faz limite com a Bahia. Entretanto, foi a partir de
Goiás que, de fato, tornou-se visível a força de transmissão e a rápida dispersão do vírus
amarílico, no sentido norte sul e no sentido leste, sinalizando sua presença no município de
Coribe, Bahia, no final de março. Nesse percurso, passou pela Bacia Hidrográfica do Rio
Araguaia/Tocantins e alcançou a Bacia do Rio São Francisco.
Vários autores têm defendido que a passagem de um vírus de uma bacia
hidrográfica para outra ao nível de afluentes e de partes de grandes rios se dá por
deslocamento passivo de mosquitos (MONDET, 2001). Esses insetos são capazes de se
deslocar a longas distâncias, passando de um bosque a outro de acordo com a direção dos
ventos dominantes, como observado por Causey & Kumm (1948) e depois por Causey et al.
(1950), em Minas Gerais; durante experiências de soltura e recaptura, fêmeas de Haemagogus
janthinomys foram recuperadas a 11,5 km do ponto inicial, e fêmeas de Aedes (Ochlerotatus)
scapularis e de Haemagogus leucocelaenus, a 5,7 km.
Estudo recente de biologia molecular, desenvolvido com cepas do vírus da febre
amarela (VFA) isoladas no Brasil nos últimos 67 anos (VASCONCELOS ET AL., 2004),
mostrou evidências de que a atividade do VFA no período de 1998 a 2001, desde a Ilha de
Marajó, no Pará, até o centro oeste de Minas Gerais, foi parte de uma epizootia contínua que
dispersou uma variante genética (Grupo 1D) do vírus. Devido a grande distância percorrida
em curto período de tempo, cerca de 1.500 km, não compatível com o movimento habitual de
130
macacos nem tampouco com a fragilidade das espécies de vetores silvestres, os autores
sugerem que o vírus pode ter sido transportado por portadores humanos assintomáticos em
período de viremia.
Nessa linha de raciocínio, os casos surgidos na Bahia seriam decorrentes desse
amplo movimento do vírus que, ao encontrar receptividade na área, teria iniciado uma
transmissão local, possivelmente silenciosa, a princípio, como evidenciado pelo achado de
infecções assintomáticas no município de Coribe. Este foco apresentou-se com características
típicas de um foco restrito, limitado espacialmente, e provavelmente também limitado no
tempo.
A pluviosidade registrada no verão de 2000 foi considerada a mais alta para todas
as regiões do país, o que propiciou a proliferação de mosquitos (VASCONCELOS ET AL.,
2001a). Reforçando essa hipótese, deve-se considerar que os elementos básicos do ciclo de
transmissão silvestre, ou pelo menos parte da comunidade biótica, encontrava-se presente na
região de Coribe, como foi possível observar durante os trabalhos de investigação de campo:
o encontro de carcaças de Cebus apella e a captura de vetores silvestres em várias localidades
da 26ª DIRES. A penetração do terceiro elo do ciclo (o agente patogênico) propiciou uma
interação dinâmica, embora espacialmente restrita, favorecendo sua atividade e circulação,
conforme entendido por Bejarano (1971) ao explicar o complexo patogênico das
enfermidades transmissíveis.
A associação entre morte de macacos e infecções assintomáticas em humanos
confirma que epizootias possam constituir marcadores do processo epizoótico.
Vainio & Cutts (1998), relatando sobre epidemias de febre amarela na África,
também observaram que o vírus pode ser transportado de um foco epidêmico para áreas de
diferenças climáticas e ambientais distantes do foco enzoótico por cada um dos elementos do
ciclo básico, e lá produzir epizootias e epidemias secundárias, se encontrar condições
131
favoráveis. Essa expansão pode se fazer tanto por mosquitos, como pelo homem ou por
animais da selva que emigram em fase virêmica (BARRETO, 1949). A duração dessas
epidemias dependerá de alguns fatores: da disponibilidade de população suscetível e da época
em que o vírus é introduzido; será longa, se no começo da estação chuvosa, quando há maior
proliferação culicidiana; será curta, se no fim do período de chuvas. Os sintomas iniciais do
primeiro caso deste surto ocorreram em 30 de março e o encontro de macacos mortos na área
se deu alguns dias antes, coincidindo com as últimas chuvas da região.
Este surto, por sua limitação territorial e curta duração, nos reporta à única
epidemia de febre amarela urbana que ocorreu no Havaí, em 1911, a qual ficou conhecida
como “A epidemia que nunca foi” (MORRIS, 1995). Um único caso registrado dias após a
chegada do navio Hong Kong Maru em Honolulu, procedente da América do Sul, com escala
no México, mobilizou todos os setores da cidade no sentido de eliminar qualquer
possibilidade de propagação do vírus. O paciente recuperou-se e outros casos não ocorreram.
“Por definição, houve uma epidemia. Por sorte, habilidade e envolvimento
público, a epidemia consistiu em um único caso. O Havaí tem muito que se sentir orgulhoso
pelo controle da epidemia que nunca foi” (MORRIS, 1995, p. 784).
Na Bahia houve um surto silvestre, o qual, por sua natureza, oferece maior
complexidade para ser controlado. Porém, a intervenção oportuna, através da vacinação de
toda a população exposta, o restringiu a quatro casos com manifestações clínicas e seis casos
assintomáticos.
Indiscutivelmente, o surto trouxe repercussões epidemiológicas seríssimas, entre
as quais podemos ressaltar:
132
-
sinalizou o surgimento de um foco de produção da doença em área até então
considerada sem risco, passando a exigir das autoridades de saúde a adoção
de estratégias permanentes de intervenção;
-
a confirmação do alto percentual de infecções assintomáticas encontradas na
busca ativa resultou numa revisão da definição de caso confirmado de
infecção por febre amarela por parte do Ministério da Saúde que, além das
duas definições clássicas já existentes nos guias de vigilância, passou a
adotar
a
seguinte
definição:
“Todo
indivíduo
assintomático
ou
oligossintomáticos originado de busca ativa que não tenha sido vacinado e
que apresente sorologia (MAC-ELISA) positiva para FA”;
-
permitiu considerar que o ser humano em período virêmico, ao se deslocar
para áreas receptivas, pode contribuir para o aparecimento do complexo
patogênico da febre amarela em áreas onde não existe;
-
o isolamento do vírus da febre amarela em mosquitos da espécie
Ochlerotatus
scapularis
chamou
a
atenção
para
a
importância
epidemiológica desses culicídeos como potenciais vetores na transmissão de
febre amarela na área. Em experimentos laboratoriais essa espécie não se
mostrou muito eficiente como vetor para febre amarela, embora tenha sido o
principal mosquito incriminado na primeira epidemia de febre amarela
silvestre documentada no Brasil, no Vale do Canaã (SOPER ET AL., 1933).
Alguns autores, inclusive, chegam a considerá-lo apenas como “vetor
potencial possível” (HERVÉ & TRAVASSOS DA ROSA, 1983).
Reforçando a importância desse achado, ressalta-se aqui sua ampla
distribuição espacial, estando presente em diferentes biomas, em quaisquer
tipos de ambientes, desde a mata até o peridomicílio, além de sua
133
antropofilia, hábitos diurnos e as evidências de adaptação em áreas
desmatadas, compondo quadro favorável para a emergência de diferentes
arboviroses (FORATTINI, 1995);
-
reforçou quão dinâmico é o processo de transmissão da febre amarela, o que
impõe a necessidade de aprofundar estudos que permitam conhecer melhor
os fatores implicados, especialmente os ambientais, para fundamentar as
reavaliações das áreas de circulação do vírus amarílico que assegurem o
estabelecimento de políticas de saúde adequadas.
4.3.3. Surto de Minas Gerais – 2001
Em 2001, ocorreu um surto de febre amarela silvestre em 12 municípios da região
centro oeste de Minas Gerais, que acometeu moradores de área urbana em visita a áreas
silvestres, pessoas com ocupação rural próxima a áreas silvestres, moradores vizinhos a
matas, pessoas não vacinadas contra febre amarela, adultos do sexo masculino, em maior
freqüência. O surto durou nove semanas.
Segundo a estratificação epidemiológica do Programa de Vigilância e Controle da
Febre Amarela, parte da região acometida nesse surto (sete municípios) estava situada na área
indene para febre amarela silvestre. Essa particularidade, por si só, já representava um fator
limitante para uma alta cobertura vacinal na população local, uma vez que as normas do PNI
não preconizam a vacinação de rotina contra febre amarela em áreas indenes. Entretanto, os
dados administrativos sobre doses aplicadas entre 1998 e 2000 apresentavam um percentual
de 124% para a região, porém as coberturas vacinais eram heterogêneas.
Além disso, outros fatores de risco podem ter contribuído para o aparecimento da
epidemia, tais como: presença de primatas ao longo das matas ciliares dos rios que formam a
bacia do Rio São Francisco (Rios Paracatu, Pará, Lambari, Paraopeba, Abaeté, Indaiá, etc.);
134
relatos de epizootias no ano 2000, em municípios da região de transição (Arinos, Chapada
Gaúcha, Bonfinópolis, Santa Fé de Minas, Morro da Graça), bem como em alguns dos
municípios do centro oeste (Leandro Ferreira, Arcos, Japaraíba, Santo Antônio do Monte),
dias antes do surgimento dos primeiros casos humanos; deslocamento de pessoas suscetíveis
procedentes de regiões diversas para o centro oeste em atividades de lazer (pescaria,
acampamentos) e de comércio; presença de vetores silvestres, em abundância, nos municípios
da região; ocorrência de dois óbitos de febre amarela silvestre no ano de 2000, um em
Natalândia (no Noroeste) e o outro em Planura (no Triângulo Mineiro), indicativos da
circulação viral (DUARTE ET AL, 2001).
Alguns aspectos deste surto chamam atenção e merecem destaque. O primeiro
deles é o fato do ciclo silvestre ter ocorrido em área onde a população era predominantemente
urbana, sendo os casos e a presença do vetor Haemagogus janthinomys detectados em áreas
limítrofes entre o meio urbano e o rural em bairros periféricos de pequenas cidades. Tal
constatação, além de dificultar a classificação do padrão epidemiológico de alguns casos,
trouxe duas questões para a agenda de discussão: a polêmica classificação do “urbano/rural” e
do “Novo Rural Brasileiro”, que tem levado as instituições responsáveis pelas estatísticas e
políticas territoriais a criarem categorias intermediárias – peri-urbano, semi-rural, campo
urbanizado, novo rural –, numa tentativa de preencher o espaço do suposto continuum entre os
dois extremos (GRAZIANO DA SILVA, 1997).
Atualmente, estamos assistindo ao estabelecimento de novas relações entre o rural
e o urbano, em que atividades não-agrícolas – como a prestação de serviços (pessoais, de lazer
ou auxiliares das atividades econômicas), o comércio e a indústria – respondem cada vez mais
pela nova dinâmica populacional do meio rural brasileiro (CAMPANHOLA & GRAZIANO
DA SILVA, 2000), propiciando novos cenários para a instalação do padrão epizoóticoepidêmico da febre amarela.
135
A segunda questão, fortalecida por esta, é a antiga preocupação do risco de
reurbanização da febre amarela. A aproximação do urbano/rural, a ocorrência de surtos de
febre amarela silvestre em áreas populosas e a ampla dispersão do Aedes aegypti e Aedes
albopictus em cidades de médio e pequeno porte, tornam essa possibilidade cada dia mais
presente, o que seria um retrocesso imperdoável para a Saúde Pública brasileira.
Uma outra constatação que poderia ser considerada sinalizadora de novas
situações epidemiológicas singulares é a evidência de transmissão de febre amarela em áreas
de fragmentos florestais (vegetação em mosaico). Este cenário formado por áreas amplamente
ocupadas e modificadas por atividades humanas impõe a revisão do conceito de
epidemiologia paisagística típica de febre amarela, segundo o modelo de Pavlovsky.
Atualmente a maioria das doenças associadas com o foco natural manifesta-se sob condições
de paisagens extensamente modificadas, expressando-se como um foco antropúrgico – foco
natural exposto à influência do homem –, porém permanece a interrogação sobre a
permanência e a capacidade adaptativa dos elementos biocenóticos nesse tipo de paisagem.
Focos dessa natureza poderão se extinguir ou aumentar o seu potencial (Rosicky, 1967) em
função de sua dinâmica ou de fatores externos.
Outro ponto importante é o papel atribuído ao Callithrix (sagüi) no processo
enzoótico-epizoótico em Minas Gerais. Este primata tem ampla disseminação no Estado,
sendo visto habitualmente nas praças e nos quintais das casas em busca de alimento. Sua
participação no ciclo da doença é vista com reserva e preocupação, pois tem se observado um
aumento de populações desses animais em áreas urbanas em virtude da disponibilidade de
alimento. Os macacos são limitados na fertilidade pela comida e pelo espaço geográfico,
portanto, quanto mais alimentos disponíveis, mais proliferam (COSMO ESPECIAL, 2003).
Por outro lado, seus predadores naturais estão praticamente extintos nesses ambientes
modificados.
136
O sagüi está presente em todos os estados do Nordeste, em Goiás, Tocantins e nos
estados do Sudeste, tendo sido uma das espécies introduzidas por tráfico, no Estado do Rio de
Janeiro. Sabe-se que são animais arborícolas, encontrados em vários tipos de vegetação, como
ambientes de cerrado, matas de galeria e matas secundárias, além de pomares e
reflorestamentos (COSMO ESPECIAL, 2003). Entretanto o conhecimento de suas
características ecológicas e comportamentais, principalmente no contexto dos fragmentos
florestais remanescentes, é praticamente desconhecido.
4.3.4. Surto de Minas Gerais – 2002/2003
Entre o final do ano de 2002 e início do ano 2003, ocorreu um surto de febre
amarela silvestre em Minas Gerais, que atingiu seis municípios da região nordeste do estado,
e acometeu moradores de área rural que desenvolviam atividades relacionadas ao ambiente
silvestre, não vacinados contra febre amarela, adultos do sexo masculino, todos residentes em
Minas Gerais. O surto durou onze semanas.
Segundo a estratificação epidemiológica do Programa de Vigilância e Controle da
Febre Amarela, a região acometida nesse surto também estava situada na área indene para
febre amarela silvestre.
A característica mais marcante do “surto do Serro” foi sua ocorrência fora dos
limites geográficos estabelecidos como área de risco para febre amarela em Minas Gerais.
Embora este estado tenha sido marcado por epidemias importantes entre os anos 1930 e 1950,
não existem casos de febre amarela silvestre nessa área registrados no banco de dados oficial
do Ministério da Saúde; os mais próximos geograficamente foram assinalados entre 1936 e
1940, no extremo leste do estado, nos municípios de Governador Valadares, Teófilo Otoni,
Carlos Chagas e Nanuque e, posteriormente, na região central em 1959, no município de
137
Corinto. Assim, o passado epidemiológico não parecia favorável à instalação de uma
epidemia.
Acrescente-se a isso, que a localização geográfica para além dos limites de risco
não preconizava a aplicação regular da vacina contra febre amarela na população residente.
Ainda assim, os dados administrativos sobre o número de doses aplicadas entre 1997 e o
início da epidemia mostraram que 74,2% das pessoas residentes na Regional de Diamantina,
com idade maior ou igual a seis meses, eram vacinadas; na Regional de Itabira esse
percentual era de 90,1%. Entretanto, particularizando a informação para os municípios
envolvidos na transmissão, a situação era, no mínimo, duvidosa: no município de Serro, que
foi mais atingido, o percentual de vacinados era igual a 134%, o que poderia estar incluindo
pessoas residentes em outros municípios ou re-vacinadas; quadro semelhante foi observado
em Alvorada de Minas, onde a cobertura vacinal era de 112,4%; nos demais municípios, à
exceção de Senhora do Porto que registrava 93,6% de pessoas vacinadas, os percentuais
estavam entre 60% e 70%. Assim, a inconsistência dos dados não permitia afirmar com
segurança qual a real cobertura vacinal, especialmente nas áreas rurais, que são as mais
afetadas em situações epidêmicas.
Contudo, ainda que a “cobertura vacinal” estivesse acima do esperado para uma
área indene, os percentuais observados não eram suficientes para impedir a transmissão viral
e a instalação de uma epidemia, caso o vírus fosse introduzido na área. Isto porque não existe
imunidade de rebanho para febre amarela, na qual a exposição se dá em caráter individual.
Um segundo aspecto que deve ser considerado é que alguns “rumores”
sinalizaram a aproximação do perigo amarílico na região desde 1999, quando foram
notificadas mortes de macacos no município de Morro da Garça, situado acerca de 120 km na
direção leste. No ano seguinte, novos “rumores” de epizootias se fizeram ouvir nas
proximidades do Serro, desta vez vindos do município de Engenheiro Navarro, a cerca de 150
138
km na direção norte. Em 2001, os “rumores” de epizootias vieram do sul, de dois municípios
(Sete Lagoas e Jaboticatubas) distantes 134 km e 110 km do Serro, respectivamente. Embora
nenhum deles tenha sido investigado para comprovação da causa, possivelmente foram
marcadores de febre amarela que passaram despercebidos ou não foram devidamente
valorizados e manejados como elementos que pudessem causar maiores transtornos.
Em nosso entender, parece que o espaço começava a se organizar para a
instalação do processo epidêmico. Consideramos que transformar “rumores epidemiológicos”
em oportunidades é uma maneira da vigilância usar as inúmeras ferramentas oferecidas pela
epidemiologia, visto que
[...] sob qualquer ângulo que se enfoque, a epidemiologia contempla o ambiente em
toda a sua amplitude para determinar onde, porque, como e quando se apresentam,
se mantêm, se incrementam, se reduzem ou desaparecem as doenças transmissíveis,
o que se pode expressar com base nos complexos patogênicos (BEJARANO, 1971,
p. 58).
Assim, a rápida confirmação ou descarte de “rumores” é uma função importante
das autoridades de saúde pública, que podem manejá-los de forma adequada antes que sua
confirmação cause conseqüências desastrosas para a população. Em outras palavras, embora a
informação possa parecer tão somente um “rumor”, o conhecimento e a investigação podem
representar a prevenção de uma epidemia de febre amarela em uma população suscetível.
Um terceiro aspecto, que pode ser visto como uma inquietação ambientalista,
cabe ser focalizado aqui na busca de caminhos para explicar o surgimento desse surto: o
tráfico de animais silvestres. O governo brasileiro estima que cerca de 12 milhões de animais,
entre macacos, jaguatiricas, araras, papagaios, tartarugas, serpentes, borboletas e peixes
tropicais, são capturados em florestas, cerrados e outros ambientes naturais do Brasil e
comercializados em feiras livres no mercado interno ou exportados irregularmente para vários
139
países, movimentando bilhões de dólares por ano (RENCTAS, 2004). Entre os mamíferos
listados estão incluídas algumas espécies de macacos comercializadas para pet shops, como o
Callithrix geoffroyi (sagüi de cara branca), uma espécie de primata encontrada morta durante
este surto.
À guisa de discussão, essa questão é colocada como uma possibilidade explicativa
para um perfil epidemiológico relacionado a um momento de produção social (trabalho) e ao
espaço, enquanto categoria de análise (CARVALHO, 2000). A nosso ver, retrata o encontro
singular entre condições de risco e populações em risco sendo determinado por fatores
econômicos, culturais e sociais que atuam no espaço, conforme referido por Barcellos (2000).
Esse aspecto foi lembrado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPITRAFI, que
investigou o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e da flora brasileiras:
Deve-se ter presente que o enfrentamento das questões do tráfico envolve aspectos
bastante complexos, especialmente no que diz respeito à sua estrutura social. Os
coletores de animais para as diferentes redes de comercialização, os primeiros elos
da cadeia, são na sua maioria pessoas muito pobres, como lavradores, pequenos
proprietários rurais, desempregados, etc. e tais atividades constituem, em muitos
casos, a única ou principal fonte de subsistência para essas pessoas. (...) Nas
principais áreas de capturas das espécies mais procuradas pelo tráfico verificam-se
graves problemas sociais relacionados à inexistência ou insignificância de atividades
produtivas. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, Relatório da CPITRAFI, 2003, p.
109).
Essas pessoas transportam os animais das mais diversas formas e utilizando as
mais diversas vias e itinerários. Segundo relato da Rede Nacional contra o Tráfico de Animais
Silvestres – RENCTAS – , entre as principais rotas, aeroportos e rodovias utilizados pelos
traficantes, um fluxo da região Centro-Oeste, que passa pelo Estado de Minas Gerais destacase como o segundo em importância e utilização (RENCTAS, 2004). Possivelmente inúmeras
140
outras rotas ainda desconhecidas, especialmente terrestres, estejam sendo usadas para driblar
a vigilância da RENCTAS e fiscais do IBAMA, facilitando o escoamento e a introdução dos
animais em áreas distantes de seu habitat original. Essa dinâmica possibilita a movimentação
de patógenos de uma paisagem geográfica para outra, com a ocupação de novos espaços e,
com eles, o aparecimento de doenças (BEJARANO, 1971).
É sabido que a interferência humana na natureza pode levar a alterações na
estrutura e função de um ecossistema com subseqüentes efeitos sobre a saúde. Estudiosos de
ecologia e doenças têm mostrado que alterações na fauna e/ou na flora podem criar
oportunidades para novas zoonoses, para emergência de doenças ou podem amplificar a
transmissão de doenças pré-existentes em humanos (LINDGREN, 1988). Essas considerações
nos levam a ousar sugerir que as rotas mineiras de tráfico de animais silvestres sem nenhum
controle sanitário poderiam estar criando novas condições locais para a introdução,
sobrevivência e disseminação de hospedeiros da febre amarela e, como conseqüência, uma
explosão da doença como a que ocorreu na região.
Citando Milton Santos, Ribeiro destaca que
O Mundo é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das
oportunidades oferecidas pelos lugares. (...) Num dado momento, o ‘Mundo’
escolhe alguns lugares e rejeita outros e, nesse movimento, modifica o conjunto dos
lugares, o espaço como um todo. É o lugar que oferece ao movimento do mundo a
possibilidade de sua realização mais eficaz. (SANTOS APUD RIBEIRO, 2002).
Embora no texto acima Milton Santos esteja se referindo ao papel da formação
social nacional como meio para entender a tensão entre o local e o global, incita-nos a
direcionar o olhar para a explosão do foco amarílico do nordeste de Minas Gerais, onde se
verificou uma (pro)fusão de acontecimentos que podem ter contribuído para gerar as
condições adequadas para sua emergência em um lugar singular.
141
4.4. Discussão dos resultados da análise da distribuição espacial das epizootias em
primatas não humanos suspeitas e confirmados de febre amarela no período de 1999 a
2003
O ciclo silvestre da febre amarela tem sido objeto de estudos desde a época de seu
descobrimento, porém muitos aspectos epidemiológicos ainda permanecem obscuros. Na
América do Sul foram realizadas várias pesquisas de imunidade em animais silvestres
buscando identificar outros hospedeiros vertebrados - além dos primatas não humanos - de
importância na manutenção desse ciclo, comprovando que muitos tipos de animais, como
marsupiais arboreais e preguiças, dentre outros, podem adquirir imunidade sob condições
naturais na mata (SOPER, 1937), entretanto nenhum deles parece ter sido claramente
relacionado a epizootias (WHO, 1971; HERVÉ & TRAVASSOS DA ROSA, 1983). Na
epidemia de Goiás de 1972/73, Pinheiro et al. (1981) encontraram anticorpos inibidores de
aglutinação e anticorpos neutralizantes para o vírus amarílico em um marsupial do gênero
Caluromys capturado durante as investigações, porém não atribuíram importância
epidemiológica a esse achado, o que reforça a opinião dos autores acima.
Por outro lado, no Brasil, por inúmeras vezes tem sido comprovada a relação
entre morte de primatas não humanos e a circulação do vírus da febre amarela, através de
exames histopatológicos e imunohistoquímicos ou do isolamento em vísceras desses animais,
o que corrobora o importante papel que desempenham no ciclo natural da doença como
hospedeiros vertebrados.
Na Argentina, durante surto de febre amarela silvestre que afetou o nordeste do
país entre dezembro de 1965 e março de 1966, foram observadas mortes de macacos nas áreas
onde casos humanos eram notificados. Apesar de não haver sido comprovado
laboratorialmente que as mortes teriam sido causadas pelo vírus amarílico, as características
das mesmas e a coincidência cronológica e espacial com as mortes humanas foram
142
consideradas indícios muito fortes que levaram os investigadores a incriminá-lo
(BEJARANO, 1974).
Neste estudo, vinte e cinco epizootias ocorridas fora da Amazônia Legal geraram
casos humanos “visíveis”, o que equivale a um percentual de 25%. Pode-se considerar que é
um alto percentual se levarmos em conta que muitas infecções por febre amarela passam
despercebidas por não se expressarem clinicamente ou por se manifestarem com quadros
leves que não impelem o indivíduo a buscar assistência médica. Por outro lado, é importante
que se ressalte que em várias situações a intervenção imediata com a aplicação da vacina
contra febre amarela na população foi capaz de prevenir o surgimento de casos humanos. Foi
o que ocorreu, por exemplo, no Estado do Rio Grande do Sul, onde houve registro de morte
de macacos em treze municípios no período de maio de 2001 a setembro de 2003 e nenhum
caso humano foi detectado durante os surtos epizoóticos (VASCONCELOS ET AL., 2003).
Curiosamente, o gênero Cebus foi informado em 22,5% das epizootias,
semelhante ao observado para o Callithrix. Embora seu habitat seja o mais diversificado dos
primatas neotropicais, utilizando todos os estratos arbóreos de florestas chuvosas, florestas
primárias, secundárias, caatinga, palmeirais, campos e mangues (AURICCHIO, 1995), tem
sido referenciada sua facilidade em adquirir a infecção por febre amarela, porém destaca-se
como um dos gêneros que apresenta baixa mortalidade (SOPER, 1942; STRODE, 1951;
HERVÉ & TRAVASSOS DA ROSA, 1983; VASCONCELOS, 2003); essa característica é
levada em consideração para elegê-lo como macaco sentinela, como ocorreu nas cercanias da
cidade de Belém, Pará (BENSABATH ET AL., 1966).
O alto percentual de envolvimento de primatas do gênero Cebus em epizootias
pode ser passível de inconsistência, pois muitas vezes a informação é fornecida pela
população, nem sempre apta para identificar o gênero com segurança. Por outro lado, em
várias situações a notificação é feita tardiamente quando já foram decorridos dias após a
143
morte do animal, quase sempre impossibilitando a identificação da espécie apenas pelo exame
da carcaça.
Há que se considerar, entretanto, a possibilidade da importância do macaco Cebus
na disseminação da febre amarela; o fato de ser muito mais andejo do que o Alouatta e não
sucumbir facilmente à infecção, lhe dá o mérito de disseminar o vírus livre e amplamente nas
suas áreas de circulação (SOPER, 1942).
Outro aspecto importante que deve ser considerado é a informação visual obtida
com a distribuição espacial dos municípios com registro das epizootias suspeitas e dos casos
humanos confirmados. Quando aqueles eventos (casos humanos e epizootias) foram inseridos
no mapa do Brasil observou-se uma proximidade geográfica entre eles, mostrando que em
muitos municípios onde as epizootias não foram confirmadas laboratorialmente surgiram
casos de febre amarela em humanos.
Tais evidências conferem à morte de macacos uma grande importância como
marcador da circulação viral, portanto, estudar e monitorar a distribuição espaço-temporal
desses eventos pode vir a ser uma ferramenta indispensável para se identificar porque eles
acontecem. Sua detecção possibilita a antecipação de medidas preventivas na população
humana, evitando a ocorrência de casos nos indivíduos suscetíveis. Assim, a morte de
macacos deveria ser considerada evento sentinela e, como tal, objeto de vigilância
permanente, tanto nas áreas de circulação habitual do vírus, como nas áreas de transição, em
qualquer paisagem ou ecossistema passível de “abrigar” o complexo patogênico da febre
amarela.
4.5. Discussão do processo epidêmico-enzoótico do período de estudo
Os focos com casos humanos analisados apresentaram alguns fatores comuns:
ocorreram em áreas silenciosas há décadas – exceto Goiás –, intensamente modificadas por
144
ação antrópica, onde a cobertura de vegetação natural estava restrita a fragmentos alterados.
Em maior ou menor proporção, os casos incidiram nos dois sexos, numa relação
masculino:feminino que variou de 3,2:1 a 9,6:1. De um modo geral, foram acometidos
adultos jovens, do sexo masculino. Embora tenha havido predomínio de casos relacionados
com atividades rurais, o elevado percentual de pessoas envolvidas em atividades de turismo e
lazer chama a atenção para a importância epidemiológica dessa categoria de indivíduos na
morbidade da febre amarela fora da Amazônia Legal, em seu padrão epidêmico-epizoótico.
A variabilidade na duração dos surtos reforça o nível de complexidade para se
controlar um processo endêmico-enzoótico de transmissão vetorial, especialmente quando se
trata de foco difuso, tal como observado em Goiás.
Quanto aos dados referentes aos componentes do ciclo básico da febre amarela
silvestre, nos focos estudados pudemos constatar:
-
Os dados ecológicos e ambientais disponíveis, relativos à distribuição de
vetores silvestres e à ecologia, comportamento e dinâmica populacional de
primatas não humanos fora da Amazônia Legal, em especial em áreas
fragmentadas dos diferentes biomas, são insuficientes para fundamentar os
estudos epidemiológicos para delimitação de áreas de risco para febre
amarela silvestre no país.
-
Entre os primatas não humanos, o gênero Alouatta foi aquele mais freqüente
nos focos epizoóticos, enquanto o Cebus e Callithrix destacaram-se como
importantes hospedeiros em áreas populosas e desmatadas com focos
humanos.
-
A presença do Haemagogus janthinomys em três focos o mantém na posição
de principal vetor do ciclo silvestre no Brasil, como referenciado por outros
145
autores (PINHEIRO & MORAES, 1983; VASCONCELOS, 2003). Já o
envolvimento de mosquitos da espécie Ochlerotatus scapularis na
transmissão em um foco restrito, como o da Bahia, deve ser mais bem
estudado para que se busque compreender a importância de sua capacidade
vetora em ecótonos limites entre áreas antrópica e vegetação nativa rarefeita.
Os dados deste estudo sugerem a propagação do vírus da febre amarela, a partir da
Amazônia, para focos distantes em diferentes biomas, alguns deles com extensas áreas
geográficas caracterizadas por fragmentos de florestas naturais (vegetação em mosaico), com
forte ação antrópica, como pode ser observado na Figura 29.
No período de 1998 a 2003 houve uma transmissão epizoótica extensa que atravessou
o País, a qual podemos denominar de “terceira grande onda epizoótica-epidêmica”, considerando
os dados sobre febre amarela silvestre registrados desde 1930.
Constatou-se que as áreas afetadas no período atual foram semelhantes àquelas
das duas ondas anteriores (a primeira, de 1934 a 1940 e a segunda, de 1951 a 1953). Ressalvase, porém, que desta vez a Mata Atlântica foi preservada, embora uma área de tensão
ecológica entre este bioma e o Cerrado tenha sido atingida.
Por outro lado, a densidade populacional nas áreas atingidas no interior do Brasil
é substantivamente maior do que nas duas situações anteriores. Além disso, observou-se
importante aumento da mobilidade territorial da população do País, viabilizada pela extensa
rede viária e induzida tanto pela inserção precária no trabalho como pela perspectiva de
turismo e lazer.
146
CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 Conclusões
Este estudo permitiu compreender diferentes aspectos e dimensões do
comportamento da febre amarela em nosso país.
O potencial para emergência e reemergência de doenças como a febre amarela
depende da interação do complexo social, ecológico e fatores genéticos do
hospedeiro, do vetor e do próprio vírus e, dependendo do grau de interação e da
adaptação do vírus às condições ambientais, o complexo patogênico pode
ocorrer em diversos ecossistemas presentes no Brasil. Os diferentes biomas de
nosso país oferecem suporte fisiobiótico e possuem elementos biológicos
adequados (culicídeos silvestres e primatas não humanos) para constituir o
complexo biogênico do vírus amarílico e o complexo patogênico da febre
amarela silvestre nessas regiões, quando invadidas pelo vírus amarílico.
A taxa de letalidade da febre amarela apresenta-se elevada nas áreas endêmicas
e não endêmicas, o que pode refletir a subnotificação de infecções
assintomáticas e de casos leves e moderados. Desse modo, a magnitude do
problema pode ter sido muito maior do que aquela registrada.
Analisando a ocorrência e características da febre amarela no Brasil fora dos
limites da Amazônia Legal, foi possível observar que:
- As características epidemiológicas dos casos confirmados de febre
amarela silvestre que ocorreram fora da Amazônia Legal diferem
daquelas dos casos ocorridos nesta região por não incidir, com a mesma
freqüência, nas faixas etárias extremas (< 10 anos e > 50 anos de idade),
147
não acometer com freqüência indivíduos vacinados contra febre amarela,
e acometer indivíduos residentes em zona urbana.
- Os surtos de febre amarela silvestre que ocorreram fora da Amazônia
Legal parecem ter sido resultantes da propagação de uma onda epizoótica
e não uma emergência de focos autóctones restritos.
- O padrão epizoótico-epidêmico da febre amarela emerge em períodos sem
periodicidade definida, possivelmente devido à densidade e mobilidade
de primatas não humanos e mobilidade de seres humanos virêmicos.
Ocorre em áreas antropizadas dos diferentes biomas e bacias
hidrográficas e sua dispersão não é previsível devido às limitações dos
sistemas de informação atuais. Entretanto os “rumores epizoóticos”
podem apontar oportunidades para a intervenção e prevenção oportunas
da doença na coletividade.
- O estabelecimento de uma vigilância de epizootias no Sistema Único de
Saúde, com o envolvimento de instituições governamentais ligadas ao
meio ambiente, pode contribuir para a prevenção de adoecimento e morte
por febre amarela nas populações humanas.
5.2. Recomendações para o aprimoramento da vigilância epidemiológica da febre
amarela no SUS
As imprevisibilidades e as muitas interrogações que ainda cercam a epidemiologia
da febre amarela parecem extrapolar a nossa capacidade de predição. Contudo, Sinnecker
(1971) defende que através do conhecimento e atuação sobre fatores ecológicos e sociais os
processos epizoóticos podem ser interrompidos.
148
É de aceitação geral que a discussão histórica da febre amarela e o estudo da
ocorrência de casos em humanos fornecem informações valiosas para o seu enfrentamento,
conforme observado ao longo da trajetória secular da doença nos vários países onde ocorreu.
Entretanto, o modelo de vigilância pautado apenas nesses aspectos tem se mostrado
insuficiente para reduzir a morbimortalidade conferida pela doença.
Este estudo apontou que a mortandade de primatas não humanos é um importante
marcador de circulação viral no processo enzoótico-epizoótico do ciclo silvestre da febre
amarela. Levando em conta que a vigilância em saúde deve ser baseada nos processos de
transmissão, a incorporação deste conhecimento na prática da vigilância dessa enfermidade no
Sistema Único de Saúde pode ser uma perspectiva para o seu aprimoramento.
As dificuldades operacionais observadas no atual estado da arte são enormes,
tanto para a investigação dos focos quanto para a realização de exames laboratoriais. Poderão
ser melhor equacionadas com a estruturação de uma vigilância técnica e politicamente
sustentável, em que os papéis de cada um dos três níveis governamentais sejam claramente
definidos, dotando-se o município com as condições necessárias para a execução das ações de
vigilância, prevenção e controle, conforme preconizado no SUS.
O registro adequado desses marcadores, bem como a análise e divulgação dos
dados em tempo oportuno, são expectativas que devem ser observadas na construção de uma
vigilância com maior capacidade preditora, que incorpore outras instituições e outras
tecnologias.
Sua estruturação requer: implantação de sistema de registro de morte de macacos
baseado em notificações oriundas da área ambiental, da saúde ou da própria comunidade,
coletadas por meio de instrumento desenvolvido para esse fim, de modo a padronizar as
informações; equipe mínima capacitada para investigação de focos, captura e realização de
necropsia e coleta de material biológico em primatas não humanos, composta por profissional
149
médico veterinário e auxiliares; estabelecimento de normas e condutas para envio de material
biológico; incorporação no sistema de vigilância de testes laboratoriais específicos para
detecção de anticorpos contra febre amarela em primatas não humanos, e outras técnicas de
diagnóstico rápido (como o RT-PCR), não disponíveis atualmente na Rede Nacional de
Laboratórios; estrutura laboratorial descentralizada capaz de dar respostas em tempo útil;
articulação com o Programa Nacional de Imunizações para obtenção de dados sobre
coberturas vacinais das populações expostas residentes em zonas rurais; investigação
adequada das falhas do processo vacinal.
Recomendamos:
1. Estimular estratégias e ações no Ministério da Saúde para a implantação de
uma vigilância do processo infeccioso da febre amarela no País, com o
objetivo de obter dados de melhor qualidade e consistência que possam
retratar adequadamente o padrão epidemiológico (epizoótico) atual e as
tendências futuras.
2. Priorizar a formação técnica multidisciplinar das equipes de vigilância de
situações de risco para febre amarela, com a inclusão de médicos veterinários,
biólogos, epidemiologistas e profissionais da área ambiental, com o intuito de
ampliar a vigilância de casos humanos para uma vigilância de processo
enzoótico-epizoótico, com base territorial, em que se articulem Vigilância
Epidemiológica e Ambiental, valorizando os “rumores epizoóticos”,
ocorrência de casos e o isolamento de vírus em mosquitos.
3. Estudar melhor a dinâmica populacional e capacidade vetorial dos culicídeos
na área Extra Amazônica, levando-se em conta o surgimento de “novos”
150
vetores silvestres com hábitos peridomiciliares e a possibilidade de
urbanização da doença.
4. Utilizar tecnologias mais precisas, como GPS, geoprocessamento e
georreferenciamento, dentre outras, nas ações e procedimentos de aferição e
caracterização do posicionamento geográfico das localidades prováveis de
infecção de casos humanos, isolamento em mosquitos e de mortes de primatas
não humanos por febre amarela, para identificar situações epidemiológicas
vulneráveis, visando à produção de informações que subsidiem os processos
de decisão orientados para a redução do impacto desse importante problema
de saúde pública no Brasil.
5. Promover a participação de profissionais da área ambiental que trabalham
com monitoramento de populações de primatas não humanos para melhor
caracterização dos animais envolvidos em epizootias nos focos de febre
amarela, de forma a dar suporte metodológico para o trabalho das equipes de
saúde.
6. Incorporar na rotina do Programa de Vigilância e Controle da Febre Amarela
do Ministério da Saúde princípios e métodos da Geografia Médica, de modo a
facilitar a análise e a compreensão da epidemiologia da doença e apoiar a
tomada de decisões que visem ao seu controle.
7. Aprofundar estudos sobre os casos de febre amarela em indivíduos vacinados.
8. Buscar estratégias que visem à materialização das recomendações de vacinar
contra febre amarela todos que se deslocam para áreas de mata nas áreas
endêmicas e de transição.
151
Esperamos que este estudo possa vir a subsidiar a formulação de ações efetivas de
vigilância epidemiológica e ambiental da febre amarela no País e, juntamente com outros de
igual natureza, permita a abertura de novas linhas de pesquisa que possam contribuir para um
melhor entendimento dos complexos eventos que determinam a doença.
152
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aitken THG, Downs WG. Jungle yellow fever mosquito studies in Trinidad – 1954. In:
Studies on the natural history of yellow fever in Trinidad. Edited by Tikasingh ES. Carec
Monograph Series 1, CAREC/PAHO/WHO; 1991. p. 16-37.
Alba-Garcia JE, Salcedo-Rocha AL. Fiebre amarilla en México, hace 120 años. Cir Cirurj
2002;70:116-123.
Almeida, M. Combates sanitários e embates científicos: Emílio Ribas e a febre amarela em
São Paulo. História, Ciências, Saúde – Manguinhos 2000;6(3):577-607.
Amaral R, Tauil PL. Duas ameaças de um mosquito: febre amarela e dengue. A Saúde no
Brasil 1983;1(4):230-235.
Arjona
AC.
La
Fiebre
amarilla
en
Colombia.
http://www.mundosano.org/biblioteca_virtual/indice/htm (acessado em 05/Dez/2003).
Auricchio P. Primatas do Brasil. São Paulo: Editora Terra Brasilis; 1995.
Barcellos C. Elos entre geografia e epidemiologia. Cad Saúde Pública 2000;16(3):607-609.
Barreto, JB. Febre amarela. In: Tratado de Higiene - Vol 2. Rio de Janeiro: Departamento de
Imprensa Nacional; 1949. p.125-163.
Beck LR, Lobitz BM. Remote sensing and human health: new sensors and new oportunities.
Emerg Infect Dis 2000;6(3):217-227.
Bejarano JFR. Complejos patógenos de los virus transmitidos por atrópodos. Rev Sanit Milit
Argent 1971;70(1):51-81.
Bejarano JFR. Estudio sobre fiebre amarilla selvática en la Republica Argentina – necesidad
de una organización de lucha antiamarílica. Buenos Aires: Ministerio de Bienestar Social de
la Nación, Secretaria de Estado de Salud Pública; 1974. 61p.
153
Benchimol JL, coordenador. Febre amarela: a doença e a vacina, uma história inacabada. Rio
de Janeiro: Editora Fiocruz; 2001.
Bensabath G, Shope RE, Paes de Andrade AH, Souza AP. Recuperación de virus amarílico
procedente de un mono centinela, en las cercanias de Belém, Brasil. Boletín OPS
1966;60:187-192.
Boshell JM. Marche de la fievre jaune selvatique vers les regions du nord-ouest de l'Amerique
Centrale. Bull Org Mond Santé 1957;16:431-436.
Brasil. Ministério da Educação e Saúde. Resumo das atividades do Serviço Nacional de Febre
Amarela durante o ano de 1949. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde; 1950.
Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Manual de vigilância epidemiológica de febre amarela.
Brasília: Fundação Nacional de Saúde. Ministério da Saúde; 1999.
Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Febre amarela CID 10: A95. In: Guia de vigilância
epidemiológica. Brasília: Fundação Nacional de Saúde. Ministério da Saúde; 2002. p.287305.
Brasil. Ministério da Saúde. Manual de vigilância de epizootias em primatas não-humanos.
Brasília: Ministério da Saúde; 2004. Disponível em: www.ms.gov.br/svs (acessado em
27/Ago/2004).
Bryant J, Wang H, Cabezas C, Ramirez G, Watts D, Russell K, Barrett A. Enzootic
transmission of yellow fever virus in Peru. Emerg Infec Dis 2003;9(8):926-933.
Bustamante ME. La Fiebre amarilla en México y su origen en América. México; 1958.
Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a “investigar o tráfico
ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e da flora brasileiras – CPITRAFI. Disponível
em: http://www.gamba.org.br/CPITRAFI.doc (acessado em 22/10/2004).
154
Campanhola C, Graziano da Silva, J, organizadores. O Novo rural brasileiro: uma análise
nacional e regional. Jaguariúna, São Paulo: Embrapa; 2000. v.1, p.157-189.
Carmo EH, Martins EC, Pelucci H, Maia ML, Duzzi R, Tuboi S, Guerra Z. Brote de fiebre
amarilla selvática en Minas Gerais, Brasil. Boletín Informativo PAI Organización PanAmericana de Salud 2002;24(2):5-6.
Carter HR. Yellow fever: an epidemiological and historical study of its place of origin.
Baltimore: The Williams & Wilkins Company; 1931.
Carvalheiro JR. Processo migratório e disseminação de doenças. In: Textos de apoio –
Ciências Sociais 1, p.25-55, Rio de Janeiro: PEC – Escola Nacional de Saúde Pública,
FIOCRUZ; 1983.
Carvalho EMF. Debate sobre o artigo de Dina Czeresnia & Adriana Maria Ribeiro. Cad
Saúde Pública 2000;16(3):606-607.
Causey OR, Kumm HW. Dispersion of forest mosquitoes in Brazil: preliminary studies. Am J
Trop Med Hyg 1948;28:469-480.
Causey OR, Kumm HW, Lemmert HWJr. Dispersion of forest mosquitoes in Brazil: further
studies. Am J Trop Med Hyg 1950;30:301-312.
Cosmo Especial. Legião de sagüis sofre com a vida urbana. Disponível em
http://www.cosmo.com.br/especial/cosmo_especial/2003/05/04/materia_esp_56389.shtm
(acessado em 08/Jun/2004).
Costa MCN, Teixeira MGLC. A Concepção de “espaço” na investigação epidemiológica. Cad
Saúde Pública 1999;15:271-279.
Curbelo GJT. Iatrohistoria de la fiebre amarilla en Cuba. 1492-1909. Rev Cubana Hig
Epidemiol 2000;38(3):220-227.
155
Czeresnia D, Ribeiro AM. O Conceito de espaço em epidemiologia: uma interpretação
histórica e epistemológica. Cad Saúde Pública 2000;16(3):595-617.
Dégallier N, Travassos da Rosa APA, Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa ES, Rodrigues
SG, Sá Filho GC, et al. New entomological and virological data on the vectors of sylvatic
yellow fever in Brazil. J Braz Assoc Advanc Sci 1992;44:136-142.
Dimech C, Oliveira W, Carmo EA, Chaves K, Oliveira V, Pelluci H, et al. Epidemia de febre
amarela silvestre na região da bacia do Rio Doce – Minas Gerais. Dezembro de 2002 a março
de 2003. Boletim Eletrônico Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério
da Saúde, 2003;(6):1-5. Disponível em http://dtr2001.saude.gov.br/svs/pub/pub00.htm
(acessado em 30/Jun/2004).
Duarte HHP, Meira AJ, Vilela AP. Febre amarela silvestre na Região Centro-Oeste de Minas
Gerais. Boletim da AMEP- Associação Mineira de Epidemiologia [online] 2001;1(1).
Disponível em http://www.amep.org.br/boletins.htm (acessado em 24/Jan/2005).
Enciclopédia Barsa. Panamá (canal do). Rio de Janeiro, São Paulo: Encyclopaedia Britannica
do Brasil Publicações Ltda, 1990. v. 12. p.29.
Finlay C. El Mosquito hipoteticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre
amarilla. Rev Med Trop y Parasitol 1881;4(4):163-183.
Forattini OP, Kakitani I, Massad E, Marucci D. Studies on mosquitoes (Diptera: Culicidae)
and anthropic environment. 9-synanthropy and epidemiological vector role of Aedes
scapularis in South-Eastern Brazil. Rev Saúde Pública 1995;29(3):199-207.
Franco O. A História da febre amarela no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde.
Departamento Nacional de Endemias Rurais, Divisão de Cooperação e Divulgação; 1969.
156
Franco RF. Informe presentado al sindicato de Muzo por la misión encargada de estudiar la
epidemia de fiebre observada en la mina en los meses de marzo y abril de 1907. Revista
Médica de Bogotá 1907;28(331):93-105.
Graziano da Silva J. O Novo rural brasileiro. Revista Nova Economia 1997;7(1):43-81.
Groot H, Morales A, Romero M, Ferro C, Prías E, Vidales H, et al. Estudios de arbovirosis en
Colombia en la década de 1970. Biomédica 1996;16:331-344.
Gubler DJ, Reiter P, Ebi K,Yap W, Nasci R, Patz J. Climate variability and change in the
United States: potencial impacts on vector and rodent-borne diseases. Envirom Health
Perspect 2001;109(Suppl 2):223-243.
Gubler DJ. The Changing epidemiology of yellow fever and dengue, 1900 to 2003: full
circle? Comp Immun Microbiol Infect Dis 2004;27:319-330.
Haddow AJ. The Natural history of yellow fever in Africa. Proc R Soc Edinburgh
1968;70:191-227.
Heraud JM, Hommel D, Hulin A, Deubel V, Poveda JD, Sarthou JL, Talarmin A. First case of
yellow fever in French Guiana since 1902. Emerg Infec Dis 1999;5(3):429-432.
Hervé JP, Dégallier N, Travassos da Rosa APA, Sá Filho GC. A Febre amarela silvestre no
Brasil e os riscos de propagação urbana. Hiléia Médica 1985;7(1):31-40.
Hervé JP, Travassos da Rosa APA. Ecologia da febre amarela no Brasil. Rev Fund Sesp
1983;28(1):11-19.
Kumm HW. Seasonal variations in rainfall: prevalence of Haemagogus and incidence of
jungle fever in Brazil and Colombia. Trans R Soc Trop Med Hyg 1950;43:673-682.
Lacaz CS. Conceituação, atualidade e interesse do tema, súmula histórica. In: Lacaz CS, et al.
Introdução à geografia médica do Brasil. São Paulo: Edusp; 1972. 568p.
157
Laval EN. Epidemia de fiebre amarilla en Tocopilla: 1912. Rev Chil Infectol
2003;20(Supl):100-101.
League of Nations. Yellow fever since the beginning of 1931. League of Nations Monthly
Epidemic Report 1932;11(160):79-82.
Learmonth A. Introduction: one world or three to a pathogen? In: Learmonth A, organizer. Disease
Ecology. New York: Basil Blackwell; 1988. p.1-16.
Lemos JC, Lima SC. A Geografia médica e as doenças infecto-parasitárias. Caminhos de
Geografia – Revista on line 2002;3(6):74-86.. Disponível em:
http://www.ig.ufu.br/caminhos_de_geografia_arquivos/page0006 (acessado em
30/Mar/2004).
Lewis MJ. Yellow fever activity in Trinidad: an historical review, 1620-1978. In: Studies on
the natural history of yellow fever in Trinidad. Edited by Tikasingh ES. Carec Monograph
Series 1, CAREC/PAHO/WHO; 1991. 1, 6-13.
Lindgren E. Emergence of new infectious diseases due to human-induced ecosystem changes.
In: Learmonth A, organizer. Disease Ecology. New York: Basil Blackwell; 1988. p.45-56.
McCarthy M. A Century of the US Army yellow fever research. Lancet 2001;57:1772.
Medronho RA, Perez MA. Distribuição das doenças no espaço e no tempo. In: Medronho RA,
Carvalho DM, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL, organizadores. Epidemiologia. São Paulo:
Editora Atheneu; 2003. p.57-71.
Ministério da Saúde. Plano de Intensificação das Ações de Prevenção e Controle da Febre
Amarela no Brasil. Brasília: Fundação Nacional de Saúde; 2001. 35p. Documento não
publicado.
158
Monath TP. Yellow fever: Victor or Victoria? Conqueror, conquest? Epidemics and research
in the last forty years and prospects for the future. Am J Trop Med Hyg 1991;45:1-43.
Monath TP. Epidemiology of yellow fever: current status and speculations on future trends.
In: Saluzzo JF, Dodet B, editors. Factors in the emergence of arbovirus diseases. Paris:
Elsevier; 1997. p.143-156.
Monath TP. Yellow fever: an update. Lancet 2001;1:11-20.
Monath TP. Yellow fever. In: Plotkin SA, Orenstein WA, editors. Vaccines. 4th ed.
Philadelphia: WB Saunders Company; 2003. p. 1095-1176.
Mondet B, Travassos da Rosa APA, Vasconcelos PFC. Les Risques d’épidémisation urbaine
de la fièvre jaune au Brésil pour le vecteurs Aedes aegypti et Aedes albopictus. Bull Soc
Pathol Exot 1966;89:107-114.
Mondet B. Considérations sur l’épidemiologie de la fièvre jaune au Brésil. Bull Soc Pathol
Exot 2001;94:260-267.
Mondet B, Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa APA, Travassos da Rosa ES, Rodrigues SG,
Travassos da Rosa JFS, et al. Isolation of yellow fever virus from nulliparous Haemagogus
(Haemagogus) janthinomys in eastern Amazonia. Vector Borne and Zoonotic Diseases
2002;2(1):47-50.
Morris AD. The Epidemic that never was: yellow fever in Hawaii. Hawaii Medical Journal
1995;54(11):781-784.
Mutebi JP, Wang HLL, Bryan JE, Barrett AD. Phylogenetic and evolutionary relationships
among yellow fever virus isolates in Africa. J Virol 2001;75:6999-7008.
Nolla-Salas J, Saballs-Radresa J, Bada JL. Imported yellow fever in vaccinated tourist. Lancet
1989;2:1275.
159
Organización Mundial de la Salud. Fiebre amarilla selvática en Panamá. Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana 1974;76(6).
Organización Panamericana de la Salud. Estudio sobre la factibilidad de la erradicación de
Aedes aegypti. CE118/16 (Esp.). Washington: Organización Mundial de la Salud; Junio 1966.
Organización Panamericana de la Salud. Guias para la vigilancia, prevención y control de la
fiebre amarilla. Washington: OPS; 1981. Publicación Científica n. 410.
Patterson KD. Yellow fever epidemics and mortality in the United States, 1693- 1905. Social
Science & Medicine 1992;34(8):855-865.
Patz JA, Kovats RS. Hotspots in climate change and human health. BMJ 2002;325:10941098.
Pavlovsky E. Nicho ecológico de las enfermedades transmisibles en relación con el ambiente
epidemiológico de las zooantroponosis. In: Buck C, Llopis A, Nájera E, Terris M,
organizadores. El Desafio de la epidemiologia. Problemas y lecturas seleccionadas.
Washington: Organización Panamericana de la Salud; 1989.
Pereira GJM, Hinrichsen SL. Arboviroses. In: Tonelli E, organizador. Doenças infecciosas na
infância. São Paulo: Medsi; 1987. p.607-619.
Pereira MG. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1995.
Pessoa SB, organizador. Problemas brasileiros de higiene rural. São Paulo; 1949.
Pessoa SB. Ensaios médico sociais. São Paulo: Cebes/Editora Hucitec; 1978.
Pinheiro FP, Travassos da Rosa APA, Moraes MAP, Almeida Neto JC, Camargo S, Filgueiras
JP. An Epidemic of yellow fever in central Brazil, 1972-1973. I. Epidemiological studies. Am
J Trop Med Hyg 1978;27:125-132.
160
Pinheiro FP, Moraes MAP. Febre amarela. In: Neves J, organizador. Diagnóstico e tratamento
das doenças infectuosas e parasitárias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara-Koogan;
1983. p.303-314.
Reed W, Carrol J, Agramonte A, Lazear JW. A Etiologia da febre amarela. Nota adicional 2.
Rev Médica de São Paulo 1901; p.123-130.
Reiter P. Wheather, vector ecology and arboviral recrudescence. In: Monath TP, editor. The
Arboviruses: Ecology and Epidemiology. Vol I. Boca Raton, FL, CRC Press; 1988, p.245255.
RENCTAS. Dados sobre o tráfico. Disponível em www.renctas.org.br (acessado em
22/Out/2004).
Rezende JM. Caminhos da Medicina - o desafio da febre amarela. Disponível em
http://usuarios.cultura.com.br/jmrezende (acessado em 02/Jul/2004).
Ribeiro WC. Globalização e geografia em Milton Santos. In: El Ciudadano, la globalización y
la geografía. Homenaje a Milton Santos. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y
ciencias sociales, Universidad de Barcelona 2002;6(124). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn124.htm. (acessado em 11/Out/2004).
Robertson SE, Hull BP, Tomori O, Bele O, Leduc JW, Esteves K. Yellow fever. A Decade of
reemergence. JAMA 1996;276:1157-1162.
Rosicky B. Natural foci of diseases. In: Cockburn A. Infectious Diseases. Their Evolution and
Eradication. Springfield: Thomas CC, Publisher; 1967. p.108-125.
Sabattini MS, Avilés G, Monath TP. Historical, epidemiological and ecological aspects of
arboviruses in Argentina: Flaviridae, Bunyaviridae and Rhabdoviridae. In: Travassos da Rosa
APA, Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa JFS. organizadores. An Overview of arbovirology in
Brazil and neighbouring countries. Belém: Instituto Evandro Chagas, 1998. p.113-134.
161
Sabroza PC, Toledo LM, Osanai CH. Organização do espaço e os processos endêmicoepidêmicos. In: Leal MC, Sabroza PC, Rodriguez RH, Buss PM, organizadores. Saúde, ambiente e
desenvolvimento - Vol 2. São Paulo: Hucitec; 1992. p.56-77.
Santos M. Por uma Geografia Nova. São Paulo: Hucitec; 1980.
Santos M. Natureza do espaço. São Paulo: Edusp; 2002.
Scavazza JF. Diferenças socioeconômicas das regiões de Minas Gerais. Assembléia Legislativa do
Estado
de
Minas
Gerais:
2003.
Disponível
em:
http://www.almg.gov.br/bancoconhecimento/tematico/DifReg.pdf (acessado em 21/Jan/05).
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Relatório da investigação epidemiológica dos óbitos
suspeitos de febre amarela em residentes em área da 26ª DIRES – Sta. Maria da Vitória – abril de
2000. Secretaria da Saúde do Estado da Bahia; 2000. 3p. Documento não publicado.
Silva LJ. Desbravamento, agricultura e doença: a Doença de Chagas no Estado de São Paulo. Cad
Saúde Pública 1986;2(2):124-140.
Silva LJ. O Conceito de espaço na epidemiologia das doenças infecciosas. Cad Saúde Pública
1997;13(4):585-593.
Sinnecker H. Epidemic and epizootic processes at work. In: Sinnecker H. General
epidemiology. London: John Wisley & Sons; 1976. p.153-222.
Smith CEG. Human and animal ecological concepts behind the distribution, behavior and
control of yellow fever. Bull Soc Pathol Exot 1972; 64:683-694.
Soper FL, Penna E, Serafim JR, Frobisher M, Pinheiro J. Yellow fever whithout Aedes
aegypti. Study of a rural epidemic in the Valle do Chanaan, Espirito Santo, Brazil, 1932. Am J
Hyg 1933;18(3):555-587.
Soper FL. The New epidemiology of yellow fever. Am J Publ Health 1937;27(1):1-14.
162
Soper FL. Febre amarela. O Hospital 1942;22(2):141-170.
Soper FL. Yellow fever. In: Taylor BZ, editor. Clinical tropical medicine. New York: Paul B
Hoeber; 1944. p.391-420.
Soper FL. Editorial: erradicación continental del Aedes aegypti. In: Organización
Panamericana de la Salud. Hacia la conquista de la salud. Obra de solidaridad entre los
pueblos. Washington: OPS; 1972. Publicación Cientifica n. 233. p.46-48.
Soper FL. La Erradicación del Aedes aegypti: problema mundial. In: Organización
Panamericana de la Salud. Hacia la conquista de la salud. Obra de solidaridad entre los
pueblos. Washington: OPS; 1972. Publicación Cientifica n. 233. p.57-64.
Soper FL, Wilson DB, Lima S, Antunes WS. Organización de medidas nacionales
permanentes contra el Aedes aegypti en el Brasil. In: Organización Panamericana de la Salud.
Hacia la conquista de la salud. Obra de solidaridad entre los pueblos. Washington: OPS; 1972.
Publicación Cientifica n. 233. p.32-43.
Sorre M. Les Fondements de la géographie humaine. Paris: Colin; 1947. Tomo I.
Strano J, Dooley JR, Ishak KG. Manual sobre la fiebre amarilla y su diagnóstico diferencial
histopatológico. Washington: OPS; 1975. Publicación Cientifica n. 299.
Strode GK, editor. Yellow fever. New York: McGraw-Hill; 1951.
Tauil PL. Febre amarela – risco de reemergência em áreas urbanas. Médicos, HC,
1998;1(3):50-53.
Tauil PL. Febre amarela: possibilidades de re-urbanização. Rev Saúde e Ambiente
2002;5(1/2):45-53.
Taylor RM. Epidemiology. In: Strode GK, editor. Yellow fever. New York: McGraw-Hill;
1951. p.427-538.
163
Teixeira LA. Da Transmissão hídrica a culicidiana: a febre amarela na sociedade de medicina
e cirurgia de São Paulo. Rev Bras História 2001;21(41):217-242.
Teixeira MG, Barreto ML. Porque devemos, de novo, erradicar o Aedes aegypti. Rev Ciência
& Saúde Coletiva 1996;1:122-135.
Tomori O. Impact of yellow fever on the developing world. Adv Virus Res 1999; 53:5-34.
Travassos da Rosa APA, Vasconcelos PFC, Hervé JP, Travassos da Rosa JFS. Febre amarela
silvestre no estado do Pará, Brasil, 1984. Bol Epidemiol (MS) 1984;16(15-16):97-104.
Vainio J, Cutts F. Yellow fever. Geneva: World Health Organization; 1998. Document
WHO/EPI/GEN/98.11.
Vasconcelos PFC, Rodrigues SG, Dégallier N, Moraes MAP, Travassos da Rosa JFS,
Travassos da Rosa ES, et al. An Epidemic of sylvatic yellow fever in the southeast region of
Maranhão State, Brazil, 1993-1994: Epidemiologic and entomological findings. Am J Trop
Med Hyg 1997a;57:132-137.
Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa APA, Pinheiro FP, Degalier N, Travassos da Rosa JFS.
Febre amarela. In: Leão RNQ, coordenador. Doenças infecciosas e parasitárias: enfoque
amazônico. Belém: Cejup: UEPA: Instituto Evandro Chagas; 1997b. p.265-284.
Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa APA, Pinheiro FP, Rodrigues SG, Travassos da Rosa
ES, Cruz ACR, et al. Aedes aegypti, dengue and re-urbanization of yellow fever in Brazil and
other South American Countries. Past and present, and future perspectives. WHO Den Bull
1999;23:55-66.
Vasconcelos PFC, Costa ZG, Travassos da Rosa ES, Luna E, Rodrigues SG, Barros VLRS, et
al. Epidemic of jungle yellow fever in Brazil, 2000: implications of climatic alterations in
disease spread. Journal of Medical Virology 2001a;65:598-604.
164
Vasconcelos PFC, Travassos da Rosa APA, Rodrigues SG, Travassos da Rosa ES, Monteiro
HAO, Cruz ACR, et al. Yellow Fever in Pará State, Amazon Region of Brazil, 1998–1999:
Entomologic and epidemiologic findings. Emerg Infec Dis 2001b;7:565-569.
Vasconcelos PFC. Febre amarela. Rev Soc Bras Med Trop 2003;36(2):275-293.
Vasconcelos PFC, Sperb AF, Monteiro HAO, Torres MAN, Souza MRS, Vasconcelos HB, et
al. Isolations of yellow fever virus from Haemagogus leucocelaenus in Rio Grande do Sul
State, Brazil, in the Southern Cone. Trans R Soc Trop Med Hyg 2003;97(1):60-62.
Vasconcelos PFC, Bryant JE, Travassos da Rosa APA, Tesh RT, Rodrigues SG, Barret ADT.
Genetic divergence and dispersal of yellow fever virus in Brazil. Emerg Infec Dis
2004;10(9):1578-1584.
Wang E, Weaver SC, Shope RE, Tesh RB, Watts DM, Barrett AD. Genetic variation in
yellow fever virus: duplication in the 3' noncoding region of strains from Africa. Virology
1996;225:274-281.
World Health Organization. WHO Expert Committee on Yellow Fever. 3th Report. Geneva:
WHO; 1971. Technical Report Series n. 479.
World Health Organization. Prevention and control of yellow fever in Africa. Geneva: WHO;
1986.
World Health Organization. Yellow fever, 1998. Weekly Epidemiological Record
1990;65:213–220.
World Health Organization. Progress in the control of yellow fever in Africa. Weekly
Epidemiological Record 2005;80:49–60.
Wislow CEA. The Conquest of epidemic disease. A Chapter in the history of ideas. New
York: Hanner Publishine Company; 1967.