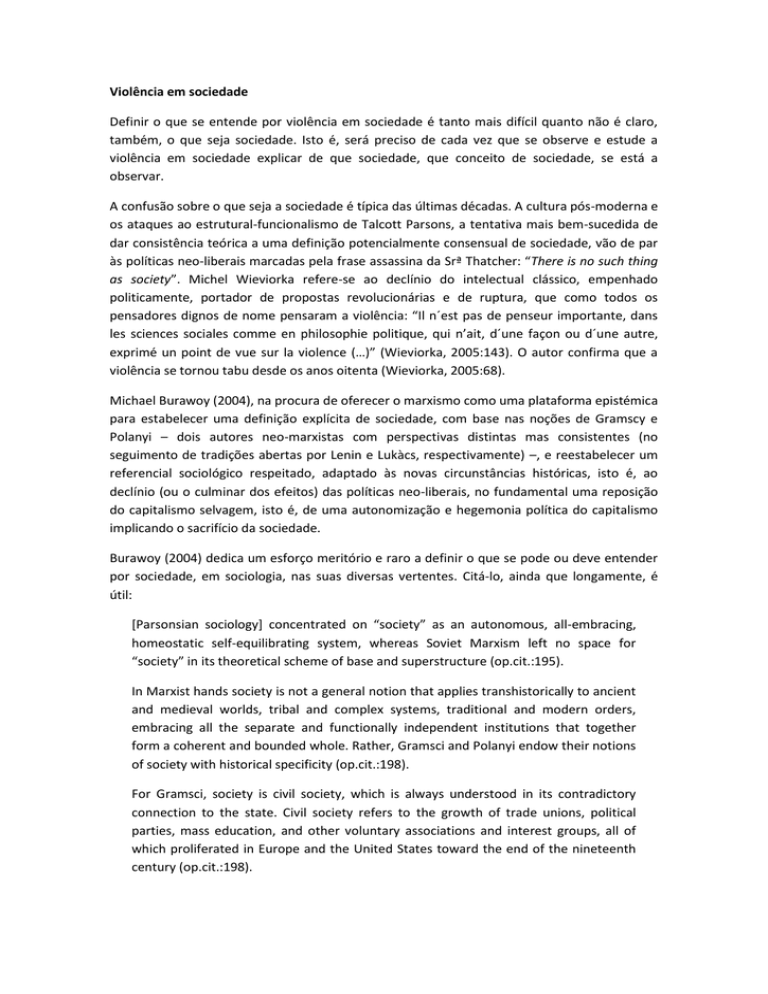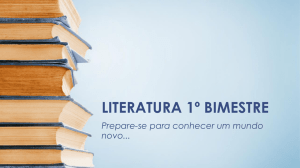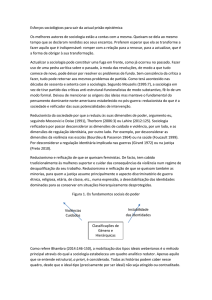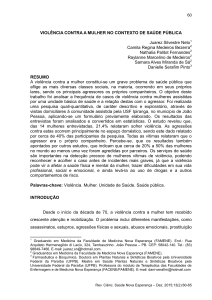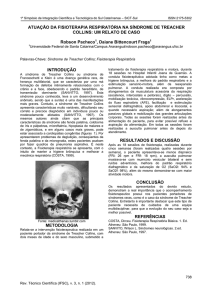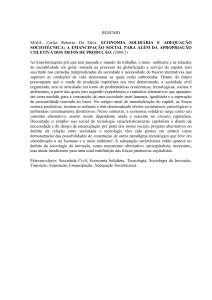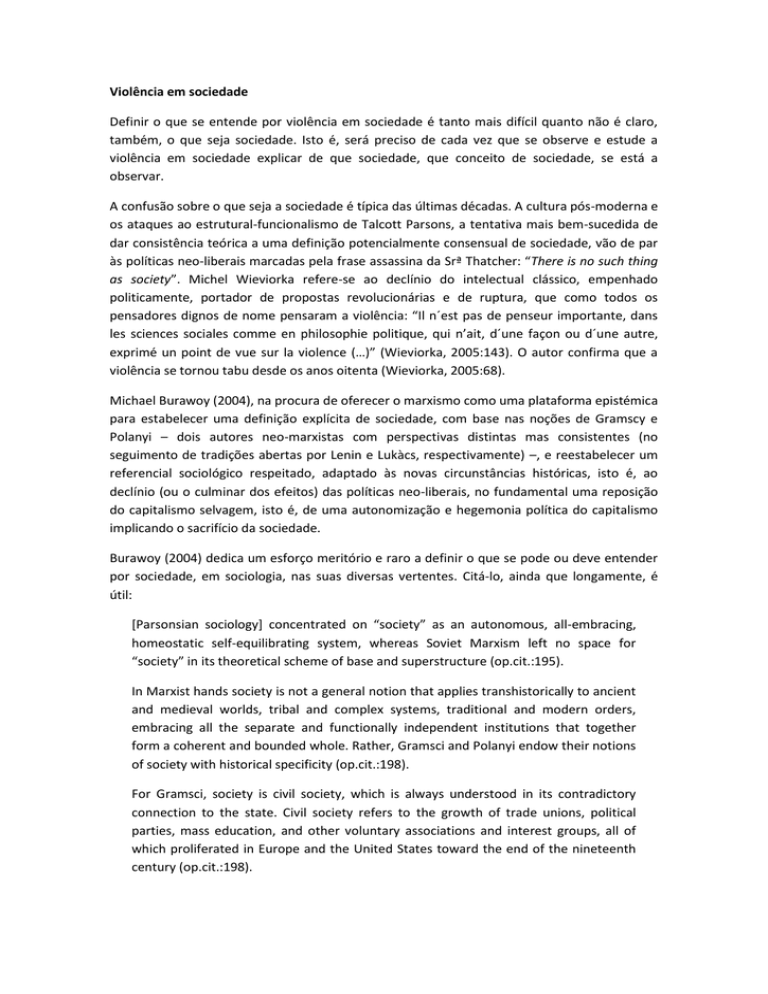
Violência em sociedade
Definir o que se entende por violência em sociedade é tanto mais difícil quanto não é claro,
também, o que seja sociedade. Isto é, será preciso de cada vez que se observe e estude a
violência em sociedade explicar de que sociedade, que conceito de sociedade, se está a
observar.
A confusão sobre o que seja a sociedade é típica das últimas décadas. A cultura pós-moderna e
os ataques ao estrutural-funcionalismo de Talcott Parsons, a tentativa mais bem-sucedida de
dar consistência teórica a uma definição potencialmente consensual de sociedade, vão de par
às políticas neo-liberais marcadas pela frase assassina da Srª Thatcher: “There is no such thing
as society”. Michel Wieviorka refere-se ao declínio do intelectual clássico, empenhado
politicamente, portador de propostas revolucionárias e de ruptura, que como todos os
pensadores dignos de nome pensaram a violência: “Il n´est pas de penseur importante, dans
les sciences sociales comme en philosophie politique, qui n’ait, d´une façon ou d´une autre,
exprimé un point de vue sur la violence (…)” (Wieviorka, 2005:143). O autor confirma que a
violência se tornou tabu desde os anos oitenta (Wieviorka, 2005:68).
Michael Burawoy (2004), na procura de oferecer o marxismo como uma plataforma epistémica
para estabelecer uma definição explícita de sociedade, com base nas noções de Gramscy e
Polanyi – dois autores neo-marxistas com perspectivas distintas mas consistentes (no
seguimento de tradições abertas por Lenin e Lukàcs, respectivamente) –, e reestabelecer um
referencial sociológico respeitado, adaptado às novas circunstâncias históricas, isto é, ao
declínio (ou o culminar dos efeitos) das políticas neo-liberais, no fundamental uma reposição
do capitalismo selvagem, isto é, de uma autonomização e hegemonia política do capitalismo
implicando o sacrifício da sociedade.
Burawoy (2004) dedica um esforço meritório e raro a definir o que se pode ou deve entender
por sociedade, em sociologia, nas suas diversas vertentes. Citá-lo, ainda que longamente, é
útil:
[Parsonsian sociology] concentrated on “society” as an autonomous, all-embracing,
homeostatic self-equilibrating system, whereas Soviet Marxism left no space for
“society” in its theoretical scheme of base and superstructure (op.cit.:195).
In Marxist hands society is not a general notion that applies transhistorically to ancient
and medieval worlds, tribal and complex systems, traditional and modern orders,
embracing all the separate and functionally independent institutions that together
form a coherent and bounded whole. Rather, Gramsci and Polanyi endow their notions
of society with historical specificity (op.cit.:198).
For Gramsci, society is civil society, which is always understood in its contradictory
connection to the state. Civil society refers to the growth of trade unions, political
parties, mass education, and other voluntary associations and interest groups, all of
which proliferated in Europe and the United States toward the end of the nineteenth
century (op.cit.:198).
For Polanyi society is what I call active society, which is always understood in its
contradictory tension with the market (op.cit.:198).
Polanyi often refers to society as having a reality of its own, acting on its own behalf,
whereas Gramsci understands civil society as a terrain of struggle. For both, however,
“society” occupies a specific institutional space within capitalism between economy
and the state, but where “civil society” spills into the state, “active society”
interpenetrates the market. For both, socialism is the subordination of market and
state to the self-regulating society, what Gramsci calls the regulated society
(op.cit.:198).
O autor dá continuidade a uma tendência que se desenvolveu desde os anos 80 de conciliação
sociológica entre duas epistemologias contraditórias, a marxista, centrada na produção
material e nas lutas sociais principais (em torno da produção, da economia, da técnica), e a
weberiana, centrada na distribuição simbólica, nos mercados e na harmonização possível de
interesses antagónicos, sendo estes entendidos não como dados naturais ou económicos, no
sentido determinístico (ou mesmo pré-determinístico, ideológico), mas como consequência da
história indeterminada das subjectividades (Weber, 2005; Touraine, 1984).
Esta reconciliação ocorre ao mesmo tempo que a tematização intelectual da violência se torna
tabu, como notou Wiewiorka. À medida que o Estado Social – construído por debaixo dos
perigos nucleares da Guerra Fria – encontra formas apaziguar politicamente, ao mesmo
tempo, as superpotências e as classes sociais predominantes (as classes industriais) presentes
nas sociedades europeias e a social-democracia se torna uma referência política global, a
sociologia floresce profissionalmente, ao serviço desse projecto político de conciliação. Novo
problema se coloca quando a social-democracia se revela impotente perante um modo
unipolar. A ideia simplista de uma sociedade diferenciada em dimensões como as que Max
Weber destacou e Parsons consagrou – a saber, a política, a economia, o prestígio social, a
cultura – em que cada ciência social se poderia dedicar a uma destas dimensões e, replicando
o mesmo processo analítico, especializar-se em sub-disciplinas adaptadas às necessidades
práticas (Lahire, 2012:347-351), entra em crise com a crise histórica do retorno do capitalismo
selvagem, cujo destino se imagina semelhante ao que ocorreu nos anos 30 do século passado
e contra o que muitos esforços estão a ser feitos, para manter o sistema financeiro global à
custa do bem-estar das populações (o que não é propriamente uma novidade) do centro do
capitalismo (tão não é novidade: basta atender às taxas de risco de pobreza para se dar conta
disso) que até agora têm servido a legitimação dos sistema: as classes médias (eis a novidade).
Os novos movimentos sociais emergentes nos anos sessenta e setenta (movimentos não
operários, sem representação institucional, portanto, a propor modos de vida alternativos,
comunitários, solidários, liberais, densamente cognitivos e críticos, como o movimento
operário tinha feito no século XIX) e que constituíram referências culturais radicais e
intelectuais para a resistência aos e para a legitimação dos poderes de inspiração neo-liberal
(Sennet, 2006, na primeira página da introdução confessa que, nos anos sessenta, a nova
esquerda norte-americana imaginou que desburocratização faria emergir comunidades; o que
sucedeu foi a fragmentação individualizante e menos liberdades) viram finalmente os seus
fantasmas regularmente anunciados mas nunca materializados renascer no Norte de África, e
depois na Europa do Sul, EUA, Irão, Turquia, Brasil, sob uma nova forma: a dos novíssimos
movimentos sociais, caracterizados por utilizarem as redes informáticas e de comunicação
(inexistentes nos anos setenta) e pela forma de organização anarquizante (Castels, 2012). A
base social dos “estudantes” que estiveram no epicentro da revolução juvenil dos anos
sessenta e setenta está agora alargada a uma “nova pequena burguesia” (Poulantazas, 1978)
com duas ou três gerações de crescimento, mas actualmente sem perspectivas de
continuidade, seja pela concorrência de sociedades de outros continentes não ocidentais, seja
pelo esgotamento das possibilidades ecológicas da Terra para satisfazer as necessidades de
consumo criadas pelo capitalismo avançado.
We have to abandon the purity and innocence of Polanyi’s society, which he counterposes to the destructiveness of the market. For Polanyi the battle between society and
the market is a battle of the Gods, between good and evil (Burawoy, 2004:247/8).
Ao contrário do que aconteceu nos anos 30, a sociedade – como entidade auto-referenciada às
populações residentes nos diferentes territórios sob administração dos estados nacionais
ocidentais – é uma referência moral e de legitimação enfraquecida, tanto ao nível da soberania
como a nível das expectivas democráticas (quer dizer, da organização de campos políticos
alternativos suficientemente oponíveis para competirem entre si pelo progresso, dentro e fora
de fronteiras). A violência, que então poderia ser associada à emancipação – e foi-o na medida
em que legitimou a corrida aos armamentos, a II Grande Guerra, as lutas de libertação do
colonialismo, as experiências revolucionárias em várias partes do mundo, entre as quais Cuba
e a China – a violência sugere, actualmente, mais o cenário de decomposição social e até
ambiental, temível e sem esperança, a que várias correntes sociais dão resposta de forma
inovadora (permacultura, direitos da natureza, justiça transformativa, rendimento básico
incondicional, por exemplo). De onde virá a esperança que nos falta, enquanto sociedade em
devir – mais poderosa a nível local e a nível global que actualmente, se tudo correr bem?
The women’s movement has pioneered these claims by making sexual harassment,
rape, wife beating, and the double shift the subject of political discourse in the social
sphere, compelling the state to create agencies to administer these needs. The struggle
has been uphill inasmuch as conservative forces, also operating in the public sphere,
seek to reprivatize these runaway needs, returning them to the domestic enclave from
where they came.
Reprivatization is the first line of conservative defense against runaway needs. (…)The
U.S. government has created two tiers of welfare—one associated with rights of
employees and the other associated with the claims of stigmatized dependents. The
system discriminates against women and minorities inasmuch as they are more likely
to find themselves in the lower tier where they are treated as undeserving supplicants
rather than entitled members of a labor force (Burawoy, 2004:249).
Excelente ponto de partida: o movimento das mulheres, mais antigo que o movimento
operário, mais discriminado e combatido – também pela força bruta e directa, a começar pelos
familiares e a acabar pela sujeição à pobreza das mães sós com os seus filhos – que o
movimento social modelo, e tão incompreendido que Anthony Giddens quando quis – e muito
bem, dessa vez – contestar a actualidade do quadro de dimensões analíticas do estrutural-
funcionalismo (ainda hoje dominante, apesar da alegada repugnância teórica dos principais
sociólogos – incluindo Giddens – ao estrutural-funcionalismo, Mouzelis, 1995:18) conseguiu
incluir a violência no seu modelo dimensional mas não conseguiu incluir o movimento das
mulheres (“Há uma ausência conspícua da Figura 4: os movimentos feministas.”, Giddens,
1991:143).
The American family and the American home are perhaps as or more violent than any
other single American institution or setting (with the exception of the military, and only
in time of war). E acrescenta, apoiando--se em estatísticas oficiais: Americans run the
greatest risk of physical injury in their own homes and by members of their own
families. (M. Strauss, R. Gelles e S. Steinmetz, Behind Closed Doors — Violence in the
American Family, Londres, Sage Publications, 1988, p. 4. citado por Almeida e outros,
1999).
Retomar os estudos sobre a violência
O que nos dizem Wieviorka (2005) e Randall Collins (2008), ao quebrarem o tabu dos estudos
sociais sobre a violência?
Primeiro, dedicam-se a estudar os protagonistas da acção violenta e as forças sociais que os
suportam nessa acção, sem darem importância às vítimas, na verdade produzindo – do ponto
de vista do interesse das vítimas – uma revitimização, isto é, uma continuidade do
silenciamento sobre os actos de violência completos, nomeadamente nas suas consequências
subjectivas para as vítimas, respectivas redes de relações sociais e, portanto, grupos sociais
inteiros, não por coincidência os grupos sociais estigmatizados, desprovidos de recursos
(nomeadamente de defesa) e de voz activa (que a sociologia poderá ajudar a activar, se estiver
disponível para assumir os custos de o fazer).
Segundo, não estudam a violência institucional, como se esta fosse de natureza distinta dos
outros tipos de violência. “Ce livre n´a pas pour object la violence de l´État” (Wieviorka,
2005:281). Embora o livro inclua um capítulo inteiro sobre o assunto (op.cit.:47-80) e um breve
excurso no final (op.cit.:280-281). Collins, por seu lado, optou por começar o estudo da
violência pelo estudo das interacções sociais que poderão ser causa eficiente imediata da
violência, entendida esta como um acto efectivo (e não apenas potencial) de agressão física (e
não apenas verbal) explicitamente fora de qualquer consideração de violência simbólica, que
implicaria, segundo o autor, o desvirtuamento de qualquer tentativa de objectivação científica
do que possa ser a contribuição da teoria social para a compreensão do fenómeno. O autor
prometeu para mais tarde uma análise macro da violência, que se aguarda.
Terceiro, como acontece com a sociologia em geral (Therborn, 2006:3), não dedicam atenção
nem aos aspectos vitais nem existenciais das pessoas, dos grupos e das sociedades.
Concentram a atenção nas relações de poder, que envolvem violência, mas excluem –
paradoxalmente – o Estado e os níveis macro-sociais da equação do poder. Poder de se
constituir em sujeito, no caso de Wieviorka; poder de ultrapassar a barreira emocional da
tensão/medo que a possibilidade de violência automaticamente implica, no caso de Collins.
Naturalizando – provavelmente de forma inconsciente – as diferenças sociais entre os que
estejam em condições de se constituírem em sujeitos históricos e os que sejam capazes de
acumular energias emocionais suficientes para serem protagonistas-autores de actos de
violência.
Quarto, embora reconhecendo a extrema multiplicidade de fenómenos violentos, a sua
importância e a ausência de um debate sociológico proporcional à presença e importância do
fenómeno, nenhum dos autores se preocupa em compreender ou, menos ainda, explicar a
colaboração das teorias sociais com esse modo de produção de segredos sociais, que é a
violência. Ora, isso é particularmente importante quando, como é o caso, uma proposta para
tratar a violência fá-lo a partir de uma perspectiva multidisciplinar: Wieviorka afirma ser
necessário sair do estrito campo da teoria social e ir a montante, às “difficultés de construction
de soi comme sujet” histórico, psicossocial (Wieviorka, 2005 :67), para empreender um estudo
e intervenção (normativos) sobre o sujeito, o actor (individual, grupal, comunitário ou social,
conforme as ocasiões concretas) localizado no espaço e no tempo de que o próprio
investigador procura ser parte integrante: trata-se de “explorer les processus et les
mécanismes par lesquels se forme et passe à l´acte le protagoniste de la violence, individuelle
ou collective, le considérer en tant que sujet, au moin virtuel, pour envisager autant qu´il se
peut le travail qu íl produit sur lui-même (…)” (Wieviorka, 2005:218). Outra proposta é
hiperespecializada em processos interactivos, sem consideração da parte simbólica nem da
parte dos contextos sociais (Collins 2008:20). Ambos recomendam, a partir das suas
indagações, formas particulares de controlo social da violência a aplicar pelas forças
repressivas do Estado (Wieviorka, 2005:314-5; Collins 2008:21).
Quinto, para ambos, cada um à sua maneira, a violência não é natural. Para o francês, a
sociedade resulta, em cada momento, da acção dos sujeitos (actores históricos) e é destruída
pela violência dos anti-sujeitos: “La notion de sujet inclus ou, tout au moins, implique son
contraire, (…) l´anti-sujet (…)” (Wieviorka, 2005:287). Embora haja que ponderar – como o
autor faz na sua tipologia (Wieviorka, 2005:293-301) – as misturas e os cinzentos próprios da
utilização de tipos ideais como método de análise. Em Collins, o centro mesmo da sua
interpretação da violência é a negação da sua naturalidade. Tem a vantagem de ser menos
ambíguo: “(…) all kinds of violent confrontation have the same basic tension (…) the basic
tension can be called non-solidarity entrainment” (Collins, 2008:82). “(…) most of the time
quarreling is normal, regularized, limited. (…) what are the special circumstances that take
some of them over the ultimate limit into actual violence?” (Collins 2008:338). Enquanto
Wieviorka concebe a organização conflitual (capaz de oferecer canais de organização do
sentido útil para as tensões violentas) como a forma institucional de minorar os riscos de
violência, o norte-americano atribuiu aos custos espontâneos de estabelecer a violência, de
ultrapassar a tensão/medo que a perspectiva de violência implica em cada ser humano, a
fonte principal de controlo da violência. Mas, se assim é, se a violência não é fácil de
protagonizar (como insistentemente escreve) não se percebe o seu pessimismo final,
afirmando, mesmo antes do tal estudo macro social que nos prometeu e depois das
recomendações de controlo social que encara, “eradicating violence entirely is unrealistic”
(Collins 2008:466).
É claro que a violência é um tema que provoca emoções fortes: tabus, medos, mitificações,
acumulações de energia emocional, traumas, transformações pessoais e sociais, etc. E que a
teoria social está ainda distante de reunir as condições para tratar do assunto de forma
científica, capaz de manter à distância as emoções e firmar algum tipo de objecto de estudo
razoavelmente fixo – para que um conjunto alargado de cientistas o possa tratar, seguros de
que estão todos a trabalhar o mesmo e não a pisar areias movediças da polissemia das
palavras de senso comum.
O que nos revela quem trabalha no terreno da prevenção da violência? Que perspectivas
adoptam e com que resultados? Vejamos o que nos dizem Wolfe e outros (1997):
“The expression of violence is most commonly seen in the context of relationships” (Wolf,
1997:x). “Current policies to address personal violence are outdated and superficial (…)
Violence does not affect everybody equally – it is ingrained in cultural expressions of power and
inequality, and affects women, children, and minorities most significantly” (Wolf, 1997:xi)
(itálico no original).
Estamos imediatamente noutro mundo, bem distinto. Passamos do mundo público – onde
efectivamente a violência não é fácil, como nota Collins, e é sobretudo um problema para as
forças da ordem conterem os agressores, como refere Wieviorka – para um mundo privado,
em que as vítimas parecem indefesas – porque são sempre as mesmas, digamos assim, e com
fracas possibilidades de recorrer às forças da ordem em sua defesa. As tarefas encaradas têm
também outra ambição e outra profundidade: “Prevention of violence entails building on the
positive (through empowerment) in the context of relationships, not just focusing on individual
weakness or deviance. (…) Youth are important resources and are part of the solution” (Wolf,
1997:xii). Agressores e vítimas são, afinal, familiares entre si e, uns e outros, são recursos para
a prevenção da violência através da sua própria evolução natural na vida, através dos
processos de sociabilidade que fazem o dia-a-dia. Muito longe de nos concentrarmos na
compreensão do sentido da acção violenta ou da energia emocional necessária a ultrapassar a
tensão/medo que permite ser violento, a proposta aqui é a de mobilização da acção e das
emoções para dar seguimento a sentidos mais satisfatórios e construtivos que substituam e
combatam a possibilidade, sempre presente, de recurso à violência, seja ela instrumental ou
expressiva.
Para quem trabalha no terreno a violência não é o senso comum produzido por autoressujeitos, como para Wieviorka, e não é também um facto que possa escapar à avaliação
subjectiva dos protagonistas (agressores, vítimas e testemunhas) e da própria sociedade e
também do Estado. “(…) violence is any attempt to control or dominate another person (…)
such as isolating one´s self or partner; limiting self or partner´s gender roles (…) as well as
physical (…) and sexual abuse (…)” (Wolf, 1997:9). Não é só o poder e o acesso a recursos
(razão, interesse, solidariedade, identidade) que causam violência. São também as relações
íntimas e de afiliação, as perspectivas de sociabilidade disponíveis e valorizadas socialmente
(alternativas às carreiras criminais e de marginalização social) sobretudo ao tempo das idades
naturalmente envolvidas com as instáveis aprendizagens dos controlos da corporização
(expressão de si) em desenvolvimento.
“Rather than focusing on efficiency, cost, safety, protection, or deviance, this perspective
places a high emphasis on health promotion and empowerment (…) the importance of
attaining a balance between the abilities of the individual (or groups of individuals) and the
challenges and risks of the environment” (Wolf, 1997:47). A violência, portanto, não é uma
luta entre duas partes. É a escolha social pela luta entre duas partes, em vez de escolher a
harmonização em todas as partes envolvidas. Perante as contradições e os problemas há duas
grandes famílias de maneiras de os enfrentar: pela violência e pela concertação. O problema
de civilização será, pois, como valorizar a segunda escolha e desvalorizar a primeira. O que não
se faz pelo método da justiça criminal, a saber, isolar o acusado e potencial bode expiatório e
ignorar tudo o resto, a começar pela vida social que estabelece os contextos propícios (ou não)
à realização da violência.
Um dos contextos propícios à violência é a valorização social da luta e, no quadro da luta, do
agressor (tantas vezes glorificado como o vencedor, sobretudo quando esmaga a vítima e
subordina as testemunhas a contarem a história que melhor lhe interessar). Será difícil negar
que a experiência vivida da violência – num campo de batalha como num campo desportivo –
é exaltante e singular. Algo na natureza humana promove tanta satisfação – os
endocrinologistas sabem explicar isso, entre hormonas e emoções; um dia talvez os
geneticistas também o saibam explicar, à sua maneira. Mas nada é inelutável na natureza
humana, dada a sua extrema plasticidade e, sobretudo, a sua enorme permeabilidade às
influências sociais, nomeadamente as sistematicamente realizadas familiar e
institucionalmente através da educação.
A violência não é típica dos jovens machos, nota Collins. Ela é prevalecente em meio
doméstico e praticada por crianças, refere. O que acontece é que a força e a violência são das
raras mais-valias dos jovens sem estatuto (Collins, 2008:25-6). Para este autor, a
argumentação da psicologia do desenvolvimento, de base genética, que atribuiu aos jovens
machos maior probabilidade de entrar em violência esquece os contextos situacionais (Collins
2008:25). “(…) foundations for (…) violence are organized in childhood but are often activated
in adolescence (…)” (Wolf, 1997:74). Isto é, em contextos apropriados as potencialidades biogenéticas são moldadas em cada pessoa e em cada grupo de convivas, em função de valores
incorporados. Bem assim essas potencialidades são confirmadas ou negadas (por omissão ou
contraposição) quando os contextos sociais perdem a influência junto das pessoas, por
exemplo, abandonando-as ou estigmatizando-as como seres desumanos. A experiência dos
encarceramentos mostra como as pessoas reagem automática e violentamente à negação
social do acesso às sociabilidades (Zimbardo, 2007).
“Youth must be supported with the information and skills needed to be actively involved in
working toward prosocial change in the youth subculture and in their broader environment”
(Wolf, 1997:64). Na verdade, não só os jovens mas as crianças também são educadas a
entenderem a sociedade como uma fonte de oportunidades ou como uma fonte de opressão.
“(…) recent research suggests that abuse behavior is primarily learned through the same-sex
parent (…), identifying that males would be most detrimentally affected by being victimized by
their father figure(s) and witnessing male assaults of their mothers” (Wolf, 1997:109). Outro
dado que resulta da observação – dada a dificuldade em promover estudos em meios
prisionais – é o de que metade dos presos (como se sabe na quase totalidade homens) são
filhos de pessoas que estiveram presas também. Há, portanto, a hipótese de haver uma
reprodução das práticas de isolamento social, de violência, de encarceramento, que se autoalimentam sob a forma de síndromes sociais.
Síndrome cujo reconhecimento é significativamente difícil e controverso, como o mostra a
polémica de Saraiva (1994) com um universitário francês especialista em temas da Inquisição.
Saraiva ressalta o facto de o Tribunal do Santo Ofício ser, também, uma fonte de prestígio e
rendimentos para os seus protagonistas e colaboradores. A ponto de estes serem levados a
inventar crimes onde não os havia – através das célebres técnicas de tortura para obter
confissões, bem como a recompensa da delação e das testemunhas de acusação. O que
significa, evidentemente, que os relatos sobre os acontecimentos delituosos inscritos nos
processos devem ser entendidos com uma distância suficiente da crença de que possam
reproduzir a verdade material. E não como testemunhos fidedignos das práticas sociais da
época. Tanto mais que, desde que o Tribunal foi abolido, quando os crimes que tutelava
deixaram de ser perseguidos e criminalizados, nunca mais se ouviu falar de ocorrências
semelhantes, nem secretas nem para manifestar orgulho identitário dos resistentes.
Todas as instituições gozam de grande autonomia face ao meio social ambiente. Essa
autonomia é construída sobre processos de não ingerência social nos negócios institucionais,
portanto, numa privatização (maior ou menor) de certos domínios sociais (geralmente
posteriormente elaborados de forma labiríntica, para protecção dos funcionários e dos
interesses que se apropriam da direcção das instituições). Na prática, toda a sociedade é
afectada pelo balanço que cada instituição encontra entre os interesses que a colonizam e as
funções sociais de representação de valores sociais outorgados pela vontade geral, digamos
assim para simplificar. Valores como a justiça e a não-violência são mais ou menos valorizados
socialmente consoante os equilíbrios pragmáticos desenvolvidos historicamente entre os
balanços institucionais e as relações de incorporação e corporização, de inculcação e de
expressão, que se estabelecem entre os sistemas institucionais e os sistemas sociais.
No terreno, “long-term follow-up (…) indicated that only the normative beliefs approach
consistently predict future drug and alcohol abuse. Neither resistance skills nor knowledge
alone were significant preditors (…) of substance use” (Wolf, 1997:125). A educação, isto é o
exemplo das pessoas e das instituições significativas para a sociedade, é preditoras do
comportamento das pessoas singularmente consideradas. O que é uma grande
responsabilidade para os sociólogos, que têm, portanto, no campo da prevenção da violência
uma função que reconhecidamente não estão a exercer.
O que se passa com a teoria social?
Esta é a pergunta que faz Mouzelis (1995), dando conta do distanciamento entre o
pensamento sociológico e as realidades que deveria ser capaz de dar conta. Como é possível
começar a teorizar a violência a partir de concepções tão distantes daquelas que na prática
suscitam a atenção da intervenção social?
Em síntese, Mouzelis identifica a continuidade dos principais problemas epistemológicos entre
a fase da hegemonia do estrutural-funcionalismo e a actual fase de contestação pós-moderna,
digamos assim, desse paradigma. A saber, a incapacidade de superar o reducionismo e a
reificação combinados, entretanto reproduzidos, a seu modo, pelos melhores autores, que,
porém, se apresentam a estigmatizar e excluir as contribuições de Talcott Parsons para a teoria
social. Acrescente-se a este diagnóstico contribuições de Lahire (2003, 2012), nomeadamente
quando denuncia a falsa unicidade das pessoas e do mundo que é preconcebida pelas teorias
de Bourdieu, como um dos representantes mais qualificados da teoria social contemporânea,
em especial pelo facto de uma valorização exclusiva das dimensões de poder (na prática
segregado a níveis de género, étnico, de classe, cultural, etário) e conflitualidade, e um
alheamento das dimensões, mais abaixo, de solidariedade, ajuda mútua e cooperação, em
função das necessidades e possibilidades de cada um, sem o que a produção dos bens e das
relações sociais, inclusive as relações de poder, seriam impensáveis. A pluralidade do mundo
deve-se à existência de dimensões comunitárias (onde as pessoas nascem e morrem, e onde se
alimentam e ganham competências e forças para a luta) em suporte das dimensões sociais, no
sentido de relações racionais, contratuais, frias, centradas nos interesses, mobilizadores de
recursos e de riscos para estabelecer hierarquias, ao mesmo tempo simbólicas e físicas, a
partir das quais as instâncias sociais hegemónicas dirigem e se defendem da sociedade,
volúvel. Ninguém melhor do que os dirigentes sabe o que as instituições (em favor de
interesses privados e/ou públicos) e as sociedades (tomada por emoções fortes, em nome de
valores) se dispõe a fazer aos seus dirigentes: glorificá-los e/ou, no momento seguinte, se
preciso for, humilhá-los, implícita ou explicitamente.
Segundo estes diagnósticos, a teoria social, embora bebendo de tradições muito diversas,
acabou por recolher-se num campo fechado em si mesmo, cercado por um lado pelo
alheamento das ciências sociais relativamente às outras ciências – a pretexto de lidarem com
um objecto mais complexo –, alheamento das diferentes disciplinas das ciências sociais entre
si e, também, alheamento das diferentes subdisciplinas entre si, num processo centrípeto de
hiperespecialização promovido em torno de um objecto de estudo – a sociedade – cuja
definição acaba por não se saber qual seja.
Uma das propostas mais desafiadoras e interessantes para combater a violência, AAVV (2013),
que partiu de organizações dedicadas a trabalhar socialmente casos de abuso sexual de
crianças nos EUA, estabeleceu o prazo de cinco gerações para atingir os objectivos traçados, de
tal forma as dificuldades e obstáculos à prevenção da violência estão arreigados e escondidos
nos processos de socialização e de sociabilidade das sociedades actuais. Noutro quadrante dos
debates ideológicos, Acosta (2013), os direitos da natureza, a prioridade há harmonização de
interesses entre pessoas, animais, plantas e meio ambiente em detrimento da luta pela
exploração (dos recursos mineiros, do gado, da agricultura, da biodiversidade patenteada, da
força de trabalho) e pela hegemonia (subordinação dos trabalhadores e genocídio dos
excluídos), pressupõem uma natureza concebida não como habitat mas como totalidade
indissociável, na saúde e na doença, na vida e na morte, da espécie humana, conforme
proposta dos povos primeiros dos Andes, que assim vivem desde que resistem às ocupações
violentas dos ocidentais. Desafiam e contestam a irracionalidade do desenvolvimento
ocidental, genocida, anti-ecológico e suicida, na esperança – longa de mais de 400 anos – de
um dia a sua razão seja entendida. Apesar desses direitos estarem consagrados nas
constituições do Equador e da Bolívia, ainda não há nem legislação, nem procedimentos, nem
jurisprudência susceptíveis de os por em marcha.
Quer dizer: as sementes que podem vir a germinar na terra lavrada da actual crise ocidental,
financeira a curto prazo mas civilizacional a longo prazo, foram lançadas há muitos anos e
sabem que as espera um longo e laborioso caminho de muitas dezenas ou centenas de anos.
Como pode uma teoria social concentrada no presente, imaginando original, sem passado nem
futuro, referindo-se quanto muito às origens da modernidade como se esta tivesse apenas 200
anos, como pode uma perspectiva temporal tão limitada (dir-se-ia reducionista e reificada)
dar-se conta da natureza social da violência?
Wieviorka trata, como vimos, da violência tratada pelos livros que escolheu, que por sua vez se
centram sobretudo em questões de poder, para caracterizar uma época histórica de 30 anos.
Esta redução do objecto de estudo é, depois, reificada através da ventilação das várias
concepções de violência exposta à luz de um conceito extra-sociológico, um conceito de autor
(Alain Touraine) imaginado fora dos quadros disciplinares, mas na verdade um conceito
hiperespecializado e auto-referencial. Conclui, de maneira funcionalista e moralista, que há
tipos de violência que marginalmente podem ser construtivas, mas a maioria dos tipos de
violência são destrutivos e, por isso, anti-sociais. Collins, por outro lado, estabelece o
reducionismo de maneira expressa, numa definição física de violência, excluindo a violência
simbólica, as ameaças, os insultos, as provocações – e também a macro violência, na prática, a
violência institucional. Com tal definição, chega à conclusão (tautológica?) de que a “violence
is difficult to carry out, not easy” (Collins, 2008:20). Isto é, se o senso comum tem a noção de a
violência estar por toda a parte é porque entende por violência, para além dos actos físicos de
agressão, todas as ameaças e riscos que possam ser imaginados como contextos onde a
violência pode ocorrer mas, na esmagadora maioria das vezes, prova-o a observação e a
ciência, não acontece – por incapacidade, falta de vontade, incompetência do potencial
agressor, sobretudo, o que é relevante para a teoria social, porque o agressor terá de se munir
de energia emocional suficiente para ultrapassar a barreira da tensão/medo que também o
atinge em caso de probabilidade de vir a ocorrer uma situação violenta. A sociedade, para
Collins, é a interacção, isto é, a micro-sociabilidade, reificada para substituir a grande
problema que é saber de que sociedade se está a falar. A violência nos EUA é a mesma que em
Portugal ou em França? No século XXI e no século XIX? Ou do que se trata é criar mais uma
especialidade ao lado de todas as outras especialidades sociológicas e não tocar nos seus
problemas, nomeadamente nos que podem ser a explicação para o facto de a violência ter-se
mantido como um tema tabu, nas últimas décadas?
As tarefas da sociologia da violência
A sociologia da violência, qual órfão, deve ser capaz de descobrir as razões dessa orfandade.
Elas devem ser semelhantes às da orfandade de muitas ou todas as subdisciplinas sociológicas
e devem também ser específicas.
A estratégia centrípeta da teoria social resulta na defesa de um espaço universitário defendido
por teorias sempre cada vez mais especializadas e alheias entre si. Resulta também em
limitações no acompanhamento das dinâmicas implementadas no terreno, nomeadamente ao
nível da intervenção social, pois na prática é mais difícil, do que na teoria, separar aquilo que
aparece conjuntamente. A ser assim, todas as subdisciplinas sofrerão do mesmo problema.
Que se resolverá, talvez, quando as ciências sociais se puserem em condições de se abrirem
umas às outras e a outros conhecimentos também, de que aqui não falaremos.
No curto prazo, porém, a violência não é uma questão menor – é uma questão tabu. Referiu-se
acima como Giddens propôs actualizar as dimensões analíticas – incluindo a guerra e o
controlo social, além do capitalismo e do industrialismo, como referências nucleares, e
portanto a violência. Poder-se-ia referir o impressionante tratado de sociologia das guerras de
Bouthoul (1991) sem seguidores. Cuja inconsequência se pode ficar a dever a uma perspectiva
de vistas curtas por parte da sociologia, ao comprometer-se ideologicamente com os
interesses sociais e políticos que fazem da violência um segredo ideológico (Hirshman, 1997).
No longo prazo, as cinco gerações que a associação com o mesmo nome perspectiva a sua
política de prevenção da violência é pouco menos do que o intervalo temporal a que a teoria
social geralmente se refere, como se a socialização e a sociabilidade não sejam características
naturais da espécie humana e, por isso, devessem ser estudadas conjuntamente com
características genéticas, fisiológicas e biológicas, num quadro científico mutuamente aberto –
epistemologicamente falando – sem o estigma do biologismo (Dores, 2013). Em particular,
caracterizando-as de forma científica.
Collins deixa muitas e claras pistas para estabelecer e desenvolver esta abertura: “Human have
evolved to have particular high sensitivities to micro-interactional signals given off by other
humans (…) to resonate emotions from one body to another in common rhythms”, escreveu a
pp. 26; “emotional dynamics at the center of a micro-situational theory of violence” (Collins,
2008:4). “Emotional energy (EE) is variable outcome of all interactional situation” (Collins:19),
o que significa que, com ou sem violência, se poderia e deveria estudar as energias emocionais
que evoluem nas diferentes situações sociais. “Eradicating violence entirely is unrealistic”
(Collins:466). Porque ela (mesmo na sua forma mais directa e física) é natural na espécie
humana, como manifestamente mostram as observações dos comportamentos infantis. Ser
natural não é o mesmo que ser banal, fácil ou espontânea. Pela simples razão de a espécie
humana ser, por natureza, extremamente dependente das socializações e das sociabilidades,
mesmo (ou sobretudo) em contextos violentos: “Violent interaction is all the more difficult
because winning a fight depends on upsetting the enemy´s rhythms (…)” (Collins, 2008:80)
“the basic tension can be called non-solidarity entrainment” (Collins, 2008:82).
Bibliografia:
AAVV (2013) Transformative justice, S. Francisco, Generations FIVE.
Acosta, Alberto (2013) El Buén Vivir - Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros
mundos, Barcelona, Icaria&Antrazyt
Almeida, Ana Nunes, Isabel Margarida André, Helena Nunes de Almeida (1999) “Sombras e
marcas, os maus tratos às crianças na família”, Análise Social, N.150 (Outono), pp.91-121.
Bouthoul, Gaston (1991/1961) Traité de polémologie - Sociologie des guerres, Paris, Payot.
Burawoy, Michael (2004) “For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of
Antonio Gramsci and Karl Polanyi”, Politics & Society 2003 31: 193-261
Castells, Manuel (2012) Redes de Indignación y Esperanza, Madrid, ed. Alianza.
Collins, Randall (2008) Violence: A Micro-sociological Theory, Princeton, Princeton University
Press.
Dores, A. (2013). The brain, the face and emotion. In A. Freitas-Magalhães, C. Bluhm & M.
Davis (Eds.), Handbook on facial expression of emotion (pp.129-181). Porto: FEELab Science
Books.
Giddens, Anthony (1991), As conseqüencias da modernidade, S.Paulo, UNESP.
Giddens, Anthony (1985) The Nation-State and Violence - Vol II A Contemporary Critique of
Historical Materialism, Cambridge, Polity.
Hirschman, Albert O. (1997) As Paixões e os Interesses, Lisboa, Bizâncio.
Lahire, Bernard (2012) Monde Pluriel - Penser l'unité des sciences sociales, Paris, Seuil.
Lahire, Bernard (2003) O Homem Plural – As Molas da Acção, Lisboa, Instituto Piaget.
Mouzelis, Nicos (1995) Sociological Theory: What Went Wrong? – diagnosis and remedies,
London, Routledge.
Nicos Poulantzas (1978) State, Power, Socialism, London: New Left Books, 1978.
Saraiva, António José (1994/1969) Inquisição e Cristãos Novos, Lisboa, Estampa.
Sennett, Richard (2006) The New Culture of Capitalism, Yale University Press.
Therborn, Göran (2006) “Meaning, Mechanisms, Patterns and Forces: an Introduction” em
Göran Therborn (ed.) (2006) Inequalities of the World – New Theoretical Frameworks, Multiple
empirical approaches, Verso, pp. 1- 58.
Touraine, Alain (1984) Le retour de l´acteur, Paris, Fayard.
Weber, Max (2005) Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Londres e NY, Routledge,
Wieviorka, Michel (2005) La Violence, Paris, Hachette Littératures.
Wolfe, David A., Christine Wekerle, Katreena Scott (1997) Alternatives to violence Empowering
Youth to Develop Healthy Relationships, London, Sage.
Zimbardo, Philip (2007) The Lucifer Effect: understanding how good people turn evil,
Random House.