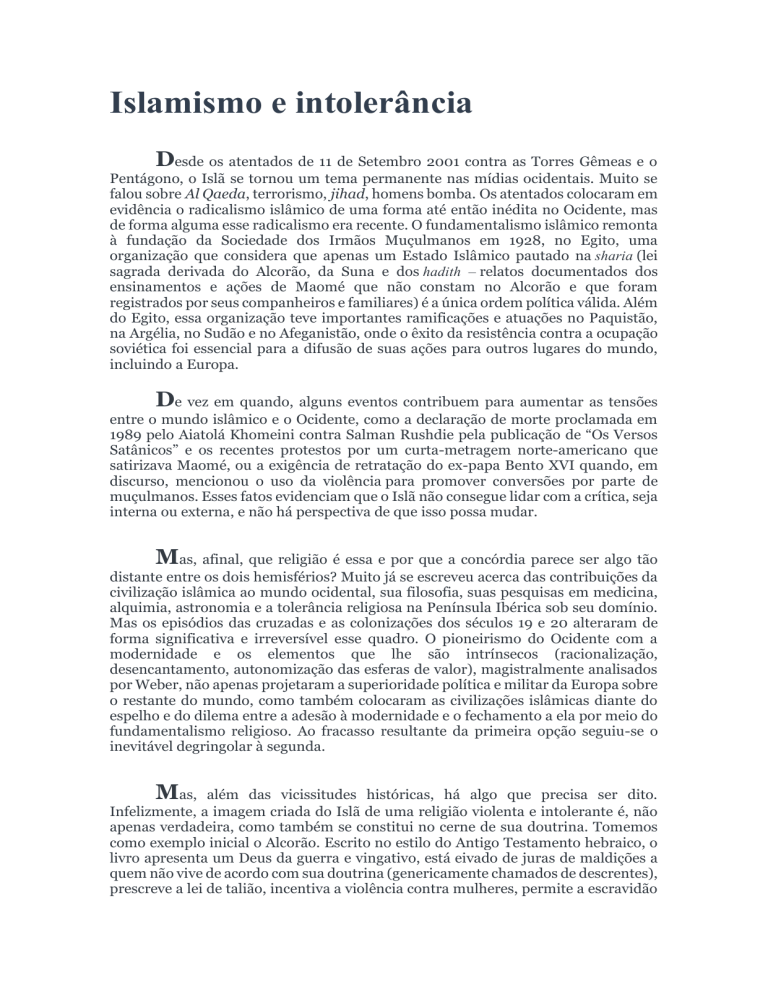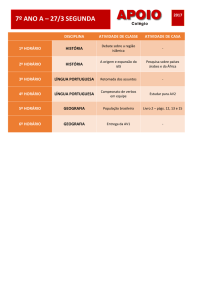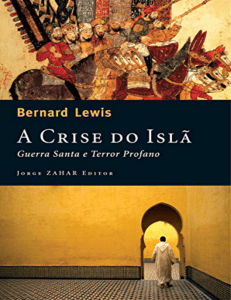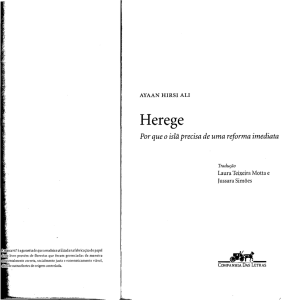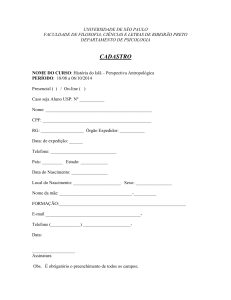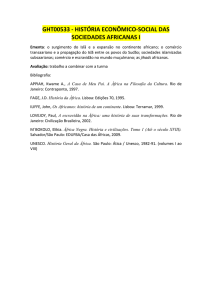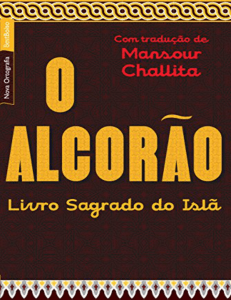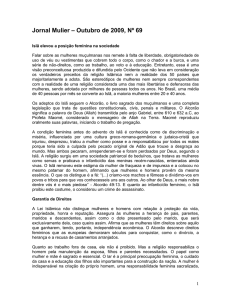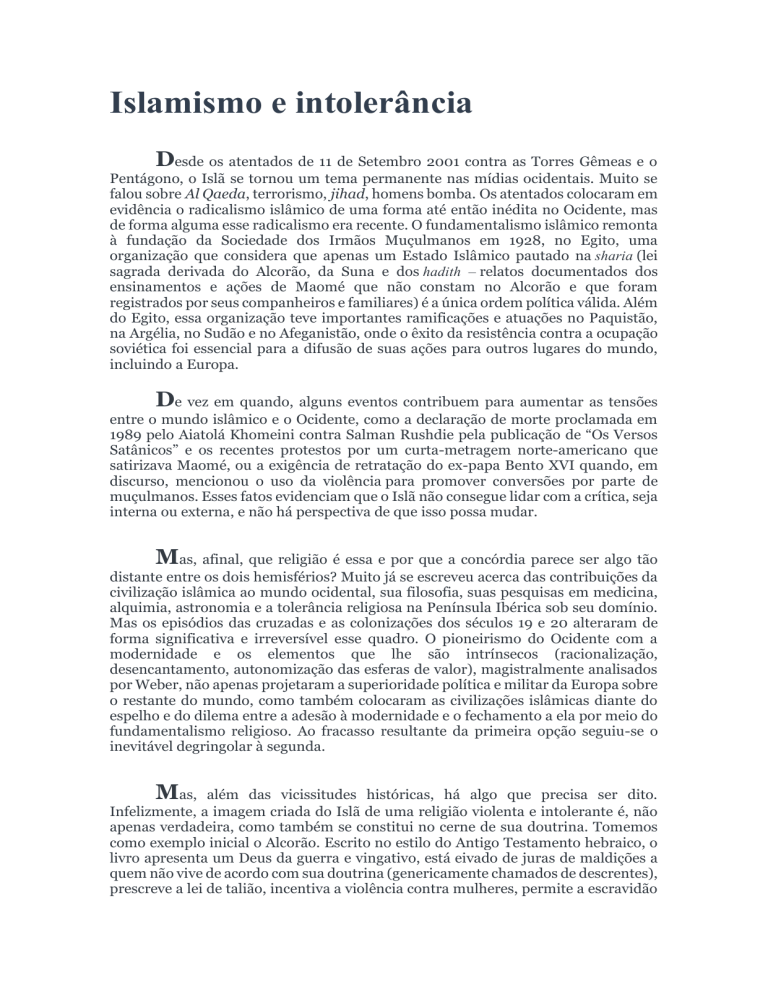
Islamismo e intolerância
Desde os atentados de 11 de Setembro 2001 contra as Torres Gêmeas e o
Pentágono, o Islã se tornou um tema permanente nas mídias ocidentais. Muito se
falou sobre Al Qaeda, terrorismo, jihad, homens bomba. Os atentados colocaram em
evidência o radicalismo islâmico de uma forma até então inédita no Ocidente, mas
de forma alguma esse radicalismo era recente. O fundamentalismo islâmico remonta
à fundação da Sociedade dos Irmãos Muçulmanos em 1928, no Egito, uma
organização que considera que apenas um Estado Islâmico pautado na sharia (lei
sagrada derivada do Alcorão, da Suna e dos hadith – relatos documentados dos
ensinamentos e ações de Maomé que não constam no Alcorão e que foram
registrados por seus companheiros e familiares) é a única ordem política válida. Além
do Egito, essa organização teve importantes ramificações e atuações no Paquistão,
na Argélia, no Sudão e no Afeganistão, onde o êxito da resistência contra a ocupação
soviética foi essencial para a difusão de suas ações para outros lugares do mundo,
incluindo a Europa.
De vez em quando, alguns eventos contribuem para aumentar as tensões
entre o mundo islâmico e o Ocidente, como a declaração de morte proclamada em
1989 pelo Aiatolá Khomeini contra Salman Rushdie pela publicação de “Os Versos
Satânicos” e os recentes protestos por um curta-metragem norte-americano que
satirizava Maomé, ou a exigência de retratação do ex-papa Bento XVI quando, em
discurso, mencionou o uso da violência para promover conversões por parte de
muçulmanos. Esses fatos evidenciam que o Islã não consegue lidar com a crítica, seja
interna ou externa, e não há perspectiva de que isso possa mudar.
Mas, afinal, que religião é essa e por que a concórdia parece ser algo tão
distante entre os dois hemisférios? Muito já se escreveu acerca das contribuições da
civilização islâmica ao mundo ocidental, sua filosofia, suas pesquisas em medicina,
alquimia, astronomia e a tolerância religiosa na Península Ibérica sob seu domínio.
Mas os episódios das cruzadas e as colonizações dos séculos 19 e 20 alteraram de
forma significativa e irreversível esse quadro. O pioneirismo do Ocidente com a
modernidade e os elementos que lhe são intrínsecos (racionalização,
desencantamento, autonomização das esferas de valor), magistralmente analisados
por Weber, não apenas projetaram a superioridade política e militar da Europa sobre
o restante do mundo, como também colocaram as civilizações islâmicas diante do
espelho e do dilema entre a adesão à modernidade e o fechamento a ela por meio do
fundamentalismo religioso. Ao fracasso resultante da primeira opção seguiu-se o
inevitável degringolar à segunda.
Mas, além das vicissitudes históricas, há algo que precisa ser dito.
Infelizmente, a imagem criada do Islã de uma religião violenta e intolerante é, não
apenas verdadeira, como também se constitui no cerne de sua doutrina. Tomemos
como exemplo inicial o Alcorão. Escrito no estilo do Antigo Testamento hebraico, o
livro apresenta um Deus da guerra e vingativo, está eivado de juras de maldições a
quem não vive de acordo com sua doutrina (genericamente chamados de descrentes),
prescreve a lei de talião, incentiva a violência contra mulheres, permite a escravidão
e contém ameaças constantes ao fogo eterno. Não existe princípio de não-resistência
no Alcorão: recomenda-se a agressão e a guerra contra aqueles que a praticarem
primeiro, considera blasfêmia não reconhecer o livro como sagrado e prescreve sérios
castigos para quem criticar Maomé. Descrentes são repetidamente considerados
ameaças e colocados na condição de “piores criaturas”. Ameaças ao inferno estão
presentes em quase todos os 114 capítulos (suratas) do livro. Questionamentos à
doutrina são terminantemente proibidos como pecados graves e passíveis da ira de
Deus. O Alcorão é não apenas um manual de regulação da conduta, mas também da
vida social e política. O Islã se expandiu pela violência e foi através dela que pôde
unificar as tribos beduínas da Península Arábica, depois recrutadas para
conquistarem a Síria, a Palestina, o Egito e a Pérsia.
Há episódios da história islâmica sobre os quais há um inexplicável silêncio
na historiografia. Um deles é o tema da escravidão africana. Há poucas referências a
isso em língua portuguesa. Entre essas está o seguinte comentário de Marc Ferro no
livro “A História Vigiada”:
Em terras do Islão, por exemplo, os historiadores, sempre prontos a
estabelecer o inventário de todos os delitos e crimes do imperialismo e do
colonialismo, omitem o tráfico negreiro organizado pelos árabes durante mais
de oito séculos. Tanto que, nas obras aí escritas, não há uma única palavra
sobre a grande revolta dos escravos negros no Iraque, por volta de 950. Aliás,
na África negra, atualmente, a mão dos historiadores ainda treme quando
falam da islamização, do papel dos árabes. […] Assim, pouco se fala desse
tráfico que, no entanto, despovoou a África e transformou em eunucos,
privando-os de descendência, milhares de cativos arrancados do Sudão, de
Gana, e transportados para o Cairo, Bagdá, Isfahan. Segundo B. Lewis, isso e
a intensa mortalidade que acompanhou esse tráfico explicam o
desaparecimento quase total dos guetos de negros em terras árabes ou persas.
Assim, esse martirológio não deixou testemunhas, ao passo que na América,
onde sofreram as sevícias conhecidas por todos, esses negros sobreviveram e
ainda relatam a lembrança de seu desespero.
Mais adiante, no mesmo livro, falando sobre o filme como agente da história,
o renomado historiador francês novamente observa: “Há outros lugares onde o filme
constitui uma forma privilegiada de contra-história: a África negra. Ali, a mão dos
historiadores treme de medo antes de ousar evocar as perversidades perpetradas não
pela colonização, o que é comum, mas pelo Islão e pela escravidão árabe em
particular. No entanto, a mão do cineasta Sembene Ousmane não tremeu quando sua
câmara assimilou o Islão triunfante do século XVIII a uma espécie particular de
totalitarismo, contra o qual lutam e morrem os ceddo [grupo nativo que lutava contra
o comércio de escravos]”.
O termo “história vigiada” que intitula o livro de Ferro é um conceito que
levanta a questão da importância do silêncio enquanto história. Para ele, os silêncios
e lacunas da história são resultado da consciência do poder que reproduz
determinada versão do passado. Suas poucas palavras demonstram como a
escravidão islâmica foi mais longa e mais terrível do que a europeia. Trata-se de algo
que não foi um “acidente histórico” ou práticas isoladas, mas um evento de longa
duração a respeito do qual o silêncio e o medo compactuam de forma temerosa nesses
países ou mesmo no Ocidente.
Mas a violência islâmica não se resume apenas “aos outros”, mas a seus
próprios concidadãos. Esse é o exemplo da teocracia instituída no Irã em 1979. No
livro “Perseguições Religiosas”, James Haught escreveu:
Torturas e execuções se tornaram desenfreadas. Os diplomatas estrangeiros
que viviam perto de um centro de detenção em Teerã disseram que suas noites
eram atormentadas por gritos insuportáveis e tiros frequentes. Em 1983, a
Anistia Internacional, organização mundial de direitos humanos, computou
relatos de 5.195 execuções nos quatro primeiros anos do regime religioso. O
programa noticioso “60 minutos” relatou que, como a lei islâmica proíbe a
execução de virgens, algumas jovens condenadas eram estupradas pelos
guardas antes de serem fuziladas. […] A matança mais puramente religiosa foi
a execução em massa de baha’is que recusaram se converter ao islã. Grupos,
inclusive mulheres e adolescentes, eram enforcados em público. […] O Comitê
para Refugiados dos Estados Unidos citou um juiz xiita iraniano que justificou
as mortes com base em uma oração do Corão: “Senhor, não deixai sobre a
Terra uma única família de infiéis”.
Junto com toda essa matança, o Irã também declarou guerra à sexualidade.
As mulheres foram obrigadas a se cobrir tão inteiramente que nenhuma
mecha de cabelo aparecesse. Patrulhas da moralidade percorriam as ruas em
jipes brancos, prendendo mulheres por estarem “malcobertas” e enviando-as
a prisões-acampamento para cursos de reabilitação de três meses. As revistas
ocidentais que entravam no Irã iam primeiro para os censores, que
cuidadosamente cobriam de preto todas as fotos de mulheres, deixando
apenas seus olhos.
O mesmo autor menciona que, inflamados pela revolução iraniana, milícias
armadas promoveram atentados e mortes no Egito, Arábia Saudita, Afeganistão,
Nigéria e outros países. Outros exemplos poderiam ser mencionados, como as ações
militares de grupos radicais na Argélia, no Sudão e no Egito, especialmente a partir
da década de 1980, contra aqueles que não seguem os princípios da lei islâmica, ou
contra estrangeiros ou minorias de outras religiões. Obviamente, a violência e a
intolerância não são apanágio do Islã, existindo também em outras religiões ou
mesmo em sociedades seculares. Mas os dados mencionados pelo autor acima
mostram, por exemplo, que em apenas quatro anos de regime teocrático o número
de vítimas foi maior do que os da ditadura militar brasileira em duas décadas. Culpar
o Ocidente pelas atrocidades que o Islã comete contra suas próprias populações não
parece ser uma atitude sensata. Historicamente o Islã é uma religião beligerante, em
que liberdades individuais são privilégios de poucos. Mesmo a tão aclamada
“primavera árabe” não conduziu a uma revisão radical dos princípios da lei islâmica
nem a considerações sérias sobre a importância da separação entre religião e política.
Além dos estupros e outros tipos de violência entre os próprios manifestantes que
chocaram o mundo durante aqueles eventos, a “primavera árabe” logo tornou-se
outono e evaporou-se nas brumas do radicalismo religioso.
Confrontadas durante séculos com a superioridade econômica e tecnológica
ocidental, as sociedades muçulmanas refugiaram-se numa retomada de suas
tradições religiosas sob a forma de um radicalismo fundamentalista visceralmente
anti-ocidental. Incapazes de separar Estado e religião e de garantir direitos civis e
liberdade religiosa, essas sociedades se tornaram nichos de crescimento de grupos
terroristas que se apoiam em seu livro sagrado e nas tradições para justificar a
perseguição e morte de virtualmente todos os não-muçulmanos. Entre elas, a
Turquia permanece como único exemplo de sociedade que conseguiu manter-se
laica, mas ao custo da imposição dessa laicidade por meio de várias reviravoltas
militares. Os muçulmanos desejam as tecnologias ocidentais, especialmente mísseis
e metralhadoras, mas não os valores das democracias seculares e pluralistas do
Ocidente, os quais rechaçam em nome de uma fé excludente e persecutória. O Islã
não é apenas uma religião, mas uma religião política universalista de feições fascistas
que deve representar, neste século 21, a maior ameaça mundial à democracia e às
liberdades individuais.
Em 2011, quando a imprensa fez várias reportagens sobre os dez anos do
atentado de onze de setembro, o historiador Jaime Pinsky, em entrevista à Record
News, falava da necessidade de as sociedades islâmicas separarem religião de política
e de que o Islã precisa de um “Iluminismo”. De fato, o Ocidente conseguiu criar
mecanismos de regulação do poder e Estados constitucionais que são realizações
singulares na história, além das noções de direitos humanos e direitos individuais e
de minorias, noções completamente alheias ao Islã. Embora a transposição desses
ideais para algumas nações do Oriente em muitos casos tenha sido dificultada pelo
próprio Ocidente, já não é mais por causa das Cruzadas ou do colonialismo que as
nações muçulmanas não conseguem modernizar-se, pois no caso do Islamismo, a
intolerância religiosa e o uso da violência são incentivadas por seu próprio livro
sagrado e por sua lei religiosa, a sharia; por isso não será possível a essas sociedades
tornar-se democráticas e garantir direitos civis a minorias sem abandonar muitos
princípios de sua religião. E entre suas sociedades há exemplos que, apesar das
dificuldades, mostram que é possível fazer reformas políticas nesse sentido. Além da
Turquia, já mencionada, Indonésia e Marrocos empreenderam importantes
mudanças no sentido de uma democratização. No entanto, em muitos casos, essa
democratização não é impedida apenas pela religião, mas especialmente pelas
próprias elites locais que se utilizam de princípios religiosos para se perpetuarem no
poder. E como diz o historiador francês Gilles Kepel, é na abertura para o mundo e
para a democracia que as sociedades muçulmanas deverão construir seu futuro –
embora para algumas, esse futuro ainda pareça muito distante.
_____________________________________
Por: BERTONE SOUSA – Professor no curso de História da Universidade
Federal do Tocantins (UFT), mestre e doutor em História pela Universidade
Federal de Goiás (UFG). Desenvolve pesquisas na área de história e
religiosidades, com enfoque para os pentecostalismos, fundamentalismos
religiosos e a relação religião e política no mundo moderno.