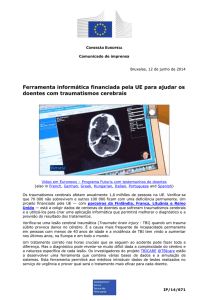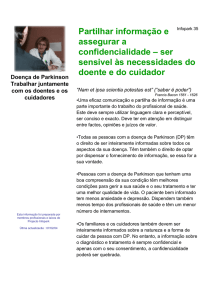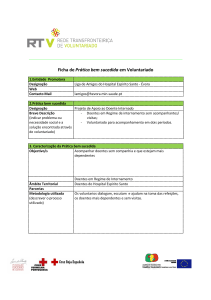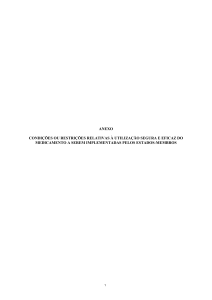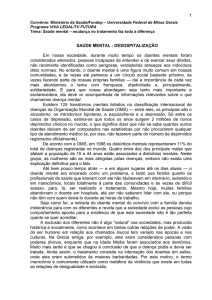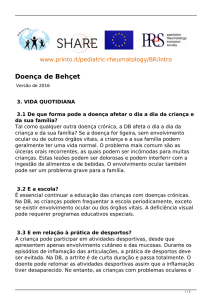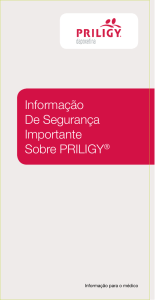POSTERS
21 de Novembro, 16:00h
P01
BIOFEEDBACK NO TRATAMENTO CLÍNICO DA
INCONTINÊNCIA FECAL. QUE FATORES INTERFEREM
NOS RESULTADOS?
Conclusão: O biofeedback é um método seguro que pode ser
eficaz no tratamento de pacientes com incontinência anal.
O valor do score pré-biofeedback ≤10 é um fator
indicativo de melhor resposta ao tratamento. Factores como
parto vaginal, cirurgia colorretal, pressões anais e presença
de lesão esfincteriana não se correlacionaram com resposta
ao tratamento.
P02
Murad-Regadas, S.M., Caetano A.C., Gonçalves B., Cajazeiras-Oliveira, M.T.C., Duarte, V.C., Rolanda C.
CAUSA RARA DE HEMATOQUÉZIAS
1 - Departamento Cirúrgico do Hospital Médico da Universidade Federal do
Ceará e Hospital S. Carlos, Brasil 2- Hospital de Braga, Portugal.
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria
Introdução: A incontinência fecal é um distúrbio funcional
que provoca alteração da qualidade de vida e que se manifesta predominantemente em mulheres na faixa etária mais
alta. O biofeedback é uma alternativa terapêutica que visa a
reabilitação do assoalho pélvico.
Objetivo: Avaliar a eficácia do biofeedback e analisar fatores
preditivos de resposta no tratamento da incontinência fecal.
Métodos: Análise prospectiva dos dados de pacientes com
diagnóstico de incontinência fecal submetidos a biofeedback. Foram excluídos doentes com lesão esfincteriana
com indicação cirúrgica e doentes com dados incompletos
(n=30). Foi utilizado o score de incontinência da Cleveland
Clinic para quantificar a incontinência fecal. Os dados foram
analisados de acordo com a resposta ao tratamento, definida
pela melhoria do score, e dividida em insatisfatória (< 35%),
moderada (36 a 49%) e satisfatória (&#8805; 50%). Foram
avaliados possiveis fatores preditivos: score inicial, parto
vaginal, cirurgia colo-proctológica, pressão de repouso (PR) e
voluntária máxima (PMV) do canal anal e lesão esfincteriana.
Resultados: Foram incluidos 58 pacientes (8 homens e 50
mulheres, média de 66 anos). Nas mulheres, 23 tinham antecedente de cirurgia colo-proctológica, 38 de parto vaginal
e 8 não tinham qualquer antecedente. Nas mulheres, a PR foi
33 mmHg e a PVM foi 80 mmHg. Houve redução no score
pré-biofeedback comparado com pós-biofeedback (10,7 para
6,7) (p=0,0001), sendo a resposta média ao tratamento 44%.
Das 24 mulheres que apresentaram melhoria satisfatória, 70%
(17) apresentaram um score pré-biofeedback &#8804;10. A
resposta ao tratamento foi melhor nas mulheres com score
pré-biofeedback &#8804;10 (n=24) (insatisfatória=21%,
moderada=8% e satisfatória=71%) comparado com aquelas
com as mulheres com score pré-biofeedback >10 (n=26)
(insatisfatória=54%, moderada=19% e satisfatória=27%) (p=
0,008). O número de mulheres com antecedente cirúrgico ou
parto vaginal foram similares nos dois grupos assim como a
PR, PVM e a presença de lesão esfincteriana.
Nos homens, 4 tinham antecedente de cirurgia colo-proctológica. A PR foi 40mmHg e a PVM foi 151mmHg e não houve
alteração no score pré-biofeedback comparado com o score
pós-biofeedback, sendo a resposta média ao tratamento 31%.
A resposta ao tratamento não diferiu entre homens e mulheres (31% x 44%).
Liliane Meireles, António P. Coutinho, Beatriz Neves, José Velosa
Os autores descrevem o caso de uma doente de 67 anos,
de raça negra, sem antecedentes pessoais de relevo, que foi
enviada à consulta de Gastrenterologia por quadro de hematoquézias com cerca de 3 meses de evolução.
Ao exame objetivo apresentava-se apirética e anictérica com
mucosas coradas. O abdómen apresentava ruídos hidroaéreos
mantidos, era mole, depressível e indolor à palpação.
Laboratorialmente não apresentava anemia nem outras alteração analítica de relevo.
Realizou-se colonoscopia que revelou dos 25 cm aos 50cm
da margem anal, inúmeras lesões polipoides de tamanho
compreendido entre 5 e 10 mm, com mucosa hiperemiada
e com sufusões hemorrágicas. Foram efetuadas biopsias,
verificando-se o desaparecimento da maioria das lesões
polipoides à picada. O resultado anátomo-patológica foi de
infiltrado inflamatório ligeiro e inespecífico. A doente realizou ainda endoscopia digestiva alta que revelou uma gastrite
antral. Por suspeita de Pneumatosis coli, realizou tomografia
computorizada abdominal que documentou múltiplas imagens quisticas aéreas na parede do cólon sigmoide, numa
extensão de cerca de 25 cm, atribuíveis a Pneumatosis coli.
A Pneumatosis coli é uma condição incomum caracterizada
pela acumulação de gás na parede gastrointestinal. Muitas
etiologias têm sido propostas, incluindo causas mecânicas
e bacterianas. Os sintomas variam consoante a localização
da lesão e incluem obstipação, diarreia, hematoquézias, dor
abdominal, perda de peso e flatulência.
Com o presente caso clínico os autores pretendem relembrar
esta entidade cujo diagnóstico histopatológico continua a ser
um desafio em material de biópsia.
P03
THE ROLE OF LYMPHATIC VESSEL INVASION IN
RECTAL CANCER: A RETROSPECTIVE STUDY
Ana Franky Carvalho, David Araújo, Patrício Costa, Nuno Sousa,
Mesquita Rodrigues, Pedro Leão
1. Hospital de Braga, Serviço de Cirurgia Geral
2. Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, Escola de
Ciências da Saúde, Universidade do Minho
Background: Lymph node status is important in staging
colorectal cancer (CRC). Presence of metastatic nodes differentiates stage III from stage II. However, the influence of
lymphatic vessels invasion (LVI) on the prognosis in patients
with rectal cancer has not yet been fully explored.
18 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
Objective: To investigate the prognostic value of LVI versus
lymphatic node invasion (LNI), in patients with rectal cancer.
Design: This was a retrospective study.
Settings: This study was conducted at a single institution.
Patients: We enrolled 219 consecutive patients that underwent surgery in Hospital of Braga, between 2000 and June
of 2011. We analyzed demographic and clinical and anatomopathological factors (including LVI, LNI, TNM and Dukes
stage). We evaluated whether LVI has an impact in survival.
Main Outcome Measures: The main outcomes measured
were overall survival and 5-year survival rates.
Results: Our study shows that LVI is an independent prognostic factor in both univariate and multivariate analyzes.
In the multivariate analysis, and controlling for sex, QT
and venous invasion, it was also found that age is also an
independent prognostic factor. Using logistic regression we
found that the LIV is a factor to LNI.
Limitations: This was a retrospective study in a small
number of patients from a single institution. There were no
comparator groups.
Conclusions: This study is innovative because it meets a
thorough analysis of the parameter lymphatic invasion, including not only node invasion but also LVI, and it confirms
that LVI is a determinant prognostic value in patients with
retal cancer and in lymph nodes metastasis.
P04
DISMOTILIDADE GASTROINTESTINAL INEXPLICADA QUANDO AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS SE ESGOTAM:
OPERAR OU NÃO OPERAR?
Sílvia Giestas, Sara Campos, Sofia Mendes, Paulo Freire, Paulo
Souto, Pedro Amaro, Paulo Andrade, Carlos Sofia
Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra
Introdução: A obstipação é um sintoma comum (3-27% da
população) e normalmente os doentes respondem a medidas de alterações na dieta, terapêutica farmacológica e/ou
biofeedback. Nos casos de obstipação com trânsito lento
refratários a terapêutica médica optimizada coloca-se a opção
de resseção cirurgica, porém menos de 3% são candidatos.
Caso clínico: sexo feminino, 54 anos. Seguida, há mais de
20 anos, em consulta de Gastroenterologia, por dispepsia e
obstipação refratária a diversos esquemas terapêuticos em
doente com várias alergias/intolerâncias medicamentosas
(lactulose, macrogol, neomicina, metoclopramida, eritromicina). O estudo realizado em ambulatório (EDA, TEG,
ecografia/TAC abdominal, defecografia e colonoscopia) não
apresentou alterações de relevo. Por surgimento de vómitos
pós-prandiais associados a anorexia marcada foi internada
na Neurologia (Dezembro/2011). Fez TAC-CE com exclusão
de lesões centrais. Posteriormente, por agravamento das
queixas com vómitos/regurgitação após todas as refeições,
trânsito intestinal apenas com recurso a enemas e emagrecimento acentuado (26Kg em 2 anos), a doente foi internada
na Gastroenterologia (Janeiro/2013). Realizou EDA, TEG e
cinerradiologia da deglutição sem alterações significativas.
O cintigrama revelou esvaziamento gástrico lento. Efectuou
tempo trânsito intestinal compatível com inércia cólica. Dado
a doente se manter refratária e/ou intolerante aos esquemas
terapêuticos instituídos foi observada pela Psiquiatria sem
aparente somatização. Avaliada pela Cirurgia Geral mas
sem indicação cirúrgica atendendo à dismotilidade gástrica.
Iniciou após a alta estimulação tibial posterior com melhoria do quadro de obstipação (sem necessitar de enemas).
Actualmente aumentou 6Kg referindo apenas episódios
esporádicos de vómitos.
Conclusão: os autores descrevem o caso pela dificuldade
da abordagem terapêutica e diagnóstica. Apresenta-se iconografia.
P05
LINFOGRANULOMA VENÉREO COMO CAUSA DE
PROCTITE
Diana Carvalho, Pedro Russo, Tiago Capela, Mário Jorge Silva,
Mariana Costa, João Roxo, Joana Saiote
Hospital Santo António dos Capuchos
Introdução: O linfogranuloma venéreo (LGV) é uma doença
sexualmente transmissível (DST) causada pelos serotipos
L1, L2 ou L3 de Chlamydia trachomatis (CT). Constitui
uma causa rara de proctite nos países industrializados,
predominando em homossexuais masculinos com infecção
VIH. O diagnóstico diferencial inclui diversas etiologias, em
particular doença inflamatória intestinal.
Objetivos: Apresentação de um caso de linfogranuloma venéreo com discussão da abordagem diagnóstica e terapêutica,
revisão da literatura e incluindo iconografia.
Caso: Homem, 37 anos, homossexual, com infecção VIH
desde 2004, sem indicação para terapêutica antiretrovírica.
Referenciado a avaliação por quadro de diarreia, rectorragias, proctalgia, proctorreia, tenesmo e falsas vontades com
4 semanas de evolução. Ao exame objetivo apresentava
adenopatias inguinais indolores, toque rectal doloroso
com dedo de luva com sangue. Após fibrosigmoidoscopia
é lhe diagnosticada proctite ulcerosa, sendo medicado com
5-ASA sem resposta clinica. Repetiu fibrosigmoidoscopia que
revelou anite e mucosa do recto distal edemaciada, friável,
ulcerada, com formações nodulares. Biópsias rectais com
erosões, exsudado fibrino-granulocitário, marcado infiltrado
inflamatório misto, atrofia e distorção glandular. Imunomarcação para citomegalovírus e pesquisa de parasitas foram
negativas. Laboratorialmente com IgG positiva para CT,
sem outras alterações. PCR para CT nas biópsias e exsudado
rectal foi positiva. Isolou-se serotipo L2 em exame cultural.
Foi medicado com doxiciclina com remissão clínica ao fim
da primeira semana.
Conclusão: Este caso ilustra a importância do LGV no
diagnóstico diferencial de proctite, permitindo tratamento
atempado e evitando complicações. Salienta-se que consiste
num problema de saúde pública podendo facilitar a transmissão de VIH e outras DST.
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 19
P06
TÉCNICA DE TIESRCH NO TRATAMENTO
DO PROLAPSO RECTAL
Kalina Hirstova, Juan Rachadell, Edgar Amorim, Mahomede
Americano
Hospital de Portimão
O tratamento cirúrgico do prolapso rectal visa corrigir a
morfologia e restaurar a função. Existem múltiplas opções
cirúrgicas, porém até ao momento,não existe nenhuma técnica que seja considerarada gold standart. Os procedimentos
perineais tem maior taxa de recorrência, mas baixa morbilidade e podem ser realizadas sem a necessidade de recorrer a
anestesia geral. A técnica de Tiersch, descrita pela primeira
vez em 1981, previne mecanicamente que o recto prolapse.
Os autores apresentam o caso de uma mulher, com prolapso
rectal recidivado e múltiplas comorbilidades, tratada pela
técnica deTiesrch modificada.
O nosso intuito é relembrar que esta técnica pode ser uma
alternativa para melhorar a qualidade de vida dos doentes
com maior risco cirúrgico.
P07
FÍSTULA DUODENO-CÓLICA DIAGNOSTICADA POR
ENDOSCOPIA
Iolanda Ribeiro, Teresa Pinto Pais, Carlos Fernandes, Ana Paula
Silva, Adélia Rodrigues, Luísa Proença, Sónia Leite, João Carvalho, José Fraga
diferenciado. Repetiu TAC abdominal: massa necrótica no
ângulo hepático com aumento dimensional relativamente
ao exame anterior, com cerca de 12.2cm, e que apresenta
invasão duodenal. Duas semanas depois, o doente apresentou vómitos fecalóides. Na EDA a cavidade gástrica estava
dilatada e deformada, com fezes líquidas no antro; bulbo
com fezes líquidas, observando-se na passagem para a 2ª
porção duodenal, orifício de grandes dimensões que permitia
a passagem para a colon ascendente. Considerando o mau
estado geral do doente e o estado de caquexia, optou-se por
tratamento de suporte. O doente faleceu dois dias depois.
A fistula duodeno-cólica é uma complicação rara da neoplasia
do colon com localização no ângulo hepático. Geralmente
associa-se a neoplasias em estadio avançado. Os sintomas
clássicos são a diarreia, dor abdominal e vómitos fecaloides;
ocasionalmente os doentes podem apresentar hemorragia
gastrointestinal. A maioria das fistulas malignas são diagnosticadas por TC abdominal, no entanto, a endoscopia
alta poderá ter um papel importante na sua avaliação. O
tratamento depende da extensão da neoplasia, presença de
metastização e estado geral do doente.
P08
UMA COLITE SEGMENTAR COM EVOLUÇÃO ATÍPICA
Iolanda Ribeiro, Teresa Pinto Pais, Carlos Fernandes, Sónia
Fernandes, Rolando Pinho, Sónia Leite, João Carvalho, José Fraga
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Homem, 81 anos, parcialmente dependente, com antecedentes de hipertensão arterial e fribrilhação auricular.
Recorreu ao serviço de urgência por dor abdominal com duas
semanas de evolução, associada a náuseas, vómitos alimentares e perda ponderal. Negava perdas hemáticas. Estudo
analítico: anemia normocrómica normocítica com valor de
hemoglobina de 10.3g/dl, sem outras alterações de relevo.
Exame objetivo: doente emagrecido e com desorientação
temporo-espacial; hemodinâmicamente estável; abdómen:
mole, depressível e doloroso a palpação generalizada, sem
sinais de irritação peritoneal.
TC abdominal: espessamento do colon na transição ascendente/hepático, sugerindo processo neoformativo; ascite de
pequeno volume e sinais de invasão dos planos adiposos
peri-colicos; sem metastização hepática ou pulmonar. Colonoscopia total: neoformação com áreas de necrose no ângulo
hepático do colon, impedindo a progressão a montante. A
histologia foi compatível com um processo inflamatório crónico, sem sinais de malignidade na representação disponível.
O doente teve alta com melhoria da dor abdominal e orientado para consulta externa de cirurgia geral. Reinternado
três semanas depois por hiponatrémia sintomática. Durante
o internamento iniciou vários episódios de melenas, razão
pela qual realizou EDA que demonstrou na transição entre
o bulbo e a 2ª porção duodenal mucosa polipoide com áreas
vinosas. O exame histológico revelou carcinoma pouco
Homem de 71 anos, com antecedentes de fibrilação auricular
e medicado com anti-agregante plaquetário. Recorreu ao
serviço de urgência por dor abdominal e hematoquézias com
4 dias de evolução. Referia ainda anorexia e perda de peso
de 5kg em 2 meses. Negava febre.
Ao exame objetivo: apirético, hemodinamicamente estável,
mucosas coradas e hidratadas; abdómen mole, depressível,
doloroso à palpação na região periumbilical e quadrante
inferior esquerdo, sem sinais de irritação peritoneal e sem
organomegalias palpáveis. Toque retal com sangue na luva.
Estudo analítico: ligeira anemia normocrómica normocítica (hemoglobina=12,5g/dl), leucocitose (11,43x103/uL)
e proteína C reativa elevada (11,7mg/dL). Rx abdominal
revelou distensão do colon transverso e ascendente, sem ar
livre intraperitoneal.
Colonoscopia esquerda: colon descendente com mucosa
congestiva e com ulceras circunferenciais, alterações interpretadas em contexto de provável colite isquémica. As
biopsias revelaram um processo inflamatório inespecífico.
Apesar da pausa alimentar e fluidoterapia, o doente manteve
dor abdominal e perdas hemáticas, verificando ainda elevação
dos parâmetros inflamatórios analíticos e pico febril de 38ºc.
Perante este agravamento, realizou TC abdominal: entre a
parede anterior do corpo gástrico e o angulo esplênico do
colon, abcesso de 5cm de diâmetro, observando-se no seu
seio imagem linear cálcica de 3cm compatível com espinha
de peixe; esta coleção abaula a parede do estomago ou faz
20 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
mesmo parte dela e tem relações de proximidade com o colon
esquerdo proximal. Distalmente a esta região o colon apresenta espessamente parietal captante de forma concêntrica, de
provável natureza inflamatória. A endoscopia digestiva alta
confirmou o abaulamento da parede anterior do estômago,
não se observando corpo estranho ou orifício na mucosa.
O doente foi submetido a tratamento cirúrgico, observando-se tumefação inflamatória entre a grande curvatura e o colon
transverso, tendo realizado epiplonectomia de porção de
grande epíplon envolvida no processo inflamatório.
A ingestão de corpos estranhos, em especial, espinha de
peixe, é um problema relativamente comum. No entanto,
a perfuração gastrointestinal ocorre em menos de 1% dos
casos. A apresentação clínica diversificada juntamente com
o facto da maioria dos doentes não recordarem o episódio de
ingestão do corpo estranho, torna o diagnóstico ainda mais
difícil e moroso.
P09
POLIPOSE CÓLICA
Miguel Tomé; Filipa Caldeira; Sara Patrocínio; Nuno Mendonça;
Inês Guerreiro; Lígia Santos; José Vaz
Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE
Os autores apresentam neste trabalho o caso clínico de um
doente de 48 anos admitido no Serviço de Urgência por quadro
de abdómen agudo.
Intraoperatoriamente constatou-se peritonite fecal generalizada por tumor perfurado do cólon sigmóide, tendo sido
realizada Operação de Hartmann.
A suspeita inicial foi de diverticulite aguda complicada de perfuração, contudo o exame anatomopatológico da peça revelou
adenocarcinoma moderadamente diferenciado em segmento
de cólon com múltiplos pólipos adenomatosos.
A investigação subsequente desenvolveu-se no sentido do despiste de polipose familiar para definição de estratégia cirúrgica.
O interesse deste caso prende-se com a importância do mapeamento genético e a sua influência na abordagem e decisão
terapêutica.
P10
P11
HEMORRAGIA DE ANASTOMOSE ILEO-CÓLICA:
TRATAMENTO ENDOSCÓPICO
Ana Monteiro, Bruno Pereira, Vanessa Bettencourt, Luis Valencia,
Arnandina Loureiro
Hospital Amato Lusitano - Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
Introdução: A hemorragia da anastomose intestinal mecânica é uma complicação rara (0,5%)1, com poucos estudos
relatados relativamente à incidência, severidade, tratamento
e outcome.2
Caso Clínico: Os autores apresentam o caso clinico de uma
doente de 62 anos de idade com múltiplas comorbilidades submetida a hemicolectomia direita com anastomose
mecânica que no 11º dia pós operatório inicia quadro de
hematoquézias profusas com repercussão hemodinâmica
(Hipotensão, taquicardia, sudorese, queda de 2gr Hb, necessidade de 2 UCE). A doente é submetida a colonoscopia
tendo-se identificado hemorragia em toalha de 1/3 da sutura.
Dado o risco elevado operatório e friabilidade do tecido anastomótico é efectuada terapêutica endoscópica com clips(6).
Verifica-se progressiva diminuição das dejecções hemáticas
com progressiva melhoria clinica da doente. Alta ao 5ºdia
pós terapêutica endoscópica.
Conclusão: A hemorragia severa de anastomose mecânica é
uma complicação rara da cirurgia colo-rectal. A abordagem
endoscópica é uma opção válida e segura não apenas como
meio diagnóstico mas também como opção terapêutica.
Assim, salienta-se a importância da atitude ponderada e
multidisciplinar na abordagem do doente.
1
Martinez-Serrano M.A., Pares D., Pera M.,et al: Management of lower gastrointestinal bleeding after colorectal resection and stapled anastomosis. Tech
Coloproctol 2009; 13: 49-53
2
Staple line haemorrhage following laparoscopic left-sided colorectal resections may be more common when the inferior mesenteric artery is preserved.
Linn TY, Moran BJ, Cecil TD - Tech Coloproctol - Dec 2008; 12(4); 289-93.
P12
PAPEL DO DILTIAZEM NO TRATAMENTO DA FISSURA
ANAL
Aires Martins, Luísa Pereira, Manuel Ferreira, Álvaro Gonçalves,
Ana Rodrigues, Bárbara Lima, Helena Devesa, Teresa Almeida,
Paulo Passos, Francisco Fazeres, Alberto Midões
ULSAM - Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Hospital de Santa Luzia
NEM TUDO O QUE PARECE É
Filipa Caldeira; Sara Patrocínio; Miguel Tomé; Nuno Mendonça;
Inês Guerreiro; Lígia Santos; Ekaterine Ivanova; José Vaz
Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE
Os autores apresentam neste trabalho o caso clínico de uma
doente de 77 anos de idade, encaminhada à consulta de
Coloproctologia com o diagnóstico de melanoma do canal
anal em estadio IV.
Por sintomatologia incapacitante e hemorragia frequente,
com repercussão clínica e analítica, foi submetida a ressecção
major. Contudo, o exame anatomopatológico da peça revelou
um diagnóstico inesperado.
O interesse deste caso prende-se com a raridade de ambos os
diagnósticos e controvérsia quanto à abordagem terapêutica.
Introdução: A fissura anal uma traduz-se numa solução de
continuidade na anoderme sobre o esfíncter interno hipertrofiado ao nível do canal anal. A principal causa corresponde
ao aumento de pressão a que a anoderme é sujeita durante a
defecação. Pode ocorrer em qualquer idade, embora seja mais
frequente em jovens e adultos de meia-idade, localizando-se
predominantemente ao nível da comissura posterior, quer
em homens quer em mulheres.
Objetivo: Os autores pretendem com este trabalho estudar
papel bloqueadores dos canais de cálcio, nomeadamente do
Diltiazem no tratamento da fissura anal.
Material e Métodos: Este é um trabalho retrospetivo que
engloba os doentes submetidos a tratamento com Diltiazem
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 21
na consulta de proctologia do hospital através da análise dos
registos dos doentes seguidos em consulta.
Resultados: A maioria dos doentes tratados apresentou melhoria da sintomatologia, embora esta percentagem diminua
significativamente no que se refere à cicatrização completa
da fissura anal.
Discussão/Conclusão: O tratamento conservador da fissura anal inclui a utilização de bloqueadores dos canais do
cálcio, nitroglicerina ou toxina botulínica.
A cirurgia pode ser necessária em fissuras crónicas ou de
maior profundidade.
Da análise dos dados obtidos verifica-se que a maioria das
fissuras anais tem uma localização posterior, o que está de
acordo com a literatura atual. Foi ainda possível observar que
a maioria dos doentes tratados com Diltiazem teve melhoria
da sintomatologia, sendo que em alguns esta melhoria teve
apenas um caracter transitório à semelhança da cicatrização
completa da fissura anal que apenas foi conseguida numa
pequena percentagem dos doentes.
P13
AVALIAÇÃO DE FACTORES ENDOSCÓPICOS
E IMAGIOLÓGICOS PREDITIVOS DE EVOLUÇÃO
DESFAVORÁVEL NA COLITE ISQUÉMICA
Pedro Russo, Diana Carvalho, Joana Saiote, Jaime Ramos,
Teresa Bentes
Hospital Santo António dos Capuchos
Introdução: A colite isquémica [CI] resulta de um suprimento sanguíneo inadequado do cólon, causando inflamação
e, em casos mais graves, podendo mesmo originar necrose
do cólon.
Objetivos e Métodos: Avaliação de factores preditivos de
evolução desfavorável (internamento prolongado, cirurgia ou
morte) em doentes com CI. Foram incluídos 71 doentes num
período de 40 meses consecutivos. Foram avaliados factores
demográficos (idade, sexo), endoscópicos (grau e local das
lesões), e imagiológicos (alterações em TC).
Resultados: A idade média foi de 75,8 anos (47-92 anos).
Observaram-se lesões no cólon esquerdo em 60 doentes
(84,51%), cólon direito em 6 (8,45%) e pancolite em 5
(7,04%). As lesões endoscópicas de grau I observaram-se
em 40,85% (29/71); grau II em 45,07% (32/71); grau III em
14,08% (10/71). 46 dos doentes efectuaram TC abdominal:
12 sem alterações, 29 apresentavam espessamento parietal, 3
abcesso/fleimão, 2 pneumatose cólica. 11 apresentavam ascite
concomitante. O tempo médio de internamento foi superior
nos doentes com atingimento do cólon direito (24,8 dias),
e lesões endoscópicas grau III (18,6 dias). 4 doentes necessitaram de intervenção cirúrgica e 3 faleceram. Ocorreram
mais mortes (2) e/ou necessidade de intervenção cirúrgica (2)
nos doentes com pancolite, com lesões endoscópicas grau III
(2 mortes, 3 cirurgias), e com fleimão/abcesso, pneumatose
cólica e/ou ascite em TC (1 morte, 1 cirurgia; 0 mortes, 2
cirurgias; 1 morte, 3 cirurgias, respectivamente).
Conclusões: A CI apresentou um curso mais agressivo nos
pacientes com lesões endoscópicas grau III, nos pacientes
com pancolite e com fleimão/abcesso, pneumatose cólica e/
ou ascite na TC.
P14
DIVERTICULITE PERFURADA AO OVÁRIO - FORMA
RARA DE COMPLICAÇÃO
Ricardo Rodrigues Marques, Ana Rafael, Silvia Sofia Silva,
Luis Viana Fernandes, Joaquim Torrinha
Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental - EPE
Introdução: A doença diverticular do cólon é uma patologia
frequente, com uma prevalência de cerca de 65% na população acima dos 80 anos. Ocorre predominantemente nos
países desenvolvidos. Não obstante ser uma doença comum
e frequentemente assintomática, em cerca de 25% dos casos
podem ocorrer complicações. Reportamos neste trabalho
um caso raro de diverticulite complicada.
Material e Métodos: Case report.
Resultados: Sexo feminino, 82 anos de idade, internada por
dor abdominal referida aos quadrantes esquerdos, com vómitos e diarreia. Da investigação etiológica realizada destacou-se na Angio-TC a presença de vários pontos de isquémia ao
longo de todo o cólon e volumosa lesão quística direita com
nível hidro-aereo, admitindo-se a hipótese diagnóstica de
Colite Isquémica, motivo pelo qual a doente foi submetida
a Laparotomia Exploradora urgente. Intra-operatoriamente
constatou-se torção de volumoso quisto anexial esquerdo
fistulizado ao cólon sigmóide e terço superior do recto, os
quais se encontravam perfurados. Procedeu-se a Ressecção
en bloc de cólon sigmóide, anexo esquerdo e terço superior do recto. O resultado histológico revelou Diverticulite
perfurada com fistulização a cistadenoma seroso do ovário
esquerdo.
Discussão/Conclusão: A diverticulose cólica é uma patologia muito frequente nos países desenvolvidos, cuja prevalência aumenta com a idade. Afecta predominantemente
o cólon sigmóide. As complicações associadas á doença
diverticular são diversas e variam desde a comum hemorragia até ao processo inflamatório o qual se pode complicar
com a formação de abcessos, fistulas e oclusão intestinal. O
processo de fistulização é uma complicação rara (cerca de
2%) e pode manifestar-se de forma bizarra. Ocorre devido
à extensão do processo inflamatório local para os órgãos
vizinhos. A presença de fistulização ao ovário é rara, não
havendo dados estatísticos seguros quanto à sua ocorrência.
O diagnóstico é exigente e assenta na conjugação da clínica com os métodos de imagem (Ecografia, TAC e RM). O
tratamento é cirúrgico.
22 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
P15
P17
INVAGINAÇÃO CÓLICA POR CARCINOMA ADENONEUROENDÓCRINO MISTO
ENDOMETRIOSE CÓLICA RELATO DE CASO
Marina Morais, André Costa Pinho, Joana Pardal, Joanne Lopes,
Alexandre Duarte, Pedro Correia da Silva, J. Costa Maia
Unidade de patologia Colo-Rectal, Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
A invaginação cólica é uma causa rara de oclusão intestinal
nos adultos, causada por lesões malignas em cerca de 70% dos
casos. O diagnóstico é dificultado pela apresentação clínica
inespecífica mas o tratamento atempado é essencial.
Apresentamos um doente de 64 anos com uma invaginação do
cólon ascendente, provocada por uma neoplasia pediculada
com cerca de 8cm. O diagnóstico histológico foi inconclusivo
após biopsia endoscópica. O doente foi submetido a hemicolectomia direita alargada e o resultado anátomo-patológico
revelou um adenocarcinoma pouco diferenciado, com carcinoma misto adenoneuroendócrino (MANEC). O doente foi
proposto para QT adjuvante.
O MANEC é um subtipo histológico raro, e o seu diagnóstico tem implicações a nível de prognóstico, sendo ainda
discutível qual a melhor abordagem terapêutica e follow-up
após a cirurgia.
P16
SETON LOOSE E FÍSTULA PERIANAL.
UMA LIGAÇÃO EFICAZ
Marta Ferreira, Carlos Casimiro, Vítor Marques, João Leitão, Luís
Filipe Pinheiro
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE, Hospital S. Teotónio, Serviço de Cirurgia 1
Introdução: A abordagem das fístulas perianais, continua a
constituir um desafio para o cirurgião. As recidivas e o risco da
perturbação da continência fecal, tem levado ao surgimento de
uma panóplia de alternativas, no tratamento desta entidade.
Os A.A. apresentam a sua experiencia no tratamento definitivo das fístulas complexas, com a utilização de seton loose.
Material e Métodos: Entre 2004 e 2012 foram tratados com
esta técnica 57 doentes com fístulas complexas, implicando
fistulotomia/fistulectomia parcial e colocação no trajeto restante, de referência vascular. Os doentes foram seguidos em
consultas seriadas. Até aos 4 meses todas as referências foram
substituídas por fios de seda, que em média se mantiveram
durante 6 meses. Os doentes foram questionados sobre tolerância e perturbação da continência fecal.
Resultados: Registaram-se 5 recidivas, 2 tratadas com abaixamento da mucosa e 3 com novo seton. À exceção de 2 doentes os restantes não apresentaram qualquer queixa relacionada
com o seton. Em apenas 3 doentes houve registo de soiling,
que desapareceu progressivamente, após remoção do seton.
Conclusão: Os A.A concluem que nas fístulas perianais não
susceptíveis de abordagem por fistulotomia simples, a aplicação de seton constitui uma excelente alternativa terapêutica.
Mário Jorge Silva, Diana Carvalho, Mariana Nuno Costa, Pedro
Russo, Tiago Capela, Ricardo Jorge Matos, João Costa Simões,
Joana Saiote, Teresa Bentes
Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Hospital de Santo António dos Capuchos (Director: Dr. António David Marques)
Serviço de de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Hospital de Santo António dos Capuchos (Coordenador: Dr. Guedes da Silva)
Apresenta-se o caso de uma doente de 33 anos avaliada em
Consulta de Proctologia por quadro de rectorragias e dor
abdominal tipo cólica cíclico, síncrono com a menstruação, com quatro meses de evolução.
Durante a investigação etiológica realizada avaliação com
colonoscopia que documentou estenose infranqueável aos 30
cm da margem anal revestida por mucosa macroscopicamente
normal e cujas biópsias foram inconclusivas.
Ressonância magnética pélvica documentou espessamento
concêntrico no cólon sigmoideu hiperintenso nas ponderações em T1 com saturação de gordura e em T2, sugestivo
de endometriose.
Foi submetida a colectomia esquerda segmentar laparoscópica, tendo o exame anatomo-patológico confirmado o
diagnóstico de endometriose sigmoideia.
A doente manteve-se assintomática após a cirurgia.
Os autores apresentam a marcha diagnóstica e terapêutica
nesta doente, incluindo a iconografia dos exames realizados,
assim como uma breve revisão teórica da patologia.
P18
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA NITROGLICERINA TÓPICA COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA NA FISSURA ANAL
Helena Devesa; Bárbara Lima; Ana Rodrigues; Aires Martins;
Álvaro Gonçalves; Luísa Pereira; Manuel Ferreira; Paulo Passos;
Fernando Barbosa; Alberto Midões
Unidade Local de Saúde do Alto Minho - ULSAM
Introdução: A fissura anal é por vezes considerada uma
patologia minor mas que pode tornar-se incapacitante para
o doente.
O tratamento médico com Nitroglicerina tópica apresenta-se como uma opção terapêutica com o objetivo de evitar
ou atrasar a cirurgia e o consequente risco de complicações
cirúrgicas.
Objetivos: Avaliar a eficácia do tratamento com Nitroglicerina tópica em doentes com o diagnóstico de fissura anal.
Material e Métodos: Revisão retrospectiva dos doentes
observados em consulta de Proctologia entre Maio 2008 e
Julho 2013, com o diagnóstico de fissura anal, e submetidos
a tratamento com Nitroglicerina tópica a 0,4%. O tratamento
consistiu em 2 aplicações diárias de Nitroglicerina tópica na
região anal, durante 8 semanas. Foi avaliada a sintomatologia e
a cicatrização às 8 semanas.
Resultados: Dos 253 doentes observados, 11 faltaram às
consultas subsequentes. Dos 242 doentes que foram avaliados
após o fim do tratamento tópico com Nitroglicerina, registou-se
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 23
cicatrização em 44,86%. A taxa de recidiva foi de 16,67%, em
média 8,25 meses após a cicatrização.
23,83% dos doentes apresentaram efeitos secundários, sendo o
mais comum as cefaleias (72,55%).
Não completaram o tratamento 18,22% dos doentes, 74,36%
devido a efeitos secundários, 23,08% por ineficácia do tratamento
e 2,56% por desaparecimento dos sintomas.
Discussão/Conclusão: Os resultados da nossa instituição
mostram uma taxa de cicatrização sobreponível à descrita na
literatura.
A Nitroglicerina tópica demonstra ser uma opção terapêutica
válida no tratamento inicial da fissura anal, nomeadamente nos
doentes que recusam cirurgia ou que apresentam maior risco
cirúrgico pelas suas co-morbilidades.
P19
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA E ECOENDOSCOPIA RECTAL – QUAL A MELHOR OPÇÃO NO
ESTADIAMENTO DO ADENOCARCINOMA DO RECTO?
Helena Devesa; Bárbara Lima; Ana Rodrigues; Aires Martins; Álvaro
Gonçalves; Luísa Pereira; Manuel Ferreira; Teresa Almeida; Fernando
Barbosa; Alberto Midões
Unidade Local de Saúde do Alto Minho - ULSAM
Introdução: Os exames complementares para diagnóstico
e estadiamento do cancro do recto incluem a Ressonância
Magnética (RM) pélvica e a ecoendoscopia rectal.
Estes dois métodos complementam-se entre si – a ecoendoscopia é melhor na determinação da penetração da parede
do recto pelo tumor, enquanto a RM pélvica mostra ser
superior no estadiamento ganglionar.
Objetivos: Determinar, entre RM pélvica e ecoendoscopia
rectal, qual o exame complementar de diagnóstico com
maior acuidade no estadiamento loco-regional do adenocarcinoma do recto.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos doentes
operados por adenocarcinoma do recto entre Janeiro 2011
e Junho 2013, comparando o estadiamento pré-operatório
(por RM pélvica e/ou ecoendoscopia) e o resultado histológico da peça operatória.
Foram excluídos os doentes operados de urgência, sem
estadiamento prévio.
Resultados: Do total de doentes analisados (42), excluíram-se 4, por terem neoplasias irressecáveis.
Dos 38 doentes avaliados, 35 fizeram RM pélvica e 19
ecoendoscopia.
Dos que fizeram RM, 34,29% apresentaram resultados histológicos concordantes com o estadiamento. Daqueles que
foram estadiados com ecoendoscopia, 15,79% apresentaram
resultados concordantes.
Os doentes que foram estadiados pelos dois métodos apresentaram uma concordância de 33,33%.
Discussão/Conclusão: Os resultados apresentados têm
taxas de sensibilidade da RM pélvica e da ecoendoscopia
rectal inferiores aos descritos na literatura.
Estes resultados podem dever-se à baixa amostragem e ao
facto de, na nossa instituição, a ecoendoscopia só se ter
começado a fazer em 2011, fazendo os doentes analisados
neste estudo parte da curva de aprendizagem da realização
da ecoendoscopia.
Também o sobre-estadiamento imagiológico pós-quimioradioterapia neoadjuvante, pelas alterações pós-radiação,
explicam a diminuição da sensibilidade do estadiamento
pré-operatório.
P20
ADENOCARCINOMA GÁSTRICA: UMA FORMA
DIFERENTE DE METASTIZAÇÃO
Ana Cristina Rodrigues, Luísa Pereira, Manuel Ferreira, Aires
Martins, Álvaro Gonçalves, Mário Gonçalves, Bárbara Lima,
Helena Devesa, Teresa Almeida, Paulo Passos, Alberto Midões
ULSAM
JF, homem de 71 anos, antecedente de adenocarcinoma
gástrico submetido a gastrectomia subtotal D2 R2 em 2010
seguida de quimioterapia paliativa.
Em Abril de 2013 o doente deu entrada no SU com quadro
de dor abdominal na FIE e vómitos. Realizou colonoscopia
que mostrou uma lesão estenosante na transição rectosigmóidea e foi colocada uma prótese. A TC revelou a presença
de um extenso espessamento parietal nos 2/3 proximais
do recto (T3N1). O quadro de vómitos e dor abdominal
resolveu, houve restabelecimento do trânsito intestinal e
o doente teve alta para a consulta.
Em consulta de Grupo Oncológico em Maio foi decidido
por resseção cirúrgica.
Em Junho o doente dá entrada no SU com quadro de dor
abdominal QIE e trânsito para fezes líquidas com perdas
hemáticas. A TC mostrava prótese metálica na transição retosigmoideia em doente portador de neoplasia cólica distal,
com componente proximal não abrangido pela prótese que
condiciona acentuada estenose. Realizou nova colocação
de prótese cólica sem intercorrências.
Treze dias após a colocação da prótese o doente apresenta
um ventre agudo e foi submetido a laparotomia exploradora
tendo-se identificado uma neoplasia do cólon sigmoide
com perfuração proximalmente à prótese; ausência de
carcinamatose peritoneal. Realizou-se ressecção da lesão
com confecção de colostomia. A histologia da peça revelou achados morfológicos compatíveis com metástase de
carcinoma pouco coesivo, de origem gástrica.
No pós-op o doente apresentou vómitos biliares de difícil
controle, sem causa objectivada. Foi proposto para Unidade
de Paliativos que recusou e teve alta para o domicílio com
controle sintomático.
24 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
P21
COLITE COLAGENOSA: UM DIAGNÓSTICO
A CONSIDERAR NA DIARREIA AQUOSA CRÓNICA
Pedro Russo, Diana Carvalho, Mariana Costa, Mário Jorge Silva,
Tiago Capela, Gonçalo Ramos
Hospital Santo António dos Capuchos
Caso Clínico: Mulher de 67 anos com quadro com 5 meses
de evolução caracterizado por 4-5 dejecções diárias de consistência líquida com muco e desconforto abdominal difuso.
Sem outros sintomas.
Da investigação realizada destaca-se: coproculturas, exame
parasitológico de fezes e pesquisa de toxina de Clostridium
difficille negativos; serologias para o vírus da hepatite B e
C, HIV 1 e 2 e VDRL negativos; estudo de doença celíaca
negativo; função tiroideia sem alterações.
Realizou colonoscopia esquerda, não tendo sido objectivadas
alterações endoscópicas. As biopsias revelaram camada espessa de colagénio na membrana basal com discreto infiltrado
inflamatório linfoplasmocitário, alterações compatíveis com
o diagnóstico de colite colagenosa.
Iniciou-se terapêutica com messalazina, que não foi tolerada.
Após início de terapêutica com budesonido observou-se
normalização do padrão defecatório.
Comentários: Com este caso os autores pretendem salientar
a importância das biopsias cólicas nos doentes com diarreia
crónica, sem alterações endoscópicas, para a investigação
de colite microscópica. Histopatologicamente a colite colagenosa distingue-se da colite linfocítica pela presença de
uma camada espessa de colagénio subepitelial. A literatura
sugere o budesonido como terapêutica com maior eficácia
na colite colagenosa.
P22
SCHISTOSOMÍASE: CAUSA RARA DE APENDICITE
AGUDA?
Rui Marinho, Ricardo Rocha, Marta Sousa, António Gomes,
Nuno Pignatelli, Carla Carneiro, Vítor Nunes
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
Introdução: A Schistosomíase é uma doença parasitária
causada por termatódeos do género Schistossoma, endémica em África e Sul da Ásia. A Apendicite Aguda (AA) por
Schistossomas é pouco frequente nas áreas endémicas, sendo
extremamente raras nos países desenvolvidos.
Objetivo: Relato do único caso identificado em 1141 AA
operadas de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2012.
Caso Clínico: MNF, masculino, 70A, caucasiano, residente
em Moçambique de 1964 a 1976, período durante o qual
desenvolveu hematúria macroscópica por shistossomíase vesical, tratado com praziquantel durante 3 anos. Admitido no
SU por quadro de dor abdominal com 3 dias de evolução sem
outras queixas associadas. Ao exame objetivo apresentava
abdómen agudo com dor mais intensa à direita, sugestivo de
ventre em tábua. Analiticamente com leucocitose de 16500/L,
neutrofilia de 89%, sem linfocitose nem eosinofilia e sem
alterações da função hepática. Realizou TAC Abdominal que
revelou espessamento parietal do apêndice com apendiculito
no interior, pequena quantidade de líquido intraperitoneal,
sem pneumoperitoneu. Foi submetido a apendicectomia por
laparotomia por instabilidade hemodinâmica. Histologicamente apresentava apendicite aguda fleimonosa e presença
de quistos de Schistossoma na parede do apêndice. Teve boa
evolução pós operatória e no follow up subsequente.
Discussão/Conclusões: As infecções apendiculares a
Schistossoma podem produzir sintomas de AA, embora a
sua etiopatogenia seja controversa. O conhecimento desta
entidade é fundamental em hospitais com grandes comunidades de imigrantes do continente africano ou doentes com
historial de viagens ou estadias em países endémicos.
P23
COLITE ISQUÉMICA: ORIENTAÇÃO NO SERVIÇO DE
URGÊNCIA
Ângela Rodrigues, Cidalina Caetano, Tarcísio Araújo,
Isabel Pedroto
Centro Hospitalar de Porto - Hospital de Santo António
Introdução: A colite isquémica é a forma mais comum de
isquemia intestinal e resulta de uma diminuição do fluxo
sanguíneo do cólon devido a fenómenos oclusivos e não
oclusivos. Ocorre habitualmente em indivíduos idosos, com
várias comorbilidades e doença difusa dos pequenos vasos.
Objetivos: Avaliar a orientação e outcome dos doentes com
diagnóstico endoscópico e histológico de colite isquémica
observados no serviço de urgência.
Material e Métodos: Recolha retrospectiva de dados do
período de Janeiro a Dezembro de 2012.
Resultados: Identificados 37 doentes com colite isquémica, média de 75 anos, 78% com hipertensão arterial e 32%
com Diabetes Mellitus tipo 2, 57% dos doentes apresentava
elevação da proteína C reactiva (média de 51 mg/L) e 35%
anemia. O reto encontrava-se atingido em 10 doentes. Todos
os doentes foram medicados com antibioterapia. Cerca de
26% tiveram alta hospitalar medicados com Ciprofloxacina ±
Metronidazol durante 8 dias. Os restantes foram internados
por uma média de 7 dias. A maioria destes foi medicado
com antibioterapia de largo espectro (20 Piperaciclina/tazobactam, 2 Carbapenemos), alterada posteriormente para
Ciprofloxacina ± Metronidazol em 10 casos. Completaram
em média um total de 10 dias de antibiótico. Um doente
faleceu na sequência de acidente vascular cerebral.
Discussão/Conclusões: A maioria dos doentes necessitou
de internamento, mas os casos mais ligeiros foram geridos
em ambulatório. A evolução foi favorável, apesar da idade
avançada e comorbilidades, não sendo necessária cirurgia e
registando-se apenas um óbito.
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 25
P24
LESÃO INTRA-OPERATÓRIA DO NERVO FEMORAL EM
CIRURGIA COLO-RECTAL – A PROPÓSITO DE 2 CASOS
CLÍNICOS
Ricardo Rocha; Nuno Mendonça; Rui Marinho; Marta Sousa;
António Gomes; Nuno Pignatelli; Carla Carneiro; Vitor Nunes
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE – Serviço de Cirurgia B
Introdução: A lesão iatrogénica do nervo femoral é uma
possível complicação da cirurgia abdomino-pélvica, constituindo um entidade rara ou pouco reportada. Está associada
a limitação funcional auto-limitada, podendo contudo cursar
com sequelas sensitivo-motoras permanentes.
Casos Clínicos: Apresentamos 2 casos clínicos de doentes
submetidos a hemicolectomia esquerda, por neoplasia do
colon descendente, com posicionamento em litotomia e
utilização de retactor em “anel”. Sem intercorrências intra-operatórias.
Pós-operatório complicado por atraso na recuperação da
autonomia para levante e marcha, por incapacidade na
flexão da coxa e extensão do joelho esquerdo, associado a
parestesia da face antero-interna da coxa e perna. Do estudo
complementar salienta-se electromiograma com neuropraxia
do nervo femoral esquerdo.
Ambos iniciaram reabilitação motora, um dos casos com
recuperação do estado funcional prévio em 2 semanas. O
outro, ao fim de 3 meses, apresenta melhoria parcial da
força muscular, mantendo ainda limitação da marcha com
necessidade de apoio auxiliar.
Discussão: A literatura aponta como mecanismos de lesão
o traumatismo directo, indirecto, por isquemia ou ambos.
Na cirurgia abdomino-pélvica são apontadas como possíveis
causas o uso de retractores “em anel”, causando compressão
do nervo femoral decorrente do estiramento do músculo
psoas e o posicionamento exagerado em litotomia por compressão nervosa contra o ligamento inguinal.
Conclusão: A lesão iatrogénica do nervo femoral pode ser
uma complicação inesperada da cirurgia colo-rectal, cursando com importante incapacidade funcional. O conhecimento
da anatomia torna-se fundamental para a compreensão das
situações em que o nervo femoral pode estar em risco.
P25
CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL:
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Diana Carvalho, Sónia Oliveira, Pedro Russo, Pedro Barata,
Lurdes Batarda, Jaime Ramos
Hospital Santo António dos Capuchos
Introdução: Os tumores do canal anal são raros, correspondendo a 1-4% das neoplasias digestivas. O carcinoma
pavimento-celular (CPC) é o tipo mais comum. A sua apresentação é inespecífica conduzindo frequentemente a atraso
diagnóstico e terapêutico.
Objetivos: Estudo da população de doentes com CPC seguido num centro de referência.
Material e Métodos: Análise retrospectiva das características demográficas, doenças concomitantes, estadiamento,
tratamento e resposta à terapêutica nos doentes observados
entre Janeiro/2008 a Dezembro/2012.
Resultados: Avaliados 22 doentes, 15 mulheres (68%), com
mediana de idade 66 anos (34-84); 4 seropositivos para o VIH
(idade média 40 anos). Em 11 doença estava no estádio IIIB,
9 no IIIA e 2 no II. A quimiorradioterapia (QRT), utilizando
associação de mitomicina e fluoropiramidinas, foi efectuada
em todos excepto num, que recusou o tratamento: radical
em 17 (77%), adjuvante em 2, neoadjuvante+adjuvante em
1, e neoadjuvante seguida de ciclo adicional por neoplasia
irressecável em 1. Quatro foram operados: excisão parcial
em 2, ressecção abdomino-perineal em 1 e laparatomia explorada em 1. Verificou-se resposta parcial à quimioterapia
em 3 doentes; recidiva documentada em 2, com 3 e 4 meses
de intervalo livre de doença. Um abandonou o “follow-up”.
Registaram-se 5 óbitos motivados pela doença.
Conclusão: Nesta série predominou o padrão clássico da
CPC do canal anal, afetando maioritariamente mulheres,
sem imunossupressão e na 7 década de vida. O tratamento
mais utilizado foi QRT obtendo-se 86% de respostas livres de
doença, resultados sobreponiveis aos dados da literatura.
P26
COLHIDO PELO TOURO: LESÃO TRAUMÁTICA DO
PERÍNEO, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Marta Sousa, António Gomes, Ricardo Rocha, Rui Marinho,
Carla Carneiro, Nuno Pignatelli, Vítor Nunes
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
Introdução: As lesões traumáticas não-obstétricas do períneo
são pouco frequentes. A sua abordagem requer experiência
em trauma e cirurgia colo-proctológica. O tratamento consiste no restabelecimento da anatomia e fisiologia pélvica
evitando complicações precoces, nomeadamente a sépsis
local, bem como, complicações tardias que possam resultar
em incapacidade permanente, em particular a incontinência
fecal.
Casos Clínico: HDMR, sexo masculino, 28 anos, vítima de
traumatismo penetrante do períneo por cornada de touro
em agosto de 2010. À admissão encontrava-se com GSC 15
e hemodinamicamente estável. Apresentava extensa laceração do períneo com aproximadamente 20 cm, com secção
completa dos esfíncteres. Submetido a sigmoidostomia em
ansa e perineoplastia. Com a colaboração da Cirurgia Plástica
foram realizados vários encerramentos com retalho e enxerto,
apenas cicatrizando totalmente em maio de 2011. Realizou
ecografia que revelou redução significativa da espessura do
complexo esfincteriano com interrupção das fibras do esfíncter interno e manometria que revelou esfíncteres hipotónicos,
sensibilidade normal e reflexos anorectais presentes. Iniciou
reabilitação do pavimento pélvico com estimulação e biofeedback. O estudo de reavaliação demonstrou melhoria franca
da força de contracção. Em junho de 2012 fez encerramento
26 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
do estoma, mantendo desde essa altura continência completa
para gases e fezes sólidas. Atualmente em seguimento em
consulta, não apresentando sequelas ou qualquer limitação
da qualidade de vida.
Conclusão/Discussão: Uma vez que as lesões traumáticas
não-obstétricas do períneo são situações pouco frequentes,
o seu tratamento requer uma abordagem precoce das suas
possíveis complicações. A abordagem multidisciplinar deste
tipo de lesões é fundamental para o sucesso do tratamento.
P27
COLITE ISQUÉMICA – A EXPERIÊNCIA DE UMA DÉCADA
Leitão C., Santos A., Pereira B., Caldeira A., Pereira E., Tristan J.,
Sousa R., Banhudo A.
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Serviço de Gastrenterologia
Introdução: A colite isquémica é a forma mais comum de isquemia intestinal, compreendendo uma grande variabilidade
clínica e diferentes graus de severidade. Objetivos: Avaliar
os aspectos clínico-epidemiológicos dos doentes internados
com colite isquémica (CI).
Material e Métodos: Estudo retrospectivo dos internamentos por CI numa enfermaria de Gastrenterologia, no decurso
de 10 anos (2002-2012).
Resultados: Identificaram-se 194 doentes (59,40% do género feminino; idade média de 75,29anos). Antecedentes de hipertensão essencial(56,5%), doença cardiovascular(21,5%),
arritmias(14,8%) e doença cerebrovascular(6,6%). Factores
de risco predisponentes: uso de AINE´s (23,4%) e digitálicos
(13,6%). A clínica predominante foi retorragias (79,2%) e
dor abdominal (73,3%). A CI atingiu mais de 2 segmentos
em 42,9% dos doentes, sendo o envolvimento do cólon
esquerdo predominante (77,3%). A severidade endoscópica
foi de grau I (57,1%), II (39,6%) e III (3,2%), associando-se ao atingimento de mais de 2segmentos (ρ<0,0001), do
cólon sigmóide e cólon descendente (ρ<0,0001), à presença de anemia (ρ<0,04) e a maior mortalidade (ρ<0,0001).
Administraram-se antibióticos em 84,4%. Num houve necessidade de realizar cirurgia. A morte ocorreu em 4 doentes. A
duração média de internamento foi de 7,53 dias e associou-se
ao atingimento de mais de 2segmentos (p<0,0001), maior
tempo de início entre os sintomas e o diagnóstico (p<0,0001),
realização de antibioterapia (p<0,009) e idades superiores a
80anos (p<0,001).
Conclusões: Nesta série, verificou-se predomínio da CI
no idoso do sexo feminino, com antecedentes de patologia
cardiovascular. O envolvimento do cólon esquerdo foi predominante e associou-se a maior severidade endoscópica. A
maioria dos doentes evoluiu favoravelmente, destacando-se
reduzida necessidade cirúrgica e baixa mortalidade.
P28
COMPLICAÇÕES HEMORRÁGICAS APÓS LAQUEAÇÃO ELÁSTICA HEMORROIDÁRIA EM DOENTES SOB
ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
Cláudio Martins, Suzane Ribeiro, Élia Gamito, Isabelle Cremers,
Ana Paula Oliveira
Centro Hospitalar de Setúbal - Hospital de São Bernardo
Introdução: A laqueação elástica (LEH) é uma das opções
terapêuticas para as hemorroidas internas. A incidência
global de complicações associadas a esta técnica varia entre
3.5 a 10% e inclui a proctalgia, hemorragia, retenção urinária e sépsis. A hemorragia é a mais frequente com eventos
hemorrágicos minor descritos em 1.7% e eventos major em
0.8% dos casos. Ao contrário da maioria dos procedimentos
endoscópicos convencionais, cujas recomendações actuais
preconizam a manutenção da terapêutica antiagregante
plaquetária (TAAP) com acido acetilsalicílico (AAS), não
existem, actualmente, recomendações formais para o manuseamento dessa terapêutica na LEH.
Objetivos: Avaliar a incidência de complicações hemorrágicas em doentes submetidos a LEH sob TAAP com AAS.
Métodos: Estudo retrospectivo das LEH efectuadas entre
Janeiro e Setembro de 2012. Os doentes sob TAAP com
AAS mantiveram esta terapêutica. Excluíram-se os doentes
sob terapêutica com outros antiagregantes plaquetários e/
ou anticoagulantes.
Resultados: Realizaram-se um total de 149 LEH, 23 das
quais em doentes sob TAAP com AAS. A média de idades
foi de 55 anos (68 anos para o grupo sob AAS vs 52 para o
grupo sem TAAP), com predomínio global de doentes do
género masculino (57%). Documentaram-se 4% (n=5) de
complicações hemorrágicas no grupo sem TAAP, todas elas
consideradas minor pois não requereram qualquer intervenção. No grupo sob TAAP, verificou-se um único caso de
complicação hemorrágica que foi considerada major pois
requereu suporte transfusional.
Conclusão: A LEH é um método seguro no tratamento das
hemorroidas internas. Nesta amostra, a TAAP com AAS não
aumentou o risco de complicações hemorrágicas.
P29
GIST RECTAL: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Ana Monteiro, Vanessa Bettencourt, Luis Valencia, Horacio Perez
Hospital Amato Lusitano - Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
Introdução: Tumores do estroma gastrointestinal (GIST) são
tumores mesenquimatosos com uma incidência aproximada
de 10 casos/milhão pessoas na Europa. A mediana de idade
afectada é entre os 60-65 anos.
A sua localização no cólon e recto compreende menos de
5% do total.
Objetivo: Alertar que embora raro o GIST rectal deverá
constar no diagnóstico diferencial de uma massa peri-rectal.
O reconhecimento da possibilidade desta entidade desde a
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 27
abordagem inicial promoverá uma atitude terapêutica mais
adequada e diminuir a possibilidade de recidiva.
Caso Clínico: Doente de 43 anos de idade previamente
saudável que recorre ao SU por massa dolorosa perianal com
sinais inflamatórios com um mês de evolução condicionando
abaulamento da parede rectal. A doente referia ter efectuado
antibioterapia com efeito transitório sintomático. TC: massa
58x46mm heterogénea com área hipodensa central, sugestiva
de liquefacção. Perante suspeição de colecção abecedada a
doente é submetida a intervenção cirúrgica de urgência,
tendo intra-operatóriamente sido verificada a presença de
massa elástica coesa que se retirou. Anatomia patológica:
tumor do estroma gastrointestinal do recto de baixo risco de
comportamento agressivo, com 6cm de maior eixo e menos
de 5mitoses/50cga, c-kit+, ki67+ 5%. Ausência de margens.
Doente enviada a centro de referência para tratamento adjuvante. Ao 18º mês de seguimento é identificada recidiva
local, sob terapêutica com Imatinib 400mg/dia.
Submetida a ressecção da lesão. Anatomia patológica: Formação nodular com 2,8cm bem delimitada e não capsular
- recidiva do GIST de alto grau 15mitoses/50cga.
Actualmente medicada com Imatinib 400mg/dia sem evidência de nova recidiva.
Discussão/Conclusão: O GIST é um tumor mesenquimatoso com um incidência baixa. A sua localização no recto
e em doente jovem é muito rara, tornando-se um desafio
diagnóstico.
Estar alerta para esta apresentação e localização de GIST pode
permitir um diagnóstico inicial correcto e assim facilitar um
tratamento óptimo multidisciplinar.
P30
CARCINOMA COLORRECTAL E COLOCAÇÃO DE
PRÓTESES METÁLICAS AUTO-EXPANSIVEIS: HAVERÁ
ALGUM BENEFÍCIO?
Oliveira A., Correia T., Rodrigues C., Gomes D., Agostinho C.,
Portela F., Sofia C.
Serviço de Gastrenterologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Introdução: As próteses metálicas autoexpansíveis (PMAE)
podem ser utilizadas no tratamento do carcinoma colorretal
(CCR) estenosante como ponte para a cirurgia eletiva ou
com objetivo paliativo em alternativa à colostomia definitiva.
Objetivo e Métodos: Análise retrospectiva da eficácia, complicações e follow-up dos doentes que colocaram PMAE por
CCR, no período entre Janeiro/2005 e Julho/2013. Dividiu-se
em dois grupos: Grupo A (Intenção paliativa, 41 doentes) e
Grupo B (Ponte para cirurgia eletiva, 12 doentes).
Resultados: Colocaram-se 53 PMAE em 51 doentes (33M;
18F), com média etária de 72 anos, sem diferença entre
os grupos. Posicionaram-se 10 no reto(18,9%), 30 no sigmóide(56,6%), 10 no descendente(18.9%), 2 no ângulo
esplénico(3,8%) e 1 no transverso(1,9%). Apresentaram-se
em oclusão/sub-oclusão 25 doentes, sendo 15 do grupo A. A
neoplasia era infranqueável em 35 doentes (28 do A, 7 do B).
Onze doentes do grupo B realizaram cirurgia com intenção
curativa, com intervalo mediano de 10 dias entre a colocação da prótese e a cirurgia. Ocorreram seis complicações: 2
perfurações; 1 migração e 3 oclusões. O intervalo entre o
diagnóstico e a colocação da prótese foi inferior (p<0,05) no
grupo B (10 dias) em relação ao grupo A (92 dias). O follow-up médio foi de 267 dias, sendo estatisticamente superior
no grupo B (423 versus 206 dias, p<0,05).
Conclusão: As PMAE constituem um procedimento eficaz
tanto como ponte para a cirurgia como na paliação de neoplasias inoperáveis. A sua colocação deverá ser considerada em
alternativa à cirurgia de emergência em quadros de oclusão/
sub-oclusão no contexto de CCR.
P31
CARCINOMA ESPINHOCELULAR EM SINUS
PINONIDALIS SACROCOCCIGEO DE LONGA
EVOLUÇÃO: CASO CLÍNICO
Alexandre Monteiro, Carla Diogo, José Casanova, Sara Ramos,
Horácio Zenha, Francisco Castro Sousa
Serviço de Cirurgia A, Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, Serviço de
Ortopedia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Introdução: O sinus pilonidalis sacrococcigeo pode evoluir
até grande extensão, atingindo por vezes a região perianal.
A transformação neoplásica é uma complicação pouco frequente do sinus pilonidalis de longa evolução, e o carcinoma
espinhocelular é o tipo histológico mais frequente, ocorrendo
em cerca de 0,1%. Foi descrita pela primeira vez por Wolff
em 1900 e actualmente existem menos de 100 casos descritos
na literatura.
Material e Métodos: Descreve-se o caso clínico de um
doente de 40 anos com um sinus pilonidalis sacrococcigeo
infectado e muito extenso com 20 anos de evolução, cujas
biópsias revelaram tratar-se de um carcinoma espinhocelular.
Resultados: A lesão de grandes dimensões apresentava-se altamente invasiva, com atingimento da região anal e
perianal, com destruição total do cóccix e parcial do sacro.
O estadiamento por TAC TAP, PET e Cintigrama Ósseo não
revelou lesões à distância ou adenopatias da cadeia lombo-aórtica. Apresentava uma adenopatia inguinal direita cuja
biopsia excisional foi negativa para neoplasia.
A terapêutica cirurgica consistiu numa amputação abdomino-perineal associada a excisão alargada da região sacrococcigea, sacrectomia parcial, e reconstrução com retalho
VRAM transperitoneal e dois retalhos fasciocutâneos de
rotação da nádega.
O pós-operatório decorreu sem intercorrências de maior, à
excepção de pequena deiscência da sutura da AAP que foi
encerrada com um enxerto de pele parcial. O doente foi encaminhado para realização de radio-quimioterapia adjuvantes.
Conclusões: Os carcinomas espinhocelulares em sinus
pilonidalis sacrococcigeos são lesões extremamente raras,
porém agressivas, e surgem sobretudo em doença com evolução prolongada. A melhor prevenção consiste na ressecção
cirúrgica do sinus em fase precoce, e o tratamento dos carcinomas em sinus pilonidalis implica ressecções alargadas
28 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
com necessidade de reconstruções complexas. Apesar disso,
o prognóstico permanece reservado com taxas de recidiva
local até 50%.
P33
HEMORRAGIA DIVERTICULAR: E DEPOIS DO
EPISÓDIO INICIAL?
Tarcísio Araújo, F. Castro-Poças, Ângela Rodrigues, Isabel Pedroto
P32
TRATAMENTO DE FISSURA ANAL COM TOXINA
BOTULÍNICA - AUSÊNCIA DE CICATRIZAÇÃO DA
FISSURA AO 1º E AO 6º MÊS, APÓS ADMINISTRAÇÃO
DE TOXINA BOTULÍNICA, COMO FATOR PREDITOR
DE FALÊNCIA TERAPÊUTICA
Manuel A. V. Ferreira; Dr. Francisco Fazeres; Dr. Paulo Passos
Centro Hospitalar Alto Minho - Hospital Viana do Castelo
Background: A fissura anal é uma das doenças proctológicas
mais dolorosas e frequentes. O seu tratamento assenta essencialmente na esfincterectomia lateral interna. Esta técnica
acarreta um risco de lesão permanente do esfíncter anal e
consequentemente de incontinência o que levou à procura
de novas estratégias terapêuticas como a injeção de toxina
botulínica.
A toxina botulínica é usada com o fim de desnervar quimicamente o esfíncter anal interno, o que leva ao seu relaxamento
permitindo a cicatrização da fissura. Atendendo ao seu período limitado de atuação, procurou-se saber se a ausência de
cicatrização no 1º e aos 6 meses é fator preditor de falência
terapêutica.
Métodos: Quarenta e quatro doentes com fissura anal externa
foram submetidos a injeções de toxina botulínica. De seguida
foram acompanhados em consulta externa tendo sido observados ao primeiro, sexto e décimo segundo mês e avaliados
quanto à presença de sintomas e cicatrização da fissura
Resultados: A inspeção ao primeiro mês demonstrou uma
cicatrização completa em 50% e ausência de sintomas em
53% dos doentes. Na visita ao sexto mês 41% dos doentes
manteve-se sem sintomas e sem evidência de fissura e 36%
foram submetidos a tratamento cirúrgico. No final dos 12
meses, 23% dos doentes apresentaram-se sem evidência de
fissura, 27% permaneceram assintomáticos e a percentagem
de doentes intervencionados cirurgicamente subiu para 50%.
A ausência de cicatrização ao 1º e aos 6 meses relacionou-se de
forma estatisticamente significativa com a falência terapêutica
ao final dos 12 meses.
5% dos doentes apresentaram efeitos secundários.
Conclusão: A ausência de cicatrização verificada ao 1º e aos
6 meses relacionou-se a permanência dos sintomas e com
maior necessidade cirúrgica nestes doentes.
Ao todo, metade dos doentes foi submetida a tratamento
cirúrgico num espaço de um ano após administração de
toxina botulínica.
No entanto, atendendo a baixa percentagem de efeitos secundários e à baixa morbilidade desta intervenção, pode levar
a que o tratamento com toxina botulínica seja considerado
terapêutica de primeira linha, sendo sempre crucial o acompanhamento próximo destes doentes ao longo do tempo.
Serviço de Gastrenterologia, Hospital Geral de Santo António, Centro Hospitalar do Porto
Introdução: a diverticulose do cólon é uma alteração gastrointestinal cada vez mais frequente no mundo ocidental,
cuja prevalência tem crescido devido ao aumento da idade
da população. A hemorragia diverticular é uma complicação
rara, mas importante dado o risco de vida associado e acarretando por vezes a necessidade de cirurgia.
Objetivo: analisar fatores de risco, recidiva hemorrágica e
necessidade de cirurgia em doentes com hemorragia diverticular.
Material e Métodos: análise retrospetiva de 24 doentes
admitidos entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de
2008 com o diagnóstico de hemorragia diverticular e seguimento durante os 4 anos seguintes.
Resultados: a idade média foi de 80,21 ± 10,52 anos; 29,2%
(n=7) eram do sexo feminino e 70,8% (n=17) eram do sexo
masculino. Doze doentes (50%) estavam sob terapêutica com
antiagregantes plaquetares e três (12,5%) com hipocoagulação oral. Apresentaram recidiva hemorrágica seis doentes
(25%), no entanto destes só um necessitou de cirurgia. O
tempo médio entre o episódio inicial e a recidiva foi de
2,16 anos. A sobrevida aos 4 anos foi de 58,3 %. Dos óbitos
registados nenhum esteve directamente relacionado com o
episódio hemorrágico. Apenas um doente foi submetido a
cirurgia, tendo sido esta realizada após o segundo episódio.
Conclusão: a hemorragia diverticular é uma complicação
que atinge principalmente os mais idosos, mas a evolução é
geralmente benigna e só raramente é necessária cirurgia. A
antiagregação parece ter um papel potenciador de evento.
A mortalidade após o evento parece estar mais relacionada
com as comorbilidades do doente do que com complicações
da hemorragia diverticular.
P34
TRILHANDO PELA LAPAROSCOPIA COLO-RECTAL REVISÃO DE 12 CASOS
Guilherme Fialho, Hugo Capote, Stelio Rua, Eduardo Soeiro, Ilda
Barbosa
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano - Hospital Doutor José Maria
Grande, Portalegre
Introdução: A cirurgia laparoscópica tem vindo a afirmar-se
como novo paradigma na abordagem cirúrgica do doente
oncológico, particularmente na patologia maligna do cólon
e recto.
Objetivos: Avaliação da técnica e respectivo outcome na
qualidade do cuidado ao doente e na sua qualidade de vida.
Material/Métodos: Seleccionou-se uma amostra de 12
doentes submetidos a cirurgia laparoscópica do cólon e
recto, nos 6 meses compreendidos entre 01Abr e 30Set, com
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 29
avaliação retrospectiva dos procedimentos e cuidados prestados
e respectivo outcome na qualidade do cuidados prestados e na
qualidade de vida do doente após a cirurgia.
Resultados: Nos 12 doente avaliados, houve necessidade de
conversão da laparosopia em 2 casos.
Procederam-se a 4 ressecções anteriores do recto (tempo médio:
6h15m), 4 ressecções interesfinceterianas (7h02m) e 2 ressecções
abdomino-perineais (4h45m).
Como complicações imediatas registam-se 2 abcessos pre-sagrados (1 deles com evolução para fístula colo-vesical), 1
deiscência parcial de anastomose colo-rectal e 1 estenose de
ileostomia (de derivação)
Quanto ao impacto da cirurgia na qualidade de vida, descrevem-se a quase ausência de dor, com hábitos alimentares mantidos,
com continência fecal e urinária mantidas, assim como a função
sexual, com excepção para o doente complicado com fístula
colo-vesical.
Discussão: Sendo uma técnica cirúrgica em franca expansão,
com notória melhoria na qualidade de vida do doente pós-cirúrgico, a cirurgia laparoscópica do cólon e recto acarreta uma
curva de aprendizagem longa e consequente disponibilidade dos
serviços envolvidos.
Será necessária uma nova avaliação do impacto desta técnica
na qualidade dos cuidados prestados, quando a sua execução
estiver mais implementada.
P35
RESSECÇÃO ANTERIOR RECTO-SIGMOIDE
LAPAROSCÓPICA EXTRAÇÃO TRANSANAL (NOSE)
P Alves, N. Rama, R. Malaquias, R. Brásio, I. Gil, V. Faria
Serviço de Cirurgia I do Centro Hospitalar Leiria, EPE
Introdução: A abordagem minimamente invasiva no contexto
de patologia oncológica colo-retal é, nos dias de hoje, uma realidade nacional. A sua tendência crescente de reduzir o número
e dimensão das incisões tem permitido o desenvolvimento de
alternativas como o acesso por porta única e a extração transanal.
É imperativo salientar que, seja qual for a abordagem utilizada,
não se deve comprometer a radicalidade de resseção oncológica,
recolhendo os benefícios da cirurgia minimamente invasiva.
Material e Métodos: Apresenta-se o caso clínico de um
doente do sexo masculino, 42 anos com pólipo da transição
recto-sigmoide, submetido a polipectomia endoscópica com
adenocarcinoma sem margens de segurança. Foi operado no
Serviço de Cirurgia I do Centro Hospitalar de Leiria EPE, em
Novembro de 2012 com realização de uma ressecção anterior
recto-sigmoide por via laparoscópica. O procedimento foi realizado de acordo com a técnica padronizada, utilizada pela equipa
cirúrgica, com recurso a 4 portas e extração transanal da peça
operatória (NOSE).
Resultados: Os autores salientam os principais passos da
técnica cirúrgica. O tempo cirúrgico foi de 120 minutos, tendo
o pós-operatório decorrido sem complicações, com alta clínica
ao 5º dia.
Conclusões: A sigmoidectomia laparoscópica com extração
transanal do espécime (NOSE) é um procedimento exequível
e reprodutível, com indicação em lesões benignas ou malignas iniciais e de pequeno volume. A sua utilização evita
incisões de necessidade para extração da peça e respetiva
morbilidade associada.
P36
CUSTO/BENEFÍCIO DA AVALIAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA NA PATOLOGIA HEMORROIDÁRIA
Sara Patrocínio; Miguel Tomé; Filipa Caldeira; Inês Guerreiro; Nuno
Mendonça; Lígia Santos; Isabel Andrade
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E.
Introdução: A patologia hemorroidária é uma entidade muito
frequente na população adulta, sendo o tratamento cirúrgico
o mais indicado nos casos mais graves. Não existe no entanto
consenso quanto à necessidade de exame anatomopatológico
das peças de hemorroidectomia. O custo associado a esta
prática é significativo tornando necessária a avaliação do
custo/benefício da sua utilização rotineira.
Objetivos: Caracterização da população de doentes submetidos a hemorroidectomia num determinado período de
tempo no Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar
Barreiro-Montijo.
Avaliação da necessidade de exame anatomopatológico das
peças de hemorroidectomia.
Importância clínica e prognóstica das patologias diagnosticadas secundariamente.
Material e Métodos: Foram incluídos no estudo descritivo
e retrospectivo os doentes submetidos a hemorroidectomia entre Janeiro de 1990 e Setembro de 2013, no Centro
Hospitalar Barreiro-Montijo. Os dados foram recolhidos
através de consulta dos processos clinicos e base de dados
dos Serviços de Cirurgia Geral e Anatomia Patológica. Para
a análise e tratamento dos dados foi utilizado o programa
informático Excel.®
Resultados: Dada a taxa reduzida de achados histopatológicos inesperados nas peças de hemorroidectomia foi apenas
realizada uma análise descritiva dos resultados obtidos e
caracterização da população em estudo.
Discussão/Conclusões: O custo elevado do exame anatomopatológico de rotina das peças de hemorroidectomia
bem como a baixa prevalência de alterações histológicas
inesperadas e sua relevância clínica e prognóstica reforçam
a necessidade de uma reflexão ponderada acerca do uso
racional e criterioso deste exame, tendo em conta a história
clínica, factores de risco e exame proctológico de cada doente.
30 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
P37
MORBILIDADE ASSOCIADA AO ENCERRAMENTO DE
UMA ILEOSTOMIA DERIVATIVA
Marina Morais, Alexandre Duarte, Pedro Correia da Silva, J. Costa
Maia
Unidade de patologia Colo-Rectal, Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar São
João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Introdução: A deiscência anastomótica após cirurgia de
ressecção do recto pode atingir os 6%. A ileostomia derivativa mostrou diminuir as consequências da deiscência
anastomótica, apesar de também suportar riscos.
Objctivos: Avaliar a taxa de complicações do encerramento
de uma ileostomia de protecção de uma anastomose colo-rectal baixa e os factores preditivos.
Métodos: Reavaliámos os processos clínicos dos doentes
submetidos a encerramento de ileostomia entre 1 de Janeiro
de 2008 e 30 de Junho de 2013.
Registaram-se as características dos doentes (sexo, idade,
classificação ASA), factores peri-operatórios (diagnóstico,
classificação TMN, tempo entre a 1ª cirurgia até ao encerramento da ileostomia, tratamento neo- e adjuvante) e intra-operatórios (duração da cirurgia e tipo de encerramento:
mecânico ou manual). Foram avaliadas as complicações que
ocorreram até aos 30 dias da cirurgia.
Resultados: Neste período, 69 doentes foram submetidos
a encerramento de ileostomia, com uma idade média de
64,5 (30-92 anos). Como complicações, foram constatados
3 abcessos intra-abdominais, 3 suboclusões intestinais, 2
deiscências da anastomose íleo-ileal, 6 infecções da ferida,
uma hérnia incisional e um episódio de febre sustentada sem
foco esclarecido, perfazendo um total de complicações de
23,1%, com uma taxa de mortalidade de 8,6%. Neste estudo,
o único factor preditivo de complicações pós-operatórias foi
a maior duração da cirurgia de encerramento.
Conclusões: O encerramento de uma ileostomia está associado a uma taxa significativa de complicações. Pode implicar
os mesmos gastos que a cirurgia primária e como tal, não
deve ser encarada como uma cirurgia minor.
P38
COLITE A CITOMEGALOVÍRUS NA DOENÇA
INFLAMATÓRIA INTESTINAL
Ângela Rodrigues, Cidalina Caetano, Marta Salgado, Paula Lago,
Isabel Pedroto
Centro Hospitalar do Porto, Hospital de Santo António
Introdução: O papel do citomegalovírus (CMV) na doença
inflamatória intestinal (DII) encontra-se ainda em debate,
não sendo claro se a infecção é responsável por agudização
da doença ou apenas um marcador de doença grave.
Objetivo: Analisar os doentes com DII e diagnóstico histológico de colite a CMV nos últimos 5 anos.
Material e Métodos: Recolha de dados retrospectiva do
período entre Janeiro de 2009 e Setembro de 2013.
Resultados: Identificadas 7 colites a CMV: 3 doentes com
Colite ulcerosa, 2 com Colite de Crohn e 2 com Colite não
classificada; todos medicados com aminossalicilatos e 3
com Azatioprina (2 destes também sob corticoterapia). O
diagnóstico de colite a CMV foi efectuado em contexto de
agudização, sendo 2 doentes corticodependentes. Seis casos,
apresentaram imunohistoquimica positiva (2 destes também
com alterações compatíveis na coloração hematoxilina e
eosina) e 1, PCR positiva. Um doente apresentou IgM CMV
positivo (realizada pesquisa em 6 doentes) e um antigenemia
positiva (efectuada determinação em 5 doentes). Todos os
doentes efectuaram tratamento antivírico, apenas um sem
corticoterapia concomitante. O tempo de seguimento após
terapêutica antivírica variou entre 2-54 meses; neste período
3 doentes necessitaram de curso de corticoterapia adicional
(após 11, 12, 24 meses) e 2 de iniciar imunossupressão.
Discussão/Conclusões: A histologia é considerada o gold
standard no diagnóstico da colite a CMV, tendo a serologia
valor limitado. O tratamento antivírico está recomendado,
não sendo claro o seu impacto no curso da doença.
P39
ESTARÁ A LOCALIZAÇÃO DOS ADENOMAS COLO-RETAIS
A MUDAR?
Ana Maria Oliveira; Vera Anapaz; Catarina Graça Rodrigues; Luís
Lourenço; Sara Folgado Alberto; Alexandra Martins; Jorge Reis;
João Ramos de Deus
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca EPE
Introdução: Vários estudos têm demonstrado a tendência à
proximalização do carcinoma colo-retal (CCR); no entanto,
poucos têm analisado a evolução da distribuição dos pólipos
adenomatosos.
Objetivos: Comparar a localização e as características de
adenomas colo-retais entre dois períodos de tempo.
Métodos: Estudo retrospetivo, observacional dos adenomas
removidos durante a colonoscopia numa unidade hospitalar
em dois períodos de tempo: ano de 2003 (período 1) e ano
de 2012 (período 2).
Os doentes com polipose adenomatosa familiar, cancro
colo-retal não polipósico, doença inflamatória intestinal e
antecedentes de CCR foram excluídos do estudo.
Os dados foram avaliados segundo o teste do Qui-quadrado.
Resultados: Durante os períodos considerados, foram
analisados 864 adenomas de 2653 colonoscopias completas
(333 adenomas de 1111 colonoscopias do período 1 e 531
adenomas de 1542 colonoscopias do período 2).
Verificou-se um aumento significativo da proporção de pólipos adenomatosos no cólon proximal do período 1 para o
2, de 30,6% para 38,8% (p<0,05).
Comparando as características avançadas dos adenomas
entre os dois períodos, observou-se que do período 1 para
o período 2, o número de adenomas com dimensão ≥1cm
(p=0,001), com displasia de alto grau (p=0,001), e com
componente viloso (p<0,0001) aumentou significativamente.
Conclusões: A proporção de pólipos adenomatosos no cólon
proximal aumentou de forma significativa nos últimos anos.
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 31
Esta conclusão poderá ter importantes implicações no que
respeita aos métodos de rastreio de carcinoma colo-retal.
De igual forma, também o número de adenomas com características avançadas aumentou nos últimos anos.
P40
DIVERTICULITE AGUDA - CASUÍSTICA DE 3 ANOS
Ana Marta Pereira, Paulo Martins, Vera Oliveira, Tiago Fonseca,
Joana Magalhães, Gil Gonçalves, Mario Nora.
Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
Introdução: A diverticulose intestinal afeta mais de metade da população acima dos 80 anos, com uma incidência
crescente na população jovem. Aproximadamente 20% dos
pacientes apresentam 1 episódio de diverticulite aguda durante a vida com apenas 1% destes submetidos a cirurgia. As
indicações para cirurgia eletiva têm sido desafiadas por novos
dados acerca da história natural da doença, tal como opções
cirúrgicas no que respeita aos episódios agudos complicados.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo
dos casos de diverticulite aguda, analisando fatores de risco
para a sua ocorrência, opções terapêuticas, morbilidade e
mortalidade.
Métodos: Estudo retrospetivo de pacientes com diagnóstico
de diverticulite aguda na nossa instituíção, no período compreendido entre Janeiro de 2011 e Maio de 2013
Resultados: No referido período 84 doentes foram internados com o diagnóstico de diverticulite aguda, 53 do sexo
masculino e 31 do sexo feminino. A média de idade do primeiro episódio foi de 59 anos. 13 destes doentes (15%) foram
submetidos a cirurgia urgente por diverticulite aguda grave
(Hinchey III/IV) e 4 a cirurgia eletiva (5%) por episódios
repetidos ou alteração da qualidade de vida. A morbilidade
precoce foi de 7% e tardia de 1% sempre nos casos cirúrgicos,
sem registo de mortalidade.
Discussão/Conclusão: O papel desempenhado pela cirurgia nos casos de diverticulite aguda complicada e recorrente
mantém-se preponderante no entanto às custas de uma elevada taxa de morbilidade o que nos remete para uma melhor
ponderação acerca das opções cirurgicas tal como indicação
para cirurgia eletiva.
P41
ENDOMETRIOSE INTESTINAL: APRESENTAÇÃO
E LOCALIZAÇÃO INCOMUNS
Correia T, Costa M, Oliveira A, Amaro P, Bento A, Oliveira F, Sofia C
Serviço de Gastrenterologia - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Serviço de Cirurgia B - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Doente do sexo feminino, 42 anos de idade, referenciada para
a consulta de Gastrenterologia por pólipo do cólon detectado
em tomografia computorizada (TC) realizada após episódio
de cólica renal. A lesão identificada no cego era descrita como
estrutura polipóide com 33mm, com realce após contraste.
Clinicamente a doente referia quadro de dor abdominal com
cerca de 2 anos de evolução, de intensidade moderada, loca-
lizada na região pélvica direita, com marcado agravamento
durante o período menstrual. Negava outros sintomas, nomeadamente do foro ginecológico. A colonoscopia revelou
formação polipóide com aparente exteriorização a partir do
orifício apendicular, recoberta por mucosa normal. No cólon
sigmóide distal identificou-se lesão igualmente procidente,
ocupando cerca de um terço da circunferência luminal,
recoberta com mucosa de padrão normal, discretamente
congestiva e dura ao toque.
O estudo histopatológico de ambas as lesões não revelou
alterações. A repetição de colonoscopia e biópsias revelou
apenas discreta inflamação inespecífica do córion na lesão do
pólo cecal. A ecoendoscopia evidenciou lesão hipoecogénica,
discretamente heterogénea, de configuração em crescente,
localizada na quarta camada, sugerindo aspecto compatível
com endometriose. A colonografia por TC confirmou os
achados, excluindo mucocelo do apêndice.
Atendendo às dúvidas diagnósticas, opções terapêuticas e
preferência da doente, optou-se pela terapêutica cirúrgica
com ressecção ileocólica e biopsia da lesão parietal do cólon
sigmóide distal. O estudo das peças operatórias revelou a
presença de endometriose do apêndice íleo-cecal com invaginação do apêndice para o lúmen do cego, confirmando
igualmente a presença de endometriose do cólon sigmóide.
Actualmente, a doente apresenta dismenorreia ligeira, mantendo acompanhamento em consulta de Ginecologia. Apresenta-se iconografia imagiológica, endoscópica e cirúrgica.
Os autores apresentam documentação iconográfica.
P42
HEMORRAGIA CÓLICA E EVENTO ADVERSO DURANTE
PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO
Ricardo Küttner Magalhães, Ricardo Marcos-Pinto, Tarcísio Araújo,
Maria João Magalhães, Marta Salgado, Teresa Moreira,
F. Castro-Poças, Isabel Pedroto
Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto
Caso Clínico: Sexo feminino, 83 anos, submetida a exérese
endoscópica de 8 pólipos com ansa diatérmica, sem intercorrências. No sigmóide removeu-se pólipo pediculado de
30 mm, tendo-se assistido a hemorragia de alto débito pela
escara, pelo que foram injectados 5cc de adrenalina. De
seguida foi aplicado endoclip, obtendo-se hemóstase completa. Aplicou-se outro endoclip na escara, no entanto, este
não se destacou do cateter introdutor, após várias tentativas.
Seccionou-se então o cateter imediatamente à saída do canal
acessório do colonoscópio e removeu-se o colonoscópio
sobre o cateter, seguido de nova secção do cateter a nível da
margem anal, após leve tracção do mesmo e contrapressão
a nível da região perianal. A porção distal do cateter permaneceu no recto proximal. A doente ficou em vigilância
clínica, tendo ocorrido febre, dor discreta nos quadrantes
inferiores do abdómen, sem sinais de irritação peritoneal
e com elevação dos marcadores inflamatórios séricos. No
dia seguinte repetiu-se colonoscopia, confirmando-se dois
endoclips posicionados sobre escara e o cateter solto em
32 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
ambas as extremidades, tendo sido removido. A doente
cumpriu pausa alimentar, fluidoterapia endovenosa e 5 dias
de antibioterapia, encontrando-se totalmente assintomática
e sem recidiva hemorrágica.
Discussão: As complicações graves relacionadas com a colonoscopia constituem eventos pouco frequentes. Está descrita
a ocorrência de deficiente funcionamento de endoclips ao
nível do manípulo, sua libertação precoce e raros casos de
incapacidade de destacar o clip do cateter. Pretende-se a sensibilização para a necessidade de reportar eventos adversos
e a demonstração, neste caso particular e potencialmente
grave, da sua resolução.
P43
DIARREIA CRÓNICA: QUANDO DUAS CAUSAS SE
ASSOCIAM
Ricardo Küttner Magalhães, Ângela Rodrigues, Paulo Salgueiro,
Cidalina Caetano, Marta Salgado, Teresa Moreira, F. Castro-Poças,
Isabel Pedroto
Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto
Caso Clínico: Sexo masculino, 77 anos, com 8-14 dejecções
líquidas/dia de cheiro fétido, com muco, sem sangue ou pús
e com componente nocturno.
Apresentava dor abdominal difusa, ligeira, diurna que alivia
com as dejecções. Paralelamente reportava anorexia, astenia
e perda de 8 Kg. Negava febre.
Este quadro tinha 1 mês de evolução. Recorreu SU e foi
assumido o diagnóstico de diarreia infecciosa, tendo tido
alta com antibioterapia.
Uma semana depois recorreu novamente ao SU, apresentando
Hb 11.0g/dL, sem leucocitose, PCR 5.96mg/L, VS 35mm e
potássio 2.68mmol/L. T3L 8.4pg/mL (2.0-4.4), T4L 3.5ng/dL
(0.93-1.7), TSH 0.01mUI/mL (0.27-4.2), calprotectina fecal
493mg/g (<50), pesquisa de toxina do Clostridium difficile
negativa, bacteriológico e parasitológico de fezes negativos.
Rectosigmoidoscopia com discreto eritema difuso e contínuo da mucosa do sigmóide e recto. As biopsias revelaram
processo o inflamatório linfoplasmocitário do córion, com
frequentes imagens de permeação linfocitária, compatíveis
com colite linfocítica. A ecografia tiroideia demonstrou bócio
multinodular/hiperplasia nodular colóide. Foi introduzido
Tiamazol que mesmo em doses crescentes não foi eficaz e
após início de prednisolona se assistiu a normalização do
trânsito intestinal e da função tiroideia.
Discussão: A colite linfocítica e o hipertiroidismo constituem etiologias infrequentes de diarreia crónica. A associação
das duas assume ainda maior raridade. Desconhece-se com
certeza, neste caso, qual o contributo de cada uma, sendo
que a corticoterapia sistémica é eficaz em ambas as causas.
De salientar no entanto, que a melhoria clínica acompanhou
a normalização da função tiroideia, apontando o hipertiroidismo como eventual factor preponderante.
P44
SURPRESA DIAGNÓSTICA DURANTE ESTUDO
ETIOLÓGICO DE OBSTIPAÇÃO
Paula Sousa; Paula Ministro; Francisco Portela; Ricardo Araújo;
Eugénia Cancela; António Castanheira; Américo Silva
Centro Hospitalar Tondela-Viseu
Doente de 47 anos, sexo feminino, com antecedentes de histerectomia com anexectomia, hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo 2, obesidade mórbida e depressão, polimedicada.
Referenciada à consulta de Gastrenterologia por obstipação
marcada associada a rectorragias.
Realizou colonoscopia que mostrou elevação lobulada de
aspecto subepitelial no recto distal, com cerca de 8 mm de
diâmetro; biopsias da mucosa sem alterações de relevo. A
ressonância magnética pélvica mostrou estrutura quística
multiloculada com cerca de 45x20x30 mm localizada à parede anterolateral esquerda do reto, com hipersinal em T2. A
ecoendoscopia demonstrou várias formações quísticas intra
e extra-parietais. Efectuou-se punção de uma delas, sendo
a citologia compatível com linfangioma quístico, uma malformação vascular de natureza benigna que raramente tem
localização rectal, podendo ser responsável por rectorragias
recorrentes.
A doente realizou ainda videodefecografia e tempo de trânsito
cólico que demonstraram obstipação terminal associada a
inércia cólica. Trata-se assim de uma obstipação multifactorial, atendendo aos antecedentes patológicos da doente e
polimedicação.
A obstipação é a queixa digestiva mais comum na população
em geral. Quando é refractária ao tratamento empírico ou
associada a sinais de alarme são necessários testes diagnósticos específicos e especializados.
Com este caso pretende-se relatar uma patologia rara diagnosticada durante o estudo etiológico de obstipação.
P45
APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE CARCINOMA
EPIDERMÓIDE ANAL
Paula Sousa; Diana Martins; Juliana Pinho; Joana Machado;
Ricardo Araújo; Eugénia Cancela; António Castanheira; Paula
Ministro; Francisco Portela; Júlio Constantino; Américo Silva
Centro Hospitalar Tondela-Viseu
Doente de 68 anos de idade, sem antecedentes de relevo,
com quadro de proctalgia associado a perda de muco pelo
ânus e a perda ponderal não quantificada com cerca de um
mês de evolução.
Realizada colonoscopia que demonstrou lesão subepitelial
3x2 cm no terço inferior do recto. As biopsias da mucosa
foram inconclusivas. A ecoendoscopia mostrou lesão com
3,6x4,5 cm, hipoecogénica e homogénea, aparentemente
na dependência da camada muscular própria. Efectuada
punção da lesão, tendo o resultado anatomopatológico revelado achados compatíveis com o diagnóstico de carcinoma
epidermóide.
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 33
Durante o estadiamento com tomografia computadorizada
e ressonância magnética pélvica foram detectadas lesões
compatíveis com metástases hepáticas e aparente invasão
do músculo elevador do ânus à direita. Efectuada biopsia de
uma das lesões hepática que confirmou tratar-se de metástase
de carcinoma epidermóide.
Com este caso pretende demonstrar-se apresentação atípica
de neoplasia pouco frequente.
P46
LIPOMA DO CÓLON COMO CAUSA DE INTUSSUSCEPÇÃO ILEO-CECO-CÓLICA
Paula Sousa; Juliana Pinho; Diana Martins; Joana Machado;
Ricardo Araújo; Eugénia Cancela; António Castanheira; Paula
Ministro; Noel Carrilho; Américo Silva
Centro Hospitalar Tondela-Viseu
Doente do sexo feminino, 69 anos, sem antecedentes relevantes.
Recorreu ao serviço de urgência por episódios recorrentes de
dor abdominal generalizada, náuseas e vómitos. Ao exame objetivo apresentava abdómen difusamente doloroso, sem sinais
de irritação peritoneal. Radiografia abdominal simples com
níveis hidroaéreos no intestino delgado. A doente foi internada
para vigilância e estudo. Durante o internamento apresentou
quadro oclusivo, pelo que foi realizada colonoscopia urgente que
demonstrou lesão mole não circunferencial no ângulo hepático,
impedindo a passagem do endoscópio; efectuadas biopsias, que
foram inconclusivas. A tomografia computadorizada abdominal colocou a hipótese de invaginação intestinal. Laparotomia
exploradora urgente confirmou invaginação ileo-ceco-cólica.
Efectuada hemicolectomia direita alargada a cerca de 50 cm de
íleon terminal com anastomose primária latero-lateral mecânica.
O exame anatomopatológico revelou lipomas submucosos
cólicos, sem evidência de lesões malignas.
A intussuscepção nos adultos é rara e quase sempre causada por
uma lesão orgânica. As lesões benignas que mais frequentemente
causam intussuscepção são os lipomas. Na maioria das vezes,
os lipomas são lesões assintomáticas; quando sintomáticos
causam dificuldades no diagnóstico diferencial pré-operatório
entre lesões malignas e benignas.
Este caso pretende demonstrar uma causa rara de obstrução
intestinal nos adultos, que é por sua vez uma complicação rara
de uma patologia benigna.
P47
PSORÍASE INDUZIDA PELO INFLIXIMAB NUMA
DOENTE COM DOENÇA DE CROHN
Ana Maria Oliveira; Catarina Graça Rodrigues; Luís Lourenço;
Vera Anapaz; Liliana Santos; Alexandra Martins; Jorge Reis; João
Ramos de Deus
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE
Introdução: Os agentes anti-TNF alfa são amplamente utilizados no tratamento da doença inflamatória intestinal (DII)
e da psoríase, mas o desenvolvimento paradoxal de lesões
cutâneas psoriáticas em doentes com DII tratados com estes
fármacos tem sido reconhecido de forma crescente. Embora
rara, esta complicação pode ser grave e levar à descontinuação
da terapêutica.
Caso Clínico: Doente de 53 anos, não fumadora, com doença
de Crohn (DC) A3L3B3 (classificação de Montreal) diagnosticada em 2002, quando foi submetida a ileo-colectomia direita
de urgência por suspeita de perfuração intestinal no contexto
de lesão tumoral. O exame anátomo patológico da peça operatória revelou achados morfológicos compatíveis com DC; a
doente foi medicada com messalazina. A avaliação endoscópica
pós-operatória mostrou atividade da doença no ileon distal
e na anastomose ileo-cólica estadio E4 (score de Rutgeerts),
iniciando azatioprina. Nos anos seguintes, apresentou alguns
episódios de dor abdominal e diarreia, controlados com ciclos
de budesonido.
Em 2007, verificou-se agravamento significativo destas queixas e perda ponderal, tendo iniciado infliximab (mantendo
azatioprina que suspendeu ao fim de 12 meses).
Em 2008, o intervalo das tomas de infliximab foi reduzido para
6 semanas. Desde então, encontra-se sem queixas digestivas.
Contudo, desenvolveu uma dermatose psoriática atingindo o
couro cabeludo, pavilhões auriculares e regiões axilar, inguinal e popliteia, de agravamento progressivo, sem resposta à
corticoterapia tópica. Atualmente, a gravidade e extensão das
lesões cutâneas requerem a descontinuação desta terapêutica.
Conclusão: Descreve-se um caso de psoríase grave associada
ao infliximab numa doente com DC. Apresenta-se iconografia
detalhada. Discutem-se os algoritmos de abordagem desta
complicação.
P48
ADENOCARCINOMA DO INTESTINO DELGADO: TUMOR
RARO COM APRESENTAÇÃO RARA
André Goulart, Ana Franky Carvalho, Pedro Leão, Ricardo Pereira,
Mesquita Rodrigues
Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de BragarnInstituto da Ciência da Vida e da
Saúde (ICVS), Escola das Ciências da Saúde, Universidade do Minho, Braga
Apesar do intestino delgado ser responsável por 80% do
comprimento do tubo digestivo e por 90% da superfície mucosa, apenas 2,4% das neoplasias primárias do tubo digestivo
ocorrem nesta localização.
A incidência dos tumores malignos do intestino delgado tem
aumentado nos últimos anos (22,7/1.000.000 habitantes
em 2004). O adenocarcinoma do intestino delgado é a segunda neoplasia maligna mais comum do intestino delgado
(7,3/1.000.000 habitantes), logo atrás do tumor carcinoide
(9,3/1.000.000 habitantes). A sua localização preferencial
ocorre no duodeno (55,7%), sendo rara no jejuno e íleo (15,6%
e 13,3%, respetivamente).
Os tumores malignos do intestino delgado quase sempre sintomáticos (94%) enquanto que pouco mais de metade (53%)
dos tumores benignos apresentam sintomas. Os sintomas mais
frequentes do adenocarcinoma do intestino delgado são a dor
abdominal (43%), náuseas e vómitos (16%) e anemia (15%).
Os autores apresentam o caso clínico de uma doente de 51
34 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
anos com anemia ferropénica refratária a tratamento médico.
A investigação diagnóstica inicial com endoscopias digestivas alta e baixa e vídeo-cápsula não identificou a causa da
hemorragia. A entero-TC sugeriu a presença de neoformação
na transição jejuno-íleo e a enteroscopia com duplo balão
identificou a neoformação (biópsia: adenocarcinoma).
A doente realizou enterectomia segmentar em Abril de 2013,
sem intercorrências cirúrgicas ou no pós-operatório.
A anatomia patológica revelou adenocarcinoma bem diferenciado do jejuno, invasão de toda a espessura da parede, ausência de imagens de invasão vascular, ausência de metástases
em vinte e quatro gânglios linfáticos isolados do mesentério,
bordos cirúrgicos livres de lesões (TMN: pT3G1N0M0R0).
A doente encontra-se em vigilância na Consulta Externa de
Cirurgia Geral.
P49
LINFOMA RECTAL APÓS INFECÇÃO A VÍRUS EPSTEIN
BARR: UM CASO SINGULAR
Capela, T.; Ribeiro, A.; Carvalho, D.; Silva, M. J.; Russo, P.;
Costa, M.; Ramos, J Bettencourt, M. J.; David Marques, A.
Hospital de Santo António dos Capuchos, CHLC, EPE
Introdução: O Linfoma B associado ao vírus Epstein-Barr
(EBV) é uma entidade rara, estando descrito em indivíduos
imunodeprimidos.
Caso Clínico: Mulher de 89 anos, caucasiana. Em 2010
observada por anorexia e perda ponderal com 6 meses de
evolução. Apresentava anemia ferropénica, B2 microglobulina 1,5x o normal, VS de 90mm/h. Fez uma colonoscopia
total que revelou úlcera no recto, irregular, friável. O estudo
histológico de biópsias rectais descreveu infiltrado inflamatório misto da lâmina própria, úlceras agudas; ausência de
displasia. Realizou TC abdomino-pélvica que não revelou
alterações e abandonou seguimento clínico.
Em Março de 2013: internada por hematoquézias, incontinência fecal e caquexia. A investigação revelou: Hb 9.5g/
dL, B2microglobulina 2x o normal, VIH negativo; exame
proctológico e colonoscopia revelaram lesão peri-anal vegetante, friável, aderente aos planos profundos, estendendo-se
o canal anal e recto distal. A RNM pélvica- lesão infiltrativa
transmural e múltiplas adenopatias peri-rectais; TC torácio:
lesões expansivas no parênquima pulmonar. Biopsias cólicas- linfoma B difuso de grandes células (centroblastico,
non-GCB). A
valiando retrospectivamente as laminas de 2010 verificou-se
imunomarcação positiva para EBV. Face ao estadio da doença
e à idade da utente opta-se por quimioterapia paliativa.
Comentários: A infeção pelo EBV está associada a várias
doenças proliferativas benignas e malignas do tecido linfoide
designadamente o linfoma B de grandes células. No idoso e
imunocompetente, embora conceptualmente plausível, não
estão descritos casos, com surgimento deste tipo linfoma
associado ao EBV.
P50
COLITE POR SALMONELLA: CASO PARADIGMÁTICO
DE SOBREPOSIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
E ENDOSCÓPICAS COM A COLITE ISQUÉMICA E A
DOENÇA INTESTINAL INFLAMATÓRIA
Pedro Russo, Diana Carvalho, Mariana Costa, Tiago Capela, Mário
Jorge Silva, Jaime Ramos, Joana Saiote
Hospital Santo António dos Capuchos
Caso Clínico: Mulher de 66 anos com quadro de dejecções pastosas com sangue com 15 dias de evolução, não
acompanhadas de outros sintomas. Três semanas antes do
início dos sintomas, tinha sido medicada com ibuprofeno e
ciprofloxacina por quadro de edema e dor à mobilização da
articulação tibiotársica esquerda.
Observada no serviço de urgência: o exame físico não revelou alterações; a avaliação laboratorial revelou proteína
C reactiva de 24 mg/L, contagem dos leucócitos, ureia e
creatinina normais.
Em rectosigmoidoscopia, efectuada 7 dias mais tarde observou-se, dos 30 ao 50 cm da margem anal, edema e hiperémia
marcados da mucosa com hemorragia espontânea e áreas de
ulceração superficial recobertas de exsudado fibrinoso; cólon
a montante sem alterações.
As coproculturas foram positivas para Salmonella. As biopsias foram compatíveis com colite de etiologia infecciosa.
Medicada com ciprofloxacina e messalazina tendo ficado
assintomática no 5º dia de tratamento; à 6ª semana, efectuou
uma colonoscopia esquerda que revelou apenas discreto
apagamento do padrão vascular no recto.
Comentários: Este caso traduz o padrão clínico de colite por
Salmonella, cuja duração dos sintomas é superior à da gastroenterite e destaca a semelhança endoscópica com outras
formas de colite, nomeadamente isquémica.
A coprocultura, apoiada pelos achados histológicos de colite
aguda, é o único método que permite fazer o seu diagnóstico, importante para evitar tratamentos inapropriados, que
podem exacerbar a doença e promover complicações graves.
P51
ENDOMETRIOSE INTESTINAL COM OU SEM
PROTOSIGMOIDITE ULCEROSA
Ângela Rodrigues, F. Castro-Poças, Tarcisio Araújo, José Oliveira,
Helder Ferreira, Paula Lago, Cidalina Caetano, Isabel Pedroto
Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António
Mulher, 48 anos, em 2002, após quadro persistente de alteração dos hábitos intestinais e retorragias foi diagnosticada
colite ulcerosa. Medicada com messalazina oral e tópica, com
episódios esporádicos de retorragias e actividade endoscópica
ligeira/moderada.
Em 2011 recorre à urgência por sintomatologia suboclusiva,
tendo realizado tomografia computorizada abdominal que
revelou massa ao nível do sigmóide. A colonoscopia evidenciou subestenose luminal em relação com lesão de aspecto
infiltrativo. Foi submetida a laparatomia e colectomia do
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 35
sigmóide. Avaliação anatomopatológica revelou estruturas
glandulares epiteliais de tipo endometrial envolvendo a
subserosa, parede muscular e submucosa cólica. A D12 de
pós-operatório, necessidade de reintervenção por abdómen
agudo, constatando-se deiscência da sutura. Foi submetida a
cirurgia de Hartmann e iniciou tratamento hormonal. Cerca
de 16 meses depois foi realizada ooforectomia bilateral e
reconstrução do trânsito intestinal sem intercorrências.
Após a cirurgia, a doente mantém-se assintomática. Colonoscopia aos 6 e 15 meses sem alterações da mucosa. Ressonância magnética com suspeita de lesões endometrióticas
residuais no septo retovaginal e parede cólica que não se
confirmaram em ecoendoscopia.
A endometriose intestinal afecta 3,8% a 37% das mulheres
com endometriose e atinge principalmente o reto e o sigmóide. Os focos de endometriose são mais comuns na subserosa
e muscular própria, mas podem afectar também a submucosa
e lâmina própria conduzindo a alterações que mimetizam
outros processos, nomeadamente doença inflamatória intestinal, colite isquémica e neoplasia. Que seja do nosso
conhecimento não existe outro caso clínico similar publicado
em língua inglesa. Apresentamos iconografia imagiológica,
endoscópica e histológica.
P52
PROCTOSIGMOIDITE ULCEROSA DISTAL RESILIENTE
Luís Carvalho Lourenço, Ana Maria Oliveira, Catarina G. Rodrigues, Leonel Ricardo, Liliana Santos, Sara Alberto, David Horta,
Alexandra Martins, Jorge Reis, João de Deus
Serviço de Gastrenterologia - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E.
Doente do sexo masculino, 42 anos, caucasiano, ex-fumador,
com o diagnóstico de proctosigmoidite ulcerosa desde 2001,
E2(envolvimento do reto e sigmoide distal), na sequência de
um síndrome febril acompanhado de diarreia de 15 dias de
evolução, com boa resposta inicial à terapêutica com antibioterapia (ciprofloxacina e metronidazol, 10 dias) e salicilatos.
Esteve medicado com salicilatos (messalazina 800 mg PO
8/8h e enema diário), com necessidade de terapêutica com
corticóides nos episódios de agudização da doença (ciclos
de corticoterapia em 2002, 2003 e 2004), com subsequente
remissão clínica e endoscópica.
Manteve remissão sob salicilatos desde o final de 2004 até
ao início de 2007, altura em que se assiste a novo episódio
de diarreia sanguinlolenta (>3 dejeções/dia) e dor abdominal. É re-instituída corticoterapia e inicia terapêutica com
azatioprina (aumento progressivo de dose até 2,7 mg/kg/dia
200 mg), com boa resposta (remissão clínica e endoscópica).
Suspende-se prednisolona em Setembro de 2009, mantendo
remissão clínica e endoscópica sob salicilatos e azatioprina
até ao final de 2011, altura em que se assiste a recidiva da
doença.
Após novo ciclo de corticoterapia, inicia terapêutica biológica com adalimumab (quinzenalmente) em Março de 2012
com boa resposta. Mantém remissão até Dezembro de 2012,
constatando-se recidiva clínica (dor abdominal e diarreia
sanguinolenta, 3-4 dejeções/dia), com necessidade de terapêutica com corticóides. Decide-se encurtar o intervalo de
administração de adalimumab (semanalmente), mantendo
terapêutica com salicilatos e azatioprina na dose previamente
instituída, encontrando-se actualmente em remissão clínica
e endoscópica.
Os autores reportam este caso pela dificuldade no controlo
da doença. Pretende-se fomentar a discussão de alternativas
aos biológicos mais utilizados e alertar para a necessidade
de novas soluções para os doentes refratários à terapêutica
da colite ulcerosa.
P53
DOENÇA DE CROHN COM ENVOLVIMENTO PERIANAL
GRAVE - UM DESAFIO MEDICO-CIRÚRGICO
Diogo Branquinho, Pedro Amaro, Sara Campos, Paulo Freire,
Francisco Portela, Carlos Sofia
Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Os autores descrevem o caso e respectiva iconografia de um
doente do sexo masculino, de 22 anos, com diagnóstico de D.
Crohn desde Junho de 2012, com envolvimento estenosante
do cólon e fistula perianal complexa ab initio (Montreal:
A2L2B2p). Sem outros antecedentes pessoais relevantes. Não
fumador e sem intervenções cirúrgicas prévias. Medicado
cronicamente com Messalazina 3g e Azatioprina 150mg
(2,5mg/kg).
Em Setembro de 2013, apresentou agravamento clínico, com
predomínio das queixas perianais dor intensa e incontinência fecal. Refira-se também o surgimento de lesões cutâneas
compatíveis com eritema nodoso.
Analiticamente, destacava-se anemia (Hb 10,9 g/dL) e elevação dos marcadores inflamatórios (PCR 10,5 mg/dL). Foi
iniciada antibioterapia com ciprofloxacina, sem qualquer
melhoria. Fez-se o estudo para início de terapêutica biológica
para a qual se aguarda aprovação. Paralelamente, foi decidido
levar o doente ao bloco operatório para que, sob anestesia,
se pudesse avaliar melhor a região perianal. Tendo em conta
a gravidade do quadro, foi proposta intervenção cirúrgica
durante o internamento fistulotomia com enterostomia
lateral de protecção.
Apesar de ter havido alguma melhoria com esta intervenção,
mantém-se a dúvida quanto à possibilidade e timing ideal
para a reconstituição do trânsito. Na era dos biológicos, o
risco de um estoma permanente para um doente com D.
Crohn perianal diminuiu substancialmente. Mas mesmo
tendo em conta o sucesso descrito da terapêutica biológica
nestes casos, suscita-se a questão da integridade e competência do esfíncter anal. Aguarda-se neste caso que o início
desses agentes possa permitir a reconstituição do trânsito e,
posteriormente, a resolução da incontinência.
36 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013
P54
UMA ETIOLOGIA RARA DE PÓLIPO ANO-RETAL
Luís Elvas¹, Daniel Brito¹, Rita Carvalho¹, Miguel Areia¹, Sandra
Saraiva¹, Susana Alves¹, Carlos Abrantes², José Paulo Magalhães², Paulo Figueiredo², Ana Teresa Cadime¹
Serviço de Gastrenterologia do IPOCFG, EPE
Serviço de Anatomia Patológica do IPOCFG, EPE
1
2
Apresenta-se o caso de uma doente de 39 anos, previamente
saudável, submetida a retossigmoidoscopia por queixas
persistentes de desconforto anal. Na transição ano-retal
identificou-se uma formação polipoide séssil, de localização
aparentemente subepitelial, com erosão da mucosa e cerca de
10mm. As biopsias efetuadas revelaram infiltrado inflamatório, sem características específicas. Na ecoendoscopia retal
visualizou-se um nódulo hipoecogénico, bem delimitado,
com aparentes calcificações internas, na dependência das
camadas mais superficiais parede (mucosa profunda / submucosa). Não foram identificadas adenopatias peri-retais.
A lesão foi posteriormente submetida a polipectomia com
ansa diatérmica, após injeção prévia de adrenalina diluída na
submucosa, tendo sido aparentemente totalmente excisada
num único fragmento.
O estudo histológico revelou tratar-se de um pólipo linfoide
benigno, caracterizado por proliferação linfoide na lâmina
própria e submucosa sob a forma de folículos, cujos centros
germinativos, sem expressão de Bcl-2, contêm linfócitos B
com morfologia e imunofenotipo do centro germinativo,
macrófagos e células foliculares dendríticas. Sem evidência
de lesões linfoepiteliais.
Os pólipos linfoides benignos colo-retais são raros, nomeadamente na população adulta, e encontram-se, na sua
maioria, próximo da junção ano-retal. São frequentemente
assintomáticos e, ainda que não tenham aparente potencial
maligno, devem ser excisados para poder ser efetuado o
estudo histológico e permitir excluir o diagnóstico de lesão
maligna.
P55
ÚLCERA RÁDICA DO RETO – UM CASO DE SUCESSO
Luís Elvas, Sandra Saraiva, Daniel Brito, Rita Carvalho, Miguel
Areia, Susana Alves, Ana Teresa Cadime
¹Serviço de Gastrenterologia do IPOCFG, EPE
Apresenta-se o caso de uma doente 60 anos, com antecedentes de Adenocarcinoma bem diferenciado do endométrio pT2
N1 M0 (Estadio IIIc), submetida a intervenção cirúrgica,
seguida de braquiterapia endo-vaginal e radioterapia externa
adjuvantes.
Seis meses após a última sessão de radioterapia externa
apresenta o primeiro episódio de retorragias, pelo que foi submetida a colonoscopia total que revelou a presença de uma
lesão ulcerada de fundo branco, no reto distal, com bordos
elevados e telangiectasias, compatível com proctite rádica.
Iniciou terapêutica com supositório de 5-ASA 1000mg numa
administração diária e foi submetida a terapêutica endoscó-
pica com árgon plasma. Ao fim de um mês verificou-se uma
melhoria da sintomatologia mas um ligeiro agravamento do
aspeto endoscópico da úlcera, sendo visível um aumento da
sua profundidade, pelo que se medicou a doente com enemas
de sucralfato e com supositório de 5-ASA 1000mg, ambos
em duas administrações diárias.
Após cinco meses de terapêutica, a vigilância endoscópica
mensal permitiu constatar uma evolução favorável da lesão,
sendo atualmente apenas visível uma pequena região cicatricial a 2cm da margem anal, com escassas telangiectasias
circundantes.
Os enemas de sucralfato estão indicados no tratamento
das lesões retais secundárias à radioterapia. No entanto, a
sua eficácia ainda não está hoje bem comprovada. Com a
apresentação deste caso clínico pretende-se demonstrar o
seu potencial benefício nestas lesões salientando, contudo,
a necessidade de realização de mais estudos a respeito da
terapêutica desta patologia.
P56
RESULTADOS ONCOLÓGICOS APÓS REMOÇÃO
ENDOSCÓPICA DE PÓLIPOS MALIGNOS COLO-RETAIS
Bruno Gonçalves, Vasco Fontainhas, Ana Caetano, Aníbal Ferreira,
Pedro Bastos, Carla Rolanda, Raquel Gonçalves
Hospital de Braga
Introdução: O pólipo maligno, definido como adenocarcinoma invasor da submucosa, é a forma clínica mais precoce do
cancro colo-rectal. Nestes casos pode ser necessária cirurgia
adicional após a sua remoção endoscópica.
Objetivos: Propusemo-nos avaliar a prática do nosso serviço, analisando o estadiamento oncológico loco-regional,
visando identificar indicadores de risco e aspetos da prática
clínica a melhorar.
Métodos: Estudo retrospetivo em 63 pacientes com pólipos
malignos ressecados endoscopicamente entre 2007 e 2012.
Avaliaram-se as características clínico-patológicas das lesões
e correlacionaram-se com doença residual (DR), definida
como presença de adenocarcinoma na parede intestinal ou
gânglios ressecados.
Resultados: 31 doentes foram operados enquanto 29
prosseguiram em vigilância clínica. Confirmou-se doença
residual em 15 (48,4%) doentes: 8 (53,3%) na parede, 5
(33%) metástases ganglionares e 2 (13,3%) com ambas. Não
se detectou nenhuma recorrência no grupo em vigilância.
As características das lesões que se associaram a DR foram
a configuração séssil (p=0.03), o grau de diferenciação G3
(p=0.01) e o estado de margens interceptadas/indeterminadas (p=0.01). A presença de pelo menos um fator de risco
associou-se a DR (p=0.008). Vinte e dois doentes foram
operados por avaliação histológica inadequada, sendo que
50% apresentavam doença residual. Nove doentes sofreram
complicações pós-operatórias, nomeadamente deiscência
anastomótica que se associou à ressecção anterior do recto
(p=0,03).
REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013 37
Conclusões: A cirurgia deve ser equacionada na presença
de características clínico-patológicas de risco para doença
residual, podendo-se optar por vigilância nas situações de
baixo risco. É necessária uma melhoria técnica na ressecção
endoscópica e avaliação histopatológica a fim de reduzir
intervenções desnecessárias.
P57
NERVO PUDENDO: DISSECAÇÀO NO CADÁVER
Jose Enrique Casal, Alberto de San Ildefonso, María Teresa García, Maria Angeles Toscano, Lucinda Perez, Nieves Cáceres
Unidad Coloproctologia. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. España
Introdução: O nervo pudendo (NP) é um nervo mixto,
sensitivo e motor, que procede do plexo sacral. O objetivo
deste estudo é investigar a anatomia do NP e as suas variações possiveis.
Material e Método: Dissecção em decúbito ventral e por
via transglútea para identificar a origem, terminação e as
variações anatómicas de 16 nervos pudendos em 11 cadáveres
humanos adultos em formol.
Resultados: Em 75% das dissecções o NP originava-se em
S2-S3-S4, em S3-S4 um 19% e em S4 um 6%. Em 81% dos
casos os ramos terminais emergiam do canal do pudendo,
em 13% o nervo retal inferior surgiu do NP ao nivel do ligamento sacro espinhoso, e em 6% originava-se em S4 e era
independente do NP.
Conclusões: O nervio pudendo origina-se mais frequentemente nas raízes S2-S3-S4. Devido à relação anatómica
do NP com o ligamento sacro espinhoso pensamos que a
via transglútea permite uma abordagem excelente e pode
minimizar as lesões iatrogénicas pelas possiveis variações
anatómicas do NRI.
Casos clínicos: Descrevem-se três casos clínicos de doentes com patologia anorectal, submetidos a US endoanal
com reconstrução tridimensional, procurando demonstrar,
através do recurso a casos clínicos paradigmáticos (fístula
anal, abcesso perianal e neoplasia rectal) a aplicação da USE
tridimensional no estudo da região ano-rectal.
Conclusão: A US endoluminal é um exame pouco dispendioso, amplamente disponível e de fácil execução que
permite um varrimento completo do recto e canal anal, e o
fornecimento de informações importantes para uma compreensão detalhada desta região anatómica, bem como a
correcta identificação de estruturas/camadas com interfaces/
limites pouco precisos e que dificilmente se distinguem das
estruturas vizinhas com técnicas convencionais.
Pretende-se através do recurso a iconografia detalhada
contribuir para a demonstração da importância das novas
técnicas ecográficas e as suas aplicações no estudo do recto
e canal anal.
P58
CONTRIBUIÇÃO DA ULTRA-SONOGRAFIA TRIDIMENSIONAL NO ESTUDO DO CANAL ANAL E RECTO
Antonieta Santos; Cátia Leitão; Eduardo Pereira; Ana Caldeira;
Bruno Pereira; Rui Sousa; José Tristan; António Banhudo
Hospital Amato Luisitano, Castelo Branco
Introdução: A ultra-sonografia (US) endoluminal constitui
uma ferramenta diagnóstica bem estabelecida na patologia
gastrointestinal , permitindo a obtenção de imagens pormenorizadas da parede do tubo digestivo e espaço peri-digestivo
imediato. O contínuo desenvolvimento das sondas de US
endoanal, e muito recentemente a possibilidade de reconstrução tridimensional, veio permitir a obtenção de imagens
ultra-sonográficas de elevada resolução, o que torna possível melhorar a identificação e caracterização de alterações
estruturais decorrentes de lesões traumáticas, inflamatórias
ou miopáticas, bem como fornecer a possibilidade de investigar situações consideradas funcionais. A US tridimensional
representa um suplemento válido à ecoendoscopia convencional, fornecendo uma observação prática e intuitiva de
diferentes interfaces e novas possibilidades de medição e
resolução espacial.
38 REVISTA PORTUGUESA DE COLOPROCTOLOGIA | NOVEMBRO 2013