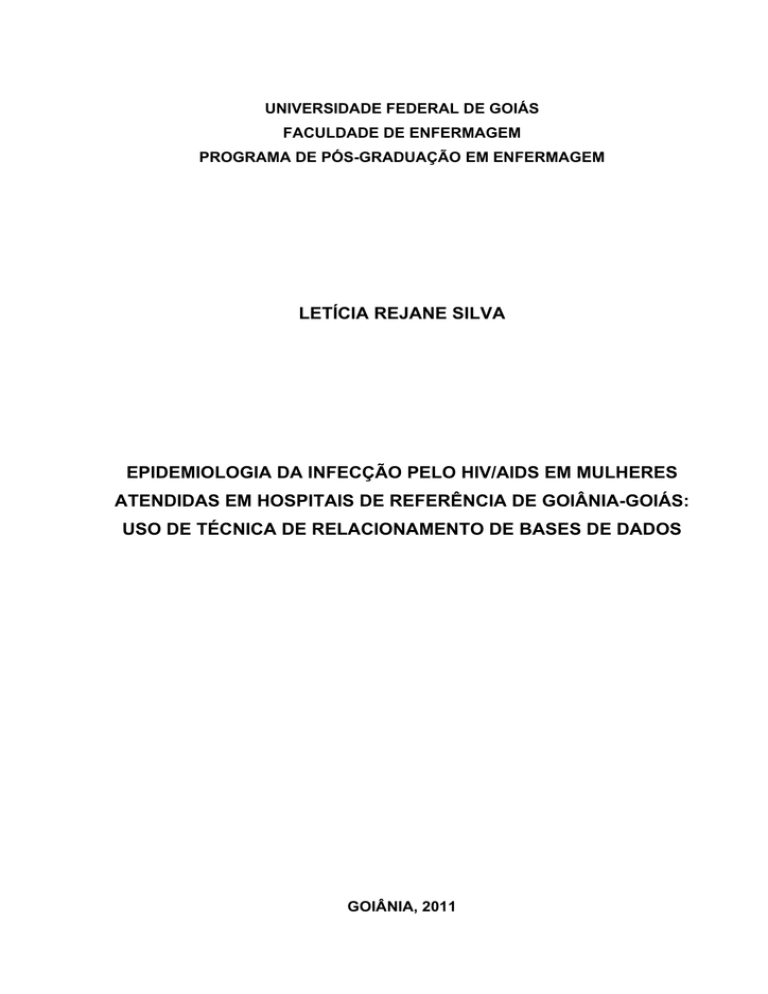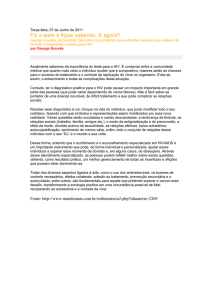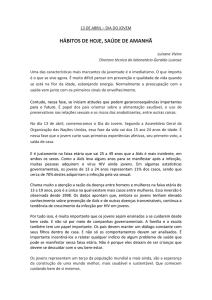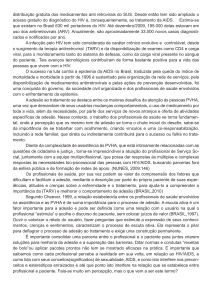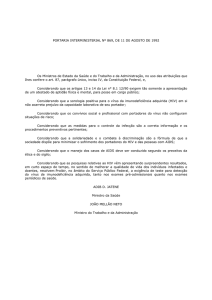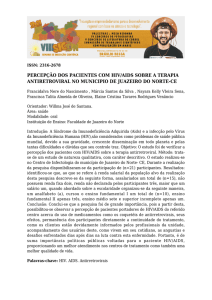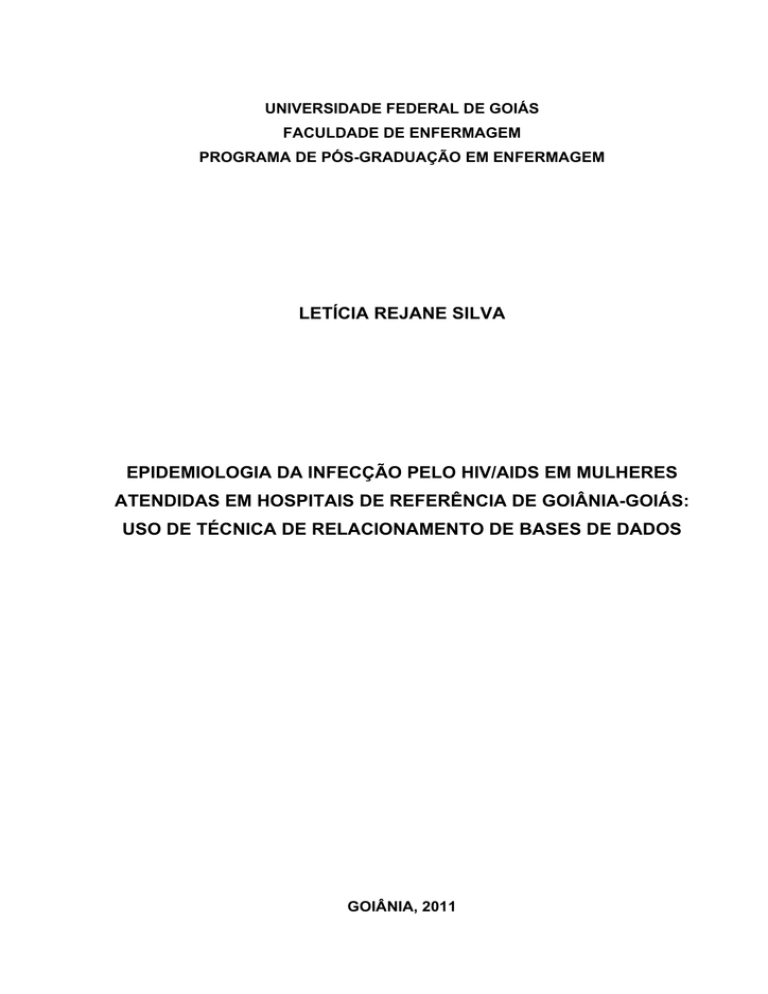
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
LETÍCIA REJANE SILVA
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS EM MULHERES
ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE GOIÂNIA-GOIÁS:
USO DE TÉCNICA DE RELACIONAMENTO DE BASES DE DADOS
GOIÂNIA, 2011
TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por
meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº
9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de
divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
1. Identificação do material bibliográfico:
[ x ] Dissertação
[ ] Tese
2. Identificação da Tese ou Dissertação
Autor (a):
Letícia Rejane Silva
E-mail:
[email protected]
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?
[ x ]Sim
[ ] Não
Vínculo empregatício do autor
Agência de fomento:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
País:
Brasil
UF: GO
Sigla:
FAPEG
Título:
Epidemiologia da infecção pelo HIV/aids em mulheres atendidas em hospitais de referência de Goiânia-Goiás: uso
CNPJ:
de técnica de relacionamento de bases de dados
Palavras-chave:
SIDA, HIV, mulheres, relacionamento de banco de dados
Título em outra língua:
Epidemiology of HIV infection in women attending referral hospitals in Goiânia - Goiás: use of
technique of linkage databases
Palavras-chave em outra língua:
Área de concentração:
AIDS, HIV, women, database linkage
A Enfermagem no cuidado à saúde humana
Data defesa: (dd/mm/aaaa)
13/05/2011
Programa de Pós-Graduação:
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
Orientador (a):
E-mail:
Profª Drª Sandra Maria Brunini de Souza
[email protected]
Co-orientador (a):*
E-mail:
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG
3. Informações de acesso ao documento:
Liberação para disponibilização? 1
[ x ] total
[
] parcial
Em caso de disponibilização parcial, assinale as permissões:
[ ] Capítulos. Especifique: __________________________________________________
[ ] Outras restrições: _____________________________________________________
Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF
ou DOC da tese ou dissertação.
O Sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos contendo eletronicamente as teses
e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e
extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.
________________________________________
Assinatura do (a) autor (a)
Data: ____ / ____ / _____
1
Em caso de restrição, esta poderá ser mantida por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso.
Todo resumo e metadados ficarão sempre disponibilizados.
LETÍCIA REJANE SILVA
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS EM MULHERES
ATENDIDAS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE GOIÂNIA-GOIÁS:
USO DE TÉCNICA DE RELACIONAMENTO DE BASES DE DADOS
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa
de
Pós-Graduação
em
Enfermagem da Faculdade de Enfermagem
da Universidade Federal de Goiás para
obtenção
do
título
de
Mestre
em
Enfermagem.
Área de concentração: A Enfermagem no cuidado à saúde humana
Linha de pesquisa: Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas
à cuidados em saúde e das doenças transmissíveis
Orientadora: Profª Drª Sandra Maria Brunini de Souza
GOIÂNIA, 2011 FOLHA DE APROVAÇÃO
LETÍCIA REJANE SILVA
EPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS EM MULHERES ATENDIDAS
EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE GOIÂNIA-GOIÁS: USO DE TÉCNICA DE
RELACIONAMENTO DE BASES DE DADOS
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa
de
Pós-Graduação
em
Enfermagem da Faculdade de Enfermagem
da Universidade Federal de Goiás para a
obtenção do título de Mestre em Enfermagem.
Aprovada em 13 de maio de 2011.
BANCA EXAMINADORA:
_________________________________________________
Profª Drª Sandra Maria Brunini de Souza – Presidente da Banca
Faculdade de Enfermagem - Universidade Federal de Goiás
_________________________________________________
Profª Drª Elucir Gir - Membro Efetivo, Externo ao Programa
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
_________________________________________________
Profª Drª Sheila Araújo Teles – Membro Efetivo
Faculdade de Enfermagem - Universidade Federal de Goiás
_________________________________________________
Profª Drª Renata Karina Reis - Membro suplente, externo ao Programa
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
_________________________________________________
Profª Drª Ruth Minamisava - Membro suplente
Faculdade de Enfermagem - Universidade Federal de Goiás
DEDICATÓRIA
Aos meus pais, Jorgea e Antonio, que com
muito amor souberam aceitar e incentivar
incondicionalmente meu sonho. A minha
amada irmã, Mírian Adriana, pela palavra
amiga, incentivo e encorajamento.
AGRADECIMENTOS
A Deus por ter me confiado a vida e tantas outras bênçãos que a cada dia me proporcionam
realização pessoal e profissional. A Ele, que realizou maravilhas em meu favor, minha fé e
adoração.
À minha família que soube entender minha ausência e que não mediu esforços para a
concretização dos meus objetivos. Obrigada pelas orações e estímulo. A vocês, pai, mãe e
maninha; dom de Deus em minha vida, amor incondicional.
Ao meu namorado José Rafael pela paciência e compreensão. Obrigada por entender que a
realização de meu sonho exigiria renúncias de ambos.
À minha orientadora Profª Drª Sandra Maria Brunini de Souza pelo ensinamento e pela
oportunidade de crescimento. Obrigada pelos tantos conselhos e por me ensinar que a vida tem
valor inigualável e vai muito além daquele designado por nós. Meus sinceros agradecimentos
pela consideração, amizade, carinho e confiança. Não esquecerei jamais suas sábias palavras.
A você muita admiração e respeito.
À Profª Drª Ruth Minamisava que com muita atenção e paciência contribuiu
significativamente para finalização deste estudo. Obrigada pelas sugestões e por tantas horas
dedicadas ao nosso trabalho.
À Profª Drª Sheila Araujo Teles que possibilitou minha inserção na pesquisa e com muito
carinho me acolheu entre os seus. Obrigada por acreditar na minha capacidade, pela confiança
e oportunidade.
Ao Profº Ms Marcos André de Matos, exemplo de perseverança e dedicação, obrigada pela
amizade, apoio e motivação.
À Profª Drª Márcia Maria de Souza pelo incentivo e colaboração.
Ao NUCLAIDS - Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids por tantas
possibilidades e oportunidades que fundamentaram minha escolha de trabalho.
À todas integrantes do NUCLAIDS que viabilizaram a realização deste trabalho, em especial
as minhas amigas de projeto, Christiane, Dalila, Janine, Letícia e Érica, que se empenharam
na interminável coleta de dados. Obrigada por tantas horas, tardes e dias dedicados ao
cumprimento de nossas metas. Vocês fazem parte dessa conquista. Sou muito grata por tudo o
que fizeram.
Aos meus amigos e professores do NECAIH... Vocês também fazem parte da minha história.
Ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado e Doutorado pela possibilidade
de crescimento. A todos os professores do Programa, pelos ensinamentos prestados e por
tantos momentos de crescimento pessoal e profissional. É uma honra aprender com vocês.
Ao secretário do Programa de Pós-Graduação, Gabriel Peres de Oliveira, pelo auxílio,
comprometimento e amizade. Sua a atenção e paciência foram muito importantes. Obrigada!
Às minhas amadas amigas Divânia, Nayara e Adriana que me agraciaram com momentos
inesquecíveis. Obrigada por tantas alegrias, pelo apoio, conselho e a companhia, enfim... por
existirem em minha vida e serem verdadeiramente presentes de Deus em meu caminho. Às
minhas amigas, Grécia Carolina, Karlla Antonieta e Nativa Helena... Vocês também são
prova do cuidado de Deus em minha vida. É uma honra tê-las como amigas.
À minha turma do mestrado: Ana Cássia, Ana Cristina, Claúdia, Divânia, Heliane, Karlla
Antonieta, Karlla Morgana, Keyti, Laine, Larissa, Leidiene, Ludmilla, Maisa, Raphaela,
Raquel, Sergiane, Sheila, Sílvia. Meninas... obrigada pelos bons momentos. Tenho orgulho de
ter dividido meu crescimento com todas.
Aos funcionários da Faculdade de Enfermagem. Vocês dão toque especial a essa faculdade.
Obrigada pelo cuidado e disponibilidade.
Aos enfermeiros do SAMU de Iporá; André, Fernando e Hérica, obrigada pelo apoio,
compreensão e colaboração nas trocas dos plantões e adequação da escala de trabalho.
Obrigada ainda a toda equipe deste serviço (técnicas, condutores, secretária, TARM e
médicos) pela ajuda, incentivo e amizade. Meus mais sinceros agradecimentos.
À Secretária de Saúde de Iporá, Dra Lucélia Borges de Abreu Ferreira, por valorizar e
possibilitar meu aprimoramento profissional. Seu entendimento foi fundamental.
À direção e funcionários do Hospital de Doenças Tropicais e Hospital Materno-Infantil pela
cooperação e disponibilização dos registros.
À Secretaria de Saúde do Estado de Goiás pela colaboração e disponibilização dos bancos de
dados.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) pelo apoio financeiro.
“Que poderei retribuir ao Senhor Deus,
por tudo aquilo que Ele fez em meu
favor?”
Salmo 116, 12
SUMÁRIO
LISTA DE GRÁFICOS
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
LISTA DE QUADROS
LISTA DE TABELAS
LISTA DE SIGLAS
RESUMO
ABSTRACT
RESUMEN
1.
INTRODUÇÃO .................................................................................................... 18
2.
REVISÃO DA LITERATURA............................................................................... 21
2.1. Biologia do HIV ................................................................................................... 22
2.2. Aspectos clínicos e critérios de definição de aids no Brasil ................................ 24
2.3. Epidemiologia da infecção do HIV/AIDS ............................................................. 27
2.3.1.
A epidemia do HIV no mundo ...................................................................... 27
2.3.2.
A epidemia do HIV no Brasil ........................................................................ 30
2.4. HIV em mulheres ................................................................................................ 31
2.5. Transmissão do vírus.......................................................................................... 33
2.6. Diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil ........................................................ 34
2.7. Terapia antirretroviral .......................................................................................... 36
2.7.1.
Terapia antirretroviral para gestantes........................................................... 39
2.8. Prevenção........................................................................................................... 40
2.9. Sistemas de Informações em Saúde .................................................................. 42
2.9.1.
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN ....................... 43
2.10.
Relacionamento probabilístico de dados...................................................... 44
3.
OBJETIVOS........................................................................................................ 46
3.1. Geral ................................................................................................................... 46
3.2. Específicos ......................................................................................................... 46
4.
METODOLOGIA ................................................................................................. 47
4.1. Delineamento do estudo ..................................................................................... 47
4.2. População alvo, local e período do estudo ......................................................... 47
4.3. Critérios de elegibilidade e de exclusão dos registros ........................................ 47
4.4. Coleta de dados .................................................................................................. 48
4.4.1.
Fonte de informação .................................................................................... 48
4.5. Instrumentos de coleta de dados ........................................................................ 49
4.6. Variáveis do estudo ............................................................................................ 49
4.7. Linkage e validação dos bancos de dados ......................................................... 50
4.7.1.
Preparação das fontes de informação.......................................................... 50
4.7.2.
Construção do BDR-1 .................................................................................. 51
4.7.3.
Formação do BDR-2 .................................................................................... 53
4.7.4.
Formação do Banco Final ............................................................................ 54
4.8. Processamento e análise estatística dos dados ................................................. 55
4.9. Procedimentos éticos ......................................................................................... 55
4.9.1.
Comitê de Ética ............................................................................................ 55
4.9.2.
Sigilo dos dados coletados........................................................................... 55
4.9.3.
Participantes da coleta de dados ................................................................. 56
4.10.
Financiamento e Mecanismos gerenciais de execução ............................... 56
5.
RESULTADOS ................................................................................................... 57
5.1. Descrição inicial dos dados ................................................................................ 57
5.2. Descrição da população do estudo ..................................................................... 61
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.2.
Desenvolvimento de aids em um ano .......................................................... 65
Descrição das características relacionadas a aids ................................... 65
Descrição do tempo entre o diagnóstico da infecção pelo HIV e o
desenvolvimento de aids ........................................................................................... 67
6.
DISCUSSÃO....................................................................................................... 70
7.
CONCLUSÕES ................................................................................................... 77
8.
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 78
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 79
APÊNDICES.............................................................................................................. 93
ANEXOS ................................................................................................................... 97 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1. Razão de sexo segundo ano de diagnóstico de HIV e segundo ano de
diagnóstico de aids entre pacientes atendidos em duas unidades de referência de
Goiânia, no período de 2003-2008. Goiânia, 2010.................................................... 61
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1. Estrutura do HIV ........................................................................................ 23
Figura 2. Ciclo de vida do HIV .................................................................................. 25
Figura 3. Número estimado de pessoas vivendo com HIV no mundo ...................... 28
Figura 4. Fluxograma Mínimo para o Diagnóstico Laboratorial da infecção pelo HIV
em indivíduos com idade acima de 18 (dezoito) meses ............................................ 35
Figura 5. Diagnóstico Rápido da infecção pelo HIV em situações especiais ........... 36
Figura 6. Algoritmo de relacionamento de banco de dados ..................................... 43
Figura 7. Fluxograma do processo de formação do BDR–1 ..................................... 52
Figura 8. Fluxograma do processo de formação do BDR–2 ..................................... 53
Figura 9. Fluxograma do processo de formação do Banco final............................... 54
Figura 10. Fluxograma dos passos para formação do banco final ........................... 59
Figura 11. Total de casos notificados ao SINAN e atendidos em duas unidades de
referência de Goiânia, no período de 2003-2008, após linkage dos bancos. Goiânia,
2010. ......................................................................................................................... 60
Figura 12. Tempo para o desenvolvimento de aids em 12 meses segundo ano do
diagnóstico de infecção pelo HIV. Goiânia, 2010 ...................................................... 67
Figura 13. Tempo para o óbito em 12 meses segundo ano do diagnóstico de
infecção pelo HIV. Goiânia, 2010 .............................................................................. 68
Figura 14. Curva de Kaplan-Meier de sobrevida em um ano após o diagnóstico do
HIV em mulheres segundo a primeira contagem de linfócitos T-CD4+. Goiânia, 2010
.................................................................................................................................. 69
LISTA DE QUADROS
Quadro 1. Antirretrovirais disponíveis e distribuídos gratuitamente no Brasil ........... 38
Quadro 2. Lista de substituições de caracteres, letras e nomes efetuadas na
padronização do campo nome_modificado em todos os bancos de dados .............. 51
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Número de prontuários excluídos do HDTI e HMIII segundo ano e motivo,
no período de 2003 a 2008. Goiânia, 2010 ............................................................... 57
Tabela 2. Características das mulheres infectadas pelo HIV/aids atendidas em duas
unidades de referência de Goiânia, no período de 2003-2008. Goiânia, 2010 ......... 63
Tabela 3. Doenças oportunistas identificadas em mulheres atendidas em duas
unidades de referência de Goiânia, no período de 2003-2008. Goiânia, 2010 ......... 64
Tabela 4. Análise univariada e multivariada das características de 349 mulheres
seguidas por um período de 12 meses após a data de diagnóstico do HIV segundo a
presença ou não do desfecho aids. Goiânia, 2010 ................................................... 66
LISTA DE SIGLAS
AIDS:
Síndrome da imunodeficiência adquirida
ANVISA:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AZT:
Zidovudina
BDR
Banco de Dados Relacionados
CDC:
Center for Disease Control and Prevention
DBF
Data Base File
DNA:
Ácido Desoxirribonucléico
DO:
Doenças Oportunistas
DST:
Doenças Sexualmente Transmissíveis
D4T:
Estavudina
FDA:
Food and Drug Administration HIV/AIDS
HIV:
Vírus da Imunodeficiência Humana
HIV-1:
Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1
HIV-2:
Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 2
HSH
Homens que fazem sexo com outros homens
HTLV-III:
Human T-cell lymphotropic virus-type III
IBGE:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICTVdB:
International Committee on Taxonomy of Viruses database
IF:
Inibidor de Fusão
IN:
Inibidores da Integrase
IP/r:
Inibidor da Protease reforçado com ritonavir
LAV:
Lymphadenopathy-associated vírus
NIAID:
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
NNRTI:
Inibidores da Transcriptase Reversa não Análogos de Nucleosídeos
NRTI:
Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos
PPD:
Derivado de Proteína Purificada / Teste Intradérmico de Tuberculina
RNA:
Ácido Ribonucléico
SAME:
Serviços de Arquivo Médico
SAE
Serviço de Assistência Especializada
SES:
Secretaria da Saúde de Estado de Goiás
SICLOM:
Sistema de Controle Logístico de Medicamentos
SI-CTA:
Sistema de Informação dos Centros de Testagem e Aconselhamento
SISCEL:
Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de
Contagem de Linfócitos T-CD4+/CD8+ e Carga Viral
SIM:
Sistema de Informação de Mortalidade
SINAN:
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SIV:
Vírus da Imunodeficiência Símia
SIVcpz:
Vírus da Imunodeficiência Símian do Chimpanzé
SIVsm:
Vírus da Imunodeficiência Símian do Mangabey
SPSS:
Statistical Package for the Social Science
TARV:
Terapia Antirretroviral
UNAIDS:
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids
UDI
Usuários de Drogas Injetáveis
VDRL:
Venereal Disease Research Laboratory
WB/HIV-1:
Western Blot para HIV-1
WHO:
Organização Mundial de Saúde
RESUMO
Silva LR. Epidemiologia da infecção pelo HIV em mulheres atendidas em
hospitais de referência em Goiânia-Goiás: uso de técnica de relacionamento de
bases de dados [dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2011. 98p
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil clínico e epidemiológico de mulheres com
diagnóstico de infecção pelo HIV sem tratamento antiretroviral prévio, atendidas em
hospitais de referência do Estado de Goiás, localizados na capital. Estudo de coorte
retrospectiva (2003-2008) com dados de prontuários e do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação. Calculou-se o RR e respectivos intervalos de 95% de
confiança em análise univariada e, HR em análise de riscos proporcionais de Cox
multivariada, usando aids como desfecho. Curva de sobrevivência de Kaplan- Meier
estratificada por subgrupos de CD4 (óbito e não óbito) e comparadas pela estatística
de log-rank. Dentre os 3.244 casos notificados ao SINAN, 63% foram atendidos
pelos hospitais de referência. Foram identificadas 1078 mulheres, com média de
idade 34 anos e mediana de 32. A razão de sexo (H:M) foi de 1,6. Quase 2/3 das
mulheres eram procedentes de outros municípios, 56% não eram casadas e 54%
tinham menos de oito anos de estudo. Uso de drogas ilícitas foi referido por 57% das
pacientes. Até 12 meses após o diagnóstico do HIV, 80% das mulheres
desenvolveram aids e 80% apresentaram a primeira contagem de T-CD4+ inferior a
350 células/mm3. Doença oportunista no momento do diagnóstico do HIV foi
registrada em 39% dos casos e a síndrome consuptiva foi a mais prevalente. Após
análise multivariada, permaneceu associado ao desfecho aids após um ano do
diagnóstico da infecção ser solteira (HR=1,32; IC95% 1,04 – 1,67; p=0,023). Ser
usuária de droga (HR=0,72; IC95% 0,58 – 0,94; p=0.014) e ter sido diagnosticada
em 2007 (HR=0,74; IC95% 0,60-0,91; p=0,003) foi fator de proteção para
desenvolver aids por um período de seguimento de 12 meses quando comparada à
população com diagnóstico de HIV entre 2003 e 2006. Conclui-se que o diagnóstico
da infecção ainda é feito tardiamente para a maioria das mulheres, mas há menor
risco de desenvolvimento de aids em mulheres com diagnóstico de HIV após o ano
2007.
Palavras-chave: SIDA, HIV, mulheres, relacionamento de banco de dados
RESUMEN
Silva LR. Epidemiología de la infección por VIH en mujeres atendidas en
hospitales de referencia en Goiânia-Goiás: uso de técnicas de relacionamiento
de bases de datos [disertación]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2011.
98p
El objetivo de este estudio fue analizar el perfil clínico y epidemiológico de las
mujeres diagnosticadas con la infección por VIH sin tratamiento antirretroviral previo,
atendidas en hospitales del Estado de Goiás, ubicados en la capital. Estudio de
cohortes retrospectivo (2003-2008) con datos de registros médicos y del Sistema de
Información de Agravios de Notificación. Se calculó el Riesgo Relativo (RR) y
respectivos intervalos de 95% de confianza en el análisis univariado y Hazard Risk
(HR) en análisis de riesgo proporcionales de Cox multivariado, utilizando SIDA como
resultado. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier estratificada por subgrupos de
linfocitos CD4 (muerte, no la muerte) y en comparación con estadísticas de log-rank.
Entre los 3.244 casos denunciados a SINAN, 63% fueron atendidos por los
hospitales de referencia. Fueron identificados 1.078 mujeres, con edad media de 34
años y mediana de 32. La proporción de géneros (H: M) fue de 1,6. Casi 2/3 de las
mujeres eran de otros condados, 56% no estaban casadas y 54% tenían menos de
ocho años de estudio. El uso de drogas ilícitas he sido referido por 57% de las
pacientes. Hasta 12 meses después del diagnóstico del VIH, 80% de las mujeres
desarrollaron SIDA y 80% presentaron el primer conteo de células T-CD4 + con
menos de 350 células/mm 3. Enfermedad oportunista en el momento del diagnóstico
de VIH fue reportado en 39% de los casos y el síndrome de emaciación fue el más
prevalente. Después del análisis multivariada, se mantuvo asociado con los
resultados un año después del diagnóstico de la infección por ser soltero (HR = 1,32
95% 1,04 a 1,67, p = 0,023). Ser un usuario de drogas (HR = 0,72, p 95%: 0,58 a
0,94, = 0,014) y se le diagnosticó en 2007 (HR = 0,74, IC 95%: 0,60 a 0,91, p =
0,003) fue un factor protector para desarrollar SIDA por un período de seguimiento
de 12 meses en comparación con la población diagnosticada con el VIH entre 2003
y 2006. Se concluye que el diagnóstico de infección aun es hecho demasiado tarde
para la mayoría de las mujeres, pero hay menos riesgo de desarrollar SIDA en
mujeres diagnosticadas con el VIH después del año 2007.
Palabras-clave: SIDA, VIH, Mujeres, Vinculación de base de datos.
ABSTRACT
Silva LR. Epidemiology of HIV infection in women attending referral hospitals in
Goiânia-Goiás: use of technique of linkage databases [dissertation]. Goiânia:
School of Nursing / UFG; 2011. 98p
The aim of this study was to analyze the clinical and epidemiological profile of HIVinfected women with no prior antiretroviral therapy attended at two reference
hospitals of Goiás State, located in the capital. A retrospective cohort study (20032008) was conducted using data from medical records and Information System for
Notifiable Diseases. The duration of follow-up was 12 months from HIV diagnosis.
Cox proportional hazards and corresponding 95% confidence were used to identify
the adjusted risk for aids. Kaplan-Meier survival analysis was performed and the logrank test was used to compare the subgroup of of CD4 (death, not death). Among
the 3,244 cases reported to SINAN, 63% were seen by the referral hospitals. We
identified 1078 women, mean age 34 years and a median of 32. The sex ratio (M: M)
was 1.6. Almost two thirds of the women were from other counties, 56% were not
married and 54% had less than eight years of study. Use of illicit drugs was reported
by 57% of patients. Until 12 months after HIV diagnosis, 80% of women developed
AIDS and 80% had the first count of CD4 + T-less than 350 cells/mm3. Opportunistic
disease at diagnosis of HIV was reported in 39% of cases and wasting syndrome
was the most prevalent. After multivariate analysis, remained associated with the
outcome one year after AIDS diagnosis of infection being single (HR = 1.32 95% 1.04
- 1.67, p = 0.023). Being a user of drugs (HR = 0.72, 95% CI 0.58 to 0.94, p = 0.014)
and was diagnosed in 2007 (HR = 0.74, 95% CI 0.60 to 0.91, p = 0.003) was a
protective factor for developing AIDS for a follow-up period of 12 months when
compared to the population diagnosed with HIV between 2003 and 2006. We
conclude that the diagnosis of infection is still too late for most women, but there is
less risk of developing AIDS in women diagnosed with HIV after the year 2007
Key-words: AIDS, HIV, women, database linkage
18
1. INTRODUÇÃO
A síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) ainda hoje continua
impactando grupos sociais, em sua maioria já vulnerabilizados por condições
sociais, culturais, econômicas e biológicas adversas (UNAIDS, 2008).
Autoridades sanitárias e agências de fomento têm investido recursos
financeiros, logísticos e tecnológicos para ampliar o acesso universal à prevenção,
tratamento, cuidados e apoio aos doentes de aids e para deter e reverter a
propagação da infecção pelo vírus da imunodeficiencia humana (HIV) (UNAIDS,
2010a).
Muitas transformações no perfil da epidemia foram evidenciadas (FONSECA,
BASTOS, 2007; MOORE, 2010; SULIGOI et al., 2010) e o termo grupos de risco
perdeu seu caráter restritivo e expandiu a possibilidade de contágio pelo vírus a
todas as pessoas. A feminização ganha destaque pelo fato de que as mulheres já
respondem por metade do total de infecções no mundo (UNAIDS, 2010b).
A maior vulnerabilidade da mulher ao HIV se deve a razões biológicas, sociais,
culturais, questões de poder, dominação e violência o que explica essa situação
desigual entre os sexos (GREIG et al., 2008; HEIKINHEIMO, LAHTEENMAKI, 2009).
A detecção crescente de casos nesse grupo é preocupante, diante do fato que o
aumento
da
transmissão
nessa
população
reflete
consequentemente
na
manutenção da epidemia pela transmissão vertical e heterossexual (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2007a; TANG, NOUR, 2010).
Buscar explicações dos condicionantes e determinantes da situação de saúde
é primordial não somente para entender o curso da epidemia, mas também para
elaborar políticas que atendam de forma eficaz as diferenças de cada localidade e
de cada grupo populacional. Faz necessário então, o seguimento da doença na
sociedade como uma estratégia oportuna de identificação de particularidades e que
permita, assim, a elaboração de metas estruturadas e fundamentadas na realidade
(NICHIATA, SHIMA, 1999; SANTOS et al., 2002).
A vigilância epidemiológica da aids em nosso país é realizada a partir das
notificações dos casos da doença ao Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), incluída na lista de doenças de notificação compulsória em
1986. Essa notificação permite uma resposta nacional à epidemia com base no total
19
de casos registrados e na história natural da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2005).
Cabe
aos
serviços
de
saúde
pública
o
diagnóstico
precoce
e
o
acompanhamento dos soropositivos além de ações que objetivem a prevenção de
novos casos. Um serviço que presta assistência às pessoas vivendo com HIV/aids
além de oferecer atendimento integral e de qualidade precisa fornecer subsídios
para o monitoramento da epidemia por meio de repasse, aos sistemas de
informações em saúde, de dados para a análise do perfil da doença (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2011).
A notificação de casos da infecção pelo HIV vem ganhando atenção por
considerar que a notificação rigorosa dos casos de aids é influenciada e dificultada
por muitos fatores; que os casos notificados da doença relacionam-se a uma
infecção passada e que o tratamento tem alterado significativamente o curso da
epidemia. De tal forma, existe a necessidade de adequação das estratégias de
prevenção e controle, que se apóiem em dados atuais e não em situações passadas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; SOUZA, 2007).
As informações que compõem as bases do SINAN nem sempre são completas
e de boa qualidade. Essa situação pode ser constatada pela inconsistência dos
dados e pelo elevado número de informações ignoradas o que compromete o
diagnóstico epidemiológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). O descaso com as
informações, em particular com os dados secundários é uma realidade no Brasil
(GUIMARÃES, 2000; FONSECA et al., 2002).
Novas estratégias são criadas e implantadas objetivando aumentar a
confiabilidade dos dados oriundos dos Sistemas de Informações. Uma alternativa é
o uso da técnica de relacionamento de base de dados (linkage) que investiga e
corrige a subnotificação de casos, além de permitir a recuperação de informações
ignoradas, seja na coleta ou digitação destas (PINHEIRO, CAMARGO JR., COELI,
2006).
Avaliar as informações em saúde permite repensar o valor dado a elas. Existe
uma necessidade de sensibilização dos profissionais para a importância da
caracterização dos aspectos epidemiológicos e comportamentais da população
atendida, para que se possa então delinear aspectos culturais que desencadeiem
práticas de risco para a infecção pelo HIV, de forma particular no Estado de Goiás.
20
Admitir as infecções pelo HIV aumentou a abrangência dos nossos resultados
por somar mais casos a essa população. O uso do linkage em nosso estudo permitiu
a recuperação de alguns dados não informados nos prontuários médicos e que
puderam ser encontrados no SINAN, aumentando a qualidade e confiabilidade dos
nossos achados.
Como o linkage dos bancos relacionados à vigilância epidemiológica do
HIV/aids é realizado em nível nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010d), usar este
método com bancos regionais que ainda não foram preparados e validados
possibilita uma visão de como as informações em saúde são repassadas.
Em se tratando da população feminina infectada pelo HIV, a carência de
estudos voltados para o público em Goiás dificulta traçar estratégias e executar
programas de promoção da saúde de forma eficaz, com vistas a contemplar as
necessidades de saúde desse grupo.
O conhecimento da realidade permitirá que enfermeiros e demais profissionais
da saúde, responsáveis pelo monitoramento e avaliação dessas transformações,
identifiquem as tendências da epidemia para a idealização, implantação e avaliação
de estratégias objetivando a redução da incidência de novos casos e a melhor
sobrevida dos já infectados.
Dessa forma, através do desenvolvimento deste trabalho, a enfermagem
poderá contribuir para o aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica do
HIV/aids em nossa região, área de atuação dentro da saúde pública na qual,
historicamente, os enfermeiros estão inseridos, e são considerados profissionais
estratégicos na implementação dos serviços de vigilância epidemiológica de agravos
à saúde.
21
2. REVISÃO DA LITERATURA
Em 1981 o aparecimento de cinco casos de pneumonia por Pneumocystis
carinii em homossexuais nos Estados Unidos alertou estudiosos para o surgimento
de uma síndrome que ocasionava danos graves ao sistema imunológico dos
doentes (CDC, 1981).
Entre junho de 1981 e setembro de 1982 os Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA) haviam contabilizado 593
casos da síndrome que passou a ser denominada Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (aids) com frequentes e periódicas atualizações em relação a definição de
casos e ao número de indivíduos atingidos (CDC, 1982; JAFFE, BREGMAN, SELIK,
1983; SELIK, HAVERKOS, CURRAN, 1984; CDC, 1985).
Inicialmente, os primeiros casos da doença se restringiam a homossexuais
masculinos, usuários de drogas injetáveis (UDI) (ACEIJAS et al., 2004) e
profissionais do sexo (BORBA, CLAPIS, 2006), os quais eram considerados
vulnerabilizados devido aos comportamentos inseguros. Posteriormente, este
cenário sofreu grandes transformações devido ao crescente número de casos da
doença entre heterossexuais, acompanhado por uma expressiva participação das
mulheres (GIR et al., 2004; QUINN, OVERBAUGH, 2005; CARVALHO, PICCININI,
2008; UNAIDS, 2009a).
A epidemia acarretou retrocesso no desenvolvimento humano de algumas
regiões, em especial do continente africano (PNUD, 2005) e os países mais afetados
tiveram a expectativa de vida reduzida em torno de 20 anos; constataram redução
no seu crescimento econômico enfraquecido e conseqüente aumento no nível de
pobreza (UNAIDS, 2008).
Na África Subsaariana região mais afetada pela epidemia é notável o impacto
da epidemia do HIV nos lares, comunidades, empresas, serviços públicos e na
economia. Nessa região, em 2008, aproximadamente 14,1 milhões de crianças
perderam um ou ambos os progenitores em função da doença, alterando
drasticamente a distribuição etária natural da população (UNAIDS, 2009a). Na Ásia,
mesmo possuindo uma taxa de infecção menor do que a da África, o HIV gera uma
perda de produtividade maior do que qualquer outra doença (UNAIDS, 2008).
A introdução da terapia antirretroviral (TARV) mudou o curso natural da doença
retardando a instalação das infecções oportunistas, com consequente aumento da
22
sobrevida e da qualidade de vida dos portadores do vírus (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2005; QUINN, 2008).
A relação etiológica da aids com um retrovírus data de 1983 quando o vírus foi
isolado em um paciente que apresentava linfadenopatia generalizada. A princípio, o
vírus foi denominado HTLV-III (human T-cell lymphotropic virus-type III) e LAV
(lymphadenopathy-associated virus) (BARRÉ-SINOUSSI et al., 1983; GALLO et al.,
1983; GALLO, MONTAGNIER, 1987; MONTAGNIER, 2002) alterado depois para a
nomenclatura Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (COFFIN et al, 1986),
utilizada mundialmente até os dias atuais.
A análise filogenética dos Lentivírus encontrados nos primatas africanos e
daqueles responsáveis pela infecção em humanos possibilitou a reconstrução
histórica da doença. Constatou-se ainda que o HIV-1 e HIV-2 estão relacionados à
SIV (Simian Immunodeficiency Virus) diferentes o que ocasiona origens evolutivas
diferentes (BARRÉ-SINOUSSI, 1996; HAHN et al., 2000). O HIV-1 está relacionado
ao vírus SIVcpz isolado em chimpanzés (Pan troglodyte troglodyte) nativos do oeste
da África equatorial (GAO et al., 1999; KEELE et al., 2006) e o HIV-2 está associado
ao SIVsm, prevalente em macacos mangabey (Cercocebus atys) (HIRSCH et al.,
1989; GAO et al., 1994).
2.1. Biologia do HIV
O HIV pertence à família dos Retroviridae, gênero Lentivirus, com significativa
variabilidade genética (ICTV, 2010). São conhecidos dois tipos do vírus: HIV-1 e
HIV-2. Os dois tipos causam a aids, no entanto, o HIV-1 é o mais prevalente
(MARLINK et al., 1994; LEVER, 2005). O HIV-2 mostrou-se difundido na África
Ocidental, principalmente nos países de língua portuguesa (EHOLIE, ANGLARET,
2006).
Medindo aproximadamente 100nm de diâmetro, o HIV possui em sua superfície
externa uma membrana lipídica e glicoproteínas (gp41 e gp120) formando um
envelope. A proteína gp120 possui sítio de ligação para os receptores celulares
(Figura 1) (WYATT et al., 1998). Logo abaixo dessa membrana existe uma capa
protéica, composta pela proteína p17 e o capsídeo viral formado pela proteína p24
(SIERRA, KUPFER, KAISER, 2005). Dentro do capsídeo viral são encontradas as
duas moléculas de RNA associadas às enzimas: transcriptase reversa, integrase e
23
protease, como também as proteínas p9 e p6 (BARRÉ-SINOUSSI, 1996; GROTTO,
PARDINI, 2006).
O genoma do HIV possui aproximadamente 10kb e está organizado por 9
genes que codificam as proteínas estruturais (gag, pol e env) e não estruturais do
HIV (tat, ver, nef, vif, vpu, vpr) (SABINO, SAÉZ-ALQUÉZAR, 1999).
Figura 1. Estrutura do HIV
Fonte: NIAID, 2009 (modificada)
O HIV-1 é classificado em quatro grupos genômicos denominados de M
(major), N (new), O (outlier) (SHARP et al., 2000) e o P (PLANTIER et al., 2009). O
HIV-2 possui sete subtipos (LEMEY et al., 2003).
O grupo M apresenta nove subtipos (A, B, C, D, F, G, H, J e K) e é responsável
pela maioria das infecções em todo o mundo, enquanto os grupos N e O se
restringem a casos originários da África Central (ROBERTSON et al., 2000).
24
O subtipo C é o mais prevalente dentre todos os subtipos do grupo M,
respondendo por 50% de todos os casos no mundo. Para os subtipos A, B, D e G
são
encontradas
prevalências
aproximadas
de
12%,
10%,
3%
e
6%,
respectivamente. Os subtipos F, H, J e K, responsáveis pela minoria das infecções,
juntas assumem 0,94% dos casos (HEMELAAR et al., 2006).
No Brasil o subtipo predominante é o B seguido dos subtipos C e F que têm
sido identificados em algumas regiões do país (MARTINEZ et al., 2002;
CAVALCANTI et al., 2007; QUEIROZ et al., 2007; SILVA et al., 2010a; SIMON et al.,
2010). Em Goiás já foram identificados os subtipos B, C e F (CARDOSO, QUEIROZ,
STEFANI, 2009; CARDOSO et al., 2010).
2.2. Aspectos clínicos e critérios de definição de aids no Brasil
Retrovírus são vírus que intervêm na ordem lógica da informação genética ao
utilizarem a enzima transcriptase reversa para converter o seu genoma RNA para
uma dupla fita de DNA. Ao infectar os macrófagos na camada submucosa ele é
transportado por essas células para os gânglios linfáticos, onde se replicam e se
disseminam (LEVER, 2005).
Uma vez ligado à célula, o núcleo viral é inserido no citoplasma da célula
hospedeira, onde seu genoma RNA será transcrito em DNA de dupla fita por ação
da enzima transcriptase reversa (Figura 2). A junção do novo genoma viral ao
genoma da célula hospedeira no núcleo é facilitada pela enzima integrase. Após a
integração à célula, o genoma viral inicia sua transcrição e produção de grande
quantidade de RNA viral. No interior da célula, partes da estrutura viral serão
formadas e um novo vírus constituído, que pela ação da enzima protease
desintegrará e infectará novas células (MANAVI, 2006; KLIMAS, KONERU,
FLETCHER, 2008).
Após a expressão do HIV o aparecimento dos primeiros anticorpos anti-HIV é
observado entre a 3ª e 5ª semana após a exposição. O período que decorre entre a
infecção e a detecção de anticorpos é chamado de janela imunológica. A primeira
manifestação clínica da doença é conhecida como infecção aguda ou síndrome
retroviral aguda caracterizada por viremia e resposta imune intensa acompanhada
de rápida queda na contagem de células T-CD4+. Os sintomas nessa fase se
25
assemelham aos de uma mononucleose, com uma duração média de duas semanas
(FANALES-BELASIO et al., 2010).
Figura 2. Ciclo de vida do HIV
Fonte: RAMBAUT et al., 2004
Logo após a infecção aguda o indivíduo passa por um período de latência
clínica. Nessa fase a ausência de sinais e sintomas é justificada pela baixa viremia
(LEVY, 2009). O período de latência é seguido por uma fase sintomática inicial na
qual há o aparecimento de infecções oportunistas de menor gravidade além de
sintomas inespecíficos com intensidade variável (ZETOLA, PILCHER, 2007;
SIERRA, KUPFER, KAISER, 2005).
Aproximadamente 10 anos após a infecção, a maioria dos indivíduos começa a
apresentar os sinais da infecção, com diminuição da contagem de T-CD4+ e
consequente perda de atividade imune (LEVY, 2009). Com o comprometimento do
sistema imunológico, o portador do vírus desenvolve infecções oportunistas
ocasionadas por agentes até então não patogênicos ao organismo e por outros
considerados patogênicos, mas que nessa situação assumem maior agressividade
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). A instalação desse quadro é variável e depende
26
da resposta de cada indivíduo à replicação viral e aparece quando a contagem de
células T-CD4+ se encontra abaixo de 200 células/mm3 (FANALES-BELASIO et al.,
2010).
As infecções oportunistas mais freqüentes entre os indivíduos com aids são a
pneumonia por P. carinii, a candidíase, a citomegalovirose, a herpes zoster, a
criptosporidiose e a isosporíase. Entretanto, formas neoplásicas como o Sarcoma de
Kaposi e os linfomas também são comuns e comprometem significativamente o
prognóstico do paciente (FANALES-BELASIO et al., 2010).
Os CDC propõem para a definição de casos de aids uma lista com 27
condições indicadoras da doença (CDC, 2008). No Brasil, o Ministério da Saúde
visando adequar os critérios ao perfil epidemiológico do país, revisou a lista
apresentada pelos CDC da qual foram excluídas coccidioidomicose, por ser um
evento raro e não possuir impacto epidemiológico, e a tuberculose por ser uma
doença freqüente em nosso país. A miocardite e/ou meningoencefalite pela
reativação da doença de Chagas foi incluída na lista a partir da observação desta
condição em pacientes com a infecção pelo HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
De tal forma, no Brasil, a lista modificada do CDC foi denominada “Critério CDC
adaptado” e contém 17 doenças indicadoras de aids. São elas: câncer cervical
invasivo; candidose de esôfago; candidose de traquéia, brônquios ou pulmões;
citomegalovirose; criptococose extrapulmonar; criptosporidiose intestinal crônica;
herpes simples mucocutâneo, por um período superior a um mês; histoplasmose
disseminada;
isosporidiose
intestinal
crônica;
leucoencefalopatia
multifocal
progressiva; linfoma não-Hodgkin de células B; linfoma primário do cérebro;
pneumonia por Pneumocystis carinii; qualquer micobacteriose disseminada em
órgãos outros que não sejam o pulmão, pele ou linfonodos cervicais/hilares;
reativação de doença de Chagas; sepse recorrente por bactérias do gênero
Salmonella; toxoplasmose cerebral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Entretanto, em 1992, considerando as peculiaridades nacionais que careciam
de critérios simplificados para definição de casos, que não dependessem de exames
complementares sofisticados, foi introduzido no Brasil, um critério baseado na
identificação clínica de sinais, sintomas e doenças, a partir de experiências
acumuladas por serviços de saúde no Rio de Janeiro, o qual foi denominado Critério
Rio de Janeiro/Caracas. Os critérios, então, foram adotados de forma não
27
excludente para pessoas com treze (13) anos ou mais de idade (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004).
Ainda, o Ministério da Saúde do Brasil visando padronizar a definição de casos
de aids a ser adotada no território nacional, para fins de vigilância epidemiológica e
controle logístico da dispensação da terapia antirretroviral, elaborou um documento
normatizador que apresenta os critérios de definição de casos de aids em indivíduos
com 13 ou mais anos de idade e critérios para definição em menores de 13 anos.
Esse documento estabelece definições diferentes segundo os critérios nacionais
adotados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Assim, segundo o critério CDC
adaptado,
Será considerado como caso de aids, para fins de vigilância
epidemiológica, todo indivíduo com 13 anos de idade ou mais que
apresentar evidência laboratorial da infecção pelo HIV (dois testes de
triagem para detecção de anticorpos anti-HIV ou um confirmatório
reagente) no qual seja diagnosticada imunodeficiência (pelo menos
uma doença indicativa de aids e/ou contagem de linfócitos T CD4+
abaixo de 350 células/ mm3), independentemente da presença de
outras causas de imunodeficiência.
E segundo o critério Rio de Janeiro/Caracas
Será considerado como caso de aids, para fins de vigilância
epidemiológica, todo indivíduo com treze (13) anos de idade ou mais
que apresentar evidência laboratorial da infecção pelo HIV (dois
testes de triagem de detecção de anticorpos anti-HIV ou um
confirmatório reagente) e, além disso, um somatório de pelo menos
dez (10) pontos numa escala de sinais, sintomas ou doenças,
independentemente da presença de outras causas de
imunodeficiência.
2.3. Epidemiologia da infecção do HIV/AIDS
2.3.1. A epidemia do HIV no mundo
A epidemia do HIV no mundo tem se mantido estável nessa última década,
apresentando, contudo, importantes diferenças regionais quanto à incidência e a
forma de transmissão. Embora seja possível observar essa estabilização, sua
prevalência ainda é alta, justificada pelas novas infecções e pelo aumento da
sobrevida dos já infectados (UNAIDS, 2007a).
Em 2008, o número estimado de pessoas portadoras do vírus em todo o
mundo era de 33,4 milhões (Figura 3). Desse total de infecções, 15,7 milhões
relacionavam-se a população feminina mundial e 2,1 milhões à crianças menores de
28
15 anos. Nesse mesmo ano foram contabilizados 2,7 milhões de novos casos
(UNAIDS, 2009a).
Figura 3. Número estimado de pessoas vivendo com HIV no mundo
Fonte: UNAIDS, 2009a
A aids ainda é uma das principais causas de mortes em todo o mundo.
Acredita-se que desde o início da epidemia cerca de 25 milhões de pessoas
morreram por causas associadas ao HIV (UNAIDS, 2008).
A África Subsaariana continua sendo a região mais afetada pela epidemia com
68% das pessoas vivendo com HIV no mundo (UNAIDS, 2010b). Representam
ainda 68% e 91% das novas infecções em adultos e crianças, respectivamente. A
taxa de prevalência da infecção no sul da África confirma essa realidade desafiadora
ao apresentar uma proporção de 10% na população adulta (UNAIDS, 2009a).
A epidemia na Ásia mantém-se relativamente estável desde 2000 e, com
aproximadamente 4,7 milhões de pessoas vivendo com HIV, ocupa uma posição
importante quanto aos índices mundiais (UNAIDS, 2009a). Apesar da redução da
incidência nessa região, a aids mata mais pessoas entre 15 e 44 anos do que a
tuberculose ou qualquer outra doença (COMMISSION ON AIDS IN ASIA, 2008).
29
Na Europa Oriental e Ásia Central o uso de drogas injetáveis (UDI) sustenta a
epidemia por ser a forma de transmissão mais predominante nessas regiões
(UNAIDS, 2009a). Na Rússia, Ucrânia, China, Vietnan, e Malásia, 67% dos casos
acumulados de infecção pelo HIV ocorrem entre UDI (WOLF, CARRIERI,
SHEPARD, 2010), sendo que a Federação Russa e a Ucrânia apresentam as
epidemias mais graves com quase 90% dos casos e prevalência de 1,6% em adulto
para esse último país (UNAIDS, 2007a; KRUGLOV et al., 2008).
A Oceania possui o menor número de casos da infecção em todo o mundo e
também uma das menores prevalências (0,3%). A transmissão sexual é responsável
pela maioria dos casos embora se observem especificidades regionais (UNAIDS,
2009a).
A segunda maior prevalência do HIV em adultos, fora do continente africano,
encontra-se no Caribe com um valor aproximado de 0,7% (UNAIDS, 2009a). O Haiti
apresenta a epidemia de aids mais antiga fora da África Subsaariana (GILBERT et
al., 2007) e possui ainda, o maior número de pessoas infectadas pelo vírus da região
(UNAIDS, 2007b).
Estima-se que 5% de todas as pessoas infectadas pelo HIV no mundo vivam
na América Latina (BASTOS et al., 2008). A epidemia nessa região tem se mantido
estável com uma prevalência de aproximadamente 0,6%. Na América Central e do
Sul a principal forma de disseminação do vírus se faz através das relações sexuais
entre homens (UNAIDS, 2009a).
Em muitos países, a prevalência do HIV entre HSH ainda é maior em
comparação com a população em geral. A discriminação dificulta a obtenção de
dados fidedignos quanto aos comportamentos adotados por este grupo (WHO,
2009). No Brasil, como nos demais países do mundo, o primeiro grupo populacional
a ser afetado foi o dos homossexuais e/ou bissexuais, que em 1984 representavam
71% do total de casos. Entretanto, mudanças comportamentais desse segmento e a
inserção das mulheres neste cenário contribuíram para o decréscimo dessas taxas
obtendo uma prevalência de 12,6% entre os anos de 2008-2009 (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2009a).
O UDI tem contribuído substancialmente para a disseminação do HIV
(ACEIJAS et al., 2004). Calcula-se que de 15,9 milhões de UDI no mundo três
milhões sejam portadores do HIV produzindo estimativas impactantes no sudeste da
30
Ásia, leste da Europa e na América Latina onde se concentram os maiores números
de casos (MATHERS et al., 2008).
Outro grupo populacional importante na caracterização da epidemia é a de
profissionais do sexo. Em alguns países da África Subsaariana a prevalência da
infecção entre trabalhadoras do sexo é de aproximadamente 20%. Em Benin,
Burundi, Ghana, Malí e Nigéria 30% de todos os trabalhadores do sexo são
portadores do vírus (WHO, 2009). A associação do comércio sexual com o UDI
agrava a situação da epidemia (UNAIDS, 2008; XU et al., 2008; JIA et al., 2010). Na
província de Yunnan, na China a prevalência do HIV entre mulheres profissionais do
sexo que também são UDI é de 35,5%, valor muito acima daquele encontrado em
profissionais que não são usuárias (1,9%) (JIA et al., 2010).
2.3.2. A epidemia do HIV no Brasil
No Brasil, na primeira metade da década de 80, a epidemia de aids atingia e
mantinha-se basicamente restrita as Regiões Sul e Sudeste. O UDI, alto nível
socioeconômico e homo/bissexualismo eram os fatores determinantes para a
transmissão (BRITO, CASTILHO, SZWARCWALD, 2000). Modificações foram
observadas e, entre a heterossexualização, a feminização e a pauperização da
epidemia (TOMAZELLI, CZERESNIA, BARCELLOS, 2003; RODRIGUES-JÚNIOR,
CASTILHO,
2004),
evidenciou-se
ainda,
um
processo
de
interiorização
(SZWARCWALD et al., 2000; REIS et al., 2008).
Segundo dados do Ministério da Saúde no Brasil, do início da epidemia até
junho de 2010 foram notificados 592.914 mil casos da doença, configurando um dos
maiores problemas de saúde pública devido sobretudo pela sua gravidade e caráter
pandêmico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a). Um terço das pessoas vivendo com
HIV na América Latina se encontra no Brasil (UNAIDS, 2007c).
O número de óbitos pela doença teve seu pico em 1995 com um total de
15.156 mortes, mas após a disponibilização da terapia antirretroviral em 1996, esses
números sofreram decréscimo chegando a uma taxa de mortalidade de 6,2/100.000
habitantes em 2009 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).
As regiões Sudeste e Sul agrupam aproximadamente 80% de todos os casos
de aids notificados. O Centro-Oeste responde pelos 34.057 mil (5,7%) dos 592.914
mil casos de aids no país ocupando o quarto lugar entre as cinco regiões brasileiras.
31
O norte tem o seu número de casos elevado a cada ano o que o distancia do
processo
de
estabilização
da
epidemia
vivenciada
pelas
outras
regiões
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).
Em Goiás, os primeiros casos de aids foram notificados também no início da
década de 80. De acordo com o SINAN, desde a primeira notificação de aids neste
estado até outubro de 2009 um total de 11.918 casos foram notificados em adultos
(maior de 13 anos) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a), com uma média de 600
novos casos por ano (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, 2010).
2.4. HIV em mulheres
Mulheres representam metade das pessoas vivendo com HIV no mundo
(UNAIDS, 2010b). Além dos fatores biológicos, questões sociais e econômicas como
a baixa escolaridade, pobreza, violência e impossibilidade de negociação do sexo
seguro com seus parceiros afetam o controle da epidemia e constituem alguns dos
motivos que expõem a mulher à situação de vulnerabilidade frente ao HIV (KIM,
WATTS, 2005; QUINN, OVERBAUGH, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007a;
UNAIDS, 2010c).
Na África Subsaariana cerca de 60% das infecções pelo vírus corresponde a
população feminina (KALLINGS, 2008). O HIV está entre as três principais causas
de morte entre mulheres nos países de baixa renda que juntamente com a
tuberculose e problemas relacionados à gravidez respondem por um em cada dois
óbitos ocorridos nessa população (UNAIDS, 2009b).
Na América Latina o número de homens infectados pelo HIV ainda é superior
aquele identificado entre mulheres, entretanto a epidemia segue a tendência mundial
de pareamento das taxas (UNAIDS, 2009b). No Peru em 2008 a relação
homem/mulher sofreu uma drástica alteração passando de 12:1 em 1990 para 3:1
em 2008. Mesmo sendo três vezes maior o número de homens HIV positivos a
queda na relação é significativa e preocupante (ALARCÓN VILLAVERDE, 2009). No
Caribe uma situação semelhante a identificada na África é observada, mulheres já
representam 53% dos adultos vivendo com HIV (UNAIDS, 2010b).
A feminização da epidemia no Brasil também é uma realidade. O contato
sexual desprotegido entre heterossexuais contribuiu significativamente para o
aumento da incidência da doença entre a população feminina (DOURADO et al.,
32
2006). A relação entre os sexos no país vem reduzindo progressivamente passando
de 15 homens a cada mulher (15,1:1) em 1986 para 15 homens a cada 10 mulheres
(1,5:1) em 2005, ressaltando ainda que na faixa etária de 13 a 19 anos há uma clara
inversão na razão de sexo a partir do ano de 1998, atingindo a proporção de seis
homens a cada dez mulheres (0,6:1) (H:M), nesse mesmo ano (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2007b).
Essa tendência de feminização da epidemia tem sido evidenciada nas cinco
regiões do país (SANTOS, OLIVEIRA, 2009; SECRETARIA DA SAÚDE DE
ESTADO DE GOIÁS, 2010; SILVA et al., 2009; SILVA et al., 2010b; SOUSA,
SUASSUNA, COSTA, 2009; STEPHAN; HENN, DONALISIO, 2010).
No Estado de Goiás, do total de casos de aids notificados ao SINAN até o ano
de 2009, 32,9% correspondiam ao sexo feminino. Apesar do número de casos
serem maiores no sexo masculino, a incidência da infecção pelo HIV no grupo
feminino tem contribuído crescentemente com a epidemia na região, uma vez que
em 1988 para cada 11 casos notificados no sexo masculino havia um caso feminino
(11:1) e em 2006 essa proporção chegou a 1,5:1. No entanto, como reflexo das
ações de prevenção desenvolvidas, essa razão passou para 2:1 no ano de 2009
(SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, 2010).
Como fator agravante da feminização, muitas mulheres se infectam durante a
idade reprodutiva e isso eleva consequentemente o número de casos na população
infantil pela transmissão vertical (CRAFT et al., 2007; TANG, NOUR, 2010). No
Brasil, 55% dos casos notificados estão entre gestantes de 20 a 29 anos de idade
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a). O pré-natal é a forma mais eficaz de alcançar
essa população sexualmente ativa e saudável para a vigilância sorológica do HIV
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
A prevalência da infecção em mulheres grávidas, como indicador de
prevalência da infecção na população em geral, tem sido investigada em vários
países, com valores variando de 0,4% no Brasil (SZWARCWALD et al., 2008), 5,2%
na Nigéria (IMADE et al., 2010), 6,3% no Kenia (KIPTOO et al., 2009) e 10,6% na
Tanzânia (URASSA et al., 2006). Para o Estado de Goiás foi encontrada uma
prevalência de 0,09% (COSTA et al., 2009).
33
2.5. Transmissão do vírus
Apesar de todos os esforços empregados no controle da pandemia ao longo
dos anos, a aids ainda atinge muitas pessoas em todo o mundo, principalmente
aquelas que se encontram nos estratos sociais menos favorecidos (COOVADIA,
HADINGHAM, 2005).
A via de transmissão mais prevalente desta infecção é a sexual, apresentando
75% do total de casos da doença no mundo. Entretanto, existem outras vias que
também contribuem para o aumento gradativo do número de casos como a via
vertical e parenteral (PADIAN et al., 1997; MANAVI, 2006; CARNICER-PONT,
VIVES, BÁRBARA, 2011).
A relação sexual desprotegida é considerada uma das principais formas de
transmissão do vírus desde o surgimento dos casos. A transmissão do HIV é
possível durante prática sexual que envolva com contato com fluidos entre os
parceiros (LEVY, 2009). Presença de doenças sexualmente transmissíveis (DST),
em especial as com lesões ulcerativas, elevam o risco de transmissão sexual do
vírus (LATIF, 1990; WARD, RÖNN, 2010).
A transmissão vertical, na qual a criança é infectada durante a gestação, parto
ou amamentação, é a principal responsável pelos casos na população infantil
(NEWELL,
1998;
KOURTIS,
BULTERYS,
2010).
Ela
é
responsável
por
aproximadamente 90% das infecções em crianças. Se nenhuma intervenção for
efetuada durante a gestação e após o parto o risco da transmissão pode chegar a
mais de 45% (UNAIDS, 2010a). Entretanto, com o diagnóstico precoce e tratamento,
a transmissão pode ser reduzida a menos de 2% dos casos (COOPER et al., 2002).
Em cerca de 40% dos casos a transmissão de mãe para filho está relacionada
ao aleitamento materno, que tem ainda um risco acrescido de 0,9% ao mês após o
primeiro mês de amamentação (BULTERYS, ELLINGTON, KOURTIS, 2010). A
execução de estratégias simultâneas como a prevenção da infecção na população
adulta, redução do número de gravidez indesejada entre as mulheres infectadas,
disponibilização do tratamento para as mães e profilaxia para a criança, além de
cuidados durante o parto e amamentação reduzem consideravelmente a chance de
contágio da criança após a exposição ao vírus da mãe (UNAIDS, 2009a; UNAIDS,
2010b).
34
Pessoas UDI possuem risco acrescido para a aquisição do HIV não somente
por compartilharem seringas durante a administração parenteral da droga, mas por
associarem a essa prática, outros comportamentos de risco como sexo inseguro e
múltiplos parceiros sexuais (CDC, 2009). No Brasil, mesmo com a diminuição da
incidência de aids nesse grupo, UDI masculinos juntamente com os HSH possuem
ainda risco acrescido quando comparados aos homens heterossexuais (BARBOSA
JÚNIOR et al., 2009).
Os acidentes ocupacionais envolvendo material perfurocortante contendo
sangue de individuo infectado é uma importante forma de exposição ao HIV entre
profissionais da saúde (VIEIRA, PADILHA, 2008; GOMES et al., 2009). O risco de
transmissão varia de acordo com o tipo e a gravidade da exposição. Para os casos
de lesão percutânea estima-se um risco de 0,3% (CARDO et al., 1997). Entretanto,
após a introdução da TARV como medida profilática (CDC,2005), foram raros os
casos documentados de aquisição ocupacional da infecção pelo HIV (Do AN et al.,
2003; CDC,2007).
2.6. Diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil
Os
exames
para
o
diagnóstico
da
infecção
pelo
HIV
melhoraram
acentuadamente desde que foram disponibilizados ainda no final da década de 80,
principalmente no tocante a especificidade e sensibilidade dos testes. Esses
detectam a presença de anticorpos anti-HIV no sangue e permitem não somente a
confirmação diagnóstica da infecção, mas também contribuem significativamente
para o controle e monitoramento da evolução da doença (BUTTÒ et al., 2010).
A realização de exames para o diagnóstico da infecção deve ser acompanhada
por aconselhamento pré e pós-teste, devido ao grande impacto que a positividade
do resultado pode causar a vida do indivíduo, e a necessidade de acompanhamento,
caso haja confirmação da exposição (WHO, 2004).
Após o contágio, anticorpos específicos contra o HIV começam a ser
produzidos, mas a sua detecção laboratorial não é possível de imediato. É
necessário um período de seis a 12 semanas para que haja a soroconversão e para
que o exame anti-HIV seja reagente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).
No Brasil o Ministério da Saúde com o intuito de ampliar o acesso ao
diagnóstico da infecção pelo HIV e possibilitar o diagnóstico rápido em situações
35
especiais, criou a Portaria Nº 151 SVS/MS de 14 de outubro de 2009 que agiliza e
amplia normas para a realização de testes anti-HIV. A portaria disponibiliza forma
dos anexos, etapas seqüenciais e os fluxogramas mínimos para o Diagnóstico
Laboratorial da infecção pelo HIV em indivíduos com idade acima de 18 (dezoito)
meses (Figura 4) e para o Diagnóstico Rápido da infecção pelo HIV em situações
especiais (Figura 5) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b).
Figura 4. Fluxograma Mínimo para o Diagnóstico Laboratorial da infecção pelo HIV
em indivíduos com idade acima de 18 (dezoito) meses
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b
36
Figura 5. Diagnóstico Rápido da infecção pelo HIV em situações especiais
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b
Para a confiabilidade dos resultados emitidos é obrigatório que todos os
exames sejam realizados e interpretados de acordo as normas definidas pelo
Ministério da Saúde e com produtos registrados na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e por ela controlados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b).
2.7. Terapia antirretroviral
Em 1987 foi aprovada nos Estados Unidos, a primeira droga a ser usada no
tratamento da aids, a Zidovudina (AZT) (FDA, 2009). A partir de então novos
medicamentos
foram
criados
e
disponibilizados
em
combinações
(terapia
antirretroviral – TARV) para os portadores do vírus contribuindo significativamente
com a qualidade e expectativa de vida destes (MURPHY et al., 2001; BURGOYNE,
TAN, 2008).
37
Um considerável declínio das taxas de mortalidade, seguida de uma
estabilização, foi constatado após a oferta dos antirretrovirais as pessoas com aids
(PALELLA et al., 1998; PIOT et al., 2001; REIS, SANTO, CRUZ, 2007).
Hoje existem quatro classes de drogas para o tratamento contra a infecção
pelo HIV: inibidores da transcriptase reversa, inibidores da protease (LU, CHEN,
2010), inibidores de fusão (SOUZA, 2005) e inibidores da integrase (GARRIDO et
al., 2010). Os inibidores da transcriptase se dividem em análogos de nucleosídeos e
não análogos de nucleosídeos e atuam na transcrição do DNA a partir da molécula
de RNA impedindo a ação da enzima transcriptase reversa. Os inibidores da
protease atuam diretamente na enzima protease vinculada ao processo de
maturação da partícula viral (LU, CHEN, 2010). Os inibidores de entrada interferem
na ligação do HIV aos receptores dos linfócitos impossibilitando a fusão do vírus e
sua entrada na célula (SOUZA, 2005; ESTÉ, TELENTI, 2007) e os inibidores da
integrase atuam impedindo a integração do genoma viral ao genoma da célula
hospedeira (HAZUDA et al., 2000).
Sem a terapia antirretroviral a pessoa infectada desenvolve durante o curso
natural da doença, um estado de imunodeficiência severa seguida da instalação de
doenças oportunistas, quadro este que tem duração aproximada de 10 anos entre a
infecção e o óbito (DEEKS, WALKER, 2007).
A decisão de início ou de alteração da terapia deve ser tomada quando
avaliações, clínica e laboratorial, forem realizadas (CDC, 2002). A avaliação
laboratorial para a recomendação da terapia é feita a partir da verificação dos níveis
plasmáticos de RNA do HIV (carga viral), que sugerem a intensidade da replicação
viral e pela contagem de células T-CD4+ que indicam a extensão dos danos
ocasionados ao sistema imune pelo vírus (CDC, 1998).
O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a elaborar uma política
governamental que garante acesso universal e gratuito aos medicamentos
antirretrovirais a todos os que deles necessitem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008c).
Para tal foi criada a lei no 9.313 em novembro de 1996 que dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de aids
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996).
O Consenso Brasileiro de Terapia Antirretroviral recomenda como esquema
inicial de tratamento a associação de dois Inibidores da Transcriptase Reversa
Análogos de Nucleosídeos (NRTI) a um Inibidor de Transcriptase Reversa não
38
Análogo de Nucleosídeo (NNRTI) ou a um Inibidor da Protease, reforçado com
ritonavir (IP/r) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008c). No Brasil, até o momento, o
Ministério da Saúde disponibiliza de forma gratuita um total de 19 medicamentos
para o tratamento das pessoas com aids (Quadro 1).
Apesar de proporcionarem um aumento substancial na sobrevida das pessoas
com aids, os antirretrovirais possuem muitos efeitos colaterais que dificultam a
adesão por muitos pacientes ao regime terapêutico e a consequente resistência viral
a essas drogas (CDC, 2002; BURGOYNE, TAN, 2008). A decisão de iniciar o
tratamento é individual e deve sempre levar em consideração, entre outros fatores, o
potencial de adesão do paciente à terapia prescrita e o potencial de toxicidade
imediata e a longo prazo (HAMMER et al., 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008c).
Quadro 1. Antirretrovirais disponíveis e distribuídos gratuitamente no Brasil de
acordo com as classes existentes.
ANTIRRETROVIRAIS DISPONÍVEIS NO BRASIL
NRTI
Inibidores de transcriptase reversa
NNRTI
Inibidores da protease (IP)
Inibidor de Fusão (IF)
Inibidores da Integrase (IN)
Abacavir
Didanosina
Estavudina
Lamivudina
Zidovudina
Tenofovir
Efavirenz
Nevirapina
Etravirina
Amprenavir
Atazanavir
Darunavir
Indinavir
Lopinavir/r
Nelfinavir
Ritonavir
Saquinavir
Enfuvirtida (T-20)
Raltegravir
39
A terapia busca reduzir a carga viral para índices inferiores a 50 cópias/ml. Os
níveis plasmáticos do vírus e a contagem de células T-CD4+ devem ser avaliados
periodicamente, tanto para início, alteração ou o acompanhamento do tratamento. A
realização de teste de resistência viral é importante para monitorar o surgimento de
mutações virais que comprometem a eficácia terapêutica. A avaliação contínua de
co-morbidades e da toxicidade medicamentosa também são parâmetros importantes
no acompanhamento do paciente (HAMMER et al., 2008).
Dentre os fatores que prevalentemente alteram a efetividade do tratamento a
longo prazo estão a presença dos efeitos colaterais e o não comprometimento do
paciente com a terapia. Os eventos adversos podem ser desencadeados pelo uso
de qualquer uma das drogas empregadas no esquema terapêutico e podem atingir
vários órgãos. Podem ocorrer desde eventos considerados leves como sintomas
gastrointestinais, distensão abdominal, náuseas e diarréia a eventos graves como
anemia associada ao uso do AZT, neuropatia periférica associado ao d4T, retinóide
relacionada ao uso dos IP e reações de hipersensibilidade aos NNRTI. Somando-se
a esses eventos encontra-se acidose láctica, esteatose hepática, hiperlactatemia,
hepatotoxicidade,
hiperglicemia,
hiperlipidemia,
osteoporose,
distúrbios
hemorrágicos e erupção cutânea (MONTESSORI et al., 2004).
A disponibilização universal da TARV reduziu progressivamente a mortalidade
por aids em todas as regiões do mundo, entretanto fatores como melhor manejo
clínico das infecções oportunistas, medidas de prevenção, conhecimento sobre
HIV/aids entre outros fatores devem ser ponderados para uma real avaliação do
curso da epidemia (DOURADO et al., 2006).
2.7.1. Terapia antirretroviral para gestantes
Em 1994 um estudo randômico realizado nos Estados Unidos e França
evidenciou que, em gestantes assintomáticas o uso do AZT oral após a 14ª semana,
juntamente com o AZT endovenoso 4 horas antes do parto e o AZT solução oral
para o recém-nascido, durante seis semanas reduziu consideravelmente as taxas de
transmissão vertical do HIV (CONNOR et al., 1994).
Após o sucesso da monoterapia com AZT outros estudos foram realizados em
busca de novas possibilidades terapêuticas para mulheres grávidas. Esses trabalhos
mostraram que os resultados alcançados na redução da transmissão podem ser
40
melhorados quando se utiliza a associação de drogas (BLANCHE et al. 1999;
MOODLEY, 2000; COOPER et al., 2002).
No Brasil a terapia antirretroviral é indicada para toda mulher grávida
independente da presença de sintomas e da contagem de células T-CD4+
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). Deve assim ser iniciada entre a 14ª – 28ª
semana de gestação e removida após o parto quando a indicação de TARV for a
profilaxia da transmissão vertical na gestação. Entretanto, quando essa indicação se
referir também ao tratamento da infecção pelo HIV durante a gravidez, a terapia
deve ser mantida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010e).
O esquema inicial para as gestantes deve ser formado por três antirretrovirais
de duas classes diferentes. Para os NRTI as duas drogas de escolha são o AZT e o
3TC e para os NNRTI, a nevirapina mantém-se como primeira opção dessa classe
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010e).
2.8. Prevenção
A maior esperança para o controle e erradicação do HIV está relacionada ao
desenvolvimento de uma vacina segura, eficaz e acessível a todas as pessoas.
Desde a descoberta do agente causal da aids, pesquisas tem sido desenvolvidas
objetivando a criação dessa vacina e apesar dos avanços obtido, os resultados
indicam que será preciso muito mais tempo e trabalho para o seu desenvolvimento
(IAVI, 2008).
A educação em saúde a partir do esclarecimento das formas e riscos de
transmissão do vírus e a adoção de comportamentos sexuais mais seguros entre a
população em geral são as estratégias mais eficazes para o controle da epidemia
(KAPIGA, HAYESB, BUVE ́, 2010).
Intervenções isoladas ou combinadas têm sido adotadas na busca da redução
da incidência da infecção pelo vírus. A realização anual da testagem para o Anti-HIV
por indivíduos sexualmente ativos e o início imediato da TARV para aqueles
diagnosticados aparecem como sugestões para o alcance desse objetivo (GRANICH
et al., 2009). Como a transmissão está diretamente relacionada à carga viral, o
tratamento antirretroviral é considerado um importante meio de prevenção por
diminuir
expressivamente
a
viremia
(DIEFFENBACH,
FAUCI,
2009;
BARNIGHAUSEN, 2010). Contudo, mais estudos sobre as vantagens do início
41
precoce da TARV independentemente da contagem de CD4 e da realização anual
de teste para detecção do HIV precisam ser realizados, para ponderarem as reais
vantagens e desvantagens dessas medidas (DIEFFENBACH, FAUCI, 2009).
A transmissão sexual é a principal via de disseminação do vírus entre adultos.
Assim, o controle do HIV relaciona-se à prática do sexo mais seguro (KAPIGA,
HAYESB, BUVE ́, 2010). O uso regular do preservativo em todas as relações
sexuais reduz significativamente o contágio sexual, evitando ainda outras DST e a
gravidez não planejada (HEIKINHEIMO, LAHTEENMAKI, 2009; KIGBU, NYANGO,
2009). Sua aceitação e adoção é uma questão preocupante, principalmente nos
países com alta prevalência da infecção pelo HIV. Esforços para a conscientização
da necessidade de seu uso consistente, juntamente com sua disponibilização
precisam ser intensificados para que os resultados sejam satisfatórios (ROSS,
2010).
A transmissão vertical do HIV pode ser reduzida e até mesmo evitada a partir
da combinação de algumas medidas durante a gestação, parto e pós-parto. O prénatal representa uma importante estratégia para a detecção de novos casos nessa
população. O programa permite a triagem sorológica para o HIV e assim proporciona
o diagnóstico e tratamento precoces (CDC, 2006). O risco desse tipo de transmissão
é reduzido também pela realização da cesariana eletiva, antes do início do trabalho
de parto e ruptura de membranas (KOURTIS, BULTERYS, 2010).
Evidências sugerem que a eficácia da terapia antirretroviral para a prevenção
da infecção do concepto durante a gravidez, está relacionada à precocidade de sua
instituição, que deve se prolongar inclusive durante a amamentação, nos casos em
que ela for essencial. A profilaxia do recém-nascido também continua durante as
suas primeiras semanas de vida (KOURTIS, BULTERYS, 2010). O aleitamento
materno em países com recursos limitados é responsável por mais de um terço da
transmissão do HIV de mãe para filho. Como nestes países a amamentação é fator
decisivo para a sobrevivência infantil, estudos têm sido realizados na busca de
soluções para esse impasse (FOWLER et al., 2010).
O uso de drogas sempre teve papel importante na manutenção da epidemia. A
transmissão parenteral a partir desses hábitos ocorre através do compartilhamento
de seringas/equipamentos. Os programas de substituição de seringas sustentam a
prevenção da infecção por essa via entre os UDI. Cabe ressaltar que a redução dos
42
casos nesse grupo deve contemplar medidas educativas, que incentivem mudanças
comportamentais (BASTOS, 2010; KURTH et al., 2011).
A melhor forma de se evitar a transmissão ocupacional pelo vírus é a não
exposição dos profissionais ao sangue ou fluídos corpóreos dos pacientes. Todavia,
acidentes ocupacionais existem e a profilaxia pós-exposição é um elemento
importante para a proteção destes profissionais. Recomenda-se que a profilaxia seja
iniciada em até 72 horas após a ocorrência do evento sendo mantida por cerca de
quatro semanas, quando tolerada. A escolha do esquema relaciona-se com o tipo e
gravidade da exposição (CDC, 2005).
Tratar outras DST também é uma das medidas indiretas de controle da
epidemia visto que essas são facilitadoras para a infecção pelo HIV (KALLINGS,
2008).
2.9. Sistemas de Informações em Saúde
Para o planejamento e execução de estratégias de saúde é fundamental a
análise das informações disponíveis pelos sistemas de informações existentes. A
criação de indicadores facilita a quantificação e avaliação dos dados disponíveis,
possibilitando o monitoramento das condições de saúde da população e suas
tendências (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2001).
Os dados da saúde no Brasil são captados por uma ampla rede de sistema de
informação que disponibiliza on line grande parte destas informações para os
gestores e a sociedade. Contudo a qualidade dos dados dessa rede não é avaliada
de forma regular e sistematizada pelo Ministério da Saúde o que dificulta a análise
da real situação de saúde da sociedade brasileira (LIMA et al., 2009).
O
Departamento
Nacional
de
DST,
Aids
e
Hepatites
Virais
(DN-
DST/aids/hepatites) realiza a vigilância epidemiológica da aids a partir das
notificações compulsórias registradas no SINAN, e no Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM). Ele conta ainda com dois sistemas específicos do Departamento:
Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e Sistema de Controle
Logístico de Medicamentos (SICLOM) que são relacionados aos
citados
anteriormente através da técnica de relacionamento probabilístico, segundo um
algoritmo pré-estabelecido (Figura 5), implementando a vigilância da aids
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010c; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010d). O DN-
43
DST/aids/hepatites possui também o Sistema de Informação dos Centros de
Testagem e Aconselhamento (SI-CTA) o qual não foi incorporado ao sistema de
vigilância.
Figura 6. Algoritmo de relacionamento de banco de dados
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010d
2.9.1. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é um sistema
desenvolvido na década de 90 que permite a coleta e o processamento dos dados
sobre doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação
compulsória possibilitando assim o diagnóstico da ocorrência de um evento na
população contribuindo para a identificação da situação epidemiológica de
determinada localidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008b).
Em se tratando de aids, as informações que alimentam o SINAN são
provenientes das notificações de casos da doença, obedecendo a definição de
casos adotada pelo Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).
Desde o surgimento da aids muitos critérios de definição de casos foram
propostos e redefinidos. Os primeiros critérios foram estabelecidos pelo CDC em
setembro de 1982 e em 1987 o Ministério da Saúde do Brasil adotou sua primeira
definição. Desde então, no país sucessivas revisões foram realizadas com intuito de
44
adequar os critérios à realidade nacional, além de aumentar a sensibilidade,
garantindo o registro de casos o mais precoce possível e a redução da
subnotificação. A inserção da contagem de linfócitos T CD4+ (menor do que 350
células/mm3) entre os critérios de definição permitiu então um grande avanço no que
se refere a captação de casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
De tal forma, desde 2003, o SINAN admite também a notificação, para fins de
vigilância epidemiológica, dos casos de infecção pelo HIV, que apresentem taxas de
linfócitos T-CD4+ abaixo de 350 células/mm3. Cabe destacar que os CDC
estabelecem como caso de aids uma contagem de T CD4+ menor ou igual a 200
células/mm3 e que o valor adotado no Brasil para fins epidemiológicos é justificado
pela intenção de aumentar a sensibilidade da notificação dos casos (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2004).
A vigilância da infecção pelo HIV/aids enfrenta alguns problemas quanto a
demora no repasse das informações provenientes das fontes notificadoras locais
e/ou regionais ao nível nacional o que não invalida o sistema que contabiliza os
casos desde o início da epidemia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010c).
2.10. Relacionamento probabilístico de dados
O linkage ou pareamento de bases de dados é a metodologia adotada para
encontrar um registro relativo a uma mesma pessoa/entidade disponível em duas ou
mais fontes, ou duplicados em uma mesma fonte (SILVA et al., 2006). Esse
relacionamento pode ser determinístico, quando é realizado por meio de um
identificador unívoco para ambos os bancos ou probabilístico, que utiliza
simultaneamente variáveis comuns nas bases a serem pareadas e identifica assim
quais possíveis pares de registros referem-se ao mesmo indivíduo (MACHADO,
HILL, 2004). O pareamento de registros de dados constitui-se numa ferramenta da
vigilância epidemiológica que permite melhorar a qualidade das bases de dados por
meio da identificação e remoção dos registros duplicados indevidamente.
O uso do linkage amplia a eficácia do monitoramento das doenças. No Brasil a
utilização dessa tecnologia no acompanhamento da aids ainda é incipiente o que
mostra a importância de se otimizar a coleta e o repasse das informações
pertinentes ao problema, de modo a garantir qualidade às bases de dados a serem
linkadas (GÓES, COELI, MEDRONHO, 2006; LUCENA et al., 2006).
45
Os sistemas de informações em saúde brasileiros não dispõem de um campo
unívoco para a realização do relacionamento determinístico dos mesmos. De tal
forma o linkage probabilístico é a forma mais ágil e segura para a efetivação do
método (COELI, CAMARGO JR., 2002).
Os bancos de dados que compõem o sistema de vigilância epidemiológica da
infecção pelo HIV em nosso país não são integrados automaticamente o que limita o
monitoramento da tendência da epidemia. A implementação da vigilância
epidemiológica a partir da utilização das informações provenientes dos grandes
bancos de dados é uma necessidade premente no acompanhamento deste agravo
(SOUZA, 2007).
Diante da necessidade de redução da subnotificação dos casos e o ajuste das
tendências temporais da doença, o Ministério da Saúde em 2008 buscou relacionar
os dados do SINAM com os de outros sistemas de informações, sendo esses:
SICLOM; SISCEL e SIM, utilizando o software Reclink®a, um programa específico
para essa integração das fontes de dados. Para tal foram elaboradas chaves para a
identificação de duplicidades no SINAN, no SIM e no SISCEL/SICLOM a partir de
procedimentos probabilísticos nas bases de dados, que utilizam campos comuns
com o objetivo de identificar os registros pareados que pertencem ao mesmo
indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007b).
A integração da base de dados destes diferentes sistemas de vigilância
permite, além da busca da subnotificação, a comparação das informações sobre
aids e a infecção pelo HIV e, consequentemente, melhor compreensão da dinâmica
dessas epidemias, além de possibilitar estimativas de sua evolução (CAVALCANTE,
RAMOS JR., PONTES, 2005; LUCENA et al., 2006).
46
3.
OBJETIVOS
3.1. Geral
•
Analisar o perfil epidemiológico de mulheres com infecção pelo HIV/aids
atendidas em hospitais de referência de Goiânia.
3.2. Específicos
1. Identificar a cobertura dos serviços de referência na captação dos casos de
aids notificados no Estado de Goiás;
2. Determinar a razão de sexo entre indivíduos vivendo com HIV segundo o ano
de diagnóstico;
3. Descrever
a
população
feminina
segundo
as
características
sociodemográficas, comportamentais e clínico-laboratoriais no momento do
diagnóstico;
4. Analisar os fatores de risco para desenvolver aids na população de mulheres
estudadas em Goiás;
5. Estimar o tempo de progressão da infecção pelo HIV até o desenvolvimento
de aids em um ano;
6. Estimar o tempo de progressão para o óbito em 12 meses segundo o ano do
diagnóstico de infecção pelo HIV;
7. Analisar a sobrevida em um ano após o diagnóstico do HIV em mulheres de
acordo com a primeira contagem de linfócitos T-CD4+.
47
4.
METODOLOGIA
4.1. Delineamento do estudo
Estudo de coorte retrospectivo com registros de indivíduos infectados pelo HIV.
Estudo de coorte é aquele no qual um grupo de pessoas que possui
determinadas características semelhantes é observado em um dado período de
tempo para identificação e análise de um desfecho. Estudos que utilizam esse tipo
de grupo partem da exposição em direção ao desfecho e determinam que os
constituintes do grupo não podem em algum instante, ter sofrido o desfecho antes
do recrutamento (NETO, LOTUFO, 2005).
Os estudos de coorte podem ser prospectivos, partindo do presente em direção
ao futuro ou retrospectivos, a partir de seleção e análise de registros passados e
acompanhamento do evento até o presente. O grupo deve ser observado por um
período considerável de tempo para que seja possível a clara manifestação do
acontecimento (FLETCHER, FLETCHER, 2006).
4.2. População alvo, local e período do estudo
A população de indivíduos infectados pelo HIV/aids foi selecionada a partir dos
registros em prontuários médicos de pacientes de ambos os sexos atendidos em
dois hospitais públicos de referência do Estado de Goiás, localizados em Goiânia, no
período de 01/01/2003 a 31/12/2008:
•
Hospital de Doenças Tropicais (HDT) é uma instituição pública estadual
e atende usuários do Sistema Único de Saúde sendo considerado hospital de
referência para atendimento clínico, tanto ambulatorial como para internação, de
portadores da infecção pelo HIV/aids em Goiás;
•
Hospital Materno-Infantil (HMI), também estadual e que é referência
para o atendimento e acompanhamento clínico - obstétrico de gestantes com
sorologia positiva para o HIV.
4.3. Critérios de elegibilidade e de exclusão dos registros
Foram elegíveis prontuários de pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico
de infecção pelo HIV/aids firmado no período de 01/01/2003 a 31/12/2008, sem
tratamento antirretroviral prévio e com idade igual ou superior a 13 anos no
48
momento do diagnóstico sorológico. Foram excluídos os registros sem a data do
diagnóstico da infecção pelo HIV.
4.4. Coleta de dados
O estudo foi conduzido em três etapas:
• Primeira etapa: Busca ativa nos Serviços de Arquivo Medico (SAME), em
prontuários dos pacientes diagnosticados com infecção pelo HIV ou com aids
durante o período determinado para o estudo com posterior construção de um banco
de dados relacionado (BDR), com esses registros ou seja o BDR-1. No HDT, os
dados foram coletados também no arquivo morto, setor que abriga os prontuários de
pacientes que obituaram ou que foram atendidos pela última vez há mais de cinco
anos.
Foram coletados dados de homens e mulheres objetivando o cálculo da razão
de sexo. Os indivíduos diagnosticados em 2008 foram excluídos da análise de
sobrevida porque foram seguidos por menos de 12 meses. A coleta de dados foi
realizada entre os meses de maio e novembro de 2009.
• Segunda etapa: Preparação do segundo banco (BDR-2), a partir do
relacionamento (linkage) dos casos notificados ao SINAN que estavam divididos em
duas plataformas diferentes de dados (SINAN e SINAN-NET) no mesmo período do
estudo. Foram utilizados diretamente os bancos de dados da Secretaria Estadual de
Saúde – SES/GO para minimizar o efeito do retardo de notificação existente entre o
nível estadual e nacional.
• Terceira etapa: Nessa etapa o BDR-2 foi linkado ao BDR-1, constituído pelos
dados provenientes da revisão dos prontuários médicos dos hospitais de referência
para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar de infectados pelo HIV/aids em Goiás,
a fim de evidenciarmos a cobertura dos serviços de referência em relação a
captação dos casos dentro do nosso estado. Dessa forma tivemos um terceiro
banco – Banco de dados Final - o qual foi analisado.
4.4.1. Fonte de informação
Nessa pesquisa as fontes de informação foram constituídas pelos registros de
prontuários dos hospitais de referência HDT e HMI e da base de dados do SINAN de
Goiás.
49
4.5. Instrumentos de coleta de dados
Com a finalidade de garantir a privacidade dos sujeitos da pesquisa e a
confidencialidade, os dados foram coletados em dois instrumentos distintos para
evitar a identificação dos mesmos. O primeiro tratou-se de um questionário padrão
(Apêndice A), no qual foram registradas as iniciais do nome do paciente e de sua
mãe juntamente com o número do prontuário, além dos dados sóciodemográficos,
comportamentais,
clínico-laboratoriais,
terapia
antirretroviral
e
seguimento
terapêutico. No segundo instrumento (Apêndice B) foram registrados os nomes
completos do paciente e da mãe juntamente com o número do prontuário.
4.6. Variáveis do estudo
•
Variáveis de desfecho: aids e óbito por aids
Para efeitos deste estudo, foram adotados os critérios de definição de casos de
aids CDC adaptado e Rio de Janeiro/Caracas estabelecidos pelo Ministério da
Saúde do Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) com exceção do parâmetro
“contagem de linfócitos T-CD4+ ≤ 350 células/mm3”, quando este aparecia como
único critério de notificação, uma vez que isoladamente não é condição laboratorial
definidora de aids. Considerou-se, então, caso de aids indivíduo com evidência
laboratorial da infecção pelo HIV (dois testes de triagem para detecção de anticorpos
anti-HIV ou um confirmatório reagente) e linfócitos T-CD4+ igual ou menor que 200
células/mm3 e/ou a manifestação de doenças definidoras deste quadro (CDC, 1992;
CDC, 2008).
Os casos com investigação epidemiológica inconclusiva e com menção a aids
(ou termos correlatos) em algum dos campos da Declaração de Óbito (DO) ou com
menção a infecção pelo HIV (ou termos equivalentes) em algum dos campos da DO,
além de doença(s) associada(s) à infecção pelo HIV foram considerados óbito por
aids (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Os demais casos com testes laboratoriais de triagem e confirmatórios
reagentes para o vírus, assintomáticos e com valores de T-CD4+ maiores que 200
células/mm3 foram assumidos como soropositividade ao HIV, ou seja, indivíduo livre
de aids, como preconizado internacionalmente (CDC, 1992; CDC, 2008).
50
• Variáveis sóciodemográficas: sexo (para a razão de sexo), idade, município
de residência, estado civil, escolaridade, cor, gestação, ano do diagnóstico do HIV.
• Variáveis comportamentais: vida sexual ativa; prática sexual desprotegida;
ser ou não profissional do sexo, uso de drogas.
• Variáveis clínico-laboratoriais: data do primeiro teste anti-HIV positivo; data
do diagnóstico de aids; data e valor das contagens de linfócitos T-CD4+; diagnóstico
médico de doenças oportunistas definidoras de aids, segundo Critério CDC
Adaptado ou Rio de Janeiro/Caracas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
• Variáveis relacionadas aos fatores de risco: Contagem de linfócitos TCD4+; presença de doenças oportunistas definidoras de aids e presença de coinfecções.
4.7. Linkage e validação dos bancos de dados
4.7.1. Preparação das fontes de informação
Para a otimização e a redução da ocorrência de erros no momento do
pareamento das fontes de informação realizou-se um processo de preparação do
campo nome em todos os bancos de dados. Nesse processo algumas
padronizações foram adotadas, tais como transformação de todos os caracteres
para caixa alta, eliminação de “espaços” em branco antes do nome e excedentes
entre os nomes. Criou-se ainda uma variável, denominada nome_modificado, em
todos os bancos. Esse novo campo foi gerado a partir da cópia da variável “nome” e
transferida para o programa Office Excel para a identificação de inconsistências.
Realizou-se então uma rotina de substituições de alguns componentes dos nomes
(Quadro 2):
51
Quadro 2. Lista de substituições de caracteres, letras e nomes efetuadas na
padronização do campo nome_modificado em todos os bancos de dados
Caracteres originais
Dois “espaços”
Substituições
Caracteres originais
Substituições
Um “espaço”
LL
L
Ponto final
Nenhum caractere
TT
T
Vírgula
Nenhum caractere
CC
C
Á
A
FF
F
É
E
TH
T
Í
I
PH
F
Ó
O
JH
J
Ú
U
NN
N
Â
A
Christian
Cristian
Ê
E
Christiane
Cristiane
Ô
O
Creusa
Cleusa
Ã
A
Gessica
Jessica
Õ
O
Geremias
Ç
C
Marco “espaço”
Marcos
Z
S
Marcus
Marcos
W
V
Lourdes
Lurdes
Y
I
Moraes
Morais
K
C
Victor
Vitor
“espaço” de “espaço”
“espaço”
Hailton
Ailton
“espaço” da “espaço”
“espaço”
Hamilton
“espaço” das “espaço”
“espaço”
Helen
“espaço” do “espaço”
“espaço”
Heliana
“espaço” dos “espaço”
“espaço”
Hilda
Jeremias
Amilton
Elen
Eliana
Ilda
4.7.2. Construção do BDR-1
Para a obtenção do BDR-1 relativo aos dados dos registros das unidades de
referência relacionou-se o banco com as informações do questionário padrão (Banco
dos Questionários) e o banco com os nomes completos do paciente e da mãe e o
número do prontuário (Banco de Nomes) (Figura 7). Os dados do “Banco dos
Questionários” estavam disponíveis primariamente no software Office Access e os
do “Banco de Nomes” no Office Excel. Antes da união destes, os dados foram
importados para o software Statistical Package for the Social Science (SPSS). Para
52
o relacionamento dos mesmos criou-se chaves de ligação utilizando as variáveis ano
de registro e número do prontuário.
Posteriormente à união dos bancos iniciou-se uma procura por registros
duplicados (pessoas que possuíam mais de um registro na mesma unidade ou
mulheres que possuíam registros em ambas as unidades). Os casos suspeitos foram
comparados por meio de três varreduras: análise de pares de nomes (paciente e
mãe), análise dos pares de data de nascimento e análise de pares dos nomes
modificados. Considerou-se como duplicidades verdadeiras aquelas que possuíam
as variáveis, nome do paciente, nome da mãe e data de nascimento, idênticas ou
aquelas com algum erro de grafia no nome do paciente, mas com as duas outras
variáveis iguais. Os casos identificados como duplicados foram excluídos.
SAME - HOSPITAIS DE REFERÊNCIA
HDT
HMI
Leitura dos prontuários
Exclusão dos não elegíveis
Coleta dos dados
Banco dos
questionários
Banco de
nomes
Linkage
Banco
HDT/HMI
Exclusão de casos duplicados
BDR–1
Banco HDT/HMI
Figura 7. Fluxograma do processo de formação do BDR–1
53
Efetuou-se a conferência manual, caso a caso, dos sujeitos duplicados nos
quais os critérios anteriormente citados não foram suficientes para identificar a
duplicidade com segurança. Confirmada a existência de dois ou mais registros de
uma mesma pessoa conservou-se o registro com diagnóstico de HIV mais antigo.
Dados inexistentes no registro mais antigo foram recuperados de registros
posteriores quando disponíveis.
4.7.3. Formação do BDR-2
Após o ano de 2006 uma nova plataforma do SINAN foi criada – SINAN-NET e
as informações sobre aids foram disponibilizadas ao sistema a partir de uma nova
folha de notificação de agravos. Para a união dos dados destes dois sistemas,
realizou-se também uma preparação dos campos de dados. Com o objetivo de
reduzir a ocorrência de erros durante o processo de pareamento realizou-se um
processo de conferência, adequação das variáveis e exclusão das que não seriam
relevantes ao estudo.
SINAN
SINAN
SINAN-NET
(até jan/ 2006)
(após jan/ 2006)
EXCLUSÃO DE CASOS DUPLICADOS
SINAN-NET
SINAN
Linkage
SINAN + SINAN-NET
Exclusão de casos duplicados
BDR–2
(SINAN final)
Figura 8. Fluxograma do processo de formação do BDR–2
54
Os arquivos disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado (SINAN e
SINAN-NET) encontravam-se no formato “dbf” e inicialmente foram transferidos
separadamente para o SPSS. Em ambos criou-se a variável “nome_modificado” que
foi preparada no Excel como descrito anteriormente. Um processo de deduplicação
foi executado para a verificação da existência de casos duplicados, sendo assim
comparados e excluídos quando confirmados. A formação deste banco pode ser
visualizada na Figura 8. A vinculação dos dois bancos (linkage) foi efetuada após
minuciosa conferência e, o banco resultante (BDR-2) foi então investigado para a
presença de registros duplicados sendo removidas quando existentes.
4.7.4. Formação do Banco Final
A união do BDR-1 e do BDR-2 deu origem ao Banco Final, o qual também foi
investigado para a presença de registros duplicados sendo removidos quando
identificados. Concluída a formação do Banco Final, excluiu-se deste todas as
variáveis que pudessem identificar nominalmente os sujeitos do estudo, esse então
foi processado e analisado. A Figura 9 esquematiza esse processo.
BDR-1
BDR-2
Linkage
Exclusão de casos duplicados
Banco de dados
Final Figura 9. Fluxograma do processo de formação do Banco final
55
4.8. Processamento e análise estatística dos dados
Primeiramente, as variáveis foram analisadas de forma descritiva por meio de
freqüências absolutas e relativas e de medidas de tendência central. As variáveis
numéricas foram expressas em valores mínimos e máximos, média, desvio-padrão,
mediana e intervalo interquartil (IIQ). Teste exato de Fischer e Teste de MannWhitney foram utilizados quando indicados. As medidas de associação foram
constituídas pelo Risco Relativo (RR), com intervalo de confiança de 95% (IC 95%).
Os fatores que se apresentaram significativos na análise univariada com p ≤ 0,10
foram submetidos à análise de riscos proporcionais de Cox multivariada usando o
Harzard Risk (HR) como medida de efeito com seus respectivos intervalos de
confiança (IC95%). Foram considerados significativos resultados cujo nível descritivo
(valores de p) foram iguais ou inferiores a 5%.Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier
estratificadas por subgrupos de T-CD4+ foram utilizadas para expressar a sobrevida
em um ano após o diagnóstico de infecção pelo HIV (óbito e não óbito) e
comparadas pela estatística de log-rank (p≤0,05). Os dados foram analisados com
uso do software SPSS versão 13.0 para Windows e apresentados em forma de
tabelas e gráficos, incluindo o gráfico no modelo Boxplot.
4.9. Procedimentos éticos
4.9.1. Comitê de Ética
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital de Doenças Tropicais e do Hospital Materno-Infantil sob o número de
protocolo 013/2009 (Anexo 1) e 046/2009 respectivamente (Anexo 2).
4.9.2. Sigilo dos dados coletados
A identificação do paciente e de sua mãe foi realizada somente pelas iniciais
dos nomes no questionário padrão. O segundo instrumento que continha o nome
completo de ambos e o número do prontuário era transportado e arquivado
separadamente do primeiro. No intuito de garantir o total sigilo das informações os
dois instrumentos foram transportados por pesquisadores diferentes e em momentos
diferentes. Na impossibilidade de tal condição um dos instrumentos era mantido no
56
serviço em local próprio até que o outro pesquisador pudesse transportar os
questionários.
4.9.3. Participantes da coleta de dados
Para a coleta dos dados foi criada uma equipe composta por duas auxiliares de
pesquisa, duas alunas de iniciação cientifica e duas alunas de pós-graduação.
Todas as participantes eram enfermeiras ou acadêmicas de enfermagem e foram
orientadas quanto ao sigilo das informações coletadas e treinadas para a
execução do trabalho proposto.
4.10. Financiamento e Mecanismos gerenciais de execução
Este projeto contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG (Chamada 02/2008 – Protocolo
200.810.267.000.293) e integra a “Rede Goiana de Pesquisa em Agravos
Transmissíveis com Ênfase em seus Aspectos Epidemiológicos, Preventivos
e Diagnósticos”. Envolveu parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de
Goiás (SES-GO) por meio da Superintendência de Políticas de Atenção Integral a
Saúde (SPAIS) que congrega a Gerência de Vigilância Epidemiológica e a
Gerência de Desenvolvimento das Ações e do Sistema de Saúde de Goiás, em
especial a Coordenação Estadual de DST/HIV/aids e os hospitais de referência
para o atendimento das pessoas vivendo com HIV/aids: HDT e HMI.
57
5.
RESULTADOS
5.1. Descrição inicial dos dados
A princípio, os dados foram descritos considerando-se a população de homens
e mulheres que foram incluídos no estudo. Assim, foram atendidos pela primeira vez
nos serviços de referência, durante o período determinado na pesquisa, 4.062
(homens e mulheres) indivíduos os quais tiveram seus prontuários lidos e avaliados.
Desses, foram excluídos 1.297 registros que não atendiam aos critérios de
elegibilidade
Os motivos da exclusão são mostrados na Tabela 1. Dos registros excluídos,
40,2% era de crianças expostas ao HIV por transmissão vertical e 26,7% de
indivíduos com diagnóstico de HIV fora do período do estudo.
Tabela 1. Número de prontuários excluídos do HDTI e HMIII segundo ano e motivo,
no período de 2003 a 2008. Goiânia, 2010
A.M
Total
113
07
67
01
08
52
521
261
48
46
36
44
346
16
23
28
19
16
134
04
06
06
10
03
05
35
177
183
242
204
126
125
1297
2003
2004
2005
2006
< 13 anos de idade
TARVIV anterior
Diagnóstico fora do
período determinado
Dados insuficientes
93
44
78
36
79
39
83
82
84
45
43
18
14
Infecção não confirmada
01
Total
240
I
HDT=Hospital de Doenças Tropicais
HMI=Hospital Materno-Infantil
II
III
2008
Motivos da exclusão
III
2007
A.M= Arquivo Morto
TARV= Terapia Antirretroviral
IV
Atenderam aos critérios de elegibilidade definidos no estudo, 2.765 registros
sendo 2.547 do HDT e 218 do HMI. Após a digitação dos dados foram excluídos
mais 135 registros devido à duplicidade de casos ou de digitação, resultando em
2.630 registros no BDR-1 a ser relacionado ao banco do SINAN.
Nesse mesmo período foram notificados ao SINAN, 5.912 casos de aids em
Goiás, segundo critérios de notificação do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2004). Desse total, 4.558 foram provenientes do sistema SINAN Windows e
1.354 vieram do sistema SINAN versão 4.0 (SINAN-NET), que constituíam dois
bancos de dados distintos. Foram excluídos antes do relacionamento desses dois
58
bancos, 870 registros de notificação identificados como duplicados, sendo 734 do
SINAN Windows e 136 do SINAN-NET. Após a união das duas versões foram
excluídos mais 255 registros considerados como duplicados, que haviam sido
inseridos nos dois bancos, resultando num banco com 4.787 sujeitos (Figura 10).
Após essa etapa, o BDR-1 foi linkado ao BDR-2 resultando em 5.357 registros.
Desse banco, excluíram-se ainda 1.563 casos, sendo 55,0% por apresentarem a
data do diagnóstico de HIV anterior a 2003 e os demais por não possuírem a data do
diagnóstico de infecção pelo HIV, totalizando 3.794 registros dentro dos critérios de
elegibilidade. A Figura 10 descreve esquematicamente todas as etapas para a
formação do banco de dados final analisado neste estudo.
59
Prontuários
HDT/HMI
N=4.062
Prontuários lidos e excluídos por não
atenderem os critérios de inclusão
Banco com nomes
completos + n° prontuário
Banco dos
questionários
Linkage 1
SINAN
N=4.558
HDT/HMI
N=2.765
SINAN NET
N=1.354
EXCLUSÃO DE CASOS DUPLICADOS
HDT/HMI
(BDR 1)
N=2.630
Excluídos: 135
Duplicados:
• Digitação
• Casos
SINAN
N=3.824
SINAN NET
N=1.218
Linkage 2
Excluídos:
255 duplicados
SINAN
(BDR 2)
N=4.787
Linkage 3
HIV antes de 2003:
• SINAN + SINAN NET=858
N=5.357
Excluídos
Sem data HIV:
• HDT=16
• HMI=5
• SINAN + SINAN NET=684
Banco final
N=3794
SINAN final
HDT/HMI
HDT/HMI
N=2607
Homens
N=1529
Mulheres
N=1078
HIV
N=216
Figura 10. Fluxograma dos passos para formação do banco final
Tempo de
seguimento de
12 meses
AIDS
N=862
60
A Figura 11 mostra os resultados do processo de linkage entre os casos
atendidos nos hospitais de referência e os casos notificados ao SINAN e a
intersecção dos bancos. No processo de pareamento evidenciou-se que 63,4%
(2.057/3.244) dos casos notificados ao SINAN tiveram em algum momento uma
passagem pelos hospitais. Entretanto, dos 2.607 casos identificados no banco dos
registros hospitalares, 21,1% (550/2.607) não apresentavam nenhuma informação
no SINAN.
SINAN
N=3.244
HOSPITAIS
N= 2.607
N=1.187
N=2.057
(63,4%)
N=550
BANCO FINAL
N= 3.794
Figura 11. Total de casos notificados ao SINAN e atendidos em duas unidades de
referência de Goiânia, no período de 2003-2008, após linkage dos bancos. Goiânia,
2010.
61
5.2. Descrição da população do estudo
O Gráfico 1 mostra a razão de sexo segundo ano de diagnóstico da infecção
pelo HIV e aids. Mulheres com infecção corresponderam a 38,9% do total de
registros válidos (1.476/3.794). A razão de sexo homem:mulher (H:M) considerandose todos os indivíduos com diagnóstico de infecção pelo HIV, sintomáticos e
assintomáticos, não diferiu da razão entre os que apresentavam aids, à exceção de
2007 quando a razão H:M entre os indivíduos com aids foi 21% maior (1,9 vs 1,5).
No período, a razão de sexo H:M variou de 1,3 em 2006 a 1,8 em 2008 e no geral
correspondeu a 1,6.
Gráfico 1. Razão de sexo segundo ano de diagnóstico de HIV e segundo ano de
diagnóstico de aids entre pacientes atendidos em duas unidades de referência de
Goiânia, no período de 2003-2008. Goiânia, 2010.
Com a finalidade de compreender a dinâmica da infecção pelo HIV nas
mulheres atendidas nas unidades de referência, optou-se por considerar na análise
somente os dados do HDT e HMI provenientes do banco final. O relacionamento dos
bancos objetivou estimar a contribuição dos serviços de referência quanto à
captação dos casos, e também agregar informações e aumentar a confiabilidade
destas a partir do pareamento dos registros.
A distribuição das principais características sócio-demográficas das 1.078
mulheres atendidas nas duas unidades de saúde no momento do arrolamento é
62
apresentada na Tabela 2. A idade variou entre 13 e 80 anos e a mediana foi maior
nas mulheres atendidas no HDT em relação às atendidas no HMI (p<0,000). As duas
unidades atenderam percentuais semelhantes de mulheres provenientes de
municípios diferentes de Goiânia (65,9% vs. 58,9; p=0,292). Mulheres “não casadas”
compreenderam 56,3% da população feminina estudada e também se distribuíram
semelhantemente nos serviços (p=0,693). Quanto à escolaridade, mulheres
gestantes possuíam maior nível de escolaridade (69,8%; p=0,000). Mais de 80% das
mulheres se autodenominaram pardas ou negras e o uso de drogas ilícitas foi
referido por 57,4% das pacientes, sendo que dentre as admitidas no HMI o uso de
drogas foi verificado em 75,4% dos casos (p=0,002).
63
Tabela 2. Características das mulheres infectadas pelo HIV/aids atendidas em duas
unidades de referência de Goiânia, no período de 2003-2008. Goiânia, 2010
Características
Unidade de referência
a
Idade
Média (dp)
Mediana (min-max; IIQ)
Município de residência
Goiânia
Não Goiânia
Totald
Estado civil
Casado
Não casado
Totald
Anos de escolaridade
< 8 anos
>= 8 anos
Totald
Cor branca
Sim
Não
Totald
Usuário de droga
Sim
Não
Totald
Ano do diagnóstico do HIV
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
Aids
Sim
Não
Total d
Primeiro CD4
<= 200
201-350
>=351
Total d
Doença oportunista
Sim
Não
Total d
a
No primeiro atendimento
b
Total (N=1078)
HDT (n=991)
n
%
HMI (n=87)
n
%
34,8 (11,4)
33 (14-80; 26-42)
26,1 (6,5)
26 (13-46; 21-31)
n
p
%
0,000b
267
515
782
34,1
65,9
23
33
56
41,1
58,9
290
548
838
34,6
65,4
0,292
422
541
963
43,8
56,2
15
22
37
40,5
59,5
437
563
1000
43,7
56,3
0,693
468
367
835
56,1
43,9
26
60
86
30,2
69,8
494
427
921
53,6
46,4
0,000
165
721
886
18,6
81,4
23
61
84
27,4
72,6
188
782
970
19,4
80,6
0,052
484
381
865
55,9
44,1
52
17
69
75,4
24,6
536
398
934
57,4
42,6
0,002
164
160
177
192
174
124
991
16,5
16,1
17,9
19,4
17,6
12,5
20
16
10
27
12
02
87
23,0
18,4
11,5
31,0
13,8
2,3
184
176
187
219
186
126
1078
17,1
16,3
17,4
20,3
17,2
11,7
0,000
537
323
860
62,4
37,6
30
26
56
53,6
46,4
567
349
916
61,9
38,1
0,000
275
159
344
778
35,4
20,4
44,2
01
07
31
39
2,6
17,9
79,5
276
166
375
817
33,8
20,3
45,9
0,000
349
540
889
39,3
60,7
01
05
06
16,7
83,3
350
545
895
39,1
60,9
0,49c
Teste de Mann-Whitney
c
Teste exato de Fisher
d
excluídos os sem informação
64
A distribuição dos casos segundo o ano do diagnóstico de HIV foi heterogênea
nesse grupo, variando de 2,3% em 2008 a 31% em 2006. Mais de 60% (567) das
mulheres chegaram ao serviço com diagnóstico de aids simultaneamente ao de
infecção e isso foi mais relevante entre as atendidas no HDT (62,4% vs. 53,6;
p=0,000).
Em relação a primeira contagem de linfócitos T-CD4+, a maioria dos resultados
disponíveis apresentavam valores inferiores a 350 células/mm3 (54,1%) sendo que
desses, quase 34% eram menores ou iguais a 200 células/mm3. Ressalta-se que
dentre as mulheres atendidas no HMI, aproximadamente 80% apresentaram T-CD4+
>350 células/mm3 (p=0,000).
Relato de presença de uma ou mais doença oportunista (DO) ocorreu em
39,1% da população feminina. As principais DO são mostradas na Tabela 3.
Síndrome consuptiva foi a mais prevalente com 32,4% dos casos, seguida pela
candidíase esofagiana (23,4%) e neurotoxoplasmose (22,0%).
Tabela 3. Doenças oportunistas identificadas em mulheres atendidas em duas
unidades de referência de Goiânia, no período de 2003-2008. Goiânia, 2010
Doença oportunista (DO)
n
%
Candidíase esofagiana
99
23,4
Citomegalovirose esofagiana
06
1,4
Isosporíase intestinal
07
1,6
Neurocriptococose
20
4,7
Neurotoxoplasmose
92
22,0
Pneumocistose
76
18,0
137
32,4
10
2,4
Síndrome consuptiva
Tuberculose extrapulmonar
As informações referentes às variáveis comportamentais associadas à
transmissão do HIV, não estavam disponíveis em sua maioria nos prontuários,
inviabilizando a sua utilização na análise uni e multivariada. No total de registros,
55,0% das pessoas não informaram se possuíam vida sexual ativa e em 63,3 %
desses não possuíam relatos quanto à prática sexual. Entretanto, daqueles registros
com informações quanto à prática sexual (361/396) 91,1% afirmavam prática do
sexo desprotegido.
65
5.2.1. Desenvolvimento de aids em um ano
5.2.1.1.
Descrição das características relacionadas a aids
O desfecho aids foi avaliado em até doze meses após o diagnóstico da
infecção pelo HIV. Das 349 mulheres que ingressaram na coorte sem aids, 328
foram seguidas e incluídas na fase analítica dos dados. Após um ano de
seguimento, 83% delas desenvolveram aids.
A Tabela 4 mostra a análise uni e multivariada das principais características
relacionadas ao desenvolvimento de aids no período de um ano nessas mulheres.
Na análise univariada estiveram estatisticamente associados ao desenvolvimento de
aids possuir baixo nível de escolaridade (RR=1,16; p=0,006), e ser solteira
(RR=1,12, p=0,049). Ser usuária de droga e ter feito o diagnóstico do HIV em 2007
foram considerados fatores de proteção para o desenvolvimento de aids nesse
grupo na análise uni e multivariada.
Na análise multivariada a condição de solteira se manteve estatisticamente
significante como fator de risco para o desenvolvimento de aids em um ano em
relação as mulheres casadas (HR=1,32; p=0,023).
66
Tabela 4. Análise univariada e multivariada das características de 349 mulheres seguidas
por um período de 12 meses após a data de diagnóstico do HIV segundo a presença ou
não do desfecho aids. Goiânia, 2010
Variáveis
AIDS
RRI
(95% IC)
p
HRII
(95% IC)
p
SIM
NÃO
n (%)
n (%)
218 (62,3)
75 (59,8)
0,85
0,78 - 0,93
0,001
65 (19,6)
26 (22,8)
0,95
0,82 - 1,10
0,473
ns
Escolaridade < 8 anos 177 (54,1)
38 (38,4)
1,16
1,04 - 1,29
0,006
ns
75 (20,4)
27 (22,0)
0,98
0,86 - 11,11
0,721
ns
Solteira
181 (54,5)
50 (43,9)
1,12
1,0 - 1,25
0,049
Idade > 32
114 (41,6)
19 (35,2)
1,04
0,95 - 1,15
0,379
49 (13,4)
58 (47,2)
0,55
0,45 - 0,68
0,000
251 (91,6)
51 (94,4)
0,94
0,81 - 1,09
0,480
Uso de drogas
Cor branca
Gestante
HIV em 2007
HDT
I
II
RR= Risco Relaivo
HR= Hazard Risk
0,72 0,58 - 0,94 0,014
1,32 1,04 - 1,67 0,023
ns
0,74 0,60 – 0,90 0,003
ns
67
5.2.2. Descrição do tempo entre o diagnóstico da infecção pelo HIV e o
desenvolvimento de aids
A figura 12 mostra que para a maioria das mulheres que desenvolveu AIDS
num período de seguimento de 12 meses, em todos os anos do estudo, o
diagnóstico de aids ocorreu em menos de 5 meses (IIQ
2003,2005,2007:
0-2 meses;
p=0,046).
Figura 12. Tempo para o desenvolvimento de aids em 12 meses segundo ano do
diagnóstico de infecção pelo HIV. Goiânia, 2010
68
Das 1078 mulheres do estudo, 213 faleceram (19,7%). Excluindo-se o ano de
2008 foram contabilizados 186 óbitos, dos quais, 81,2% (151/186) ocorreram no
primeiro ano após o diagnóstico da infecção. A Figura 13 apresenta a distribuição
desses óbitos e evidencia que a mediana dos falecimentos se deu aos 11 meses de
seguimento.
Figura 13. Tempo para o óbito em 12 meses segundo ano do diagnóstico de
infecção pelo HIV. Goiânia, 2010
69
A sobrevida em um ano de seguimento foi estratificada segundo a primeira
avaliação de linfócitos T-CD4+. Houve diferença na sobrevida após 12 meses do
diagnóstico de HIV de mulheres que apresentaram valores inferiores ou iguais a 200
células/mm3 nos resultados da primeira contagem de células T-CD4+. As que
apresentavam valores acima de 350 células/mm3 tinham uma sobrevida maior em
comparação com as que chegavam com valores menores (p = 0,000).
Figura 14. Curva de Kaplan-Meier de sobrevida em um ano após o diagnóstico do
HIV em mulheres segundo a primeira contagem de linfócitos T-CD4+. Goiânia, 2010
70
6.
DISCUSSÃO
Em nosso estudo o relacionamento dos registros provenientes dos hospitais de
referência de Goiânia àqueles notificados ao SINAN, no período do estudo, permitiu
verificar a cobertura desses serviços em relação à captação de casos em Goiás. O
Estado dispõem de oito unidades de Serviço de Assistência Especializada (SAE)
que juntamente com o HDT e o HMI atendem portadores do HIV/aids (SECRETARIA
DE SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS, 2010).
Como o banco final analisado após o linkage considerou somente os casos
provenientes das duas unidades hospitalares de referência, nossos achados
acenam para uma significante contribuição desses serviços (63,4%) na captação
dos casos, uma vez que, com certeza, em algum momento do curso clínico da
infecção eles foram atendidos nessas unidades.
O linkage permitiu a recuperação de dados não informados nos prontuários
médicos e que estavam presentes no SINAN, favorecendo o aumento da qualidade
e confiabilidade das informações
O uso da técnica de relacionamento de base de dados aumenta o padrão de
qualidade das informações em saúde, não somente por estimar e reparar a
subnotificação de casos, mas, também, por possibilitar a recuperação de
informações ignoradas, seja na coleta ou digitação destas. O resultado obtido a
partir do emprego desse método é satisfatório e já possibilitou uma recuperação de
aproximadamente 50% de dados ignorados relacionados à mortalidade em menores
de um ano (PINHEIRO, CAMARGO JR., COELI, 2006; REIS, 2006). Um estudo
realizado com registros de gestantes infectadas pelo HIV no Estado do Ceará,
também constatou a eficácia do relacionamento para o aprimoramento da qualidade
das informações disponíveis (CAVALCANTE, RAMOS JR., PONTES, 2005;).
A análise da dinâmica e das características da epidemia de aids apresentadas
neste estudo confirma a tendência mundial de pareamento das taxas de incidência
da doença na população estudada (ALARCÓN VILLAVERDE, 2009; UNAIDS,
2009a).
A razão de sexo para o período foi de 1,6/1 (H:M). A queda na razão de sexo
vem ocorrendo progressivamente ao longo dos anos e valores significativamente
inferiores àqueles apresentados no início da epidemia têm sido identificados em
outros estudos (FONSECA, SZWARCWALD, BASTOS, 2002; SANTOS et al., 2002;
71
TOMAZELLI, CZERESNIA, BARCELLOS, 2003; BROUWER et al., 2006; FINK,
LAUFER, 2008; NUNES et a., 2008; RAVETTI, PEDROSO, 2009; NETO et al.,
2010).
Apesar da mediana de idade no momento do primeiro atendimento ter variado
entre as duas unidades inseridas no estudo (p=0,000) ela está de acordo com outros
trabalhos (NUNES et al., 2004; GABRIEL, BARBOSA, VIANNA, 2005; FINK,
LAUFER, 2008; SOUSA, DUARTE, COSTA, 2008; SULIGOI et al., 2010) e coincide
com o período reprodutivo, indicando que em Goiás, assim como no Brasil
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009a) e no mundo (TANG, NOUR, 2010) a maioria das
mulheres se infectam na idade fértil.
A epidemia em nosso país se iniciou em grupos com alto grau de instrução e
aos poucos se disseminou para aqueles com baixos níveis de escolaridade. O grau
de escolaridade constitui um indicador do nível socioeconômico da população, de tal
modo que o aumento da incidência de HIV/aids entre indivíduos com baixa
escolaridade tem caracterizado a pauperização da epidemia em nosso país (BRITO,
CASTILHO, SZWARCWALD, 2000; SANTOS et al., 2002; FONSECA, BASTOS,
2007).
Em 1982, aproximadamente 76% dos casos de aids notificados no Brasil
faziam referência a indivíduos que possuíam ensino superior ou médio. No final da
década de 90 já se observava inversão desse cenário com 74% dos casos incidindo
em pessoas com ensino fundamental ou nenhum grau de instrução (BRITO,
CASTILHO, SZWARCWALD, 2000). Baseados nesse pressuposto, constatou-se que
a epidemia de aids na população feminina brasileira, esteve pauperizada desde seu
início (SANTOS et al., 2002; FONSECA et al., 2000) mantendo-se até o momento
(NUNES et al., 2004; GABRIEL, BARBOSA, VIANNA, 2005; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2010a). Esta pesquisa confirma tal condição ao evidenciar que 53,6%
tinham menos de oito anos de estudo.
Ao uso de drogas ilícitas atribuí-se direta e indiretamente grande número de
infecções entre a população feminina. Mais da metade das mulheres referiram o uso
de drogas e entre as gestantes esse comportamento foi relatado em 75,4% dos
casos. Toxicodependentes em geral são mais propensos a apresentarem
comportamentos inseguros, seja pelo uso dessas substâncias, com efeito,
desinibidor e/ou pela relação desse vício com o comércio sexual (VLAHOV,
ROBERTSON, STRATHDEE, 2010). Mulheres grávidas nessa condição são mais
72
propensas a praticarem sexo inseguro e não raramente o fazem em troca de
dinheiro ou drogas. Tais comportamentos aumentam sua exposição ao risco de
contrair infecção pelo HIV. O contrário também pode acontecer: a mulher UDI que já
é infectada pelo HIV, por não praticar o sexo seguro, tem maiores chances de
engravidar (RAMSEY, BELL, ENGLER-FIELD, 2011).
Antinori et al (2010), consideram diagnóstico tardio de infecção pelo HIV
quando o paciente apresenta a primeira contagem de células T-CD4+ abaixo de 350
células/ mm3. O diagnóstico tardio da infecção é freqüente e tem sido constatado em
outros estados e países (SILVA et al., 2009; DELPIERRE et al., 2007; AJAYI, AJAYI,
FASAKIN, 2009; LEE et al., 2010).
Neste estudo, 61,9% das mulheres chegaram ao serviço com aids e 54,1%
apresentavam contagem de T-CD4+ no primeiro atendimento, igual ou menor que
350 células/mm3. Estudo realizado com registros de pacientes infectados pelo HIV,
nos Estados Unidos e no Canadá, demonstrou que os valores referentes à primeira
contagem de CD4 na assistência inicial tem aumentado ao longo dos anos, mas
ainda continuam abaixo de 350 células/mm3. Identificou-se ainda um crescimento
aproximado de 06 células/mm3 ao ano, em um período de dez anos, passando de
256 células/mm3 em 1997 para 317 células/mm3 em 2007 (ALTHOFF et al., 2010).
Estudo realizado na Europa mostrou que entre 10.222 casos com contagem de
células T-CD4+ no momento do diagnóstico de HIV, 51% eram de pacientes com
diagnóstico tardio. Todavia, a maioria desses indivíduos era originária da África
Subsaariana e do Sudeste e Leste da Ásia (LIKATAVICIUS, VAN DE LAAR, 2010).
Outros estudos constataram que mulheres representam uma parcela menor na
proporção dos diagnósticos tardios (GIRARDI et al., 2000; CASTILLA et al., 2002;
NEAL, FLEMING, 2002; DELPIERRE et al., 2007) que pode ser explicada pela maior
procura delas aos serviços de saúde; pela rotina do pré-natal (DELPIERRE et al.,
2007) e pelo acompanhamento médico das que são parceiras de homens
sabidamente HIV positivo (CASTILLA et al., 2002). No entanto, outros achados
divergem desses e mostram que mesmo de forma discreta, as mulheres são maioria
na apresentação de valores baixos de CD4 no diagnóstico (AJAYI, AJAYI, FASAKIN,
2009; LIKATAVICIUS, VAN DE LAAR, 2010). Já Althoff et al. (2010) constataram
similaridades para tal situação entre homens e mulheres.
Quase 40% das mulheres estudadas chegaram ao serviço apresentando um ou
mais eventos definidores de aids. A presença de doença oportunista na ocasião do
73
diagnóstico da infecção pelo HIV é um importante parâmetro indicador de
diagnóstico tardio. A contagem de células CD4 abaixo de 350 células/ no momento
do diagnóstico tem sido um preditor para a apresentação concomitante dessas
doenças. Na Nigéria, 86,2% dos pacientes atendidos em um Centro Médico no ano
de 2006 tinham alguma doença oportunista na presença dessa condição laboratorial
(AJAYI, AJAYI, FASAKIN, 2009). Estudo semelhante realizado em Goiás
demonstrou que 46,7% dos registros informavam presença de alguma doença
oportunista tendo a tuberculose pulmonar (28,7%) e a Candidíase (22,6%) como as
infecções mais prevalentes. Os nossos achados evidenciaram que a síndrome
consuptiva foi a mais freqüente entre as mulheres, entretanto, a candidíase (23,4%)
se manteve como a segunda. Outras doenças definidoras de aids como a
neurocriptococose, a isosporíase e a citomegalovirose esofagiana tiveram
freqüências semelhantes em ambos estudos (PEREIRA et al., 2011).
O alto percentual de registros inválidos no grupo de variáveis comportamentais
nas duas bases de dados (hospitais e SINAN) impediu a análise de sua relação com
os desfechos aids e óbito e pode indicar que os profissionais de saúde não as
identificam como relevantes para o conhecimento da epidemiologia da epidemia nos
tempos atuais. Essa problemática foi considerada fator limitante para outros estudos
que utilizaram dados secundários da base de dados do SINAN (GUIMARÃES, 2000;
FONSECA et al., 2002; GODOY et al., 2008). No entanto, isso não invalida a
utilização de bases secundárias, muito menos a base do SINAN. Ao contrário, seu
emprego deve ser estimulado, porque grandes esforços foram feitos para
padronização dessa base incluindo-se implementação dos recursos de informática e
agregação de dados, até que o sistema inicialmente concebido na versão “DOS”
evoluísse para a versão “WINDOWS”. Ressalta-se, contudo, que os sistemas de
informação dependem para sua manutenção e viabilidade não somente de
inovações tecnológicas, mas, sobretudo de políticas de gestão dessa informação e
capacitação em todas as instâncias dos profissionais envolvidos no seu manuseio
(LAGUARDIA et al, 2004).
Mesmo com um alto índice de informações ignoradas, algumas observações
precisam ser feitas quanto ao sexo seguro. O pequeno percentual de uso do
preservativo chama atenção mesmo quando avaliamos somente os casos que
possuíam essa informação registrada. Observa-se que menos de 9% das mulheres
relataram uso do preservativo durante as relações sexuais. Fato preocupante diante
74
da heterossexualização da epidemia (HADER et al.,2001; SOUSA, DUARTE,
COSTA, 2008; KONOPKA et al., 2010; NETO el al., 2010; SILVA et al., 2010b) e
podem sugerir falta de conhecimento quanto as formas transmissão do vírus (GIR et
al., 2004), subestimação do risco e impossibilidade de negociação do sexo seguro
(NUNES et al., 2004; GABRIEL, BARBOSA, VIANNA, 2005; GREIG et al., 2008;
SANTOS et al., 2009).
Considerando que a relação heterossexual é a principal forma de exposição ao
vírus na população feminina, esse comportamento toma dimensões ainda mais
preocupantes ao considerar que a mulher infectada representa um fator potencial na
manutenção da epidemia ao possibilitar continuidade da transmissão do vírus pela
exposição sexual e vertical (SOUSA, DUARTE, COSTA, 2008).
Na análise multivariada manteve-se associada ao risco de desenvolver aids em
um ano, ser solteira (HR:1,32; p:0,023) e, como fatores de proteção, o ser usuário de
drogas (HR:0.72;p=0,014) e ano de diagnóstico do HIV = 2007, em comparação
àquelas que foram diagnosticadas nos outros anos (HR=0,74; p=0,003).
Estudo realizado na África Subsaariana demonstrou que pessoas casadas
descobriam seu status sorológico mais precocemente. Ser solteiro, separado ou
viúvo foram características independentemente associadas ao diagnóstico tardio,
principalmente entre as mulheres. A descoberta da positividade de um dos cônjuges
promove o diagnóstico subsequente do outro, uma apresentação tardia está
relacionada a não revelação da infecção ao seu parceiro (KIGOZI et al., 2009).
UDI e homossexuais realizam mais frequentemente testes anti-HIV e assim, no
momento do diagnóstico da infecção pelo HIV, chegam a unidade de saúde
portando pelo menos um teste anterior negativo. Esses pacientes apresentam no
diagnóstico da infecção contagens de células CD4 com valores maiores, quando
comparados a outros grupos populacionais (WOLBERS et al., 2008). Esse fato pode
refletir maior percepção dos riscos aos quais esses indivíduos estão expostos o que
os motivaria a buscarem os serviços de saúde. A maior disponibilidade de testes de
triagem na rotinas dos serviços de saúde, nos Centros de Testagem e
Aconsellhamento e nos centros de tratamento de toxicodependentes, colaboram
para o diagnóstico precoce nesse grupo populacional (GIRARDI, SABIN,
MONFORTE, 2007).
Em nossa pesquisa, 83% das mulheres desenvolveram aids em até doze
meses do diagnóstico e o fizeram em menos de cinco meses após o diagnóstico da
75
infecção. O desenvolvimento de aids no primeiro ano após o diagnóstico é
observado em muitos pacientes (NEAL, FLEMING, 2002; CDC, 2003) e nesta
pesquisa esse fato reforça a necessidade da busca pelo diagnóstico precoce. A
rápida progressão para aids está relacionada à demora do diagnóstico sorológico do
vírus (GIRARDI et al., 2004) e a outros fatores como as condições clínicas do
paciente por ocasião da indicação da TARV e a capacidade de adesão ao
tratamento além da presença ou não de resistência viral primária ou secundária.
Apesar das explicações para o diagnóstico tardio variar de acordo com diferentes
grupos populacionais, na sua maioria relacionam àqueles que não reconhecem o
risco ao qual se sujeitam, àqueles que não são testados frequentemente e os
marginalizados (GIRARDI, SABIN, MONFORTE, 2007).
Estudos mostram que iniciar a TARV com contagem de T-CD4+ acima de 350
células/mm3 pode reduzir o risco de aids e óbito (HAMMER et al., 2008; KITAHATA
et al., 2009; STERNE et al., 2009). Contudo, o Consenso Brasileiro de Terapia
Antiretroviral
recomenda
o
início
da
terapia para pacientes sintomáticos,
independentemente da contagem de T-CD4+; assintomáticos com contagem de TCD4+ menor ou igual a 350 células/mm3 e gestantes, independentemente da
presença de sintomas e da contagem T-CD4+ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008c).
Somente no final de 2010, foi introduzida a recomendação especial de se considerar
o início da terapia para aqueles pacientes com contagem de T-CD4+ entre 350 e 500
células/mm3 que apresentem co-infecção pelo vírus da hepatite B (com indicação de
tratamento); co-infecção pelo vírus da hepatite C; idade igual ou superior a 55 anos;
doença cardiovascular estabelecida ou com risco elevado; nefropatia relacionada ao
HIV e neoplasias, mesmo as não definidoras de aids e carga viral elevada ou seja,
superior a 100.000 cópias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b).
Muitas pessoas portadoras do vírus desconhecem seu status sorológico. O
diagnóstico pode ser tardio o que impossibilita assistência adequada e instituição da
terapia medicamentosa no período mais oportuno. O retardo no início da terapia
antirretroviral afeta o prognóstico da doença e a sobrevida dos infectados
(CASTILLA et al., 2002; CDC, 2003; TAEGE, 2011).
Nesta coorte, a taxa de letalidade no período foi de aproximadamente 20% e
151 mulheres morreram no primeiro ano após o diagnóstico da infecção, o que
expressa uma média de 30 óbitos por ano ou 2,5 óbitos por mês. Ainda,
correspondeu a 71% (151/213) de todos os óbitos captados denotando a
76
precocidade desse desfecho. De fato, esses óbitos incidiram majoritariamente nas
mulheres que apresentaram o primeiro CD4+< 200 células/mm3 ou seja, naquelas
que acessaram o serviço em fase adiantada da doença e nas quais a sobrevida
também foi menor em comparação às com primeiro CD4+>350 células/mm3
(p=0,000). Situações semelhantes para a contagem de linfócitos CD4 e a presença
de alguma doença oportunista têm caracterizado o diagnóstico tardio e estão
significativamente associados ao óbito precoce (STERNE et al., 2009; MELO et al.,
2008).
A taxa de mortalidade por aids em países pobres ou em desenvolvimento é
maior em comparação com os países ricos, mas a oferta de tratamento gratuita
diminui o risco de morte nesses lugares (DOURADO et al., 2006; MUNDERI, 2010)
No Brasil, o tratamento antirretroviral é gratuito, mas o paciente poderá não se
beneficiar da medicação ou até mesmo nem fazer uso dela se chegar em condições
clínicas comprometidas e imunossuprimido. No estudo de Pereira et al. (2011)
observou-se que 2/3 dos pacientes tiveram diagnóstico tardio o que lhes aumentou o
risco de morrer precocemente (HR: 8,5; IC 95%: 3,9 – 18,6). Também dectaram que
1/3 dos pacientes faleceram com até 15 dias após o diagnóstico da infecção sem
que houvesse tempo para instituir o tratamento.
Outras considerações podem ser feitas quanto à importância do diagnóstico
precoce da infecção. Ter o conhecimento da positividade para o HIV possibilita não
somente uma melhor resposta a TARV como aumento da sobrevida, mas produz
ainda considerável queda no número de novos casos relacionada à mudança de
comportamento dos infectados ao terem consciência do seu status sorológico (CDC,
2000; MARKS et al., 2005; MARKS, CREPAZ, JANSSEN, 2006; GIRARDI, SABIN,
MONFORTE, 2007).
77
7.
CONCLUSÕES
1. Os hospitais de referência detectaram 63,1% dos casos de aids notificados ao
SINAN, no Estado de Goiás;
2. A epidemia da aids em nossa região segue os padrões nacionais em relação
a proporção de casos entre homens e mulheres. A razão de sexo foi 1,6 e se
encontra reduzida quando comparada às encontradas no início da epidemia
indicando a feminização da doença no nosso Estado;
3. A população em estudo foi composta principalmente por mulheres em idade
reprodutiva (mediana = 33 e 26 anos); solteiras (56,3%); com menos de oito
anos de escolaridade (53,6%); negras ou pardas (80,6%); usuárias de drogas
(57,4%). Aproximadamente 62% das mulheres chegaram ao serviço com
aids; contagem de T-CD4+ no primeiro atendimento igual ou menor que 350
células/mm3 (54,1%) e presença de uma ou mais doença oportunista (60%);
4. Na análise multivariada manteve-se associada ao risco de desenvolver aids
em um ano, ser solteira (HR:1,32; p=0,023) e, como fatores de proteção, o ser
usuário de drogas (HR:0.72; p=0,014) e ano de diagnóstico do HIV = 2007,
em comparação àquelas que foram diagnosticadas nos outros anos
(HR=0,74; p=0,003);
5. O tempo entre o diagnóstico da infecção pelo HIV e o diagnóstico de aids num
período de seguimento de 12 meses foi menor que cinco meses
(IIQ2003,2005,2007: 0-2 meses; p=0,046);
6. A mediana do tempo de progressão para o óbito se deu aos 11 meses de
seguimento com taxa de letalidade no período de 19,7% (213/1078);
7. Houve menor sobrevida após 12 meses do diagnóstico de HIV em relação às
mulheres que apresentaram valores inferiores ou iguais a 200 células/mm3 no
primeiro atendimento e as apresentaram valores acima de 350 células/mm3
tiveram sobrevida maior em comparação com as que chegaram com valores
menores (p = 0,000).
78
8.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O relacionamento de bases de dados neste estudo permitiu melhor
compreensão da dinâmica da infecção pelo HIV nas mulheres atendidas nas
unidades de referência, porque agregou informações e aumentou a confiabilidade
destas. Contudo, o estudo possui limitações decorrentes do uso de bases de dados
secundários e também por ter como referência uma população atendida em serviços
especializados do Estado. Apesar do estudo ter identificado que as unidades
incluídas captaram mais de 60% dos casos notificados ao SINAN, e que mais de
65% da população atendida não residia em Goiânia, não podemos generalizar
nossos achados para todo o estado, uma vez que outros serviços podem apresentar
realidades diferentes.
A análise do perfil epidemiológico de mulheres infectadas com o HIV em nossa
região permitiu verificar que a despeito da existência de recursos tecnológicos para
diagnóstico laboratorial e tratamento, e a garantia constitucional do acesso a eles,
mais de 60% das mulheres estudadas só souberam de sua condição sorológica
quando já apresentavam sinais e sintomas de aids.
A importância e a necessidade do diagnóstico precoce devem ser discutidas na
prática dos serviços de saúde e políticas públicas que estimulem a testagem com
aconselhamento implementadas em nosso país. Caso contrário, os portadores
continuarão recebendo o diagnóstico de infecção simultaneamente com o
diagnóstico de aids e pouco se beneficiarão dos recursos tecnológicos disponíveis
para o seguimento clínico e laboratorial da doença além do impacto negativo na
sobrevida dos infectados.
79
REFERÊNCIAS
Aceijas C, Stimson GV, Hickman M, Rhodes T. Global overview of injecting drug use
and HIV infection among injecting drug users. AIDS. 2004;18(17):2295–2303.
Ajayi AO, Ajayi EA, Fasakin KA. CD4+ T-Lymphocytes cell counts in adults with
human immunodeficiency virus infection at the medical department of a tertiary
health institution in Nigeria. Annals of African Medicine. 2009: 8(4):257-260.
Alarcón Villaverde JO. Modos de transmisión del VIH en América Latina: resultados
de la aplicación del modelo. Pan American Health Organization. Washington. 2009.
Althoff KN, Gange SJ, Klein MB, Brooks JT, Hogg RS, Bosch RJ, et al. Late
Presentation for Human Immunodeficiency Virus Care in the United States and
Canada. Clin Infect Dis. 2010;50(11):1512-1520.
Antinori A, Coenen T, Costagiola D, Dedes N et al. Late presentation of HIV
infection: a consensus definition. HIV Medicine. 2011;12:61-64.
Barbosa Júnior A, Szwarcwald CL, Pascom ARP, Souza Júnior PB. Tendências da
epidemia de AIDS entre subgrupos sob maior risco no Brasil, 1980-2004. Cad.
Saúde Pública. 2009;25(4):727-737.
Barnighausen T. The role of the health system in HIV treatment-as-prevention. AIDS.
2010;24:2741-2742.
Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S; Gruest J, et al.
Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a patient at risk for Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS).Science. 1983;220(4599):868-871.
Barré-Sinoussi F. HIV as the cause of AIDS. Lancet. 1996;348:31-35.
Bastos FI, Caceres C, Galvão J, Veras MA, Castilho EA. AIDS in Latin America:
assessing the current status of the epidemic and the ongoing response. Int. J.
Epidemiol. 2008;37(4):729-737.
Bastos FIP. A nova agenda internacional e brasileira em política de drogas e
prevenção do HIV/AIDS entre usuários de drogas. Tempus - Actas de Saúde
Coletiva. 2010;4(2):67-74.
Blanche S, Rouzioux C, Mandelbrot L, Delfraissy JF, Mayaux MJ. Zidovudinelamivudine for prevention of mother to child HIV-1 transmission. Proceedings of the
6th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; 1999 Jan 31- Feb 4;
Chicago.
Borba KP, Clapis MJ. Mulheres profissionais do sexo e a vulnerabilidade ao
HIV/AIDS. J bras Doenças Sex Transm. 2006;18(4):254-258.
Brito AM, Castilho EA; Szwarcwald CL. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma
epidemia multifacetada. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2000;34(2):207-217.
Brouwer KC, Strathdee AS, Magis-Rodríguez C, Bravo-García E, Gayet C, Patterson
LT, et al. Estimated numbers of men and women infected with HIV/AIDS in Tijuana,
Mexico. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine.
2006;83(2):299-307.
Bulterys M, Ellington S, Kourtis AP. HIV-1 and breastfeeding: biology of transmission
and advances in prevention. Clin Perinatol. 2010;37(4):807-824.
80
Burgoyne RW, Tan DHS. Prolongation and quality of life for HIV-infected adults
treated with highly active antiretroviral therapy (HAART): a balancing act. J
Antimicrob Chemother. 2008;61:469–473.
Buttò S, Suligoi B, Fanales-Belasio E, Raimondo M. Laboratory diagnostics for HIV
infection. Ann Ist Super Sanità. 2010;46(1):24-33
Cardo DM, Culver DH, Ciesielski CA, Srivastava PU, Marcus R, Abiteboul D, et al. A
case-control study of HIV seroconversion in health care workers after percutaneous
exposure. N Engl J Med. 1997;337(21):1485-90.
Cardoso LP, Queiroz BB, Stefani MMA. HIV-1 pol phylogenetic diversity and
antiretroviral resistance mutations in treatment naïve patients from Central West
Brazil. J Clin Virol. 2009;46(2):134-139.
Cardoso LP, Pereira GAS, Viegas AA, Schmaltz LEPR, Stefani MMA. HIV-1 primary
and secondary antiretroviral drug resistance and genetic diversity among pregnant
women from central Brazil. J Med Virol. 2010;82(3):351-7.
Carnicer-Pont D, Vives N, Bárbara JC. Epidemiologia de la infección por virus de la
inmunodeciencia humana. Retraso en el diagnóstico. Enferm Infecc Microbiol Clin.
2011;29(2):144-151.
Carvalho FT, Piccinini CA. Aspectos históricos do feminino e do maternal e a
infecção pelo HIV em mulheres. Ciênc. saúde coletiva. 2008;13(6):1889-1898.
Castilla J, Sobrino P, Fuente L, Noguer I, Guerra L, Parras F. Late diagnosis of HIV
infection in the era of highly active antiretroviral therapy: consequences for AIDS
incidence. AIDS. 2002;16:1945–1951.
Cavalcante MS, Ramos Jr. AN, Pontes LRSK. Relacionamento de sistemas de
informação em saúde: uma estratégia para otimizar a vigilância das gestantes
infectadas pelo HIV. Epidemiol. Serv. Saúde. 2005;14(2):127–133.
Cavalcanti AM, Lacerda HR, Brito AM, Pereira S, Medeiros D, Oliveira S.
Antiretroviral resistance in individuals presenting therapeutic failure and subtypes of
the human immunodeficiency virus type 1 in the Northeast Region of Brazil. Mem Inst
Oswaldo Cruz. 2007;102(7):785-92.
Center for Disease Control and Prevention. Pneumocystis pneumonia - Los Angeles.
MMWR. 1981;30(21):1-3. [1981; cited 2010 mar 02]. Available from:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/june_5.htm.
Center for Disease Control and Prevention. Current Trends Update on Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS) -United States. MMWR. 1982;31(37):507508,513-514. [1982; cited 2011 jan 11]. Available from:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001163.htm.
Center for Disease Control and Prevention. Current Trends Revision of the Case
Definition of Acquired Immunodeficiency Syndrome for National Reporting - United
States. MMWR. 1985;34(25):373-375. [1985; cited 2011 jan 11]. Available from:
http://wonder.cdc.gov/wonder/help/AIDS/MMWR-06-28-1985.html.
Center for Disease Control and Prevention. 1993 Revised Classification System for
HIV Infection and Expanded Surveillance Case Definition for AIDS Among
Adolescents and Adults. MMWR. 1992;41(RR-17). [1992; cited 2011 mar 23].
Available from: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00018871.htm
81
Center for Disease Control and Prevention. Report of the NIH Panel to define
principles of therapy of HIV infection. MMWR. 1998;47(RR-5):1-41. [1998; cited 2010
mar 18]. Available from: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00052295.htm.
Center for Disease Control and Prevention. Adoption of Protective Behaviors Among
Persons With Recent HIV Infection and Diagnosis - Alabama, New Jersey, and
Tennessee, 1997—1998. MMWR. 2000;49(23):512-515.
Center for Disease Control and Prevention. Guidelines for Using Antiretroviral Agents
Among HIV-Infected Adults and Adolescents: Recommendations of the Panel on
Clinical Practices for Treatment of HIV. MMWR. 2002;51(RR07). [2002; cited 2010
mar 17]. Available from: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5107a1.htm.
Center for Disease Control and Prevention. Late Versus Early Testing of HIV - 16
Sites, United States, 2000 - 2003. MMWR. 2003;52(25):581-586.
Center for Disease Control and Prevention. Updated U.S. Public Health Service
guidelines for the management of occupational exposures to HIV and
recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR. 2005;54(RR-9):1-17.
Center for Disease Control and Prevention. Revised recommendations for HIV
testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR.
2006;55(RR-14):1–17. [2006; cited 2011 mar 20]. Available from:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5514a1.htm
Center for Disease Control and Prevention. Surveillance of Occupationally Acquired
HIV/AIDS in Healthcare. [2007; cited 2011 apr 07]. Available from:
http://www.cdc.gov/HAI/organisms/hiv/Surveillance-Occupationally-Acquired-HIVAIDS.html
Center for Disease Control and Prevention. Revised Surveillance Case Definitions for
HIV Infection Among Adults, Adolescents, and Children Aged <18 Months and for
HIV Infection and AIDS Among Children Aged 18 Months to <13 Years - United
States, 2008. MMWR. 2008;57(RR-10):1-8.
Center for Disease Control and Prevention. HIV - Associated Behaviors Among
Injecting -Drug Users - 23 Cities, United States, May 2005-February 2006. MMWR.
2009;58:329-332. [2009; cited 2011 feb 16]. Available from:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5813a1.htm
Coeli CM, Camargo Jr, KR. Avaliação de diferentes estratégias de blocagem no
relacionamento probabilístico de registros. Rev. Bras. Epidemiol. 2002;5(2).
Coffin J, Haase A, Levy JA, Montagnier L, Oroszlan S, Teich N et al. What to call the
AIDS virus? Nature. 1986;321(6065):10.
Commission on AIDS in Asia. Redefining AIDS in Asia: crafting an effective
response. Oxford University Press, 2008.
Connor EM, Sperling RS, Gelber R, Kiselev P, Scott G, O'Sullivan MJ, et al.
Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1
with zidovudine treatment. N Engl J Med. 1994,331(18):1173-1180.
Cook RL, May S, Harrison LH, Moreira RI, Ness RB, Batista S, et al. High prevalence
of sexually transmitted diseases in young women seeking HIV testing in Rio de
Janeiro, Brazil. Sex Transm Dis. 2004;31(1):67-72.
82
Cooper ER, Charurat M, Mofenson L, Hanson C, Pitt J, Diaz C, et al. Combination
Antiretroviral Strategies for the Treatment of Pregnant HIV-1–Infected Women and
Prevention of Perinatal HIV-1 Transmission. JAIDS. 2002:29(5):484-494.
Coovadia HM, Hadingham J. HIV/AIDS: global trends, global funds and delivery
bottlenecks. Globalization and Health. 2005;1(13):1-10.
Costa ZB, Machado GC, Avelino MM, Gomes Filho C, Macedo Filho JV, Minuzzi AL,
et al. Prevalence and risk factors for Hepatitis C and HIV-1 infections among
pregnant women in Central Brazil. BMC Infect Dis. 2009;9:116.
Craft SM, Delaney RO, Bautista DT, Serovich JM. Pregnancy Decisions Among
Women with HIV. AIDS. 2007;11(6):927935.
Deeks SG, Walker BD. Human Immunodeficiency Virus Controllers: Mechanisms of
Durable Virus Control in the Absence of Antiretroviral Therapy. Immunity. 2007:406416.
Delpierre C, Dray-Spira R, Cuzin L, Marchou B, Massip P, Lang T. Correlates of late
HIV diagnosis: implications for testing policy. Int J STD AIDS. 2007;18(5):312–317.
Dieffenbach CW, Fauci AS. Universal voluntary testing and treatment for prevention
of HIV transmission. J Am Med Assoc. 2009;301:2380-2382.
Do AN, Ciesielski CA, Metler RP, Hammett TA, Li J, Fleming PL. Occupationally
acquired human immunodeficiency virus (HIV) infection: national case surveillance
data during 20 years of the HIV epidemic in the United States. Infect Control Hosp
Epidemiol. 2003;24(2):86-96.
Dourado I, Veras MASM, Barreira D, Brito AM. Tendências da epidemia de Aids no
Brasil após a terapia anti-retroviral. Rev Saúde Pública. 2006;40 Suppl:9-17.
Eholié S, Anglaret X. Commentary: Decline of HIV-2 prevalence in West Africa: good
news or bad news? Int. J. Epidemiol. 2006;35(5):1329-1330.
Esté JA, Telenti A. HIV entry inhibitors. Lancet 2007; 370: 81-88.
Fanales-Belasio E, Raimondo M, Suligoi B, Buttò S. HIV virology and pathogenetic
mechanisms of infection: a brief overview. Ann Ist Super Sanità. 2010;46(1):5-14.
FDA - Food and Drug Administration HIV/AIDS. Historical Time Line 1981-1990.
2009.[2009; cited 2010 jul 07]. Available from:
http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForPatientAdvocates/HIVandAIDSAct
ivities/ucm151074.htm.
Fletcher RH, Fletcher SW. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4 ed. Porto
Alegre: Artmed; 2006.
Fink V, Laufer N. Características de la epidemia VIH/sida en la Argentina.
Actualizaciones en SIDA. 2008;16(62):153-160.
Fonseca MG, Bastos FI, Derrico M, Andrade CLT , Travassos C, Szwarcwald CL.
AIDS e grau de escolaridade no Brasil: evolução temporal de 1986 a 1996. Cad.
Saúde Pública. 2000;16 Suppl 1:77-87.
Fonseca MGP, Szwarcwald CL, Bastos FI. Análise sociodemográfica da epidemia de
Aids no Brasil, 1989-1997. Rev Saúde Pública. 2002;36(6):678-685.
83
Fonseca MGP, Bastos FI. Twenty-five years of the AIDS epidemic in Brazil: principal
epidemiological findings, 1980-2005. Cad. Saúde Pública. 2007;23 Suppl 3: S333S344.
Fowler MG, Gable AR, Lampe MA, Etima M, Owor M. Perinatal HIV and its
prevention: progress toward an HIV-free generation. Clin Perinatol. 2010;37(4):699719.
Gabriel R, Barbosa DA, Vianna LAC. Perfil epidemiológico dos clientes com HIV/aids
da unidade ambulatorial de hospital escola de grande porte - município de São
Paulo. Rev Latino-am Enfermagem. 2005;13(4):509-513.
Gallo RC, Sarin PS, Gelmann EP, Robert-Guroff M, Richardson E. Isolation of
Human T-Cell Leukemia Virus in Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Science. 1983;220(4599):865-867.
Gallo RC, Montagnier L. The chronology of AIDS research. Nature.
1987;326(6112):435-436.
Gao F, Yue L, Robertson DL, Hill SC, Hui H, Biggar RJ, et al. Genetic Diversity of
Human Immunodeficiency Virus Type 2: Evidence for distinct sequence subtypes
with differences in virus biology. J Virol. 1994;68(11):7433-7447.
Gao F, Bailes E, Robertson DL, Chen Y, Rodenburg CM, Michael SF, et al. Origin of
HIV-1 in the chimpanzee Pan troglodytes troglodytes. Nature. 1999;397:436-41.
Garrido C, Geretti AM, Zahonero N, Booth C, Strang A, Soriano V, et al. Integrase
variability and susceptibility to HIV integrase inhibitors: impact of subtypes,
antiretroviral experience and duration of HIV infection. J Antimicrob Chemother.
2010;65(2):320-326.
Gilbert MTP, Rambaut A, Wlasiuk G, Spira TJ, Pitchenik AE,Worobey M. The
emergence of HIV/AIDS in the Americas and beyond. PNAS. 2007;104(47):1856618570.
Gir E, Canini SR, Prado MA, Carvalho MJ, Duarte G, Reis RK. A feminização da
AIDS: Conhecimento de mulheres soropositivas sobre a transmissão e prevenção do
HIV-1. J bras Doenças Sex Transm. 2004;16(3):73-76.
Girardi E, Sampaolesi A, Gentile M, Nurra G, Ippolito G. Increasing Proportion of
Late Diagnosis of HIV Infection Among Patients With AIDS in Italy Following
Introduction of Combination Antiretroviral Therapy. JAIDS. 2000;25(1):71-76.
Girardi E, Aloisi MS, Arici C, Pezzotti P, Serraino D, Balzano R, et al. Delayed
presentation and late testing for HIV: demographic and behavioural risk factors in a
multicenter study in Italy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2004;36:951-959.
Girardi E, Sabin CA, Monforte AA. Late Diagnosis of HIV Infection: Epidemiological
Features, Consequences and Strategies to Encourage Earlier Testing. JAIDS. 2007;
46 Suppl 1:S3–S8.
Godoy VS, Ferreira MD, Silva EC, Gir E, Canini SRMS. Perfil epidemiológico da aids
em idosos utilizando Sistemas de Informações em Saúde do Datasus: realidades e
desafios. DST – J bras Doenças Sex Transm 2008; 20(1): 7-11.
Góes SMC, Coeli CM, Medronho RA. Relacionamento probabilístico entre bases de
dados sobre medicamentos e notificação: uma aplicação na vigilância da aids. Cad.
Saúde Pública. 2006;14(2):313 – 326.
84
Gomes AC, Agy LL, Malaguti SE, Canini SRMS, Cruz EDA, Gir E. Acidentes
ocupacionais com material biológico e equipe de enfermagem de um hospital-escola.
Rev. enferm. UERJ. 2009;17(2):220-223.
Granich RM, Gilks CF, Dye C, Cock KM, Williams BG. Universal voluntary HIV
testing with immediate antiretroviral therapy as a strategy for elimination of HIV
transmission: a mathematical model. Lancet. 2009;373:48–57.
Greig A, Peacock D, Jewkes R, Msimang S. Gender and AIDS: time to act. AIDS.
2008;22 Suppl 2:S35–S43.
Grotto RMT, Pardini MIMC. Biologia molecular do HIV-1 e genética da resistência
humana à AIDS. Artigo de revisão. Arq Ciênc Saúde. 2006;13(3):61-64.
Guimarães MDC. Estudo temporal das doenças associadas à AIDS no Brasil, 19801999. Cad. Saúde Pública. 2000;16 Suppl 1:21-36.
Hader SL, Smith DK, Moore JS, Holmberg SD. HIV Infection in Women in the United
States: Status at the Millennium. JAMA. 2001;285(9):1186-1192.
Hahn BH, ShawGM, De CockKM, Sharp PM. AIDS as a Zoonoses: Scientific and
Public Health Implications. Science. 2000;287:607-614.
Hammer SM, Eron Jr JJ, Reiss P, Schooley RT, Thompson MA, Walmsley S, et al.
Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2008 - Recommendations of the
International AIDS Society–USA Panel. JAMA. 2008;300(5):555-570.
Hazuda DJ, Felock P, Witmer M, Wolfe A, Stillmock K, Grobler JA, et al. Inhibitors of
Strand Transfer That Prevent Integration and Inhibit HIV-1 Replication in Cells.
Science. 2000; 287(5453): 646-650.
Heikinheimo O, Lahteenmaki P. Contraception and HIV infection in women. Human
Reproduction Update. 2009;15(2):165–176.
Hemelaar J, Gouws E, Ghys PD, Osmanov S. Global and regional distribution of HIV1 genetic subtypes and recombinants in 2004. AIDS. 2006 Oct 24;20(16):W13-23.
Hirsch VM, Olmsted RA, Murphey-Corb M, Purcell RH, Johnson PR. An African
primate lentivirus (SIVsm) closely related to HIV-2. Nature. 1989;339:389-392.
IAVI - International AIDS Vaccine Initiative. AIDS Vaccine Blueprint 2008: A
challenge to the field, a roadmap for progress. [2008; cited 2011 mar 14]. Available
from: http://www.iavi.org/Lists/IAVIPublications/attachments/750bc28e-0e47-4a1e91bf-eeea7c8bb98e/IAVI_AIDS_Vaccine_Blueprint_2008_ENG.pdf.
ICTV - International Committee on Taxonomy of Viruses. [2010; cited 2011 feb 14].
Available from: http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?bhcp=1.
Imade P, Ibadin K, Eghafona N, Enabulele O, Ophori E. HIV Seroprevalence Among
Pregnant Women Attending Ante- Natal Clinic in a Tertiary Health Institution in Benin
City, Nigeria. Maced J Med Sci. 2010;3(1):43-45.
Jaffe HW, Bregman DJ, Selik RM. Acquired immune deficiency syndrome in the
United States: the first 1,000 cases. J Infect Dis. 1983;148(2):339-345.
Jia M, Luo H, Ma Y, Wang N, Smith K, Mei J, et al. The HIV Epidemic in Yunnan
Province, China, 1989–2007. JAIDS. 2010;53 Suppl 1:S34-S40.
Kallings LO. The first postmodern pandemic: 25 years of HIV/AIDS. J Intern Med.
2008;263:218-243.
85
Kapiga S, Hayes R, Buve ́ A. HIV prevention – where now? Background and
introduction. AIDS. 2010;24 Suppl 4:S1–S3.
Keele BF, Heuverswyn FV, Li Y, Bailes E, Takehisa J, Santiago ML, et al.
Chimpanzee reservoirs of pandemic and nonpandemic HIV-1. Science.
2006;313(5786):523-526.
Kigbu JH, Nyango DD. A critical look on condoms. Niger J Med. 2009;18(4):354-359.
Kigozi IM, Dobkin LM, Martin JN, Geng EH, Muyindike W, Emenyonu NI, et al. Latedisease stage at presentation to an HIV clinic in the era of free antiretroviral therapy
in Sub-Saharan Africa. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;52(2):280-289.
Kim J, Watts CH. Gaining a foothold: tackling poverty, gender inequality, and HIV in
Africa. BMJ. 2005;331:769-72.
Kiptoo M, Mpoke S, Nganga Z, Mueke J, Okoth F, Songok E. Survey on prevalence
and risk factors on HIV-1 among pregnant women in North-Rift, Kenya: a hospital
based cross-sectional study conducted between 2005 and 2006. BMC Int Health
Hum Rights. 2009;9:10.
Kitahata MM, Gange SJ, Abraham AG, Merriman B, Saag MS, Justice AC et al.
Effect of early versus deferred antiretroviral therapy for HIV on survival. N Engl J
Med. 2009;360(18):1815-26.
Klimas N, Koneru AOB, Fletcher MA. Overview of HIV. Psychosom Med.
2008;70:523-30.
Konopka CK, Beck ST, Wiggers D, Silva AK, Diehl FP, Santos FG. Perfil clínico e
epidemiológico de gestantes infectadas pelo HIV em um serviço do Sul do Brasil.
Rev Bras Ginecol Obstet. 2010;32(4):184-90.
Kourtis AP, Bulterys M. Mother-to-Child Transmission of HIV: Pathogenesis,
Mechanisms and Pathways. Clin Perinatol. 2010;37(4):721-37.
Kruglov YV, Kobyshcha YV, Salyuk T, Varetska O, Shakarishvili A, Saldanha VP.
The most severe HIV epidemic in Europe: Ukraine’s national HIV prevalence
estimates for 2007. Sex Transm Infect. 2008;84 Suppl 1:i37-i41.
Kurth AE, Celum C, Baeten JM, Vermund SH, Wasserheit JN. Combination HIV
prevention: significance, challenges, and opportunities. Curr HIV/AIDS Rep.
2011;8(1):62-72.
Laguardia J, Domingues CMA, Carvalho C, Lauerman CR, Macário E, Glatt R.
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): desafios no
desenvolvimento de um sistema de informação em saúde. Epidemiol. Serv. Saude.
2004;13(3):135-147.
Latif AS. Sexually transmitted diseases in Africa. Genitourin Med. 1990;66:235-237.
Lee JH, Kim GJ, Choi BS, Hong KJ, Heo MK, Kim SS, et al. Increasing late diagnosis
in HIV infection in South Korea: 2000-2007. BMC. 2010;10(411):1-7.
Lemey P, Pybus OG, Wang B, Saksena NK, Salemi M, Vandamme AM. Tracing the
origin and history of the HIV-2 epidemic. PNAS. 2003;100(11): 6588-6592.
Lever AML. HIV: the virus. Medicine. 2005;33(6):1-3.
Levy JA. HIV pathogenesis: 25 years of progress and persistent challenges. AIDS
2009;23:147–160.
86
Libonatti O, Avila M, Zlatkes R, Pampuro S, Peralta LM, Rud E, et al. First Report of
HIV-2 Infection in Argentina. JAIDS. 1998;18(2):190-191.
Likatavicius G, Van de Laar MJ. HIV and AIDS in the European Union, 2009. Euro
Surveill. 2010;15(48):1-4.
Lima CRA, Schramm JMA, Coeli CM, Silva MEM. Revisão das dimensões de
qualidade dos dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação
em saúde. Cad. Saúde Pública. 2009;25(10):2095-2109.
Loussert-Ajaka I, Chaix ML, Korber B, Letourneur F, Gomas E, Allen E, et al.
Variability of human immunodeficiency virus type 1 group O strains isolated from
Cameroonian patients living in France. J Virol. 1995;69(9):5640–5649.
Lu XF, Chen ZW. The development of anti-HIV-1 drugs. Acta Pharm Sin.
2010;45:165-176.
Lucena FFA, Fonseca MGP, Sousa AIA, Coeli CM. O relacionamento de bancos de
dados na implementação da vigilância da aids. Relacionamento de dados e
vigilância da aids. Cad. Saúde Pública. 2006;14(2):305–312.
Machado CJ, Hill K. Probabilistic record linkage and an automated procedure to
minimize the undecided-matched pair problem. Cad. Saúde Pública. 2004;20(4):915925.
Manavi K. A review on infection with human immunodeficiency virus. Research
Clinical Obstetrics and Gynaecology. 2006;20(6):923-940.
Marks G, Crepaz N, Senterfitt W, Janssen RS. Meta-Analysis of High-Risk Sexual
Behavior in Persons Aware and Unaware They are Infected With HIV in the United
States - Implications for HIV Prevention Programs. JAIDS. 2005;39(4):446-453.
Marks G, Crepaz N, Janssen RS. Estimating sexual transmission of HIV from
persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS.
2006;20:1447–1450.
Marlink R, Kanki P, Thior I, Travers K, Eisen G, Siby T, et al. Reduced Rate of
Disease Development After HIV-2 Infection as Compared to HIV-1. Science.
1994;265:1587-1590.
Martínez AMB, Barbosa EF, Ferreira PCP, Cardoso FA, Silveira J, Sassi G, et al.
Molecular epidemiology of HIV-1 in Rio Grande, RS, Brazil. Rev. Soc. Bras. Med.
Trop. 2002;35(5):471-476.
Mathers BM, Degenhardt L, Phillips B, Wiessing L, Hickman M, Strathdee SA, et al.
Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who inject drugs: a
systematic review. Lancet. 2008;372:1733-1745.
McIntyre J. Mothers infected with HIV. Br Med Bull. 2003;67:127–35.
Melo LSW, Lacerda HR, Campelo E, Moraes E, Ximenes RAA. Survival of AIDS
patients and characteristics of those who died over eight years of highly active
antiretroviral therapy, at a referral center in northeast Brazil. Braz J Infect Dis.
2008;12(4):269-277.
Ministério da Saúde. Lei Nº 9.313, de 13 de Novembro de 1996. Dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS.
Brasília: 1996.
87
Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Vigilância do HIV no Brasil
Novas Diretrizes. 2002: 81p.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST
e Aids. Critérios de definição de casos de aids em adultos e crianças. 2004(60): 56p.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância
epidemiológica. Brasília: 2005.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Programa Nacional de DST e
Aids. Plano Integrado de enfrentamento à feminização da epidemia de Aids e outras
DST. Brasília: 2007a.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim EpidemiológicoAids e DST. Brasília: 2007b.
Ministério da Saúde. Epidemiologia-Aids. [2008a; cited 2008 oct 12]. Available from:
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISD3352823PTBRIE.htm.
Ministério da Saúde. Sistemas de Informações. [2008b; cited 2008 oct 13]. Available
from: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS48C4F3D9PTBRIE.htm.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST
e Aids. Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV:
manual de bolso. 2008c: 244p.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim EpidemiológicoAids e DST. Brasília: 2009a.
Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS Nº 151 - Agiliza e amplia normas para a
realização de testes anti-HIV. Brasília: 2009b.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim EpidemiológicoAids e DST – Versão preliminar. Brasília: 2010a.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos
infectados pelo HIV-2008. Critérios para início do tratamento antirretroviral (Atualização das páginas 34-36). 2010b: 28p.
Ministério da Saúde. Sistema de monitoramento de indicadores do Programa
Nacional de DST e AIDS – Monitoraids. [2010c; cited 2010 nov 20]. Available from:
http://sistemas.aids.gov.br/monitoraids/#.
Ministério da Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Sistemas de
Vigilância. [2010d; cited 2010 nov 25]. Available from:
http://www.aids.gov.br/node/365.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST
e Aids. Recomendações para Profilaxia da Transmisão Vertical do HIV e Terapia
Antirretroviral em Gestantes: manual de bolso. Brasília. 2010e:172 p.
Ministério da Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Serviço de
Assistência Especializada em HIV/Aids. [2011; cited 2011 Feb 11]. Available from:
http://www.aids.gov.br/tipo_endereco/servico-de-assistencia-especializada-emhivaids.
88
Montagnier L. Historical Essay: A History of HIV Discovery. Science. 2002;298:17271728. [cited 2011 mar 10]. Available from:
http://aidscience.org/science/298%285599%291727.html
Montessori V, Press N, Harris M, Akagi L, Montaner JSG. Adverse effects of
antiretroviral therapy for HIV infection. CMAJ. 2004;17(2):229-238.
Moodley D. The SAINT trial: Nevirapine (NVP) versus zidovudine (ZVD) + lamivudine
(3TC) in prevention of peripartum HIV transmission. Proceedings of the 13th
International AIDS Conference; 2000 Jul 9-14; Durban, South Africa.
Moore RD. Epidemiology of HIV Infection in the United States: Implications for
Linkage to Care. Clin Infect Dis. 2010;52 Suppl 2:S208-S213.
Munderi P. When to start antiretroviral therapy in adults in low- and middle-income
countries: science and practice. Curr Opin HIV AIDS. 2010;5(1):6-11.
Murphy EL, Collier AC, Kalish LA, Assmann SF, Para MF, Flanigan TP, et al. Highly
Active Antiretroviral Therapy Decreases Mortality and Morbidity in Patients with
Advanced HIV Disease. Ann Intern Med. 2001;135:17-26.
Neal JJ, Fleming PL. Frequency and predictors of late HIV diagnosis in the United
States, 1994 through 1999. Proceedings of 9th Conference on Retroviruses and
Opportunistic Infections; 2002 Feb 24-28; Seattle, Washington.
Neto RAB, Lotufo PA. Estudos de coorte. In: Bensenor IM, Lotufo PA. Epidemiologia:
Abordagem prática. São Paulo: SARVIER, 2005.
Neto JFR, Lima LS, Rocha LF, Lima JS, Santana KR, Silveira MF. Perfil de adultos
infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em ambulatório de
referência em doenças sexualmente transmissíveis no norte de Minas Gerais. Rev
Med Minas Gerais. 2010;20(1):22-29.
Newell LM. Vertical transmission of HIV-l: risks and prevention. Journal of Hospital
Infection. 1995;30:191-196.
Newell LM. Mechanisms and timing of mother-to-child transmission of HIV-1. AIDS.
1998;12(8):831–837.
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases. HIV/AIDS. Estrutura do
HIV. [2009; cited 2010 mar 04]. Available from:
http://www3.niaid.nih.gov/topics/HIVAIDS/Understanding/Biology/hivVirionLargeImag
e.htm.
Nichiata LYI; Shima H. Sistema de informação em AIDS: limites e possibilidades.
Rev.Esc.Enf.USP. 1999; 33(3):305-312.
Nunes CLX, Gonçalves LA, Silva PT, Bina JC. Características clinicoepidemiológicas
de um grupo de mulheres com HIV/AIDS em Salvador-Bahia. Rev. Soc. Bras. Med.
Trop. 2004;37(6):436-440.
Nunes AA, Silva-Vergara ML, Melo IM, Silva ALA, Rezende LSA, Guimarães PB.
Peril clínico-epidemiológico de pacientes com HIV/Aids internados em um hospital
de ensino do Brasil. Rev Panam Infectol 2008;10(3):26-31.
Organização Pan-Americana da Saúde. Indicadores de Salud: elementos básicos
para el análisis de la situación de salud. Boletín Epidemiológico. 2001;22(4):1-5.
89
Padian N, Shiboski S, Glass S, Vittinghoff E. Heterosexual transmition of human
immunodeficiency vírus (HIV) in northern California: results fron a ten-years study.
Am J Epidemiol. 1997;146(4):50-57.
Palella Jr FJ , Delaney KM, Moorman AC, Loveless MO, Fuhrer J, Satten GA, et al.
Declining morbidity and mortality among patients with advanced human
immunodeficiency virus infection. NEJM. 1998; 338(13):853-860.
Pereira GS, Souza SMB, Caetano KAA, Martins RMB, Gir E, Minamisava R, et al.
Late HIV Diagnosis and Survival Within 1 Year Following the First Positive HIV Test
in a Limited-Resource Region. JANAC. 2011:1-7.
Pinheiro RS, Camargo Jr. KR, Coeli CM. Relacionamento de bases de dados em
saúde. Cad. Saúde Pública. 2006;14(2):195-196.
Piot P, Bartos M, Ghys PD, Walker N, Schwartländer B. The global impact of
HIV/AIDS. Nature. 2001;410:968-973.
Plantier JC, Leoz M, Dickerson JE, Oliveira F, Cordonnier F, Lemee V, et al. A new
human immunodeficiency virus derived from gorillas. Nature. 2009;15(8):871-872.
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do
Desenvolvimento Humano 2005: Cooperação Internacional Numa Encruzilhada.
2005.
Queiroz ATL, Mota-Miranda ACA, Oliveira T, Moreau DR, Urpia CC, Carvalho CM, et
al. Re-mapping the molecular features of the human immunodeficiency virus type 1
and human T-cell lymphotropic virus type 1 Brazilian sequences using a
bioinformatics unit established in Salvador, Bahia, Brazil, to give support to the viral
epidemiology studies. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2007;102(2):133-139.
Quinn TC, Overbaugh J. HIV/AIDS in Women: An Expanding Epidemic. Science.
2005;308(5728):1582 – 1583.
Quinn TC. HIV epidemiology and the effects of antiviral therapy on long-term
consequences. Aids. 2008;22 Suppl 3:S7–12.
Rambaut A, Posada D, Crandall KA, Holmes EC.The causes and consequences of
HIV evolution. Nature. 2004;5:52-61.
Ramsey SE, Bell KM, Engler-Field PA. HIV Risk Behavior Among Female Substance
Abusers. J Addict Dis. 2010;29(2):192-199.
Ravetti CG, Pedroso ERP. Estudo das características epidemiológicas e clínicas de
pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana em Pronto Atendimento
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Rev. Soc. Bras.
Med. Trop. 2009;42(2):114-118.
Reis AC. Recuperação de dados da Declaração de Óbitos (DO) para os menores de
um ano através da Declaração de Nascidos Vivos (DN). Cad. Saúde Pública.
2006;14(2):297-304.
Reis AC, Santos EM, Cruz MM. A mortalidade por aids no Brasil: um estudo
exploratório de sua evolução temporal. Epidemiol. Serv. Saúde. 2007;16(3):195-205.
Reis CT, Czeresnia D, Barcellos C, Tassinari WS. A interiorização da epidemia de
HIV/AIDS e o fluxo intermunicipal de internação hospitalar na Zona da Mata, Minas
Gerais, Brasil: uma análise espacial. Cad. Saúde Pública. 2008;24(6):1219-1228.
90
Rodrigues-Júnior AL, Castilho EA. A epidemia de AIDS no Brasil, 1991-2000:
descrição espaço-temporal. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2004;37(4):312-317.
Robertson DL, Anderson JP, Bradac JA, Carr JK, Foley B, Funkhouser RK, et al.
HIV-1 nomenclature proposal. Science. 2000;288:55-56.
Ross DA. Behavioural interventions to reduce HIV risk: what works? AIDS. 2010, 24
Suppl 4:S4–S14.
Sabino EC, Saéz-Alquézar A. Etiologia e subtipos do HIV. In: Veronesi R, Focaccia
R, Lomar AV. HIV/ADS: etiologia, patogenia e patologia clínica: tratamento e
prevenção. São Paulo: Editora Atheneu; 1999.
Santos NJS, Tayra A, Buchalla CM, Laurenti R. A aids no Estado de São Paulo. As
mudanças no perfil da epidemia e perspectivas da vigilância epidemiológica. Rev.
Bras. Epidemiol. 2002;5(3):286-310.
Santos SMS, Oliveira MLF. (Com) vivendo com a Aids: perfil dos portadores de
HIV/Aids na região Noroeste do Estado do Paraná, 1989-2005. Acta Scientiarum.
Health Sciences. 2009;32(1):51-56.
Santos NJS, Barbosa RM, Pinho AA, Villela WV, Aidar T, Filipe EMV. Contextos de
vulnerabilidade para o HIV entre mulheres brasileiras. Cad. Saúde Pública. 2009;25
Suppl 2:S321-S333.
Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. AIDS - Perfil da doença muda no Estado.
[Goiânia; 2010; cited 2010 mar 14]. Available from:
http://www.saude.go.gov.br/index.php?idMateria=71333.
Selik RM, Haverkos HW, Curran JW. Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)
trends in the United States, 1978-1982. Am J Med. 1984;76(3):493-500.
Sharp PM, Bailes E, Gao F, Beer BE, Hirsch VM, Hahn BH. Origins and evolution of
AIDS viruses: estimating the time-scale. Biochemical Society Transactions.
2000;28:275-282.
Sierra S, Kupfer B, Kaiser R. Basics of the virology of HIV-1 and its replication. J Clin
Virol. 2005;34(4):233-44.
Silva JPL, Travassos C, Vasconcellos MM, Campos LM. Revisão sistemática sobre
encadeamento ou linkage de bases de dados secundários para o uso em pesquisa
em saúde no Brasil. Cad. Saúde Pública. 2006;14(2):197-224.
Silva LCF, Santos EM, Neto ALS, Miranda AE, Talhari S, Toledo LM. Padrão da
infecção pelo HIV/AIDS em Manaus, Estado do Amazonas, no período de 1986 a
2000. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2009;42(5):543-550.
Silva MM, Telles FQ, Cunha CA, Rhame FS. HIV subtype, epidemiological and
mutational correlations in patients from Paraná, Brazil. Braz J Infect Dis.
2010a;14(5):495-501.
Silva SFR, Pereira MRP, Neto RM, Ponte MF, Ribeiro IF, Costa PFTF, et al. Aids no
Brasil: uma epidemia em transformação. RBAC. 2010b;42(3):209-212.
Simon D, Béria JU, Tietzmann DC, Rafaela de Carli, Stein AT, Lunge VR.
Prevalência de subtipos do HIV-1 em amostra de pacientes de um centro urbano no
sul do Brasil. Rev. Saúde Pública. 2010;44(6):1094-1101.
91
Souza MVN. Fármacos inibidores de fusão: uma nova estratégia no combate à
replicação do vírus VIH. Acta Farm. Bonaerense. 2005;24(2):291-299.
Souza SMB. Fatores associados à soropositividade ao HIV em indivíduos atendidos
em Centros de testagem e aconselhamento de Goiás e Distrito Federal: estudo
multicêntrico [Tese]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/
Universidade de São Paulo; 2007. 154 p.
Sousa ACA, Duarte LR, Costa SML. Análise epidemiológica dos pacientes HIVpositivo atendidos em hospital de referência da rede pública de João Pessoa - PB. J
bras Doenças Sex Transm. 2008;20(3-4):167-172.
Sousa AC, Suassuna DSB, Costa SML. Perfil clínico-epidemiológico de idosos com
aids. J bras Doenças Sex Transm. 2009;21(1):22-26.
Stephan C, Henn CA, Donalisio MR. Expressão geográfica da epidemia de Aids em
Campinas, São Paulo, de 1980 a 2005. Rev Saúde Pública. 2010;44(5):812-819.
Sterne JA, May M, Costagliola D, Wolf F, Phillips AN, Harris R, et al. Timing of
initiation of antiretroviral therapy in AIDS-free HIV-1-infected patients: a collaborative
analysis of 18 HIV cohort studies. Lancet. 2009;373(9672):1352-63.
Suligoi B, Raimondo M, Fanales-Belasio E, Buttò S. The epidemic of HIV infection
and AIDS, promotion of testing, and innovative strategies. Ann Ist Super Sanità.
2010;46(1):15-23.
Szwarcwald CL, Bastos FI, Esteves MAP, Andrade CLT. A disseminação da
epidemia da AIDS no Brasil, no período de 1987-1996: uma análise espacial. Cad.
Saúde Pública. 2000;16 Suppl 1:7-19.
Szwarcwald CL, Júnior AB, Souza-Júnior PRB, Lemos KRV, Frias PG, Luhm KR, et
al. HIV testing during pregnancy: use of secondary data to estimate 2006 test
coverage and prevalence in Brazil. Braz J Infect Dis. 2008;12(3):167-172.
Tang J, Nour NM. HIV and Pregnancy in Resource-Poor Settings. Rev Obstet
Gynecol. 2010;3(2):66-71.
Taege A. Seek and treat: HIV update 2011. Cleveland Clinic Journal of Medicine.
2011;78(2):95-100.
Tomazelli J, Czeresnia D, Barcellos C. Distribuição dos casos de AIDS em mulheres
no Rio de Janeiro, de 1982 a 1997: uma análise espacial. Cad. Saúde Pública.
2003;19(4):1049-1061.
UNAIDS. AIDS epidemic update. 2007a: 50 p.
UNAIDS. Caribbean: AIDS epidemic update Regional Summary. 2007b
UNAIDS. Latin America : AIDS epidemic update Regional Summary. 2007c.
UNAIDS. Report on the global HIV/AIDS epidemic. 2008.
UNAIDS. AIDS epidemic update.2009a.
UNAIDS. Women and health: today's evidence tomorrow's agenda. 2009b.
UNAIDS. Getting to zero: 2011-2015 strategy. 2010a.
UNAIDS. Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic. 2010b.
92
UNAIDS. Agenda for accelerated country action for women, girls, gender equality
and HIV- Operational plan for the UNAIDS action framework: addressing women,
girls, gender equality and HIV. 2010c.
Urassa W, Kaaya S, Mwakagile D, O'Brien M, Antelman G, Hunter D, et al. Evidence
of a substantial decline in prevalence of HIV-1 infection among pregnant women:
data from 1995 to 2003 in Dar es Salaam, Tanzania. Scand J Public Health.
2006;34(3):272-278.
Vieira M, Padilha MICS. O HIV e o trabalhador de enfermagem frente ao acidente
com material perfurocortante. Rev. esc. enferm. USP.2008;42(4):804-810.
Vlahov D, Robertson AM, Strathdee SA. Prevention of HIV Infection among Injection
Drug Users in Resource-Limited Settings. Clin Infect Dis. 2010;50 Suppl 3:S114S121.
Xu JJ, Wang N, Lu L, Pu Y, Zhang GL, Wong M et al. HIV and STIs in Clients and
Female Sex Workers in Mining Regions of Gejiu City, China. Sex Transm Dis.
2008;35(6):558–565.
Zetola NM, Pilcher CD. Diagnosis and management of acute HIV infection. Infect Dis
Clin North Am. 2007;21(1):19-48.
Ward H, Rönn M. The contribution of STIs to the sexual transmission of HIV. Curr
Opin HIV AIDS. 2010;5(4):305-310.
WHO - World Health Organization. Rapid HIV tests: guidelines for use in HIV testing
and couselling services in resource-constrained settings. Geneva, 2004.
WHO - World Health Organization. Towards universal access: Scaling up priority
HIV/AIDS interventions in the health sector. Progress report 2009. Geneva, 2009.
Wolbers M, Bucher HC, Furrer H, Rickenbach M, Cavassini M, Weber R, et al.
Delayed diagnosis of HIV infection and late initiation of antiretroviral therapy in the
Swiss HIV Cohort Study. HIV Med. 2008;9(6):397-405.
Wolfe D, Carrieri MP, Shepard D. Treatment and care for injecting drug users with
HIV infection: a review of barriers and ways forward. The Lancet.
2010;376(9738):355 – 366.
Wyatt R, Kwong PD, Desjardins E, Sweet RW, Robinson J, Hendrickson WA et al.
The antigenic structure of the HIV gp120 envelope glycoprotein. Nature.
1998;393(6686):705-11.
93
APÊNDICES
Apêndice A – Instrumento de Coleta de Dados
94
95
96
Apêndice B – Instrumento de Coleta de Dados
97
ANEXOS
Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
de Doenças Tropicais
98
Anexo 2 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Humana do
Hospital Materno-Infantil