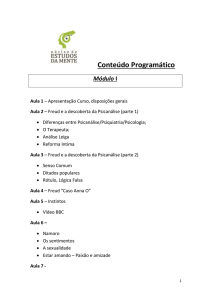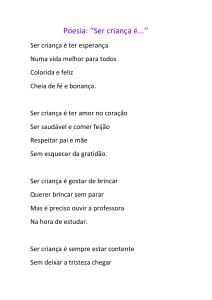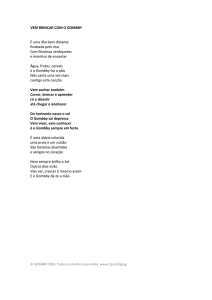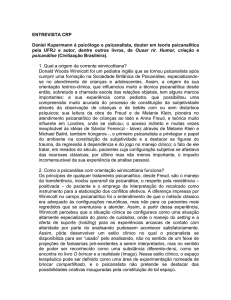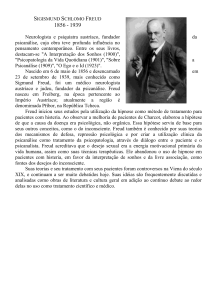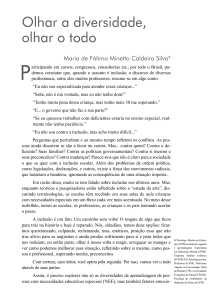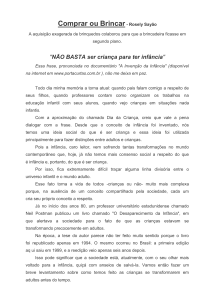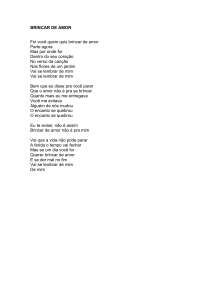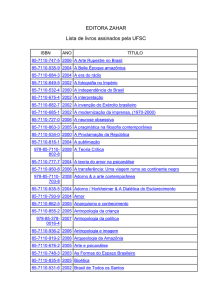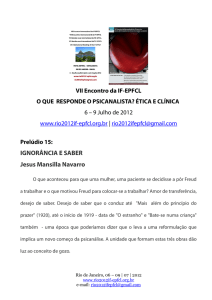1
O USO DO BRINCAR NA ESCUTA PSICOLÓGICA DE
CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: CONTRIBUIÇÕES
PSICANALÍTICAS
RENATA FURTADO ISAÍAS1
KELLY MOREIRA DE ALBUQUERQUE 2
Resumo: Objetivamos investigar, à luz da psicanálise, a utilização da atividade lúdica do brincar como um
dispositivo de intervenção na escuta clínica de crianças no ambiente hospitalar. Acredita-se que a teoria e
método psicanalíticos podem estabelecer interlocuções favoráveis com a medicina de modo a incluir a
atenção ao sujeito e ao seu sofrimento psíquico decorrentes da experiência com doenças orgânicas no
hospital. Trata-se de um estudo teórico que se organizou da seguinte forma: primeiramente abordamos o
conceito histórico de infância para compreendermos as modificações simbólicas pelas quais este passou.
Em seguida, situamos o inédito freudiano sobre a infância, em especial, sua relação com a sexualidade.
Após, exploramos o lugar do brincar na clínica dos primórdios da psicanálise com crianças. Posteriormente,
propomos um diálogo entre medicina e psicanálise, na tentativa de demarcar as especificidades e
contribuições da teoria psicanalítica no hospital. Por fim, apresentaremos a importância da atividade lúdica
do brincar na escuta analítica de crianças hospitalizadas. À guisa de conclusão afirmamos que o brincar,
por revelar os medos e fantasias singulares da criança, permite a esta elaborar simbolicamente, pelo viés da
linguagem, a vivência de uma doença.
Palavras-chaves: Psicanálise. Infância. Hospital. Brincar.
THE PLAY USING THE LISTENING PSYCHOLOGY OF
HOSPITALIZED CHILDREN: CONTRIBUTIONS
PSYCHOANALYTIC
Abstract: This study investigates, in the light of psychoanalysis, the use of playing of playing as an
intervention device in clinical listening to children in the hospital. It is believed that the theory and
psychoanalytic method can establish favorable dialogues with medicine to include attention to the subject
and its psychological distress resulting from experience with organic diseases in the hospital. This is a
theoretical study that is organized as follows: first approach the historical concept of childhood to
understand the symbolic modifications why this happened. Then we place the unprecedented Freudian
about childhood, in particular its relationship to sexuality. After we explore the role of playing in the clinic
from the early days of psychoanalysis with children. Subsequently, we propose a dialogue between
medicine and psychoanalysis in an attempt to demarcate the characteristics and contributions of
1
Graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). E-mail: [email protected].
Docente do curso de Graduação em Psicologia Fanor Devry Brasil. Mestre em Psicologia pela
Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: [email protected].
2
2
psychoanalytic theory in the hospital. Finally, we will present the importance of playing the play in analytic
listening hospitalized children. In conclusion we say that the play, to reveal the fears and fantasies of natural
child, allows this elaborate symbolically, from the perspective of language, the experience of a disease.
Key-words: Psychoanalysis. Childhood. Hospital. Play.
INTRODUÇÃO
Objetivamos por meio deste estudo ver o papel do lúdico como um dispositivo de
intervenção no tratamento de crianças hospitalizadas. É interessante ressaltar que não
podemos considerar o lúdico apenas pelo uso de brinquedos, haja vista o objeto não
possuir significado igual para todas as crianças. Sabe-se que as crianças se utilizam da
imaginação, assim, uma boneca não será apenas uma boneca, mas um objeto pelo qual se
investe uma fantasia. Iremos abordar o lúdico através de desenhos, modelagens e
brinquedos ou qualquer outro equipamento que possa ser manejado simbolicamente pela
criança. Ora, o brinquedo, para Brougère (1995), é um objeto cultural produzido por
adultos, mas seu valor está na imagem simbólica representada pela criança, que ganha
significado no processo da brincadeira, comunicando seus pensamentos.
Ao se trabalhar com a criança é necessário entender sua significação em um
determinado contexto e momento histórico, pois se sabe que a criança é um conceito
historicamente datado. É interessante ressaltar que a palavra infância vem de infante que
significa “não falante”. De fato, até o século XVIII as crianças não tinham vez nem “voz”.
Desta forma, para entendermos o sentido atual que é dado à infância, teremos que nos
remeter à construção do conceito. Na Idade Medieval, de acordo com Stellin (1994), a
criança era considerada como um adulto em escala reduzida, não havia distinção entre o
adulto e a criança. Essa fase, a infância, não era vista como diferenciada, peculiar e
decisiva na construção do sujeito. Logo que as crianças não precisavam mais dos cuidados
maternos se inseriam na vida adulta, com os mesmos trabalhos dos demais, inclusive
usando as mesmas vestimentas. Contudo havia, de acordo com Ariès (1981), um
3
tratamento superficial que as famílias ou empregados dedicavam quando as crianças
ainda eram bebês. Dessa manieira, os pais passaram a ter novos sentimentos pelas
crianças. Vários fatores contribuíram para essas mudanças, por exemplo, o capitalismo,
que se preocupava com o aumento da população, o que possibilitava ver a questão da alta
mortalidade infantil. Outro fator que contribuiu para essa mudança foi que o Estado
moderno quis aumentar a população para o povoamento de colônias e o aumento do
contingente militar. A criança, passa a ser vista, como uma força de produção que traria
lucros a longo prazo, fato que fez valorizar a educação pedagógica. Essa época coincide
com a Filosofia das Luzes, que trouxe uma preocupação humanizada de igualdade e
felicidade.
Com esse olhar diferenciado para a criança, conforme Costa (2007), no séc. XIX
desenvolveu-se a pedagogia, pediatria entre outras especializações em torno da criança.
A infância passou a ser um direito inato do homem, sendo colocada dentro das escolas, a
criança passou a vestir roupas específicas, a ler a sua própria literatura e a brincar com os
seus próprios jogos. A psicologia é vista como algo capaz de produzir um discurso
científico sobre a infância, através do qual outras práticas possam se nortear.
A criança, segundo Costa (2007), passa a ser vista como desprovida de toda
sexualidade, essa inocência infantil passa a ser preservada pelos educadores, que
diferentemente do que acontecia anteriormente, começa a afastar a criança de assuntos
relativos ao sexo. A criança é vista como um ser assexuado, que possui uma natureza a
ser corrigida pelo adulto, não possui desejo próprio. Tal concepção predominou durante
muito tempo, até que Freud veio modificá-la.
Foi nesse momento histórico descrito que surgiu a psicanálise com Freud. Ele
abordou a infância pela lógica do inconsciente, ao invés de utilizar-se de um registro
genético e cronológico. Freud, ao escrever “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”
(1905) colocou em dúvida as concepções existentes na época sobre a atividade sexual na
infância. Ele apresenta a sexualidade da infância de uma nova forma, usando o termo
perverso-polimorfo pelo qual o corpo da criança passa a ser visto como um corpo de
4
desejo. A sexualidade infantil está presente na infância e irá se prolongar durante a vida
adulta, mesmo que sob a determinação de deslocamentos e condensações característicos
das representações recalcadas. Freud elabora essa teoria da sexualidade a partir da escuta
de suas pacientes histéricas, e, como Birman (1997) afirma, qualquer análise, sempre
implicará a análise do infantil. Mas a análise de crianças só terá início com o caso “O
pequeno Hans”, publicado por Freud em 1909. Nessa análise Freud só se encontrou com
a criança uma vez, a análise foi realizada pelas interlocuções travadas com o pai da
criança. Seu propósito com o caso, segundo Costa (2007), era comprovar seus
descobrimentos sobre a sexualidade infantil. A partir de Hans, Freud revisou a questão da
análise com crianças observando que a realidade psíquica destas se assemelha à do adulto
em suas angústias, fantasias e desejos. Com isso, foi estabelecido os três parâmetros
indispensáveis para que uma análise seja possível: a demanda, a transferência e a
interpretação. A demanda foi formulada pelo pai que procurou Freud a fim de aliviar o
sofrimento de seu filho. Freud reconhece que uma análise não pode ser conduzida por um
pai, mas pode-se pensar que Freud ocupou o lugar de analista para Hans, já que ele sabia
que o pai escrevia para o mesmo relatando o que Hans sentia, Freud ocupou assim o
sujeito suposto saber, sendo possível com isso a transferência. Com relação à
interpretação, Freud, ao interpretar a fobia de cavalos como medo da represália paterna
por causa dos desejos eróticos pela mãe, possibilitou a cura da neurose. A partir do caso
do pequeno Hans foi possível, afirma Costa (2007), estabelecer as bases teóricas para a
análise de crianças, mas ainda levou muito tempo para que ela se desenvolvesse. A
psicanálise de crianças tem especificidades em relação à clínica com adultos, já que a
obediência à regra fundamental de condução de uma análise, qual seja, a associação livre,
é atravessada pelo devanear presente na brincadeira.
O papel do brincar na infância foi estudado por várias teorias, mas, de acordo com
Jardim (2003) é a psicanálise que irá atribuir sua função simbólica. Apesar de Freud não
ter atendido crianças, a não ser indiretamente, através das conversas com o pai de Hans,
ele analisou os sonhos e as brincadeiras relatadas. O brincar por si só não foi estudado
5
por Freud, mas a descoberta que o mesmo poderia ser um recurso para o inconsciente foi
propiciada pelo mesmo em “Escritores criativos e devaneio” (1908), ao introduzir a ideia
de que a brincadeira da criança corresponde à fantasia no adulto.
Freud deu importância e significados a essas brincadeiras infantis, considerandoas como a primeira manifestação da fantasia, “ao brincar toda criança se comporta como
um escritor criativo, pois cria um mundo próprio.” (FREUD, 2006, p.135). A criança sabe
distinguir o mundo criado por ela da realidade e, assim, passa a inserir as situações
imaginadas às situações vividas no mundo real. Essa conexão é que irá diferenciar o
“brincar” infantil do “fantasiar”. Quando a criança para de brincar, ela apenas renuncia a
sua ligação com os objetos reais, ao invés de brincar, ela fantasia, “cria castelos no ar”.
(FREUD, 2006, p.136). De fato, o brincar da criança é determinado pelo desejo de ser
adulto, ela imita em seus jogos o que conhece da vida dos mais velhos, colocando muita
emoção nesse mundo de brinquedos. As crianças em suas brincadeiras
repetem tudo que lhes causou uma grande impressão na vida real, e assim
procedendo, ab-reagem a intensidade da impressão, tornando-se, por assim dizer,
senhoras da situação. Por outro lado, porém, é óbvio que todas as suas brincadeiras
são influenciadas por um desejo que as domina o tempo todo: o desejo de crescer
e poder fazer o que as pessoas crescidas fazem. Pode-se também observar que a
natureza desagradável de uma experiência nem sempre a torna inapropriada para
a brincadeira. Se o médico examina a garganta de uma criança ou faz nela alguma
pequena intervenção, podemos estar inteiramente certos de que essas assustadoras
experiências serão tema da próxima brincadeira; contudo, não devemos, quanto a
isso, desprezar o fato de existir uma produção de prazer provinda de outra fonte.
Quando a criança passa da passividade da experiência para a atividade do jogo,
transfere a experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira
e, dessa maneira, vinga-se num substituto (FREUD, 2006, p. 26).
Cada criança irá dar um significado diferenciado aos brinquedos expostos no
consultório, ele é apenas um mediador entre a realidade e a imaginação. Depois da
constatação de que o brinquedo pode ser utilizado na análise de crianças, ocorreu o
verdadeiro nascimento e desenvolvimento da psicanálise de crianças. Abordaremos as
pesquisas e o trabalho das primeiras analistas de crianças, considerando que cada uma
dessas teorias apresenta um modo de trabalho decorrente do entendimento desses teóricos
sobre a representação da criança.
6
De acordo com Costa (2007), foi inicialmente as mulheres que analisaram
crianças, já que na época não era permitido o ingresso de mulheres na universidade.
Assim, elas começaram a praticar a psicanálise nas escolas. É inclusive essa formação
pedagógica que irá influenciar a clínica.
A primeira psicanalista de crianças foi Hugh-Hllmunth. Conforme Avellar (2011)
esta psicanalista reconheceu a importância da comunicação da criança como complexo
nuclear da neurose infantil. Valorizou o brincar e o seu sentido simbólico como forma de
desvelar os sintomas e a problemática da criança. Segundo Roza (1993), outras pioneiras
na psicanálise de crianças foram Sophi Mongenstein, na França, que escreveu um livro
sobre o desenho, e Rambert, na Suíça, que introduziu nos atendimentos infantis o
emprego de marionetes de famílias.
Mesmo com as contribuições desses autores, foram Anna Freud e Melanie Klein
que justificaram o trabalho da psicanálise infantil, que o próprio Freud tinha dúvidas,
devido às limitações do discurso verbal da criança.
Anna Freud, sexta e última filha de Sigmund Freud, conscientizava “a criança de
seu sofrimento e da necessidade de ser ajudada a se livrar de seu sintoma.” (COSTA,
2007, p. 24). Anna Freud, segundo Costa (2007), mostrou, por exemplo, que a criança
podia ser castigada se se comportasse de forma rebelde. A fim de cumprir tais objetivos
ela associava medidas pedagógicas aos meios analíticos. Neste sentido, a interveção do
analista provinha de sua autoridade.
Anna Freud, conforme Costa (2007), não se apoiou no inconsciente, nas forças
psíquicas recalcadas. De acordo com o seu ponto de vista, caberia ao analista exercer uma
ação educativa, controlando e decidindo o que deve ser rejeitado ou satisfeito, ao invés
de utilizar-se da escuta. Anna Freud, segundo Roza (1993), afirmava que na clínica
psicanalítica, o brincar não podia ser usado como método de associação livre, pois o
psiquismo das crianças é diferente dos adultos. Costa (2007) observa que Anna Freud
parece demonstrar para o analisando que o analista efetivamente ocupa o lugar do saber
e não o lugar de suposto saber, proposto, por exemplo, por Lacan.
7
Já Melanie Klein, de acordo com Costa (2007), deu importância à constituição
interna da criança e na sua clínica observou o brincar infantil, fazendo interpretações do
conteúdo inconsciente expresso nos brinquedos.
Segundo Jardim (2003), foi a partir dessa ideia que a brincadeira pôde expressar
a angústia, assim como outros desejos inconscientes. Entre essas analistas, Melanie Klein
se sobressaiu ao dar uma elevada importância a esse mundo interno psíquico, utilizando
o brincar em sua atividade clínica. Para esta, segundo Segal (1975, p.13), “o brincar da
criança poderia representar simbolicamente suas ansiedades e fantasias.”, haja vista o
emprego restrito da associação livre ser limitado a crianças muito pequenas. O brincar,
então, constitui-se como expressão simbólica de conflitos inconscientes.
Através de sua clínica que se funda privilegiando o mundo interno da criança,
“Melanie Klein eleva a criança à plena condição de analisando.” (COSTA, 2007, p.42).
Nesta medida, o analista deve observar todo o comportamento da criança na hora da
sessão. O que ela brinca, como faz, tudo terá um significado. A tarefa do analista é
descobrir, através dos símbolos e brinquedos, o material inconsciente e interpretá-lo,
tentar traduzir em palavras as ansiedades e fantasias da criança, tornando-as acessíveis ao
pensamento e à fala.
Winnicott é outro nome importante ao se falar da clínica infantil psicanalítica e do
brincar infantil. Ele estudou, conforme Costa (2007), não só a técnica do brincar, mas o
conceito do brincar como uma atividade humana que se situa no espaço intermediário
entre a mãe e o bebê, o espaço potencial preenchido pela fantasia. Winnicott (1975) vê o
brincar como um fator decisivo para o desenvolvimento e utilizou-se dele em sua
psicoterapia que:
se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta.
A psicoterapia trata de duas pessoas que brincam juntas. Em consequência, onde
o brincar não é possível, o trabalho efetuado pelo terapeuta é dirigido então no
sentido de trazer o paciente de um estado em que não é capaz de brincar para um
estado que o é (WINNICOTT, 1975, p.59).
Para Winnicott (1975), o terapeuta deve envolver-se com o brincar do paciente,
podendo ser uma forma de comunicação. Deve-se buscar a comunicação da criança e
8
sabe-se que o domínio dela pela fala normalmente não é muito expressivo, ela não é capaz
de transmitir o que ela transmitiria através da brincadeira. O brincar torna-se assim
essencial para que o paciente manifeste sua criatividade.
Segundo Winnicott (1975), o brincar espontâneo é por si mesmo uma terapia. A
criança traz para dentro da brincadeira fenômenos vivenciados na realidade externa,
usando-os a serviço de alguma amostra derivada da realidade interna. “Sem alucinar, a
criança põe para fora uma amostra do potencial onírico e vive com essa amostra num
ambiente escolhido de fragmentos oriundos da realidade externa” (WINNICOTT, 1975,
p. 76). Se observarmos que tudo o que acontece na brincadeira já foi feito antes, sentido
antes, deve-se esperar, pela evolução natural da transferência que irá surgindo pela
confiança do paciente no próprio cenário psicanalítico, que conteúdos inconscientes
apareçam neste espaço. Não se deve ser seguido pela necessidade pessoal do analista de
interpretar, mas esperar que o paciente chegue à compreensão criativamente, já que é o
paciente e apenas ele quem tem as respostas, o analista não pode interpretar de acordo
com as suas próprias imaginações criativas.
É importante falar das contribuições de Bettelheim para a psicanálise infantil. Ele
realiza uma leitura psicanalítica dos contos de fadas clássicos evidenciando a relação
destes com as emoções expressas pela criança. Algumas crianças podem se identificar
com algum conto de fadas, ele “reassegura, dá esperança para o futuro e oferece a
promessa de um final feliz” (BETTELHEIM, 2011, p.37). Uma das mensagens
transmitidas pelos contos de fadas é que uma luta contra dificuldades é algo inevitável e
pertence a existência humana. Mas se a pessoa não se intimida com situações inesperadas,
dominará os obstáculos para no fim emergir vitoriosa. Assim, o conto de fadas escolhido
pela criança normalmente não tem nada a ver com a vida exterior, mas há uma
identificação com seus problemas interiores, podendo estruturar os devaneios, dando
melhor direção a sua vida. O significado será diferente para cada pessoa:
e diferente para a mesma pessoa dependendo do momento de sua vida. A criança
extrairá significados diferentes do mesmo conto de fadas, dependendo de seus
interesses e necessidades do momento. Tendo oportunidade, voltará ao mesmo
9
conto, quando estiver pronta a ampliar os velhos significados ou substituí-los por
novos (BETTELHEIM, 2011, p. 21).
Em decorrência desse significado particular, Bettelheim (2011) afirma que não há
uma história que é específica para uma idade específica, mas que irá depender dos
problemas que emergem no momento e de seu próprio momento psicológico. Assim,
como no brincar, ao contar uma história deve-se seguir a vontade demonstrada pela
criança, pois ela irá fantasiar em cima do significado que ela dá à história.
Mesmo que os pais atribuam algum significado ao filho ter se envolvido com
aquela história e que a reproduza através do brincar, é favorável, assim como Winnicott
(1975) coloca, que eles guardem isso para si, até que as crianças decidam se revelar.
Contar a elas porque um conto de fadas é tão cativante destrói, segundo Bettelheim
(2011), o encantamento da história, que depende do porquê de se estar tão maravilhada.
Ao analisar a importância da fantasia no mundo infantil, enfatiza que a capacidade de
desenvolver fantasias ultrapassa o presente, torna suportáveis as fantasias experimentadas
na realidade. A fantasia contém de forma imaginária uma enorme variedade de saídas
também presentes na realidade, tendo assim um grande material de elaboração.
Uma história relatada por Bettelheim (2011) refere-se a um menino de cinco anos
que se identificou com a história da Rapunzel no momento em que soube que sua avó,
que cuidava dele durante o dia, teria que ir ao hospital por conta de uma doença grave.
Foi importante para o menino o fato de a Rapunzel ter achado os meios de escapar de sua
condição em seu próprio corpo, as tranças, pelas quais o príncipe subiu na torre. A história
mostrou que, se necessário, ele encontraria no corpo a fonte de sua segurança. De fato, a
criança repete nas brincadeiras os mesmos personagens, tendo uma identificação com os
mesmos. Mas cada vez que ela brinca, ou ouve a história, ela nunca será a mesma, está
sendo sentida de uma maneira diferente. Para Bettelheim (2011) sem fantasias a vida fica
limitada, e a infância é a época que essas fantasias precisam ser nutridas. Jardim (2003)
afirma que no brincar ou no conto de fadas, a criança encontra uma saída através da
imaginação para aliviar a frustação, a decepção e o desespero. Assim, a criança recorre à
10
fantasia, transgredindo a realidade como satisfação, para não ceder ao desespero, devendo
o adulto não interferir na brincadeira. A experiência da criança deve ser respeitada:
Seu mundo é rico e em contínua mudança, inclui um intercâmbio permanente entre
fantasia e realidade. Se o adulto interfere e irrompe em sua atividade lúdica, pode
pertubar o desenvolvimento da experiência decisiva que a criança realiza ao
brincar. (Bettelheim. 1988, p.142).
Ao se estudar psicanálise é válido ressaltar a releitura, de forma diferenciada, feita
por Lacan da obra freudiana, ao demarcar a questão do sujeito do inconsciente, afirmando,
segundo Costa (2007), que o campo do inconsciente é o campo da linguagem. Lacan não
analisou crianças, mas observou que Melanie Klein e Anna Freud desconsideravam a
dimensão simbólica do sujeito no tratamento. Lacan pensava o sujeito pela sua relação
com a fala e com o Outro, sendo a linguagem preexistente ao sujeito. O Outro transforma
o grito produzido pelos bebês em demanda, com isso a criança entra no campo da
linguagem, mesmo que ainda não fale. O bebê, com seus balbucios, começa a fazer jogos
vocais, alucinando a voz da mãe, quando ela não está presente. Essa voz e língua são
instrumentos de gozo, esses sons são jogo de gozo que a criança pode fazer também em
resposta à demanda da mãe.
Freud, segundo Costa (2007), estudou sobre necessidade e desejo, Lacan
introduziu um terceiro elemento que é a demanda. A passagem do real para o simbólico
é feita através da intervenção do Outro, introduzindo a demanda na criança, a demanda
de amor. A necessidade é satisfeita pelo alimento e o desejo é produzido pela abertura
entre a necessidade e a demanda.
O bebê para Lacan, de acordo com Costa (2007), ocupa um lugar que já está
marcado pelo desejo do Outro, ele completa a mãe no seu desejo narcísico. Ele é fascinado
pelo olhar da mãe, se identifica com essa mãe e se aliena. A entrada do pai destitui esse
lugar imaginário onde a criança é o falo da mãe, permitindo que o infans saia desse lugar
de ser o objeto de satisfação do desejo da mãe, para se constituir como sujeito desejante.
Nesse sentido, o pai encarna a lei, permitindo assim à criança adquirir sua identidade.
Lacan não trabalhou diretamente com crianças, mas acompanhou o trabalho realizado
11
pelas primeiras psicanalistas que se dedicaram à clínica com crianças, como Françoise
Dolto e Maud Mannoni, que seguiram seus ensinamentos. Fraçoise Dolto, conforme
Costa (2007), foi pioneira da psicanálise de crianças na França, era colaboradora e amiga
de Lacan.
A proposta de Dolto, de acordo com Costa (2007), era inserir a criança na estrutura
desejante da família, pois ao nascer ela já está inserida no desejo do Outro. Sendo fruto
de três desejos: o do pai, o da mãe e o do próprio sujeito. Sendo assim, para ela o sintoma
da criança é também o sintoma da estrutura familiar. Por isso é importante nas entrevistas
preliminares analisar as relações inconscientes entre os pais e a criança, remontando as
estruturas edípicas dos pais e dos avós. Com Lacan aprendeu a abordar a criança sob o
ângulo da verdade, abordando seu sintoma como sendo uma resposta ao que existe de
sintomático da estrutura familiar.
Costa (2007) afirma que para Dolto é a relação com o Outro que humaniza o bebê,
sendo que “a fala materna traduz a realidade para a criança nomeando suas sensações e
organizando seu mundo.” (COSTA, 2007, p.70). É a partir dos sentidos que o lactente
organiza suas trocas significativas com o outro cuidador, o corpo é sempre uma
construção simbólica.
Em sua clínica com crianças, Dolto, conforme Costa (2007), dava atenção ao
contexto familiar, detectando de onde vem a demanda, percebendo o lugar da criança no
narcisismo dos pais e vendo quem realmente está sofrendo. Françoise Dolto, ainda
segundo Costa (2007), não costumava utilizar o brinquedo em si, mas utilizava outros
meios de atividades lúdicas como o desenho e a modelagem, pedindo que a criança falasse
deles, buscava que o dito da criança fosse representado nessa fala; do desenho e da
modelagem buscava que o dito da criança fosse representado, dando prioridade ao
trabalho associativo, sem deixar escapar as expressões, lapsos e erros.
Assim, pensar numa possível interlocução entre Psicanálise e hospital implica
primeiramente, especificarmos o ambiente hospitalar. Este, segundo Carvalho e Couto
(2011), é um lugar propício para a vivência de situações traumáticas, não só para os
12
pacientes, mas para os familiares e amigos que os acompanham e para os profissionais de
saúde que ali atuam. A psicanálise, ao se inserir nesse ambiente, passa a atuar junto com
a clínica médica. É importante saber as fronteiras e as similaridades que estão presentes
no olhar da medicina e na escuta da psicanálise.
A psicanálise, segundo Pinto (2011), surgiu a partir do desejo de Freud fundar
uma disciplina que fosse um campo de conhecimento que levasse em conta os objetivos
de observação, previsão e controle das doenças psíquicas. Mas ele percebeu que ao atuar
como médico não obtinha as transformações que ele buscava no paciente. Ao perceber
que o inconsciente dos pacientes é o determinante dos sintomas, Freud observou que os
efeitos que ele buscava dependiam do engajamento do paciente na resolução de seus
problemas, cabendo ao analista o papel de sustentar o trabalho feito pelo paciente,
utilizando-se da escuta.
O analista, designado por Lacan, não tem lugar específico para atuar,
“autorizando-o” a sair do consultório. De acordo com Moura (2011), não há uma
instituição ideal para a psicanálise, para que ela seja possível é necessário que haja um
analista e um sujeito, que só saberá o que a psicanálise oferece quando estiver diante de
um psicanalista. A inserção da psicanálise no hospital não se trata de simplesmente
estruturar um serviço de psicanálise dentro da instituição, nem de agendar com os
pacientes em ambulatórios, seguindo com isso os moldes do consultório privado. O
psicanalista deve se colocar de forma diferenciada a cada situação que é chamado a
intervir, em busca dos objetivos que se propõe. É considerado sempre o caso a caso,
buscando uma solução particular diante do sofrimento, das situações geradoras de
angustia. Ao ser chamado para resolver uma dificuldade, “o que ele pode é oferecer não
uma resolução predeterminada, mas uma que passe pela palavra, possibilitando algo do
sujeito possa advir” (CARVALHO; COUTO, 2011, p.117).
Já a clínica médica, conforme Ansermet (2003), baseia-se no olhar e procura
construir seu objeto através da observação e descrição, busca essa relação entre o olhar e
a linguagem. O olho clínico irá distinguir e classificar, o médico irá observar o que
13
surpreende seu olhar e sua prática clínica se baseará em tal ponto. A clínica médica deriva
de demarcar o sujeito, irá descrevê-lo minuciosamente. Pretendendo tudo englobar, mas
nega a evidência pulsional, que a psicanálise escuta. Ela postula um objeto neutro,
positivo, imutável. Como Ansermet (2003, p. 10) escreve, “eles também têm olhos para
não ver, justamente no que as coisas os olham.”
Em contrapartida, conforme Ansermet (2003) a clínica psicanálitica aposta na
fala, ela irá se orientar a partir do que o sujeito enuncia, desenvolvendo a escuta que não
é ouvida pelo paciente, a atenção é no que não pode ser dito. Ela irá além do que se
manifesta no visível, dá acesso a algo que não pode ser capturado pelo olhar. Já que a
psicanálise baseia-se no inconsciente, ela irá levar em consideração o que permanece
escondido, não deixando-se iludir pelo manifesto.
O saber produzido em uma análise é para Pinto (2011) um saber apaixonado que
demanda interpretação. O analisante busca uma formulação científica sobre seu
sofrimento, busca a causa. Mas a psicanálise foge a essa causalidade, ela interessa-se pela
singularidade de cada sujeito, ele irá desdobra-se na linguagem. O analista utiliza-se da
enunciação para facilitar essa percepção do ato analítico pelo analisante, que o analisante
escute o que não permite escutar no domínio lógico.
A clínica psicanalítica não está apenas na escuta, está também no olhar sobre a
fala do sujeito. Como descreve Ansermet (2003, p.10): “na clínica psicanalítica podemos
dizer que nos deixamos olhar pelo olhar. Aceita-se o retorno do olhar. Trabalha-se a partir
do olhar na fala”. Com isso, a clínica psicanalítica não é apenas da escuta, mas a clínica
do olhar que põe em jogo a fala do sujeito.
Na medicina, de acordo com Ansermet (2003), o objeto vem saciar o olho, na
psicanálise é o contrário, o olho sacia o objeto. Na psicanálise não é feita uma simples
observação, o analista se insere em sua problemática. O médico irá observar no paciente
algo que ele já estudou, algo no paciente em que ele já possui um conhecimento, já para
o analista apenas o paciente pode saber o que ele sente e revela.
14
Ansermet (2003) deixa claro que o saber da biologia não exclui o saber
psicanalítico. Abordar os fenômenos mentais através da anatomia ou da genética não
eliminará o sujeito, mesmo que determinado organismo seja atendido, não se pode saber
o que resultará de fato nisso. O psicanalista não pode também subtrair-se dos
determinantes corporais, mas não deve deter-se a eles, mas sim o que eles representam
para o sujeito.
De acordo com Carvalho e Couto (2011), o hospital tem as normas necessárias
para o seu funcionamento, o psicanalista deve estar atento para as diversas situações que
se advinham nesse contexto, já que ele não se deterá apenas nas demandas explícitas de
atendimento. A intervenção do analista, ainda conforme os autores, pode possibilitar que
o paciente, a família e a equipe tenham o seu espaço nesse ambiente e que possam dialogar
para possibilitar que o paciente seja ouvido.
A posição do analista é a de se oferecer para escutar e intervir em situações que
façam parte do ambiente hospitalar, mas não como o que tem o poder de solucionar os
problemas. Muitas vezes o psicanalista é chamado para ocupar o lugar de quem sabe, ou
seja, do detentor do saber. Mas a proposta de Freud é que o psicanalista se ofereça em
posição de “não saber”, necessária para a escuta dos pacientes, dos seus familiares e dos
profissionais, para que não se deixem entrar em um jogo de poder, podendo acolher as
demandas, sem que seja necessário atendê-las. O que se percebe é que muitas vezes há
um mal entendido entre o que o médico demanda e o que este lhe propõe, o médico pede
algo que não faz parte do seu saber próprio, cabe ao analista saber se o que os profissionais
pedem a ele está de acordo com o seu saber.
Além de acolher a queixa dos familiares, deve-se propor a busca de
esclarecimentos sobre a doença, muitas vezes não é possível ir além do significante da
doença até que a questão seja esclarecida, pois essas dúvidas podem ter efeitos na
localização da angústia.
O hospital, de acordo com Oliveira (1999), já carrega em si experiências
caracterizadas pela dor, doenças, perdas, desespero, enfim, uma possiblidade de
15
destituição. A criança necessita de um Outro desejando por ela, no hospital isso não será
diferente. O adoecimento e a hospitalização provocam uma série de mudanças na vida da
criança, segundo Lindquist (1993), as reações são decorrentes da separação da família,
do surgimento da doença e da admissão no ambiente hospitalar, pois muitas vezes ela não
sabe o porquê de estar ali.
A criança, conforme Oliveira (1999), passa a fazer muitas perguntas, como o
porquê de estar ali ou como funciona o hospital. Essa dor causada pela internação pode
tomar uma maior dimensão se a criança não puder falar de seu sofrimento. O adulto pode
ter dificuldades de falar com a criança, mas deve saber que ela também sofre e também
se questiona. Dolto, nas palavras de Costa (2007), enfatiza a necessidade de contar a
criança, em uma linguagem acessível à sua compreensão, toda a verdade sobre a sua
história, mesmo que isso seja doloroso para ela ou para os adultos. Muitas vezes um
sintoma aponta para esse não dito.
A dor da criança não é apenas a dor física (OLIVEIRA, 1999), mas a dor de estar
ali, provavelmente destituída de sua subjetividade, a dor causada pelo sentimento de
solidão, de abandono. A criança no hospital é esse sujeito que sofre, questiona, mas que
acima de tudo, deseja.
Uma técnica utilizada com a psicanálise de crianças é o uso do brinquedo para que
ela possa expressar o que sente. Freud (2006b) ao falar das brincadeiras infantis, afirma
que as crianças as levam muito a sério, colocando toda a emoção vivida, mas as
distinguem da realidade, ligando seus objetos e situações imaginados às coisas visíveis
do mundo real. A brincadeira, para Barreto (1998), é uma atividade lúdica livre, incerta e
caracterizada pelo faz-de-conta. Vimos anteriormente como os psicanalistas que
realizaram análise com crianças, utilizaram-se desse brincar na clínica e Dolto, conforme
Costa (2007), que utilizou de outras atividades lúdicas, como o desenho e a modelagem,
não interpretando os desenhos, mas tentando fazê-los ganhar vida, sem orientar, nem
reagir. Pedia para que as crianças falassem deles, para a partir desse discurso fazer
perguntas.
16
Para brincar com a criança na clínica, não é necessário a utilização de brinquedos
elaborados, mas de objetos que possuem realidade própria para a criança, já que para ela
“todo objeto é um objeto descoberto” (WINNICOTT, 1975, p.141). Através dos mesmos
elas podem expressar sentimentos que estejam vivenciando, como demonstrar o modo
pelo qual ela enxerga a doença e o tratamento hospitalar. Pode expressar seus desejos,
expectativas e suas experiências atuais, projetando-se das atividades dos adultos, sendo
coerente com os papéis que assume. A sua postura como paciente e médico se expressa
de forma diferente. Podem ser utilizados desenhos, continuação de histórias, recortes de
revistas, entre outros recursos que surgem através dessa relação com o paciente.
No brincar a criança não está em uma posição passiva, como na maioria dos
procedimentos a que ela está submetida no hospital, mas ela aparece como sujeito de
desejos e vontades, não mais como mero objeto de cuidados. Na brincadeira, ela ganha
voz e espaço para utilizar a imaginação e expressar o que sente. De acordo com Jardim
(2003), o brincar envolve a relação entre o real e o imaginário, sendo atravessado pelo
simbólico, espaço no qual os objetos criam vida e se transformam de acordo com a ilusão
de quem brinca, sendo o brincar uma forma de descobrir, reinventar, reorganizar, aceitar
desafios, arriscar para progredir.
Tudo que vai surgindo na brincadeira já foi vivenciado pela criança antes, como
no brincar de casinhas, elas tendem a expressar o que experencia em sua casa, ou brincar
de médico, em que expressa o que já vivenciou nessa relação. Para Elkomin (1998), no
processo de interpretação do seu papel, a criança transforma suas ações diante da
realidade, possuindo liberdade para escolher o tema do qual quer brincar, entregando-se
com toda sua emoção nesta atividade, escolhendo os papéis que irá desempenhar, sendo
uma atividade autônoma. No ambiente hospitalar, a criança, em algumas brincadeiras,
por exemplo, é o médico ou a enfermeira e desempenha o papel dos mesmos a apartir do
modo que ela percebe, sendo muitas vezes de forma exagerada, mas sendo mesmo assim
a forma como ela vivencia.
17
A criança, de acordo com Cabral (1999), seja na clínica convencional ou na análise
realizada no hospital, está ali com seu jogo, com seu brincar, encenando sua história, sua
novela familiar. O analista não é um companheiro imaginário que entra em seu brincar,
mas ele está ali como o causador do desejo de saber, oferecendo-se à consumação.
O lugar do analista, conforme Brant (1999), não é aquele que tem as respostas
para a dor e sofrimento dos pacientes, mas sim deve escutá-los além do dito, como sujeito
do inconsciente, receber sua demanda, acolher a sua dor, fornecer um espaço no qual a
criança possa expressar suas angústias, fragilidades, dificuldades frente a situação
estressante que enfrenta.
O analista deve tentar se aproximar da criança e criar um vínculo com a mesma,
deve-se jogar o jogo da criança ou nada acontecerá, pois ela não tem nenhuma razão para
escutar as perguntas monótonas dos adultos. Ao fazer essa aproximação deve-se ajudá-la
na construção de um saber, o seu saber sobre a doença, “deixando-a falar, estando atento
às suas brincadeiras, dando importância às suas perguntas, fazendo-se presente”
(OLIVEIRA, 1999, p.31).
À guisa de conclusão, vale salientar que o brincar estudado nesse trabalho é o
brincar criativo, aquele em que a criança está livre para se expressar. O lúdico terá sentido
para a psicanálise se o analista estiver escutando-a, não orientando, nem fazendo a
interpretação, mas dando voz a criança, sem influenciá-la , cabendo ao analista pedir para
a criança falar sobre o seu brincar, o seu desenho, e fazer as perguntas que caibam no
momento.
A psicanálise ao se inserir no hospital não trata simplesmente de montar um
serviço clínico dentro da instituição. A cada nova situação que o psicanalista é chamado
a atuar deve ser visto o caso singular, buscando uma solução particular diante do
sofrimento, das situações geradoras de angústia, mas sem fugir à técnica que passe pela
palavra, pela associação livre. Cada paciente que chega é um novo caso, não há casos
iguais, como aponta o olhar da medicina.
18
O ambiente hospitalar tem normas estabelecidas e horários mais rigorosos do que
o sujeito estava acostumado em seu cotidiano, provocando diversas e significativas
mudanças. Não é somente a dor física, mas a dor psicológica. Por isso muitas vezes esse
processo hospitalar torna-se ainda mais doloroso para a criança, pois os adultos tentam
esconder algumas verdades da criança, tornando-se um não-dito, que a criança não tem
acesso ao seu todo, e essas partes podem aterrorizá-la ainda mais.
O brincar é uma ferramenta lúdica muito importante, pois ao brincar a criança cria
histórias e apresenta personagens que podem representar sua dor, as suas angústias. Ao
brincar a criança revela os medos e fantasias singulares, permitindo a ela elaborar
simbolicamente, pelo viés da linguagem, a vivência de sua doença.
REFERÊNCIAS
ÁRIES, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981
AVELLAR, L. Z. Jogando na análise de crianças: intervir-interpretar na abordagem winnicottiana. São
Paulo: Caso do psicólogo, 2011.
BARRETO, S. J. Psicomotricidade: Educação e Reeducação. Blumenau: Odorizzi, 1998.
BETTELHEIM, B. A psicanálise dos contos de fadas. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
_______________. Uma vida para seu filho. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
BIRMAN, J. Além daquele beijo!? – sobre o infantil e o originário em psicanálise. In: ROZA, S. E. Da
análise na infância ao infantil na análise. Rio de Janeiro: ContraCapa, 1997.
BRANT, J. A. de S. Na corda bamba da morte... ou da vida? A criança e a insuficiência renal crônica. In:
MOURA, Marisa Decat de. Psicanálise e hospital: A criança e sua dor. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. p.
89-104.
BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 1995.
CABRAL, M. D. L. A criança e sua dor: Do L da cruz ao V da vida. In: MOURA, Marisa Decat
de. Psicanálise e hospital: A criança e sua dor. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. p. 139 -146.
CARVALHO, S. B.; COUTO, L F. S.. A presença do psicanalista no hospital geral: suas escutas e suas
intervenções. In: BATISTA, G.; MOURA, M. D. de; CARVALHO, S. B. (Org.). Psicanálise e hospital
5: A responsabilidade da psicanálise diante da ciência médica. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
COSTA, T. Psicanálise com crianças. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
19
ELKOMIN, D B. Psicologia do jogo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
FREUD, S. Três ensaios sobre a Teoria da sexualidade. ESB. Vol. VII. Rio de Janeiro: Imago,
2006[1905].
_______________. FREUD, S. Escritores Criativos e Devaneios, ESB. Vol. IX. Rio de Janeiro. Imago,
2006[1908].
JARDIM, C. S. Brincar: um campo de subjetivação na infância. São Paulo, Annablume, 2003.
LINDQUIST, I. A criança no hospital: terapia pelo brinquedo. São Paulo: Scritta, 1993.
LUNA, S. V. de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 1997.
MOURA, M. D. O psicanalista a altura do seu tempo? Respostas da psicanálise ao chamado médico. In:
BATISTA, G.; MOURA, M. D. de; CARVALHO, S. B. (Org.). Psicanálise e hospital 5: A
responsabilidade da psicanálise diante da ciência médica. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
OLIVEIRA, L. S. S. de. A criança que se cala. In: MOURA, Marisa Decat de. Psicanálise e hospital: A
criança e sua dor. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. p. 27-32.
PINTO, J. M. Responsabilidade e contigência: desafios na formação do analista. In: BATISTA, G.;
MOURA, M. D. de; CARVALHO, S. B. (Org.). Psicanálise e hospital 5: A responsabilidade da psicanálise
diante da ciência médica. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.
ROZA, S. E., Quando Brincar é Dizer: a experiência psicanalítica na Infância, Rio de Janeiro, Relume
Dumará, 1993.
SEGAL, H. Introdução à obra de Melanie Klein. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1975.
STELLIN, R. M. R.. A significação da infância: o histórico de ser criança. Revista Humanidades, Fort, v.
9, n. 1, p.57-71, set. 1994.
WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda, 1975.