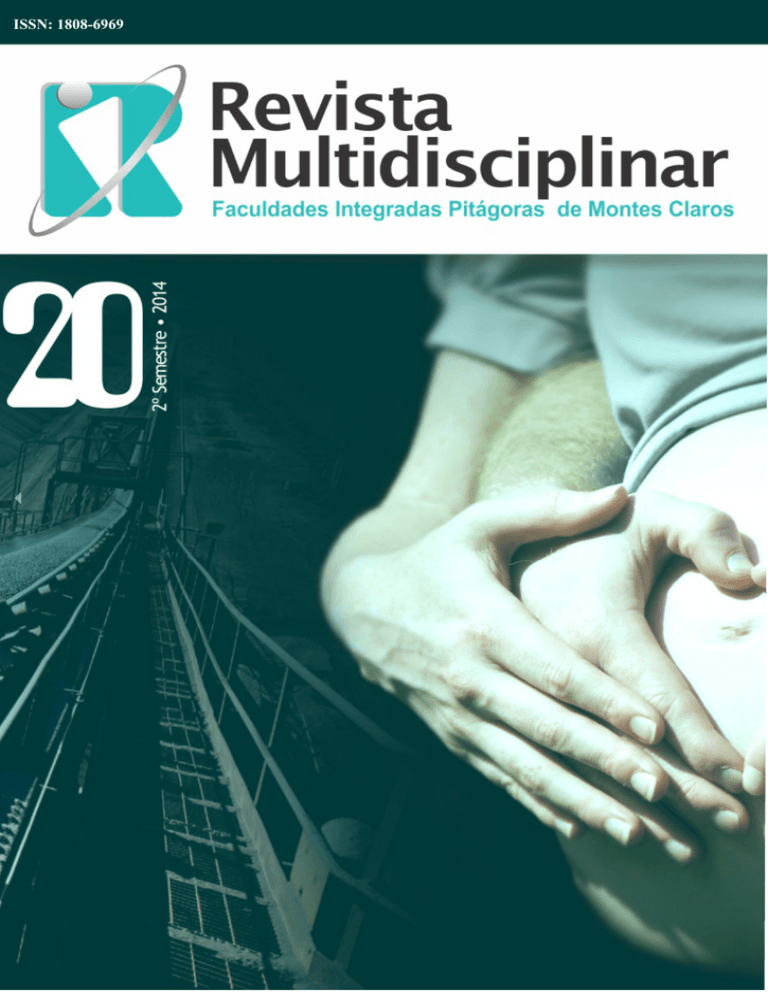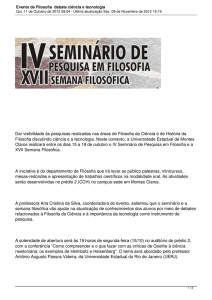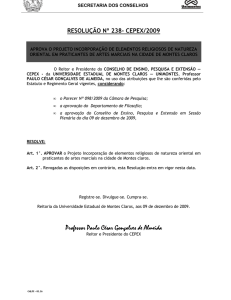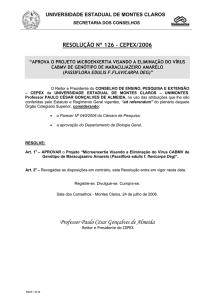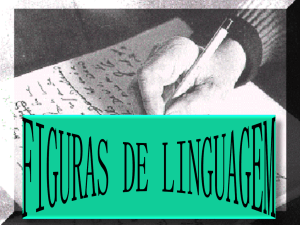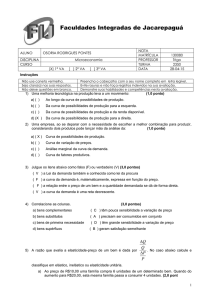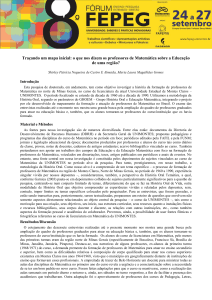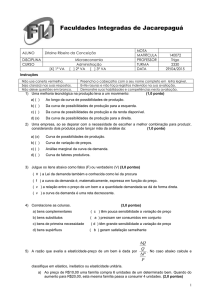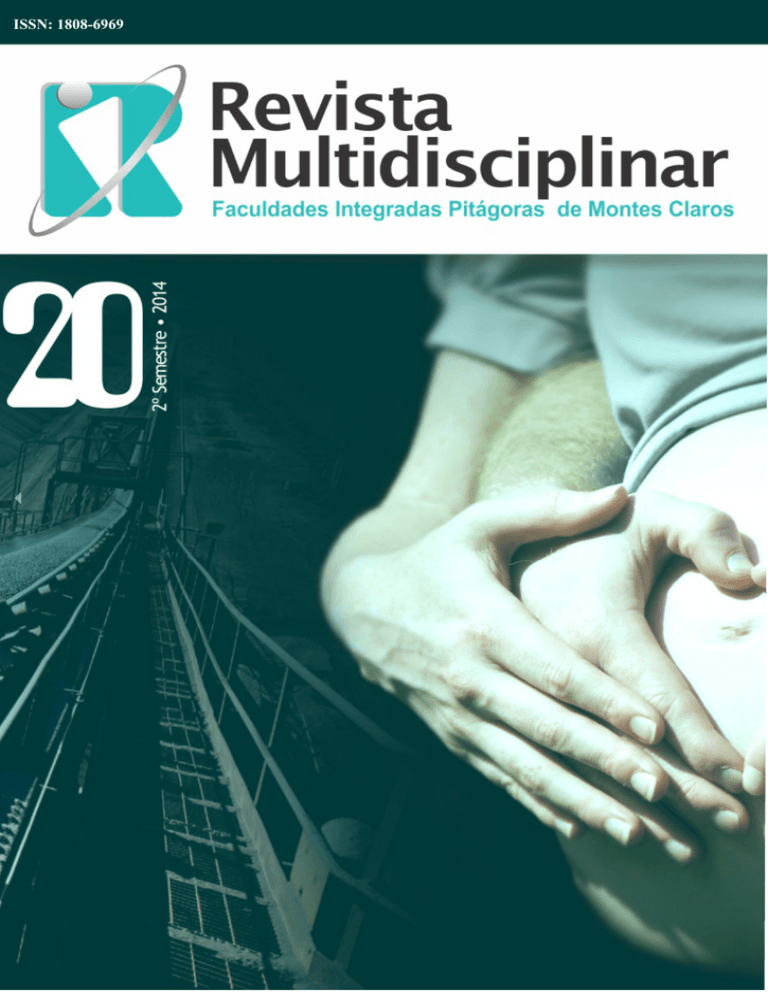
1º Semestre - 2014
ISSN: 1808-6969
Sumário
Expediente
4
das Faculdades Integradas
Pitágoras
Publicação das Faculdades Integradas Pitágoras
Montes Claros - Minas Gerais - Brasil
Ano: 12 - n. 20 - 2º semestre 2014
ISSN 1808-6969
Cursos Integrados Periódicos
EDITORES CIENTÍFICOS RESPONSÁVEIS
Antônio Prates Caldeira
Rosina Maria Turano Mota
CORPO EDITORIAL
Ana Cláudia Chesca - Uniube
Carlos Eduardo Mendes D´Angelis - FIPMoc
Cynara Silde M. Veloso - UNIMONTES - FIPMoc
Dalton Caldeira Rocha - UNIMONTES - FIPMoc
Daniela A. Veloso Popoff - UNIMONTES - FIPMoc
Dorothea Schmidth França - FIPMoc
Fernanda Costa - FIPMoc
Humberto Gabriel Rodrigues - FIPMoc
Layrton Ferreira da Silva - FIPMoc
Leandro Luciano da Silva - FIPMoc - UFMG
Marcos Vinícius Macedo de Oliveira - FIPMoc
Maria Fernanda Santos Figueiredo Brito - FIPMoc
Marley Garcia Silva - IFB/ Brasília
Marta Verônica V. Leite - UNIMONTES
Pablo Peron de Paula - FIPMoc
Ramon Alves de Oliveira - FIPMoc
Regina Célia Lima Caleiro - UNIMONTES
Roseane Durães Caldeira - FIPMoc
Thaís Cristina Figueiredo Rego - FIPMoc - UFU
EDITORA EXECUTIVA
Maria de Fátima Turano
EDITORIAL
CALDEIRA, Antônio Prates
Artigos Originais
5
CÂNCER INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E
ENFRENTAMENTOS VIVENCIADOS PELOS PAIS
MACHADO, Laís Cristina Rodrigues da Cruz; SOUZA, Patrícia Antunes
de; LIMA, Cássio de Almeida; RIBEIRO, Cláudia Danyella Alves Leão
14
ALTERAÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DA ATIVIDADE
DE DOCENTE
FIGUEIREDO, Ariane Medeiros; SANTOS, Stela Marys Marques dos;
ESCOBAR, Érika Goulart Veloso Ferreira
19
CÂNCER DE PRÓSTATA: CONHECIMENTO DOS
DOCENTES E FUNCIONÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO
PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR DE MONTES
CLAROS – MG
SOUSA, Danielle Cristina Nascimento de; CONCEIÇÃO, Márcio Leandro
da; MOTA, Écila Campos
27
ATIVIDADES LABORAIS PELOS DEFICIENTES MENTAIS
EM MONTES CLAROS/MG SOB A ABORDAGEM DAS
CORRENTES CLÁSSICAS: SOCIOLÓGICA E
ADMINISTRATIVA
SANTANA, Floripes Crispim; OLIVEIRA, Ramon Alves
35
PERCEPÇÕES DAS JOVENS MÃES: FATORES DE
REINCIDÊNCIA GESTACIONAL NA ADOLESCÊNCIA
OLIVEIRA, Amanda Muniz; COSTA, Amanda de Andrade; BASTOS,
Rodolpho Alexandre Santos Melo
45
INFECÇÕES URINÁRIAS EM PACIENTES
HOSPITALIZADOS EM UM CENTRO DE TERAPIA
INTENSIVA: PREVALÊNCIA E PERFIL DE RESISTÊNCIA
AOS ANTIMICROBIANOS
PINHEIRO, Thales Almeida; MARTINS, Ávila Lopes; PRATES, Mayrane
Luiz
51
RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES NA PÓSMENOPAUSA
LEAL, Thaís Borges; ROCHA, Lorena Silveira; DE QUEIROZ, Marcelle
Mafra; CAMPOS, Maria Cecília Costa; GONTIJO, Bia Gomes; BARRAL,
Ana Beatris Cezar Rodrigues
58
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS VALORES DE
GLICEMIA CAPILAR E GLICEMIA VENOSA EM
PACIENTES DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS
PINHEIRO,Thales Almeida; REIS, Bárbara Lessa Alves; TEIXEIRA,
Jéssica Mendes
64
EXPLORAÇÃO MINERAL NO NORTE DE MINAS:
COMPREENDENDO MELHOR A QUESTÃO DOS
ROYALTIES
LAGES, Gabriela Lemos; FERREIRA, Diogo Fabiano; REGO, Thaís
Cristina Figueiredo
79
UM SIMULADOR EDUCATIVO SOBRE O CONSUMO DE
ENERGIA EM PEQUENAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CARVALHO, Ricardo Pinto de; MOURA, Raissa Rayanna Araújo
CAPA
Ilimitada Propaganda
ASSESSORIA DE REVISÃO LINGUÍSTICA
Rosane Bastos
Editorial
Artigo de Revisão
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros
Av. Profa. Aída Mainartina Paraíso, 80
Ibituruna - Montes Claros/ MG
CEP: 39.400-082 - Fone/Fax: 38-3214-7100
www.fip-moc.edu.br/revista
É permitida a reprodução de artigos desta revista desde que citada a fonte.
86
AS RELAÇÕES REAIS E PRÁTICAS ENTRE PSICOLOGIA
E EDUCAÇÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO PARA A COMPREENSÃO SOBRE AS
PRÁTICAS EDUCATIVAS
RODRIGUES, Rogério
96
REGRAS EDITORIAIS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
NA REVISTA MULTIDISCIPLINAR DAS FIPMoc
Editorial
EDITORIAL
CALDEIRA, Antônio Prates
Coordenador do curso de Medicina das FIPMoc
Já há algumas décadas a Organização Mundial
de Saúde definiu a saúde como um “estado de
completo bem-estar físico, mental e social e não
somente ausência de afecções e enfermidades".
Embora esse conceito tenha sofrido críticas, sendo
considerado por alguns como algo utópico e
inatingível, ele propiciou a discussão ampliada do
processo saúde-doença e trouxe para o âmbito das
academias e dos serviços de saúde, a necessidade de
olhares diferenciados para a saúde. Aos poucos, a
saúde tem se associado à qualidade de vida e os
profissionais de saúde já começam a perceber as
doenças além de processos meramente biológicos.
Neste número da Revista Multidisciplinar das
Faculdades Integradas Pitágoras, acadêmicos,
professores e pesquisadores demonstram esse olhar
diferenciado, discutindo as percepções de mães
jovens sobre a gravidez na adolescência, as
experiências dos pais de crianças com câncer, as
atividades laborais desenvolvidas com pacientes com
deficiência mental, as alterações de saúde em
docentes e o conhecimento sobre câncer de próstata
em docentes e funcionários da área acadêmica. O
olhar ampliado não ocorre em detrimento às
dimensões biológicas e epidemiológicas que
04
representam importante apoio diagnóstico, como
destacados nos artigos que avaliam o risco
cardiovascular em mulheres na pós-menopausa, as
infecções urinárias em pacientes hospitalizados e os
valores de glicemia capilar e venosa em pacientes
diabéticos e não diabéticos.
Além da ênfase sobre os cuidados de saúde,
outros autores abordam as relações reais e práticas
entre Psicologia e Educação, descrevem a
experiência de um simulador educativo sobre o
consumo de energia e discutem a questão dos
royalties na exploração mineral no norte de Minas.
Olhares múltiplos e ampliados auxiliam na
construção de um conhecimento holístico, cada vez
mais necessário no mundo contemporâneo.
Esperamos que os leitores sejam seduzidos pela
diversidade de temas e ampliem seus horizontes,
abertos a diferentes saberes, reelaborando velhos e
novos paradigmas.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
CÂNCER INFANTIL: EXPERIÊNCIAS E ENFRENTAMENTOS
VIVENCIADOS PELOS PAIS
MACHADO, Laís Cristina Rodrigues da Cruz*; SOUZA, Patrícia Antunes de*; LIMA, Cássio de Almeida**; RIBEIRO,
Cláudia Danyella Alves Leão***
*Enfermeiras, graduadas pela FASI; **Acadêmico do curso de Enfermagem da UNIMONTES;
**** Enfermeira, mestre em Ciências da Saúde e docente da UNIMONTES e das FIPMoc
RESUMO
O estudo objetivou compreender os sentimentos e
experiências vivenciadas pelos pais de crianças com
câncer. Apresenta uma abordagem qualitativa e foi
desenvolvido com pais de crianças com câncer, em
tratamento, no Centro de Alta Complexidade em
Oncologia Irmã Malvina, da Irmandade Nossa
Senhora das Mercês, na cidade de Montes Claros –
MG. Foram entrevistados 5 mães e 3 pais de crianças
em tratamento no setor oncológico. Utilizou-se a
entrevista individual. A análise dos dados se deu
através da exploração temática de conteúdo.
Observou-se que a notícia de que o filho tem câncer
causa um choque na família. Isso foi percebido pelo
desespero dos pais que encaram o diagnóstico como
uma sentença de morte, relacionada à crença de que
câncer não tem cura. Outro aspecto percebido foi que
a necessidade de acompanhar o filho impõe aos pais o
abandono de seu ambiente familiar e de trabalho,
incluindo a maioria de seus hábitos de vida diários,
suas rotinas e a realização de atividades que lhe
trazem prazer. Além disso, os pais procuram diversas
formas para tentar minimizar o sofrimento da família
e do filho. Desse modo, as significações dadas a esse
conjunto de ocorrências e vivências demonstram o
estado emocional de tristeza e, por vezes, melancolia
dos pais diante do adoecimento do filho. Assim,
recomenda-se aos profissionais de saúde desenvolver
ações que permitam aos pais elaborar estratégias de
enfrentamento, inclusive porque, em grande parte,
depende também deles a boa condição emocional da
criança durante o tratamento.
Palavras-chave: Câncer. Saúde da Criança. Pais.
Família.
INTRODUÇÃO
O termo câncer é dado ao conjunto de mais de
250 doenças que apresentam causas, manifestações,
tratamento e prognósticos diferentes, tendo em
comum o crescimento desordenado de células que
invadem os tecidos e órgãos e que podem espalharse para outras regiões do corpo. Podem originar-se
em todo e qualquer tecido humano e em qualquer
idade. O surgimento das células cancerígenas é
resultante da mutação de células normais,
determinada por agente cancerígeno ou fatores
etiológicos físicos, químicos e biológicos
(CAGNIN; LISTON; DUPAS, 2004).
Nesse sentido, o câncer se configura como
uma doença crônica, causando problemas de saúde
com sintomas e incapacidades associados e que
exigem do doente controle e acompanhamento em
longo prazo, podendo evoluir de forma incerta. É
uma patologia que pode trazer, aos indivíduos
portadores, dores incontroláveis e sofrimento
intenso, que se estende também aos familiares que
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
05
Artigo Original
que acompanham a evolução da doença
(BERTOLDO; GIRARDON-PERLINI, 2007).
Com uma imensa carga de estigma, o câncer,
além de desgastar e consumir o corpo humano, física
e emocionalmente, pode muitas vezes agir de forma
lenta e silenciosa. É ainda visto como tabu, castigo,
maldição, e é associado sempre a tratamentos
dolorosos e agressivos, além da possibilidade de
morte (SANTOS; GONÇALVES, 2008). Ameaçada
por um acontecimento que a coloca em face do
desconhecido, e abalada pela sensação de perda
iminente, a família acompanha o doente na travessia
de situações difíceis e dolorosas, como a bateria de
exames e procedimentos invasivos, a hospitalização,
os comunicados da equipe de saúde e os códigos do
ambiente hospitalar com os quais não está
familiarizada. No afã de oferecer apoio e poupar o
enfermo de um excesso de sofrimento, os familiares
experimentam, eles próprios, sentimentos de
desamparo, que comprometem seu bem-estar
emocional (MENEZES et al., 2007).
Segundo Santos (2002), o diagnóstico de
câncer é um momento desorganizador na vida da
criança e também na vida daqueles que convivem
com ela. O impacto do diagnóstico pode
comprometer o tratamento, ou seja, as reações a essa
notícia podem ser desastrosas para a criança e seus
familiares, levando-os a desequilíbrios emocionais,
insegurança, culpabilidade, medo e sintomas de
depressão.
Os pais são as pessoas mais importantes e
presentes na vida da criança, ainda mais quando ela
recebe um diagnóstico de câncer. Nesse contexto, ela
precisa ainda mais de apoio, carinho, amor e atenção,
que primordialmente são buscados na família. Diante
do diagnóstico, os pais podem-se sentir descrentes e
em estado de choque. Inicialmente eles poderão
experienciar uma sensação de anestesiamento e
paralisação, enfrentando dificuldades de assimilar
informações e compreender o que está acontecendo
naquele momento (KOHLSDORF; COSTA
06
JUNIOR, 2012; AMADOR et al., 2013).
Ter um filho com câncer ocasiona diversos
efeitos na vida da família. Há uma necessidade
maior de aproximação, dificuldades financeiras,
sacrifícios, dor e angústia emocional. A sensação é
de estar vivenciando uma luta, na qual os pais
questionam o porquê da doença em suas vidas. A
doença faz com que cada membro da família passe a
desenvolver novas habilidades e tarefas no cotidiano
familiar para conseguir resolver os conflitos devido
à hospitalização e às demandas da doença nos
aspectos físicos, psico-sociais e financeiros
(ÂNGELO; MOREIRA; RODRIGUES, 2010).
Os pais da criança doente de câncer
frequentemente possuem suas vidas transformadas,
tanto na rotina doméstica, quanto nos aspectos
financeiro, profissional e na vida conjugal. A
dinâmica familiar sofre mudanças que refletem o
modo como cada membro está lidando com a
situação. Um exemplo disso é o de que, geralmente,
o tratamento do câncer exige longas e frequentes
internações, às quais o paciente está sujeito e que
requerem a presença constante de pelo menos um
familiar, geralmente os pais (KOHLSDORF;
COSTA JUNIOR, 2012).
Para Beck e Lopes (2007), a situação do
familiar que tem um parente internado agrava-se
quando ele assume o papel de acompanhante, em
razão do desgaste físico e emocional a que está
exposto. Os acompanhantes ficam longos períodos
ajudando nos cuidados, sem descanso, além de
compartilhar as angústias do paciente. Eles tendem a
se desestruturar emocionalmente, embora evitem
deixar transparecer os próprios sentimentos para
poupar o enfermo, mas buscam apoio emocional na
família, equipe e nos outros acompanhantes.
Assim, torna-se relevante a equipe de saúde
saber quais os sentimentos experienciados pelos
pais em relação à doença dos filhos. Mediante a
compreensão desses sentimentos, é possível o
desenvolvimento de uma assistência humanizada e
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
integral, voltada para a criança e para os pais que
vivenciam as transformações cotidianas oriundas da
evolução clínica do filho. Nessa perspectiva, este
estudo objetivou compreender os sentimentos e
experiências vivenciados pelos pais de crianças com
câncer.
MÉTODO
Trata-se de estudo com delineamento
descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa,
pois esta envolve o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis
(MINAYO, 2010).
O cenário da investigação foi o Centro de Alta
Complexidade em Oncologia (CACON) Irmã
Malvina, da Irmandade Nossa Senhora das Mercês,
de Montes Claros. Atualmente, o CACON é a
principal referência para tratamento do câncer no
norte do Estado de Minas Gerais (MG) e adjacências.
No período de realização da pesquisa, estava em
funcionamento há oito anos e prestava assistência a
800 pacientes por mês, nas áreas de atendimento
ambulatorial e quimioterapia, sendo que 200 eram
crianças. O Centro conta com uma equipe médica
formada por 05 oncologistas e 02 hematologistas, e
disponibiliza, ainda, equipe multiprofissional nas
áreas de enfermagem, farmácia, serviço social,
nutrição, fisioterapia, odontologia e psicologia
(SANTA CASA, 2012).
Os participantes deste estudo foram os pais de
crianças com câncer, em tratamento no CACON. As
entrevistas foram conduzidas pelas pesquisadoras, no
próprio CACON, em sala privativa, a fim de garantir
um ambiente agradável e confortável, assegurando
privacidade aos participantes. As entrevistas
ocorreram durante uma semana, no mês de outubro de
2012, com data previamente agendada no setor de
oncologia. Os horários das entrevistas foram no turno
em que as crianças estavam em acompanhamento no
referido serviço. O número de entrevistados seguiu
o método de amostragem por saturação teórica
(MINAYO, 2010).
Utilizou-se a entrevista individual, com
identificação dos entrevistados em relação à idade,
profissão, idade do filho e tempo de descoberta da
doença. Em seguida, para abordar o tema,
utilizaram-se as seguintes questões norteadoras: O
que você sentiu quando descobriu a doença de
seu/sua filho/ filha. Você deixou de realizar alguma
atividade para acompanhar o tratamento de seu/sua
filho/filha? O que você aprendeu com a doença de
seu/sua filho/filha? No decorrer das entrevistas,
quando necessário, as pesquisadoras utilizaram
outras perguntas para absorverem melhor as
experiências dos entrevistados.
As entrevistas foram gravadas, o que permitiu
contar integralmente com as informações fornecidas
pelos participantes. Triviños (1994) declara que o
uso do gravador dá ao pesquisador a certeza de que
obterá a reprodução fiel e íntegra da fala, evitando,
assim, riscos de interpretações equivocadas. Após a
coleta dos dados, as entrevistas foram transcritas na
íntegra e codificadas por nomes de flores, para
preservar o sigilo dos participantes.
Realizou-se a análise temática de conteúdo
proposta por Minayo (2010), que consiste em um
conjunto de técnicas de análise de comunicação,
permitindo identificar inferências sobre dados de
um determinado contexto. Para a realização desse
processo, ocorreram três etapas: a pré-análise com
leitura flutuante; exploração do material com
identificação de categorias; e, posteriormente, o
tratamento dos resultados e a interpretação.
Esta pesquisa foi conduzida atendendo aos
princípios éticos das pesquisas envolvendo seres
humanos. Obteve-se a anuência formal da
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes
Claros. Os pais assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto de
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
07
Artigo Original
pesquisa que originou este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades
Integradas do Norte de Minas (FUNORTE), mediante
o Parecer Consubstanciado 130.100/2012.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das análises das percepções parentais,
foram identificadas três categorias empíricas:
Vivenciando a descoberta da doença; rompendo a
rotina de vida cotidiana; buscando formas de
enfrentamento. Em adição, fez-se a caracterização
dos pais e de seus filhos, para melhor conhecimento e
contextualização do estudo.
Caracterização dos Pais e de seus Filhos
A idade dos pais esteve compreendida entre 25
e 41 anos, com a média de 32 anos, sendo
entrevistados cinco mães e três pais, que
representavam o cuidador principal das crianças.
Quanto à situação conjugal, cinco eram casados, uma
vivia em união estável e dois estavam solteiros.
Considerando a ocupação, um trabalhava fora do
domicílio como auxiliar administrativo, um na
agricultura de subsistência, cinco exerciam
atividades no lar e um não trabalhava. Entre as
crianças, duas não tinham irmãos, três tinham um
irmão, um tinha dois irmãos e um tinha cinco irmãos.
A idade das crianças variou de 4 a 13 anos, com média
de 7 anos. O tempo de descoberta da doença até o
momento da entrevista variou entre 2 meses e 8 anos,
apresentando uma média de 5 anos.
Vivenciando a Descoberta da Doença
Observou-se, nas falas dos entrevistados, que a
notícia de que o filho tem câncer causa um choque na
família. Isso foi percebido pelo desespero dos pais
que encaram o diagnóstico como uma sentença de
morte, relacionada à crença de que câncer não tem
08
depoimentos de alguns pais:
“...o sentimento que agente teve é...de
perda, né? Porque a causa da doença é
muito séria né?
“...o sentimento que agente teve é...de
perda, né? Porque a causa da doença é
muito séria né?
A/gente ficava já em um sentimento de
morte...” (CRAVO)
“... pareceu que o mundo caiu sobre minha
cabeça, pensei que não tinha jeito para ele,
que não tinha cura a doença. Pensei que ele
ia morrer, de imediato a/gente pensa meio
assim...” (ROSA)
“... a gente começou a olhar ele de uma
maneira diferenciada, né? Tipo com medo
de perda, foi isso que passou na cabeça da
gente...” (LÍRIO)
Diante da dor e das incertezas, surge, muitas
vezes, um sentimento latente de culpa, geralmente
mesclado a outras manifestações emocionais
intensas, desencadeadas pela frustração. Tristeza,
impotência, revolta, inconformismo, pavor diante
do desconhecido também são reações muito
presentes. A sensação de que o mundo está acabando
e de que o chão esta-se abrindo embaixo dos pés
mostra a fragilidade que a doença causa aos pais.
Como descrito nos relatos abaixo:
“Sensação horrorosa. Você acha que o
mundo está desabando em cima de você
assim...” (CRISÂNTEMO)
“... e, de repente, você recebe uma notícia
assim. Na hora, você fica meio sem chão.”
(HORTÊNSIA)
“Nossa, não tenho nem palavras, é o chão
que você perde, perde o chão que você fica
quase louca no início. Até que você coloca o
pingo no is, demora. Aceitar, entender.”
(TULIPA)
Observa-se, nas falas, o desvelamento da
surpresa dos pais ao se depararem inesperadamente
com um acontecimento aterrorizante. Eles se
percebem nessa nova condição, tendo uma criança
com câncer em seus lares e, imediatamente,
direcionam seus pensamentos para a possibilidade
de perda do filho. Dessa forma, transformam sua
existência em algo não mais prazeroso e trazem
consigo a antevisão de uma morte próxima (SALES
et al., 2012; FARIA et al., 2012).
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
Segundo Santos et al (2011), a angústia que
permeia esse momento deve-se ao medo do
desconhecido, do que há por vir. Na angústia, o que
ameaça a existência do ser é algo que não está em
parte alguma, aquilo que é inóspito e não possui
familiaridade com seu cotidiano. Os pais passam,
nesse primeiro momento - o do diagnóstico - por um
processo de negação, apresentando enorme
dificuldade em aceitar que o filho está doente por um
câncer pois representa uma associação com a morte
(OLIVEIRA; COSTA; NOBREGA, 2006).
Corroborando essa ideia, Malta et al. (2008)
afirmam que o diagnóstico do câncer desdobra-se em
dois momentos para os pais: o do alívio em saber o
que seu filho tem, e o temor misturado à sensação de
que o médico sela seu destino e o de seu filho com a
sua palavra. Receber o diagnóstico de câncer ainda é
como receber uma sentença de morte, devido a todo o
peso que essa palavra carrega.
Para Carmo et al. (2011), no momento em que
os pais se deparam com o diagnóstico de câncer em
seu filho, seu mundo desmorona, e o futuro se fecha
em uma perspectiva de morte. Esse momento é
marcado por uma dor imensurável, mesmo com todas
as explicações sobre a evolução científica, os índices
de cura e as possibilidades de uma terapêutica
apresentar resultados positivos. A antecipação da
perda é uma situação muito perturbadora, tanto
quanto a morte propriamente dita, trazendo consigo
respostas emocionais como ansiedade de separação,
tristeza, raiva, cansaço e desespero. Com essa ameaça
de perda, os pais tornam-se ainda mais
superprotetores e vigilantes (GRANT; TRAESEL,
2010).
Rompendo a Rotina de Vida Cotidiana
A necessidade de acompanhar o filho impõe
aos pais o abandono de seu ambiente familiar e de
trabalho, incluindo a maioria dos hábitos de vida
diários, as rotinas e a realização de atividades que lhes
trazem prazer, como está expresso nas seguintes
falas:
“... eu estava estudando, tive que parar. O
pai dela também teve que ficar à
disposição. Ele trabalha autônomo, já
tava, e agora também teve que continuar
para ficar à mercê dela, qualquer coisinha
que precisar. É por conta dela mesmo.”
(TULIPA)
“... tive que parar de trabalhar para
dedicar só a ele, porque tinha que vim
todos os dias trazer ele, deixei bastante
coisa para trás para ficar só com ele.”
(ROSA)
“... não é todo lugar que vou com ela, assim
o esforço né?! Privo muito de certas
coisas...não sou muito de sair sozinha
mais, sempre saio acompanhada. Deixei
de fazer muitas coisas...” (TULIPA)
Uma doença em um filho desestabiliza a
família abruptamente e, no caso de doença crônica,
como o câncer infantil, ela precisa retomar sua vida
e tentar manter o equilíbrio. O cotidiano do pai, a
partir do adoecimento do filho pelo câncer, é
alterado sobremaneira; o que antes era simples,
torna-se difícil, comprometendo o desdobramento
dos papéis de cada membro. O impacto que a
doença causa redireciona a atenção da família para o
filho com câncer, que passa a ser o centro das
atenções (BELTRÃO et al., 2007).
Muitas mudanças foram relatadas nas
entrevistas: mudanças na rotina, na família, de
atitudes e de valores. Seis pais abandonaram, por
um determinado tempo ou de forma permanente, os
empregos. Quatro pais deixaram os outros filhos,
em cidades vizinhas, aos cuidados de avós e tios,
para cuidarem do filho doente. Isso é percebido nas
falas abaixo:
“Assim, porque, eu ajudava meu marido, a
gente trabalhava na roça né?! E... hoje eu
não faço mais, por que...ele é a minha
prioridade hoje.” (HORTÊNSIA)
“Trabalhar?! Até pouco tempo eu estava
trabalhando, aí agora eu não estou não,
porque não tem como, né? Tem hora que
não dava para ir, aí falhava mais do que ia
no serviço, porque não tinha como
trabalhar.” (MARGARIDA)
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
09
Artigo Original
“Eu fico mais aqui do que na minha casa,
deixo meus filhos, meus outros filhos pra
trás.” (HORTÊNSIA)
“Minha mãe fica com os outros, tenho mais
2 filhos.” (AZALÉIA)
Nesse sentido, é comum que um dos pais deixe
de trabalhar para acompanhar o filho doente em sua
rotina de consultas ambulatoriais e hospitalizações. E
essa necessidade de interromper as atividades
profissionais e acompanhar a criança doente não
apenas compromete o orçamento familiar, mas
também repercute na relação com o cônjuge e no
relacionamento e desenvolvimento dos outros filhos
quando há mais de um filho. A configuração familiar
muda e todos devem se adaptar a ela. Muitas vezes os
outros filhos precisam ficar sob os cuidados de tios e
avós, para que o pai possa trabalhar (KOHLSDORF;
COSTA JUNIOR, 2012).
A experiência da família diante dos cuidados é
marcada pela reorganização familiar centrada no
cuidado da criança com câncer, o que envolve as
necessidades bio-psico-sociais e espirituais das
crianças e da família (SANCHES; NASCIMENTO;
LIMA, 2014). Nessa perspectiva, Silva, Melo e
Pedrosa (2013) acrescentam que, diante de uma
doença como o câncer infantil, os pais deverão rever
os papéis deles e fazer reajustes na dinâmica da
família. Na medida em que acontece, esse rearranjo se
beneficiará dos recursos disponíveis no contexto em
que estão inseridos.
No caso dos pais entrevistados, a família
extensa, ou seja, avós, tios e parentes mais próximos,
podem se constituir em uma rede de apoio nesse
processo.
Buscando Formas de Enfrentamento
O papel dos cuidadores nessa vivência é
complexo, envolve sentimentos negativos, como
angústia, decorrente da dor e do impacto que o
diagnóstico traz, além da sobrecarga física e psicosocial que a família precisa suportar (AMADOR et
al., 2013).
10
Dessa forma, ao experienciar essa vivência, os pais
procuravam diversas formas para tentar minimizar o
sofrimento da família e do filho. Mesmo diante dos
acontecimentos dolorosos, eles demonstram
disposição em lutar, sua fé e esperança em Deus e no
tratamento, como expressam os relatos:
“... podemos observar que a esperança de
cura dele é muito alta. Graças a Deus
a/gente tem muita esperança com a cura
dele.” (LÍRIO)
“... mas Deus tá me ajudando muito, que
nessas horas ser religioso ajuda... a médica
também é muito boa, muito competente,
ajuda demais...” (TULIPA)
“... aumentou mais a fé...” (CRAVO)
“... não entro em desespero, para Deus não
tem nada difícil... Para o homem tem, mais
para Deus, não.” (AZALÉIA)
Em um momento de agravamento da
doença da criança, quando a morte parece estar
perto, os pais voltam-se inteiramente para a
religião, ao sentir que, por meio da medicina,
tudo já foi feito e apenas um ser divino pode
ajudar (GRANT; TRAESEL, 2010). Segundo
Malta et al. (2008), os seres divinos são fontes de
consolo e de orientação e essa relação pode
propiciar senso de ordenamento e
previsibilidade dos eventos e novos significados
para situações problemáticas.
Observou-se, ainda, que os pais procuram
manter uma rotina de lazer que inclua o filho
doente, ou mesmo aqueles que não tinham essa
rotina passam a ter, na tentativa de uma vida de
menos sofrimento tanto para o filho quanto para
os pais.
“... passear e viajar? Isso aí eu não
deixei de fazer não, eu levo ele...”
(AZALEIA)
“... agora temos um lazer todo final de
semana, o último lazer que a/gente teve
agora foi de uma semana, nós
começamos a aproveitar mais isso aí,
porque ele ficou muito tempo internado
parado, então nós ficamos em função
dele, para melhorar o ânimo dele... essa
parte emocional dele, para ele encarar
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
esse processo de internação.” (LÍRIO)
O modo de enfrentamento da doença utilizado
pelos pais é, em parte, determinado por suas histórias
e experiências passadas, os valores e crenças
pessoais, mas depende também dos recursos sociais
disponíveis na comunidade para lidar com algum
evento estressante (MENEZES et al., 2007). Os
suportes para o apoio social dos pais podem abranger
as crenças religiosas individuais, a família, a equipe
de saúde e os amigos. Essa rede de apoio auxilia no
enfrentamento da doença, contemplando aspectos
biológicos, psicológicos e sociais (BELTRÃO et al.,
2007).
Nesse contexto, Sanches, Nascimento e Lima
(2014) afirmam que a assistência à criança com
câncer infantil deve também se estender ao cuidado
planejado e baseado em ações direcionadas às esferas
físicas e emocionais, aos valores culturais, éticos e
religiosos, e nos recursos humanos e materiais
disponíveis aos pais. É ainda imprescindível que esse
planejamento seja ancorado em um objetivo central,
ou seja, a qualidade de vida e, portanto, com foco no
conforto e bem-estar biopsico-social e espiritual,
compartilhado e realizado em conjunto com a
criança, os pais e a família, respeitando os desejos e
opiniões e, sobretudo, as maneiras que adotam para o
enfrentamento dessa realidade.
Em adição, faz-se indispensável que os
profissionais de saúde se mostrem disponíveis a
responder perguntas, prestar informações e garantir o
apoio necessário durante toda essa jornada de
complexos desafios impostos aos pais, estimulando
que estes construam as próprias formas de
enfrentamento (MCKENNA et al., 2010).
A partir disso, os pais exercem grande
influência sobre o curso da doença e o doente,
principalmente quando é uma criança. Se bem
orientados, eles poderão auxiliar a criança na
utilização de seus recursos de adaptação de forma
mais eficaz, respeitando as possibilidades e
equipe bem qualificada para oferecer à criança e à
família o cuidado humanizado e o acolhimento de
que necessitam, sendo assim também um dos
recursos disponíveis para o enfrentamento do
câncer infantil (SALES et al., 2012).
A presente pesquisa, embora tenha permitido a
compreensão dos sentimentos e experiências
vivenciadas pelos pais de crianças com câncer,
apresenta limitações a serem consideradas. Houve
um reduzido número de participantes e restrição ao
cenário limitado de uma instituição embora essa
quantidade não seja uma característica essencial do
estudo de abordagem qualitativa. Assim, trata-se de
uma investigação com achados singulares e um
cenário com características específicas, o que, dessa
forma, dificulta a generalização dos resultados. Para
uma maior compreensão acerca da temática, e
reconhecendo tais limitações, o assunto em estudo
enseja a realização de novas investigações tanto na
instituição cenário desta pesquisa, quanto em
outras.
Nesta investigação, foram abordados os
aspectos relevantes no que se referem à temática
proposta, merecendo destaque alguns pontos, como
o choque do diagnóstico que aparece como sendo o
momento mais difícil, não só para os pais, mas para
toda a família. Desde esse primeiro momento,
inicia-se um processo de perdas, como da vida que
levava e da sua rotina, do convívio com a família e
amigos, e, dentre outras, de sua tranquilidade em
relação à segurança e imortalidade da família.
Logo, as significações dadas a esse conjunto
de vivências demonstram o estado emocional de
tristeza e, por vezes, melancolia dos pais diante do
adoecimento do filho. Assim, faz-se necessário que
os profissionais de saúde desenvolvam no âmbito
institucional ações que permitam aos pais
elaborarem estratégias de enfrentamento do
sofrimento, inclusive porque, em grande parte,
depende deles a boa condição emocional da criança
durante o tratamento.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
11
Artigo Original
REFERÊNCIAS
AMADOR, D. D. et al. Repercussões do câncer
infantil para o cuidador familiar: revisão integrativa.
Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 66,
n. 2, p. 267-270, 2013.
ANGELO, M.; MOREIRA, P. L.; RODRIGUES, L.
M. A. Incertezas diante do câncer infantil:
compreendendo as necessidades da mãe. Escola
Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de
Janeiro, v. 14, n. 2, p. 301-308, 2010.
BECK, A. R. M.; LOPES, M. H. B. de M. Cuidadores
de crianças com câncer: aspectos da vida afetados
pela atividade de cuidador. Revista Brasileira de
Enfermagem, Brasília, v. 60, n. 6, p. 670-675,
2007.
BELTRÃO, M. L. R. L. et al. Childhood cancer:
maternal perceptions and strategies for coping with
diagnosis. Jornal de Pediatria, São Paulo, v. 83, n. 6,
p. 562-566, 2007.
BERTOLDO, C.; GIRARDON-PERLINI, N. M. O.
A trajetória de uma família no adoecimento e morte
de um familiar por câncer: compromisso e
solidariedade. Revista Contexto & Saúde, Ijuí, v. 6,
n. 12, p. 49-58, jan./jun. 2007.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do
Câncer. Estimativa da incidência e mortalidade
por câncer no Brasil. Brasília, 2003.
CAGNIN, E. R. G.; LISTON, N. M.; DUPAS, G.
Representação social da criança sobre o câncer.
Revista da Escola de Enfermagem da USP, São
Paulo, v. 38, n. 1, p. 51-60, 2004.
CARMO, D. Sentimentos expressados pelos pais de
crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer.
Ciência et Praxis, Passos, v. 3, n. 6, p. 53-56, 2011.
ARIA, F. M. et al. (Con)vivendo com crianças e
adolescentes diabéticos: percepção dos seus
cuidadores. Revista Multidisciplinar das
Faculdades Integradas Pitágoras, Montes Claros,
v. 10, n. 14, p. 39-45, 2012.
GRANT, C. H.; TRAESEL, E. S. Vivências de
cuidadores de crianças e adolescentes com câncer:
uma reflexão sobre o apoio psicológico. Disc
Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v.
11, n. 1, p. 89-108, 2010.
KOHLSDORF, M.; COSTA JUNIOR, A. L. Impacto
12
psicossocial do câncer pediátrico para pais: revisão
da literatura. Paideia, Ribeirão Preto, v. 22, n. 51,
p. 119-129, 2012.
MALTA, J. D. S.; SCHALL, V. T; MODENA, C.
M. Câncer pediátrico: um olhar da
família/cuidadores. Pediatria Moderna, São
Paulo, v. 44, n. 3, p. 114-118, 2008.
MCKENNA, K. et al. Parental involvement in
paediatric cancer treatment decisions. European
Journal Cancer Care, Edinburgh, v. 19, p. 621630, 2010.
MENEZES, C. N. B. Câncer infantil: organização
familiar e doença. Revista Mal-Estar Subjetivo,
Fortaleza, v. 7, n. 1, p. 191-210, mar. 2007.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento:
pesquisa qualitativa em saúde. 12.ª ed. São Paulo:
Hucitec; 2010.
OLIVEIRA, N. F. S.; COSTA, S. F. G.;
NÓBREGA, M. M. L. Diálogo vivido entre
enfermeira e mães de crianças com câncer. Revista
Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 08, n. 01,
p. 99-107, 2006.
SALES, C. A. et al. O impacto do diagnóstico do
câncer infantil no ambiente familiar e o cuidado
recebido. Revista Eletrônica de Enfermagem,
Goiânia, v. 14, n. 4, p. 841-849, 2012. Disponível
e
m
:
<http://www.revenf.bvs.br/pdf/ree/v14n4/12.pdf>
. Acesso em: 14 nov 2013.
SANCHES, M. V. P.; NASCIMENTO, L. C.;
LIMA, R. A. G. Crianças e adolescentes com
câncer em cuidados paliativos: experiência de
familiares. Revista Brasileira de Enfermagem,
Brasília, v. 67, n. 1, p. 28-35, 2014.
SANTA CASA. A Santa Casa de Montes Claros
na Atualidade: Oncologia Santa Casa. Disponível
em: < www.santacasamontesclaros.com.br >.
Acesso em: 15 set. 2012.
SANTOS, L. M. P.; GONÇALVES, L. L. C.
Crianças com câncer: desvelando o significado do
adoecimento atribuído por suas mães. Revista
enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, p.
224-229, 2008.
SANTOS, L. F. Ser mãe de criança com câncer:
uma investigação fenomenológica. Revista
enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p.
626-631, 2011.
SANTOS, M. E. M. A criança e o câncer. Recife:
A. G. Botelho, 2002.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
SILVA, L. M. L.; MELO, M. C. B.; PEDROSA, A. D.
O. M. A vivência do pai diante do câncer infantil.
Psicologia em Estudo, Maringá, v. 18, n. 3, p. 541550, jul./set. 2013.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em
ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação.
São Paulo: Atlas, 1994. 175p.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
13
Artigo Original
ALTERAÇÕES DE SAÚDE DECORRENTES DA ATIVIDADE
DOCENTE
FIGUEIREDO, Ariane Medeiros*; SANTOS, Stela Marys Marques dos*; ESCOBAR, Érika Goulart Veloso Ferreira**
* Discentes das FIPMoc; ** Docente das FIPMoc
RESUMO
Os professores utilizam suas habilidades físicas,
cognitivas e afetivas para atingir os objetivos da
produção escolar, podendo provocar sobre-esforço
ou hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas. Quando não há tempo para a
recuperação, são desencadeados os sintomas álgicos
que explicam os altos índices de afastamento do
trabalho por agravos à saúde. Portanto, o trabalho
docente gera estresse, com impactos no desempenho
profissional e repercussões na saúde física e mental.
Esse estudo tem como objetivo identificar as
alterações de saúde e as medidas de prevenção nos
docentes das FIPMoc. Trata-se de uma pesquisa
descritiva e transversal, realizada com 66 docentes
das FIPMoc, mediante assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de
inclusão foram: ter vínculo empregatício com a
instituição, estar presente na data da pesquisa e
aceitar participar do estudo. Foram excluídos todos
os professores que não enquadravam nos critérios de
inclusão. Dentre os 66 docentes pesquisados, 45 não
apresentam alterações decorrentes da sua atividade
como docente, 15 apresentam alterações vocais e 6
docentes apresentam problemas músculoesqueléticos. O segundo gráfico revela que as
atitudes preventivas mais realizadas pelos docentes
são atividades físicas (34) e tomar água durante a aula
(33), sendo que 17 docentes não realizam nenhum
tipo de prevenção. Faz-se necessária a
conscientização dos docentes em relação à prevenção
de alterações decorrentes de sua atividade. A
implantação de programas voltados à prevenção é
14
indispensável, pois promoverá uma melhor
qualidade de vida e bem-estar aos docentes.
Palavras-chave: Alterações de saúde. Docentes.
Prevenção.
INTRODUÇÃO
O professor possui um papel complexo,
considerando que cada um dos alunos é um ser
único, com necessidades muito diferentes. Diante da
expansão dos conhecimentos e da transformação do
mundo por meio de inovações tecnológicas e de
comunicação globalizada, as dificuldades se
acumulam para o professor, que precisa se adaptar a
novas exigências que gerem a aprendizagem de seus
alunos (VALLE et al., 2011).
As transformações, como o crescente número
de exigências e o aumento das responsabilidades
sobre os docentes, são fatores de risco que causam
doenças ocupacionais. Um dos reflexos dessas
transformações é o “mal-estar” docente, que, entre
vários fatores, pode ser gerado por um conjunto de
agravos à saúde, decorrente do processo de
adaptação às novas exigências da profissão
(CARDOSO et al., 2009).
A sobrecarga laboral exagerada provoca
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
sintomas físicos, como fadiga e cefaleias, transtornos
cardio-respiratórios e osteo-musculares, problemas
psíquicos, que variam desde a ausência de
concentração até a paranoia. Entre as alterações
comportamentais, estão a negligência ou excesso de
escrúpulos, e até o suicídio, e, ainda, sintomas
defensivos que variam do isolamento até o
absenteísmo e ironia (RUIZ; SILVA, 2009).
Os docentes usam suas habilidades físicas,
cognitivas e afetivas para alcançar os objetivos da
produção escolar, podendo gerar sobre-esforço ou
hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas.
Quando não há tempo para a recuperação, são
desencadeados os sintomas álgicos que esclarecem os
altos índices de afastamento do trabalho por agravos à
saúde. Portanto, o trabalho docente é uma atividade
causadora de estresse, com impactos no desempenho
profissional e repercussões sobre a saúde física e
mental (CARDOSO et al., 2009).
Os distúrbios do sistema músculo-esquelético
podem provocar o surgimento de diversos sinais,
como a dor e a incapacidade funcional, gerando
repercussões importantes sobre a qualidade de vida
das pessoas acometidas. Entre os docentes, é muito
comum a existência de patologias ósteo-musculares,
as quais são uma das principais causas de
absenteísmo das atividades de trabalho
(FERNANDES et al., 2011).
Os docentes podem desenvolver problemas nas
vias aéreas superiores, quando há acúmulo de poeira e
pó de giz na sala de aula. Os problemas do trato
respiratório estão associados às condições ambientais
e sofrem influência de predisponentes individuais
(MARÇAL, 2011).
A voz é um instrumento básico de trabalho para
o professor, tendo em seu desgaste um fator limitante
para o exercício das atividades profissionais, tanto
para a saúde como para a qualidade de vida. Vários
fatores contribuem para uma pior qualidade vocal do
professor. O número total de aulas dadas, salas
inadequadas, trabalho repetitivo, ruído em sala de
aula e relacionamento ruim com os alunos são
alguns desses fatores de riscos. Entretanto, apesar
dos aspectos negativos associados à saúde vocal dos
professores, a maioria possui dificuldades na
percepção do processo saúde-doença (SANTOS et
al., 2012).
As cobranças do trabalho que obrigam o
docente a esforços comprometem seu equilíbrio e
saúde, podendo interferir em sua atividade de sono.
O estresse e os distúrbios do sono são graves
ameaças, pois geram sofrimento e repercutem em
toda a sociedade (VALLE et al., 2011).
A sociedade teria muito a ganhar se os
professores fossem bem tratados, reconquistando o
antigo prestígio que a profissão lhes oferecia
(WEBBER & VERGANI, 2010).
Nesse sentido, faz-se necessário conhecer o
perfil dos professores FIPMoc, a fim de que esse
conhecimento sirva para nortear estratégias de
prevenção, promoção e tratamento. Além disso,
possibilita compreender as variações observadas no
âmbito individual e/ou populacional da saúde, a fim
de planejar uma melhor abordagem desses
profissionais.
Este trabalho tem como objetivo identificar as
alterações de saúde e as medidas de prevenção nos
docentes das FIPMoc.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa descritiva e
transversal, realizada com os docentes das
Faculdades Integradas Pitágoras. Foram avaliados
66 docentes das Faculdades Integradas Pitágoras de
Montes Claros/MG, dos seguintes cursos:
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Engenharia Mecânica, Farmácia,
Fisioterapia, Medicina, Pedagogia, Psicologia e
Publicidade e Propaganda, mediante assinatura do
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
15
Artigo Original
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
critérios de inclusão foram: ter vínculo empregatício
com a instituição, estar presente na data da pesquisa, e
aceitar participar do estudo. Foram excluídos todos
os professores que não se enquadram nos critérios de
inclusão. A coleta de dados foi realizada mediante um
questionário com 2 perguntas sobre alterações de
saúde decorrentes da atividade de docente, e
prevenção dessas alterações.
Gráfico 2 - Você realiza algum tipo de
prevenção para as alterações citadas acima?
RESULTADOS
A pesquisa de campo foi realizada no 2º
semestre de 2012, no mês de setembro, pelos
acadêmicos do curso de Fisioterapia do 6º período,
das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes
Claros (FIP/Moc). O questionário foi aplicado a 66
professores das FIP/Moc.
Este estudo trouxe-nos como resultado, que,
dentre os 66 docentes pesquisados, 45 relataram que
não apresentam nem apresentaram algum tipo de
alteração em sua saúde decorrente da sua atividade
como docente; 15 professores relataram ocorrência
de problemas vocais, 6 professores declararam ser
acometidos de problemas músculo-esqueléticos, 2
professores citaram problemas respiratórios e 1
professor apontou ter problemas auditivos. Destaquese que os docentes apontaram mais de uma alternativa
(Gráfico 1).
Gráfico 1 - Você apresenta ou já apresentou algum
tipo de alteração em sua saúde decorrente da sua
atividade docente?
Não
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
45
Problemas
Musculoesqueléticos
Problemas
Respiratórios
Alergias
Dermatológicas
15
6
2
1
1
Problemas Vocais
Problemas Auditivos
Fonte: Pesquisa de Campo do 6º período de Fisioterapia / 2º2012
16
Foi perguntado aos 66 docentes entrevistados
se realizam algum tipo de prevenção para as
alterações citadas. Dos 66 docentes, 17 respondem
que não realizam nenhum tipo de prevenção, 34
realizam atividade física, 1 realiza ginástica laboral,
11 sentam-se durante a aula, 9 evitam fatores
alérgicos, 33 tomam água durante a aula, e 2 fazem
uso de microfone (Gráfico 2).
40
35
30
25
20
15
10
5
0
34
33
Não
Atividade Física
17
Ginástica Laboral
11
9
Senta durante a aula
2
1
1
Fonte: Pesquisa de Campo do 6º período de Fisioterapia / 2º2012
DISCUSSÃO
A dor músculo-esquelética (DME) é revelada
como um importante problema de saúde, sendo um
dos principais fatores geradores de absenteísmo das
atividades de trabalho docente (CARDOSO et al.
2009; FERNANDES et al., 2011).
As dores nas costas, nas pernas, nos braços
podem estar associadas ao fato de os professores
permanecerem por longos períodos pé (escrever em
quadro de giz), carregar material didático para salas
de aulas, serem responsáveis pela instalação de
recursos áudio-visuais, deslocarem-se com
frequência de um prédio para outro, além de usarem
mesas e cadeiras de formatações impróprias (LIMA
& FILHO, 2009).
Segundo Marçal (2011), o acúmulo de poeira e
pó de giz dentro da sala de aula aumenta a
possibilidade de ocorrência de problemas nas vias
aéreas superiores. A presença constante de
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
professores, é significativamente maior do que na
população em geral.
Segundo Martins et al., (2007), o aumento da
frequência de sintomas auditivos e o relato frequente
do excesso de ruído nas aulas são sintomas que
explicam a presença de surdez ocupacional entre os
docentes, secundária à exposição ao ruído.
Os dados da pesquisa de campo contradizem os
achados da literatura, quando, diante da pergunta
"Você apresenta ou apresentou algum tipo de
alteração em sua saúde decorrente da sua atividade
como docente?", 45- em 66- professores deram
resposta negativa. Na literatura, afirma-se que
problemas de saúde relacionados com dor músculoesquelética, distúrbios vias aéreas superiores,
distúrbios vocais, problemas vocais e surdez
ocupacional são presentes em professores,
decorrentes de sua ocupação como docente.
Uma importante medida de promoção de saúde
é a prática regular de exercícios físicos- dificultada
em razão do contexto de vida dos docentes
envolvendo vários fatores, como excesso de horas de
trabalho e ausência de tempo para o lazer (SANTOS
et al., 2012).
As ações educativas em prevenção são
indispensáveis. Assim, devem ser estruturadas de
modo a modificar hábitos e aprimorar os mecanismos
de produção da voz, e estratégias de promoção à
saúde que destaquem alterações nas condições de
vida e trabalho, além de apoiar a adoção de políticas
públicas que incluam medidas fiscais, taxações e
mudanças organizacionais. Há ausência de ações de
saúde coletiva, ou pública, que considerem a
coexistência de duas áreas para a prevenção de
alterações vocais em professores - a saúde e a
educação, num só contexto de promoção (LUCHESI
et al.,2010).
Por se tratar de uma profissão que trabalha com
comunicação, o trabalho do professor exige o uso
intensivo da fala. Entretanto, o uso inadequado da voz
é um fator que colabora para os problemas vocais,
observando-se ausência de preparação do professor
para usar de forma adequada a voz. Estudo mostra
que 68,8% dos professores não bebem água durante
as aulas e 100% não usam microfone (LIMA;
FILHO, 2009).
Como podemos observar, a literatura nos
oferece bases da importância de medidas
preventivas, a fim de evitar doenças ocupacionais. A
prática de atividade física, sentar e tomar água
durante as aulas, usar microfone, usar quadros com
pincéis, entre outros, são de extrema importância
para a saúde dos professores; o número dos
professores que praticam atividade física foi até
relevante, mas ainda é um número baixo.
Diante dos resultados obtidos na pesquisa, que
o presente estudo nos mostra que, dos 66 docentes
entrevistados das Faculdades Integradas Pitágoras
de Montes Claros / MG, grande parte não apresenta
alterações decorrentes de sua atividade como
docente; dos que declararam possuir, a maioria
apresenta alterações vocais. As atitudes preventivas
mais realizadas pelos docentes são atividades físicas
e hábitos de tomar água durante a aula.
Por se tratar de uma profissão exposta a
inúmeros fatores de risco, os docentes devem ser
conscientizados da importância da realização de
medidas preventivas para que possam melhorar suas
condições de trabalho e sua qualidade de vida. A
Fisioterapia Preventiva é de fundamental
importância, pois atua na implantação de programas
voltados à prevenção de doenças e melhora da
qualidade de vida dos docentes. Portanto, é
imprescindível que a sociedade reconheça e valorize
os docentes, e que esses profissionais conheçam a
importância da prevenção para sua saúde e bemestar.
REFERÊNCIAS
CARDOSO, J. P. et al. Prevalência de dor
musculoesquelética em professores. Rev. Bras.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
17
Artigo Original
Epidemiol., v.12, n.4, p.604-614, 2009.
FERNANDES, M.H., ROCHA, V.M., FAGUNDES,
A.A.R. Impacto da sintomatologia osteomuscular na
qualidade de vida de professores. Rev. Bras.
Epidemiol., v.14, n.2, p.276-284, 2011.
LIMA, M. F. E., FILHO, D. O. L. Condições de
trabalho e saúde do/a professor/a universitário/a.
Ciências & Cognição, v. 14, n. 3, p. 62-82, 2009.
LUCHESI, K.F., MOURÃO, L.F., KITAMURA, S.
Ações de promoção e prevenção à saúde vocal de
professores: uma questão de saúde coletiva. Rev.
CEFAC, v.12, n.6, p.945-953, 2010.
MARÇAL, C. C. B. Alteração vocal auto-referida em
professores: prevalência e fatores associados. Rev.
Saúde Pública, v.45, n.3, p.503-511, 2011.
MARTINS, M. G. T. Sintomas de Stress em
Professores Brasileiros. Revista Lusófonade
Educação, v.10, p.109-128, 2007.
RUIZ, L. M., SILVA, N. R. Indicadores de burnout
em docentes de terapia ocupacional: um estudo
piloto. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo, v. 20, n. 2,
p.101-109, 2009.
SANTOS, M. N., MARQUES, A.C., NUNES, I. J.,
Condições de saúde e trabalho de professores no
ensino básico no Brasil: uma revisão.
EFDeportes.com, Revista Digital, Ano 15, n.166,
2012.
VALLE, L. E. R., REIMAO, R., MALVEZZI, S.
Reflexões sobre Psicopedagogia, estresse e distúrbios
do sono do professor. Rev. Psicopedag, v.28, n.87,
p.237-245, 2011.
WEBBER, D. V., VERGANI, V. A profissão de
professor na sociedade de risco e a urgência por
descanso, dinheiro e respeito no meio ambiente
laboral. Trabalho publicado nos Anais do XIX
Encontro Nacional do CONPEDI realizado em
Fortaleza – CE, p.8807-8823, 2010.
18
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
CÂNCER DE PRÓSTATA: Conhecimento dos Docentes e
Funcionários de uma Instituição Particular de Ensino
Superior de Montes Claros – MG
*SOUSA, Danielle Cristina Nascimento de; *CONCEIÇÃO, Márcio Leandro da; **MOTA, Écila Campos.
*Acadêmicos do curso de Enfermagem das FIPMoc; **Docente das FIPMoc
RESUMO
No Brasil, um dos tipos de câncer que mais causam
danos à saúde dos homens é o câncer de próstata,
sendo o segundo mais diagnosticado na população
masculina é o sexto mais comum no mundo,
representado por cerca de 10% do total de cânceres. O
presente estudo tem como objetivo avaliar o
conhecimento dos docentes e funcionários de uma
Instituição Particular de Ensino Superior de Montes
Claros - MG acerca do exame preventivo. Trata-se de
um estudo descritivo e quantitativo, mediante um
questionário validado contendo 29 questões
objetivas. Os resultados revelam que, apesar de a
população masculina ser cheia de preconceitos, a
busca dos serviços de saúde por esse grupo está
aumentando.
Palavras-chave: Barreiras; Câncer de próstata;
Exame de próstata.
INTRODUÇÃO
Segundo o Instituto Nacional do Câncer
(2011), a palavra “câncer” se origina do grego
karkínos, que significa “caranguejo”, sendo
utilizada primeiramente por Hipócrates, considerado
o pai da medicina. Hoje, o câncer é o nome dado ao
conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum
o crescimento desordenado de células, que tendem a
invadir tecidos e órgãos vizinhos.
De acordo com Paiva, Motta e Griep (2011),
no Brasil, um dos tipos de câncer que mais causam
danos à saúde dos homens é o câncer de próstata,
sendo o segundo mais diagnosticado na população
masculina e o sexto mais comum no mundo,
representado por cerca de 10% do total de
cânceres. No Brasil, foram registrados 52.350
casos de câncer de próstata no ano de 2010.
Segundo Medeiros; Menezes e Napoleão (2011), o
Brasil é o país mais incidente em câncer de
próstata, mas sua prevalência em mortalidade é
baixa, devido à intervenção imediata.
Gomes et al., (2008) reforçam que o
comprometimento da saúde masculina por essa
doença é em média de um em cada seis homens
acima de 45 anos, sem que se conheça o
diagnóstico. A Sociedade Brasileira de UrologiaSBU recomenda que os homens acima de 50 anos e
os que têm 45 anos com casos na família façam
uma avaliação anualmente, mesmo com ausência
de sintomas urinários.
A descoberta do elevado número de casos de
câncer de próstata no Brasil se justifica,
parcialmente, pelos inúmeros fatores
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
19
Artigo Original
desencadeantes dessa neoplasia, pela evolução das
tecnologias, por aumento da expectativa de vida da
população masculina; a baixa qualidade de nutrientes
saudáveis na alimentação, o consumo exacerbado de
alimentos enlatados, o maior consumo de carne
vermelha, gorduras e leite, o abuso de álcool fazem
com que novas pessoas sejam identificadas com essa
doença (PAIVA; MOTTA; GRIEP, 2011).
Na visão de Souza; Silva; Pinheiro (2011), o
diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de
próstata têm sido um grande tabu entre a sociedade e a
masculinidade atribuída ao homem, pois os homens
ao realizarem o exame prostático, podem apresentar
resistência e constrangimento, dificultando cada vez
mais a procura do diagnóstico. O Instituto Nacional
de Câncer tem investido em campanhas para quebrar
esse paradigma e incentivar a população masculina a
se prevenir contra a doença, que a cada ano atinge
uma grande parte da população (GOMES et al.,
2008).
De acordo com Gomes et al. (2008), referindose ao exame de toque retal, pode-se descrever que é
um procedimento invasivo, que fere os valores físicos
e emocionais dos homens. Assim, o medo da prática
desse procedimento pode ser uma das grandes
barreiras para sua realização. Paiva, Motta e Griep
(2011) ainda completam que a melhor maneira de
diagnosticar o câncer de próstata é com a associação
das duas práticas, ou seja, toque retal e o exame de
sangue PSA (antígeno prostático-específico), que é
caracterizado pela dosagem do antígeno prostático na
corrente sanguínea, sendo que o primeiro tem
probabilidade de erro de 30 a 40%, e o segundo, de
20%; essa associação apresenta chance de erro de
apenas 5%.
O preconceito ainda é o maior fator a favor do
desenvolvimento do câncer de próstata, visto que fere
os preceitos da masculinidade e representa uma
perspectiva relacionada com o gênero que identifica o
homem, priorizando alguns valores mais do que
outros (GOMES et al., 2008).
20
De acordo com Medeiros; Menezes e
Napoleão (2011), o Ministério da Saúde preocupado
com a enorme ocorrência de novos casos de câncer
de próstata no Brasil, implementou a Lei 10.289 de
20 de setembro de 2001, designando aos
profissionais de saúde a promover ações sócioeducativas, adequando o acolhimento de acordo
com a demanda, disponibilizando acesso fácil para
atendimento dessa população, a fim de conscientizar
sobre exames para a prevenção de câncer, com o
intuito de minimizar os índices.
O Ministério da Saúde lançou a Política
Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem,
após ter reconhecido os agravos que afetam a saúde
masculina. A busca de ações para promover a
compreensão da realidade em seus diversos
contextos sócio-culturais e políticos teve mais
atenção. Essas ações devem possibilitar a
sensibilização da população masculina em relação
ao câncer de próstata, principalmente o grupo de
maior risco, para que busque práticas positivas de
rastreamento. Entender os valores
comportamentais, culturais, crenças e tabus dos
homens frente ao rastreamento do câncer de próstata
é a melhor forma de detectar e favorecer estratégias
de prevenção mais adequada (PAIVA, MOTTA e
GRIEP, 2011). Levando em conta esses aspectos, o
presente estudo teve como objetivo avaliar o
conhecimento e as barreiras de docentes e
funcionários de uma Instituição Particular de Ensino
Superior de Montes Claros – MG, acerca do exame
de próstata.
MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo
e de campo. A pesquisa foi realizada com os
profissionais do sexo masculino de uma Instituição
de Ensino Superior de Montes Claros- MG, que se
enquadram nos seguintes critérios de inclusão: ter
idade a partir de 40 anos; aceitar participar da
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido; e ser encontrado em até 3 tentativas. O
critério adotado para exclusão foi: com idade a partir
de 40 anos, ter sido diagnosticado com câncer de
próstata.
Utilizou-se como instrumento de pesquisa um
questionário, estruturado e validado por PAIVA et al.,
2011. O conteúdo das questões abrangeu variáveis
socioeconômicas e demográficas (idade,
escolaridade, situação conjugal, ocupação e renda),
além de crenças e barreiras na realização de exames
de rastreamento do câncer de próstata. A análise dos
dados foi realizada, inicialmente, por meio da
codificação manual dos formulários. Os dados foram
digitados, utilizando-se o programa Excel, e
submetidos às técnicas estatísticas exploratórias:
média e distribuição de frequências. Esta pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das
Faculdades Integradas Pitágoras de Montes ClarosMG, sob o Parecer 78096, em 11/07/2012.
RESULTADOS
Tabela1- Características sócio-econômicas dos
profissionais do sexo masculino de uma Instituição de
Ensino Superior de Montes Claros- MG no ano de
2012.
Variáveis sócio-econômicas Nº
Raça/cor
Branco
13
Negro
1
Pardo
12
Situação Conjugal
Solteiro
1
C asado
29
Separado
5
Viúvo
1
E scolaridade
Fuldamental C ompleto
2
Médio
3
Superior
31
Renda Familiar (Em Reais)
Um a dois salários
minimos
4
%
63,8
2,7
33,3
2,7
80,5
13,8
2,7
5,5
8,3
86,1
11,1
Três Salários Minimos
Quatro Salários Minimos
Não Sabe
Tem Plano de Saúde
Não
Sim
1
30
1
2,7
83,3
94,5
2
34
5,5
94,5
Fonte: Pesquisa direta feita pelos acadêmicos do 8° período de
Enfermagem em uma Instituição Particular de Ensino superior
de Montes Claros- MG.
A média de idade da amostra foi de 44.6 anos,
com mínima de 40 e máxima de 62 anos. Em
relação à raça/cor, 63,8% se autodeclararam
brancos; 2,7%, negros; e 33,3% pardos. Amorim et
al. (2011) afirma que, de acordo com o avanço da
idade, a incidência de hiperplasia prostática
aumenta, o que vai elevar a procura dos serviços de
saúde para realização dos exames preventivos do
câncer de próstata.
Segundo Amorim et al. (2011), estudos
desenvolvidos nos Estados Unidos mostraram que a
prevalência da prática do exame de próstata em
homens não brancos era baixa, e alguns autores
consideram que a população negra têm maior risco
de desenvolver o câncer de próstata.
De acordo com Amorim et al.(2011), o estado
conjugal aparece associado à análise bivariada,
segundo a qual o homem tem procurado mais o
serviço de saúde por incentivo das esposas. Sendo
assim a prevalência de homens sem cônjuges tem
sido menor na realização dos exames de câncer de
próstata. Ross et al. (2008), completa que o
incentivo das esposas é um fator importante para que
os homens cuidem mais da saúde.
De acordo com Souza, Silva e Pinheiro (2011),
a alta escolaridade favorece a prevenção do câncer
de próstata; a variável de estudo apresentou média
superior à nacional, que é de 7,4 anos de estudo para
as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos,
demonstrando, assim, alta escolaridade. Ainda
completa que o alto salário também contribui para a
proteção dessa neoplasia, pois, fica mais fácil chegar
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
21
Artigo Original
ao especialista para a realização do exame preventivo
como mostra a tabela acima que 94,5% tem plano de
saúde.
A maioria da população entrevistada, de maior
renda e escolaridade, fez pelo menos um exame
preventivo por meio dos convênios de saúde ou
consultas particulares. Para Nascimento (2000), a
renda influencia na procura de atendimento à saúde,
devido à facilidade ao acesso, e a escolaridade dos
pesquisados tem ajudado para que os homens tenham
conhecimento sobre os cuidados com a saúde. A idade
é um fator problemático para os homens na realização
do exame de câncer de próstata; alguns médicos
indicam a realização do exame a partir dos 40 anos, e
outros, a partir dos 45 anos. Entretanto, no presente
estudo, não se verificou esse comportamento.
Tabela 2 – Práticas relacionadas ao exame de
próstata, segundo informações dos Docentes e
Funcionários de uma Instituição Superior de Montes
Claros- MG, no ano de 2012.
P rá tica s R e lac ion a d as ao ex a m e N %
R ec eb eu I n for m a çõ es m é d icas
so b re o ex a m e d e p ró sta ta
N ão
1 0 2 7,7
S im
2 6 7 2,3
R ea lizo u ex a m e d e p r ós tata
N ão
S im
R ea lizo u P S A
S im
nã o
M otiv o d a solic ita çã o
R o tina de p reve n ção
C as os cân ce r n a f am ília
Ign o raram
Ú ltim a v ez q u e r ea lizo u o
ex a m e de p ró sta ta e PS A
H á m e no s d e um an o
E ntre u m e d ois an os
H á m a is d e c inco ano s
14
22
3 8,8
6 1,2
23
13
6 3,8
3 6,2
24
2
10
6 6,6
5 ,6
2 7,8
Tabela 3- Crenças relatadas pelos docentes e
funcionários de uma Instituição Superior de Montes
Claros – MG, no ano de 2012.
Crenças informadas pelos pesquisados
21
3
1
5 8,3
8 ,5
2 ,7
Fonte: Pesquisa direta feita pelos acadêmicos do 8° período de
Enfermagem em uma Instituição Particular de Ensino superior
22
72,3% dos homens entrevistados foram
informados sobre a importância do exame
preventivo do câncer de próstata; no entanto
somente 61,2% realizaram esse exame.
A realização do exame de rastreamento do
câncer de próstata é importantíssimo. Segundo
Brasil (2008), o exame preventivo de próstata deve
ser realizado anualmente. A tabela acima mostra
que mais da metade (66,6 %) dos entrevistados não
perdem oportunidade de se prevenir contra essa
neoplasia. Esses dados não impedem ações de saúde
direcionadas para a população masculina a respeito
da prevenção do câncer de próstata (PAIVA et al.,
2011).
Segundo Souza, Silva e Pinheiro (2011), em
uma pesquisa realizada em dez capitais brasileiras,
foram entrevistados 1.061 homens com idade entre
quarenta e setenta anos, dos quais 32% realizaram o
exame de toque retal e 47% o PSA. Gomes (2008)
ainda completa que, além do exame do toque retal e
PSA, alguns médicos solicitam a ultrassonografia
transreta,l quando necessário. Outros, indicam a
realização de apenas um dos exames para detecção
precoce do câncer de próstata.
Migowski & Silva (2010) elucidam que a
avaliação pré-tratamento de Gleason é de suma
importância para análise precoce dos médicos
patologistas, sendo que o toque retal e o exame de
PSA não substituem a investigação para descobrir as
diferenças no prognóstico em relação à etnia e suas
possíveis causas, na busca de novos prognósticos
para a população brasileira.
Sim
Não
%
%
O exame de próstata pode afetar a masculinidade
5,6
94,4
O Ca pode ser curado se detectado precocemente
86,2
13,8
Um homemcom Ca pode ter uma vida normal
88,8
11,2
O tratamento do Ca é pior que a doença
5,5
94,5
Um homempode ter Ca sem sintomas
75
25
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
Se tiver Ca, é melhor deixar quieto, não tratar
00
100
Se estiver bem, não é necessário fazer exame
19,4
80,6
Fonte: Pesquisa direta feita pelos acadêmicos do 8° período de
Enfermagem em uma Instituição Particular de Ensino superior
de Montes Claros- MG.
Com referência às crenças que envolvem a
detecção e o tratamento do câncer de próstata, os
dados acima mostram que a maioria dos homens
discorda que o exame de próstata pode afetar a
masculinidade, porém 5,6% dos entrevistados
concordam com a afirmativa. Gomes (2008), explica
que a busca do cuidar está associada à perspectiva da
construção social, ou seja, à masculinidade ditada por
sua cultura. O homem tem dificuldade de se colocar
como paciente, nega a possibilidade de estar doente e
só procura o médico em último caso. Paiva, Motta e
Griep (2011), pontuam que a masculinidade fica
fragilizada pelo paradigma imposto pela sociedade,
de que o homem não pode adoecer, não deve mostrar
fraqueza ou debilidade, colocando em risco a
invulnerabilidade masculina. O toque retal é
considerado para o homem uma situação
constrangedora, devendo os profissionais de saúde
em sua abordagem considerar estes aspectos
subjetivos que envolvem a realização do exame.
No presente estudo, pôde-se observar que a
grande maioria acredita que o câncer pode ser curado
se diagnosticado precocemente. A população
entrevistada acredita que o câncer pode ser
encontrado nos exames de detecção precoce da
patologia. (PAIVA, MOTTA e GRIEP, 2011).
O tratamento do câncer é considerado pior que
a doença por 5,5% dos entrevistados. Paiva, Motta e
Griep, (2011) afirmam que o desconhecimento a
respeito do câncer de próstata ainda existe, o que
causa um forte impacto no tratamento.
De acordo com Lara (2005), a maioria dos
cânceres de próstata é encontrada em homens que não
apresentam sintomas, nos quais foram detectados
nódulos, ou região endurecidas na próstata, quando
realizado o exame preventivo de toque retal. Todo
homem nasce programado para ter câncer de próstata,
pois o código genético de cada um carrega os
chamados "proto-oncogenes", que tem função de
ordenar uma célula normal se transformar em outra
maligna. A ocorrência desse fenômeno não acontece
indiscriminadamente porque existe outro grupo de
genes protetores que impedem a ação dos protooncogenes.
Todos os entrevistados discordaram de que, se
ocorrer câncer de próstata, é melhor deixar quieto e
não tratar. Isso mostra que a população masculina
vem conscientizando-se da importância de uma boa
saúde. Uma porcentagem afirmou que, se a pessoa
estiver bem, não é necessário fazer o exame
preventivo de próstata, o que cabe ressaltar a
importância de as informações chegarem a esse
grupo de homens por intermédio dos profissionais
de saúde. Paiva, Mota e Grip (2011) dão ênfase a
ações educativas, que visam prevenir riscos e
agravos de saúde em um determinado grupo dentro
de um território.
Tabela 4- Barreiras informadas pelos Docentes e
Funcionários de uma Instituição Superior de Montes
Claros- MG, em relação ao exame preventivo de
próstata.
B ar reira s ref erid a s p a ra
N
%
f az er exa m e
M e d o d e R e aliza r o
e xa m e
S im
2
N ão
34
P r efe re n u n ca s ab er d e um a
d o en ça c om o o cân c er d e
p r ós tata
S im
3
N ão
33
N u nc a ap re sen to u
s in tom a s
S im
1
N ão
35
N u nc a co ns ide ro u
im p or tan te
S im
15
N ão
21
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
5,5
9 4,5
8,4
9 1,6
2,8
9 7,2
4 1,7
5 8,3
23
Artigo Original
O h o m e m d ev e fa zer o
e xa m e
S im
N ão
C on se gu e m a rc ar
c on s ulta c om es pe cia lis ta
S im
N ão
35
1
9 7,3
2,7
34
2
9 4,5
5,5
Fonte: Pesquisa direta feita pelos acadêmicos do 8° período de
Enfermagem em uma Instituição Particular de Ensino superior
de Montes Claros- MG.
Em relação às barreiras para a realização do
exame preventivo do câncer de próstata, 5,5% dos
entrevistados afirmaram ter medo de realizar o exame
de toque retal. Gomes et al. (2008) afirmam que o
medo não é incomum entre os homens, sendo que
alguns autores consideram que, “mesmo que o
homem não sinta a dor, no mínimo, experimenta o
desconforto físico e psicológico de estar sendo
tocado, numa parte interdita”. Czresnia; Freitas
(2003), afirmam que essa barreira também foi
expressa pelos participantes de estudos
internacionais, como falta de coragem e outras, como
ausência de sintomas, o médico não recomendar, o
médico não informar as causas. Esses resultados
mostram que tanto o homem latino como o norteamericano têm tabus semelhantes em relação aos
exames de detecção precoce. O ato de realização do
toque retal é delicado para o homem, pois, nesse
momento, sua visão da masculinidade pode ser
ameaçada (ARAÚJO; LEITÃO, 2005).
Araújo e Leitão (2005) ainda completam que o
medo do toque, que envolve penetração, pode estar
associado tanto à dor física quanto simbólica, que se
associa também à violação. Outro fator considerado é
o medo de ereção durante o toque, que pode ser visto
como prazer. No imaginário masculino, “a ereção
pode estar associada ao prazer, e não consegue
imaginá-lo como fisiológico”.
Segundo Paiva, Mota e Griep (2011), parte dos
homens entrevistados prefere não saber da doença
como o câncer de próstata. Esses dados mostram que
24
o medo da doença está presente na população
pesquisada.
A falta de sintomas referente ao câncer de
próstata é um empecilho que pode ser considerado
como indicador de ausência de conhecimento das
ações preventivas na população estudada. É comum
entre as populações de países em desenvolvimento o
entendimento de que não há necessidade de ir ao
médico quando não se sente nada. (PAIVA;
MOTTA; GRIEP, 2011).
M ais d a metad e d o s en tr ev is tad o s
desconsidera importante a prática do exame de
rastreamento do câncer de próstata, o que se torna
preocupante e contraditório para a população
pesquisada, devido ser um grupo de pessoas que
apresentam maior nível educacional e disseram ter
facilidade de marcar consulta com especialista.
Gomes et al. (2008) diz em que a facilidade de ter
acesso aos serviços de saúde, por exemplo, pode ser
outro fator que contribui para a realização do exame.
Paiva; Mota; Griep (2011), discorrem que medidas
educativas devem ser prioritárias para esse grupo
específico, pois um dos maiores desafios na saúde
ainda diz respeito à desigualdade de acesso,
refletido, muitas vezes, na desigualdade social da
população.
CONCLUSÃO
O conjunto de ações para a prevenção e
detecção precoce do câncer é estratégia básica para
o controle dessa neoplasia prostática. As ações
educativas constantes e dinâmicas para a população
masculina devem seguir um padrão de valores,
escolaridade, entre outras variáveis.
Consideram-se que atividades educativas
devam priorizar a necessidade urgente de mudança
de comportamento, tanto por parte dos homens
quanto dos serviços, priorizando os exames de
rastreamento.
A participação dos homens no que se refere à
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
saúde é importantíssima, pois o planejamento de
ações, articulada com setores organizados da
comunidade e outros setores governamentais, vão
mostrar o quanto a saúde é importante para a
sobrevivência de um ser humano e disseminar
conhecimentos adequados sobre o exame, podendo
constituir-se em estratégia fundamental para a
formação de atitude positiva em relação à detecção
precoce e amenizar ou extinguir a ideia de que
existem mais barreiras do que possibilidades de ter
uma boa saúde.
REFERÊNCIAS:
AMORIM, V. M. S. L; BARROS, M. B. A; CÉSAR,
C. L. G; GOLDBAUM, M; CARANDINHA, L;
ALVES, M. C. G .P. Fatores associados à realização
dos exames de rastreamento para o câncer de próstata:
um estudo de base populacional. Caderno de Saúde
Pública, v. 27, n.2, p.347-356, Rio de Janeiro,
fevereiro, 2011.
ARAÚJO, M. A. L; LEITÃO, G. C. M . Acesso à
consulta a portadores de doenças sexualmente
transmissíveis: experiências de homens em uma
unidade de saúde de Fortaleza, Ceará, Brasil.
Caderno de Saúde Pública, v.21, n.2, p.396-403
março-abril 2005.
CZRESNIA D, FREITAS CM. Promoção da saúde:
conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro:
Fiocruz; 2003.
GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F.; REBELLO, L.
E. F. S.; ARAUJO, F. C. Arranhaduras da
masculinidade: uma discussão sobre o toque retal
como medida de prevenção do câncer prostático.
Ciência & Saúde Coletiva, v.13, n.6, p 1975-1984,
Rio de Janeiro 2008.
GOMES, R.; NASCIMENTO, E. F.; REBELLO, L.
E. F. S.; ARAUJO, F. C. A prevenção do câncer de
próstata: uma revisão de literatura. Ciência & Saúde
Coletiva, v.13, n.1, p. 235-246, Rio de Janeiro 2008.
GOMES, R; REBELLO, L.E.F.S; ARAUJO, F.C;
NASCIMENTO, E.F. A prevenção do câncer de
próstata: uma revisão da literatura. Ciência & Saúde
Coletiva, v.13, n.1, p. 235-246, 2008.
Acessado 02 de outubro de 2011. Disponível em:
http://www.inca.gov.br/enfermagem/docs/cap5.pdf
LARA, M. Com todas as letras. O estigma do câncer
por quem enfrentou esse inimigo silencioso e cruel.
Rio de Janeiro: Record; 2005.
Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional de
Câncer. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto
Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e
Vigilância de Câncer. Estimativas 2008: Incidência
de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2007.
M A R O T T I , J . ; G A L H A R D O , A . P. M . ;
FURUYAMA, R.J.; PIGOZZO, M.N.; CAMPOS,
T.N.; LAGANA, D.C. Amostragem em pesquisa
clínica: tamanho da amostra. Revista de
Odontologia da Universidade de São Paulo, v.20,
n.2, p.186-94, 2008.
MEDEIROS, A.P; MENEZES, M. F.B; de and
NAPOLEAO, A.A. Fatores de risco e medidas de
prevenção do câncer de próstata: subsídios para a
enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem.
v.64, n.2, p. 385-388, 2011.
MIGOWSKI, A; SILVA, G. A. Sobrevida e fatores
prognósticos de pacientes com câncer de próstata
clinicamente localizado. Revista de Saúde
Pública, v.44, n.2, p. 344-52, Rio de Janeiro 2010.
NASCIENTO, E. P.; FLORINDO, A. A.;
CHUBACI, R. Y. S.; Exame de detecção precoce do
câncer de próstata na terceira idade: conhecendo os
motivos que levam ou não a sua realização. Revista
Baiana de Saúde Pública, v.34, n.1, p.7-18
jan./mar. 2010.
NASCIMENTO MR. Câncer de próstata e
masculinidade: motivações e barreiras para a
realização do diagnóstico precoce da doença
[Internet]. Caxambu: Abesp; 2000 [citado 2009 set
1 5 ] .
D i s p o n í v e l
e m :
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2
000/
PAIVA, E.P.; MOTTA, M .C .S .M.; GRIEP, R. H.
Barreiras em relação aos exames de rastreamento do
câncer de próstata. Revista Latino-Americana Enfermagem, v. 19, n.1, Juiz de Fora, MG, jan-fev
2011.
PIOVERSAN, A.; TEMPORINI, E.R. Pesquisa
exploratória: procedimento metodológico para o
estudo de fatores humanos no campo da Saúde
Pública. Revista Saúde Pública, São Paulo, v.29,
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
25
Artigo Original
n.4, p.318-325, 1995.
ROSS, LE, BERKOWITZ Z, EKWUEME DU.
Utilização do prostático específico teste do antígeno
entre os homens norte-americanos:
resultados da Entrevista da Saúde 2005 Nacional
Pesquisa. Cancer Epidemiol Biomarkers Anterior,
n.17, p. 636-44, 2008.
RODRIGUES, W. C. Metodologia Científica.
Pacarambi, 2007.
SERAPIONI, M. Métodos qualitativos e
quantitativos na pesquisa social em saúde: algumas
estratégias a integração. Ciência & Saúde Coletiva
v.5, n.1, p.187-192, 2000.
SOUZA, L. M; SILVA, M. P; PINHEIRO, I. S. Um
toque na masculinidade: a prevenção do câncer de
próstata em gaúchos tradicionalistas. Revista
Gaúcha de Enfermagem, v.32, n.1, p.151-158, mar.
2011.
THOMAS, J.R; NELSON, J. K; SILVERMAN, S.J.
Métodos de pesquisa em atividade física. 5. ed.
Porto Alegre, 2007.
26
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
ATIVIDADES LABORAIS PELOS DEFICIENTES MENTAIS EM
MONTES CLAROS/MG SOB A ABORDAGEM DAS
CORRENTES CLÁSSICAS: SOCIOLÓGICA E
ADMINISTRATIVA
* SANTANA, Floripes Crispim; OLIVEIRA, Ramon Alves **
*Pós-graduada em Administração Estratégica com Ênfase em Gestão Pública e Privada das FIPMoc
**Docente e coordenador do curso de Administração de Empresas das FIPMoc
RESUMO
Este artigo visou o estudo do cenário apresentado pela
cidade de Montes Claros/MG quanto ao mercado de
trabalho para deficientes mentais contrastando com a
teoria clássica
das correntes sociológica e
administrativa. Foi realizado um estudo exploratório,
de natureza quantitativa e qualitativa. Em primeiro
momento, foi analisado o processo histórico de
trabalho estudando autores sociológicos e
administrativos. Foi também levantada a situação
histórica e social dos deficientes mentais. Em
segundo momento, foram analisados os dados do
senso 2010 do IBGE. Detectou-se que em uma
população de 361915 (trezentas e sessenta e um mil
novecentas e quinze) pessoas, 4636 (quatro mil
seiscentas e trinta e seis) são portadores de deficiência
mental permanente, dos quais, apenas 30 (trinta)
concluíram um curso superior, e 560 (quinhentos e
sessenta) possuíam ocupação definida. De 729
(setecentos e vinte e nove) deficientes mentais
permanentes que possuíam no mínimo o curso
fundamental completo, cerca de 560 (quinhentas e
sessenta) possuem uma ocupação. Infere-se, assim,
que o mercado de trabalho em Montes Claros/MG
tem absorvidos os portadores de deficiência mental.
Contrastando com a teoria, vê-se um capitalismo
inclusivo, no sentido de que ele proporciona
oportunidades de trabalho não só a homens, mas
também a mulheres e deficientes. Toda força de
trabalho é aproveitada.
Palavras-chave: Deficiência Mental Permanente,
Mercado de Trabalho, Esforço Mental, Esforço
Físico.
INTRODUÇÃO
O mercado de trabalho mundial tem passado
por momentos complicados e, segundo
economistas, em alguns anos, sofrerá com as
escolhas/atitudes tomadas no passado e no presente.
O mercado brasileiro ainda se tem movimentado
bem, sendo a construção civil um celeiro de
oportunidades. Grande parte por conta dos
financiamentos do governo. O mercado de Montes
Claros/MG não é diferente, pois, no ano de 2013,
tem estado aquecido no ramo da construção civil.
Montes Claros é uma cidade localizada no
norte de Minas Gerais. Constitui um polo
universitário, congregando com universidade
pública e várias faculdades particulares. Sua
economia é movimentada pelo comércio local. Em
Montes Claros/MG, segundo o censo 2010 do
IBGE, 4636 (quatro mil seiscentas e trinta e seis)
pessoas possuem algum tipo de deficiência,
correspondendo a 1,3% (um vírgula três por cento)
da população total do município.
Os portadores de deficiência, desde a
antiguidade, têm sofrido preconceito, muitos deles
vindos de dentro de casa. “O cristianismo modifica o
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
27
Artigo Original
status do deficiente, que (...) passa de coisa a pessoa.
Mas a igualdade de status moral ou teológico não
corresponderá, até a época do Iluminismo, a uma
igualdade civil, de direitos” (Pessotti, 1984, p.4).
Silva (1987, p. 130) cita as formas de trabalho
dessas classes na antiguidade
cegos, surdos, deficientes mentais,
deficientes físicos e outros tipos de pessoas
nascidos com má formação eram também,
de quando em quando, ligados a casas
comerciais, tavernas e bordéis; bem como a
atividades dos circos romanos, para
serviços simples e às vezes humilhantes
(Silva, 1987, p. 130).
As conquistas sociais que eles vêm alcançando
é fruto de muita luta. Assim como para as mulheres,
os deficientes ainda têm muita dificuldade para entrar
no mercado de trabalho. E, quando a deficiência é a
mental, a dificuldade se torna ainda maior, devido ao
preconceito.
Tendo em vista o caráter inclusivo do
capitalismo, que visa ao aproveitamento de toda a
mão de obra disponível, Silva (1987, p.310) diz que
“...a impressão de que a pessoa deficiente não precisa
nem ser carga nem dependente; que a pessoa
deficiente pode ser útil, contribuinte à economia geral
de um país, participante na formação da riqueza
nacional” Carmo (1994, p.26) acrescenta dizendo que
“(...) as tentativas de recuperação e aproveitamento
de habilidades e capacidades dessas pessoas para o
mercado de trabalho se tornaram uma tendência
irreversível” (Carmo, 1994, p.26).
Ainda falando-se do mercado de trabalho, é
possível visualizar leis criadas pelo Estado tanto de
obrigações das empresas quanto de incentivos.
Empresas acima de 100 (cem) empregados são
obrigadas a terem uma cota para pessoas com
deficiência. Por outro lado, toda empresa que
empregar pessoas deficientes tem por parte do Estado
certos incentivos.
A Lei 8.213/91 introduz o sistema de cotas no
preenchimento de cargos nas empresas acima de 100
(cem) empregados, como se pode observar:
28
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais
empregados está obrigada a preencher de
2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus cargos com beneficiários
reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas, na seguinte
proporção:
I - até 200 empregados.................2%;
II - de 201 a 500............................3%;
III - de 501 a 1.000........................4%;
IV - de 1.001 em diante. ...............5%.
(BRASIL, 1991)
A deficiência mental muitas vezes chega a ser
discriminada por parte das empresas que temem ter
sua marca desvalorizada por estar associada a um
empregado com retardo mental. Muitas preferem
contratar pessoas de qualquer tipo de deficiência
que não seja a mental.
Segundo AMARAL (2009, p.133),
Na pesquisa de Kossobudski (2009, p.133),
apenas 26% das empresas pesquisadas
contavam em seus quadros com pessoas
portadoras de deficiência, sendo o maior
contingente formado por deficientes físicos
(72,73%) e o menos por deficientes visuais
(4,5%), não havendo nenhum deficiente
mental empregado nessas empresas
(AMARAL, 2009, p. 133).
Analisando-se os tipos de cargos disponíveis e
os requisitos necessários para ocupá-los, verifica-se
que, em certos cargos, o deficiente mental pode
atuar sem problemas. Uma vez que eles têm o corpo
normal, apenas um retardo mental, trabalhos que
não necessitem de esforço intelectual seriam
aplicáveis a eles.
No âmbito de Montes Claros/MG, um
levantamento de dados históricos permiti verificarse como vem sendo a visão das empresas quanto a
este aspecto, tomando como referência o passado,
sua evolução e o momento atual em que esse
trabalho é desenvolvido.
Tendo como base a visão capitalista, que é
totalmente inclusiva, um trabalhador com
limitações pode trazer para a empresa, além de sua
força de trabalho, incentivos por parte do Estado. O
que se espera é ver o deficiente com vida ativa de
trabalho. Mas será isso uma realidade no processo
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
histórico do trabalho em Montes Claros/MG? É o que
este trabalho de pesquisa tenta descobrir, por meio da
análise histórica do mercado de trabalho em Montes
Claros/MG para deficientes mentais.
A deficiência mental é uma realidade no
mundo desde o surgimento da humanidade. Com diz
Silva (1987, p.21), “anomalias físicas ou mentais,
deformações congênitas, amputações traumáticas,
doenças graves e de consequências incapacitantes,
sejam elas de natureza transitória ou permanente, são
tão antigas quanto a própria humanidade” (Silva,
1987, p. 21).
Tendo em vista os pontos descritos
anteriormente, o tema de pesquisa proposto por este
trabalho é: o deficiente mental e o mercado de
trabalho em Montes Claros/MG. Esse tema foi
definido tendo em vista sua relevância no que tange à
importância que o trabalho tem para o ser humano,
sendo ele portador de deficiência ou não.
O problema que norteia esta pesquisa está
relacionado à curiosidade de investigar como tem
sido a realidade do mercado de trabalho de Montes
Claros/MG para portadores de deficiência mental
permanente. Refletindo-se sobre isso, faz-se a
seguinte a pergunta: O mercado de trabalho em
Montes Claros/MG tem sido inclusivo aos portadores
de deficiência mental?
Assim, o objetivo geral deste trabalho é
analisar a teoria clássica da corrente sociológica e
administrativa no que tange à absorção da população
como força de trabalho, com base nos dados dos
trabalhadores portadores de deficiência mental
permanente na cidade de Montes Claros, buscando
investigar se o mercado de trabalho tem sido
inclusivo.
Descrevem-se os objetivos específicos como:
analisar o processo histórico de trabalho através do
estudo da literatura relacionada; analisar o processo
histórico social dos deficientes mentais mediante
pesquisas relacionadas; identificar, por meio de um
levantamento de dados junto ao censo mais recente
do IBGE, a relação entre deficientes mentais
permanentes e o nível de escolaridade; identificar,
por meio de um levantamento de dados junto ao
censo mais recente do IBGE, a relação entre
deficientes mentais permanentes e ocupação.
Este trabalho foi viável tendo em vista que os
dados levantados junto ao IBGE são
disponibilizados pelo próprio órgão. Na perspectiva
teórico-metodológica de abordagem, há predomínio
da abordagem quantitativa de pesquisa, pois são
levantados dados quantitativos do IBGE para
analisar a quantidade de deficientes mentais que
estão inseridos nas empresas.
MÉTODO
Foi realizado um estudo exploratório, de
natureza quantitativa e qualitativa.
Primeiramente, foi analisado o processo
histórico de trabalho mediante estudo da literatura
relacionada. Esse ponto foi importante para adquirir
conhecimento teórico necessário para analisar o
processo histórico de trabalho e poder relacionar a
Montes Claros/MG.
Posteriormente, analisou-se o processo
histórico social dos deficientes mentais mediante
pesquisas relacionadas. Nesse ponto, além de ter
sido verificada a evolução histórica dos deficientes,
desde o acesso ao estudo até o trabalho, foi
focalizado estudo no processo de trabalho.
Logo após, foram levantados os dados do
IBGE, para analisar a variável deficiente mental
permanente relacionada à variável nivel de instrução
e deficiente mental permanente relacionada à
variável ocupação. Mediante o cruzamento dos
dados de deficiente mental e ocupação em Montes
Claros/MG, será possível visualizar se esses
deficientes estão incluídos ou não no mercado de
trabalho.
Por fim, descrever a relação entre deficiência
mental e trabalho em Montes Claros/MG,
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
29
Artigo Original
considerando as inferências realizadas durante o
desenvolvimento, para apresentar as conclusões
respectivas.
A seguir, desenvolveu-se o trabalho com a
exposição dos dados levantados junto ao IBGE e sua
análise perante a teoria.
DISCUSSÃO
Tabela 1
Deficientes mentais permanentes em Montes Claros/MG
Porcentagem Porcentagem
Frequência Porcentagem
Válida
Cumulativa
Sim
4636
1,3
1,3
1,3
Não
357279
98,7
98,7
100,0
Total 361915
100,0
100,0
Fonte: IBGE. Censo 2010.
O trabalho teve início com a pesquisa na base
de dados do IBGE (2010) em paralelo ao estudo
literário. Em primeiro momento, foi levantado o
número de deficientes mentais permanentes
cadastrados na base de dados e sua respectiva
definição nos documentos do próprio IBGE.
Segundo o IBGE (2010, p. 36), “Foi
pesquisado se a pessoa tinha alguma deficiência
mental ou intelectual permanente que limitasse as
suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola,
brincar etc” (IBGE, 2010, p. 36).
Como definição de deficiência mental
permanente, o IBGE (2010, p. 36) estabelece:
A deficiência mental é o retardo no
desenvolvimento intelectual e é
caracterizada pela dificuldade que a pessoa
tem em se comunicar com outros, de cuidar
de si mesma, de fazer atividades
domésticas, de aprender, trabalhar, brincar
etc. Em geral, a deficiência mental ocorre na
infância ou até os 18 anos. Não se
considerou como deficiência mental as
perturbações ou doenças mentais como
autismo, neurose, esquizofrenia e psicose
(IBGE, 2010, p. 36).
Ainda segundo o IBGE (2010), em seu
glossário disponibilizado na web:
Deficiência mental permanente Retardamento mental resultante de lesão ou
síndrome irreversível, que se caracteriza por
dificuldades ou limitações intelectuais
associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal,
autodeterminação, cuidados com saúde e
segurança, aprendizagem, lazer, trabalho
etc. Não foram consideradas deficiências
mentais perturbações como autismo,
neurose, esquizofrenia e psicose.
30
2010 do IBGE, quanto ao número de deficientes
mentais permanentes encontrados na cidade de
Montes Claros/MG naquele período.
Pode-se observar, a partir da análise da tabela
acima, que, em um total de 361.915 (trezentos e
sessenta e um mil novecentos e quinze) habitantes,
4636 (quatro mil seiscentos e trinta e seis) pessoas
foram catalogadas como portadoras de deficiência
mental permanente, segundo o censo IBGE (2010).
Sabendo-se o número de portadores da
deficiência mentais permanentes existentes em
Montes Claros/MG, coletaram-se os dados do nível
de instrução que esses deficientes possuíam no
referido censo. Observam-se esses dados na tabela a
seguir.
Tabela 2
Nível de instrução
Sem instrução e
fundamental
incompleto
DEFICIÊNCIA
MENTAL
PERMANENTE
Fundamental
Médio
completo e completo e Superior
Não
Total
médio
superior completo determinado
incompleto incompleto
3897
326
373
30
10
4636
Fonte: IBGE. Censo 2010.
A maior parte dos deficientes, segundo dados
do IBGE (2010), encontram-se no nível sem
instrução e fundamental incompleto, totalizando
3897 (três mil oitocentos e noventa e sete) pessoas.
De um total de 4636 (quatro mil seiscentos e trinta e
seis) pessoas portadoras da deficiência mental
permanente, apenas 30 (trinta) conseguiram
completar o ensino superior.
Segundo os dados apresentados, pode-se dizer
que 729 (setecentos e vinte e nove) deficientes
mentais são alfabetizados, possuindo, no mínimo,
fundamental completo, o que significa que possui
nível mínimo de conhecimento escolar. É
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
interessante observar que 373 (trezentos e setenta e
três) deles possuem ensino médio completo.
Segundo o Datasus (2008) no CID-10 (a
décima revisão da classificação Internacional de
Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde) F70F79 retardo mental é definido como:
Parada do desenvolvimento ou
desenvolvimento incompleto do
funcionamento intelectual, caracterizados
essencialmente por um comprometimento,
durante o período de desenvolvimento, das
faculdades que determinam o nível global de
inteligência, isto é, das funções cognitivas,
de linguagem, da motricidade e do
comportamento social. O retardo mental
pode acompanhar um outro transtorno
mental ou físico, ou ocorrer de modo
independentemente.
Ainda conforme o Datasus (2008) o CID-10
traz as seguintes subdivisões referentes ao retardo
mental:
· F70.- Retardo mental leve
· F71.- Retardo mental moderado
· F72.- Retardo mental grave
· F73.- Retardo mental profundo
· F78.- Outro retardo mental
· F79.- Retardo mental não especificado
Ao se contrastar a teoria que afirma que o
retardo mental é dividido em níveis e comparar com
os dados apresentados pelo senso do IBGE (2010) na
análise sobre o nível de escolaridade, é possível
visualizar claramente a veracidade desse fato. Isso se
dá pelo fato de os dados apresentarem quantidades
diferentes de pessoas em níveis diferentes de
escolaridade, o que pressupõe níveis diferentes de
capacidade de aprendizado.
A partir da análise desses dados referentes ao
nível de instrução apresentada pelos portadores de
deficiência mental, espera-se que pelo menos os 729
(setecentos e vinte e nove) com certo nível de
instrução estejam devidamente alocados em algum
posto no mercado de trabalho. Isso é o que se
analisará, ao observar os dados relacionados à
ocupação deles.
Taylor (1980) enfatizou a aplicação da ciência
na administração, cujo objetivo era aumento da
eficiência por meio das mudanças nas tarefas, nos
métodos de trabalho e na divisão do trabalho. No
primeiro momento, ele se ateve à organização
racional do trabalho, ao estudo de tempos e
movimentos e à remuneração diferenciada
conforme a produção. No segundo momento, houve
a racionalização do trabalho e a estruturação das
empresas. Observa-se claramente, nesse período,
que existia divisão entre operário (trabalho braçal) e
gestor (intelectual), que necessitava de habilidades
para prever, organizar, comandar, coordenar e
controlar.
Pode-se dizer que existe trabalho que exige
técnica para execução de tarefas ou o trabalho que
exige conhecimento para planejamento e tomadas
de decisão. Analisando esses dois lados, espera-se
encontrar deficientes mentais que possuem retardo
mental leve em ocupações que necessitem de algum
nível intelectual na execução de suas tarefas, e
deficientes mentais que possuem retardo profundo
em ocupações que demandem esforço físico e/ou
braçal.
Na discussão sobre trabalho, Durkheim
(1999), em seu livro “A divisão do trabalho social”,
discute a ideia de que o trabalho já existe, já está
dividido em funções, cabe a cada indivíduo se
especializar para ocupar alguma função. Marx
(1989), em seu livro “O capital”, desenvolve o
raciocínio de que a sociedade é que demanda a
função; sendo assim, a partir de uma necessidade da
sociedade é que surgem novos postos de trabalho
(MARX, 1989).
Segundo o IBGE (2010, p. 41), “pesquisou-se
a ocupação do trabalho principal”. Ainda segundo o
IBGE (2010, p. 41), “considerou-se como ocupação
a função, cargo, profissão ou ofício exercido pela
pessoa”.
Para o IBGE (2010, p. 41)
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
31
Artigo Original
As ocupações foram classificadas
utilizando-se a Classificação de Ocupações
para Pesquisas Domiciliares - COD, que foi
desenvolvida pelo IBGE para as pesquisas
domiciliares, tendo como referência a
International Standard Classification of
Occupations - ISCO-08, da Organização
Internacional do Trabalho - OIT. A COD
mantém-se idêntica à ISCO-08 no nível
mais agregado (grande grupo) e reagrupa
alguns subgrupos principais, subgrupos e
grupos de base, considerando as
especificidades nacionais e as dificuldades
de sua captação com precisão nas pesquisas
domiciliares (IBGE, 2010, p. 41).
A seguir, é apresentada a tabela do IBGE
(2010) com os dados discriminados contendo o
número de deficientes mentais permanentes em cada
tipo de ocupação. Por motivo de facilitação da
análise, não foram descritas as ocupações onde tinha
descrito a quantidade 0 (zero) de deficientes mentais.
Sendo assim, apresenta-se, a seguir, a tabela:
Tabela 3
Ocupação
O CUPAÇÃ O
O CUPAÇÕES MA L D EFINIDAS
PRO FESSORES D O ENSINO M ÉDIO
PRO FESSORES D O ENSINO PRÉ-ESCO LAR
J ORNA LISTAS
A RTISTAS PLÁSTICO S
TÉCN ICO S EM ENGENH ARIA DE M INAS E
M ETALURGIA
PRO FISSION AIS D E NÍVEL M ÉD IO DE ENFERM AGEM
ESCRITURÁ RIO S GERAIS
SECRETÁ RIOS (GERAL)
TRA BALH ADORES DE SERVIÇOS ESTATÍSTICOS,
FINANCEIROS E DE SEGUR OS
V EN DEDOR ES DE QU IOSQU ES E POSTOS DE
M ERCA DOS
C OM ER CIA NTES DE LOJ AS
SUPERV ISORES D E LO JAS
BA LCON ISTAS E VENDEDO RES DE LOJA S
A GRICULTO RES E TRABA LHA DORES Q UALIFICA DOS
N O CU LTIV O DE HORTA S, VIVEIR OS E J ARDINS
9
7
12
27
18
13
28
6
26
40
D E F IC IÊ N C I A
M E NTAL
PE R M A N E N T E
O CUPAÇÃ O
A G R IC U L T O R E S E TR A B A L H A D O R E S Q U A L IFIC A D O S
D E C U LT IV O S M IS TO S
A V IC U L T O R E S E T R A B A LH A D O R ES Q U A L IF IC A D O S
D A A V IC U L TU R A
P E D R E IR O S
B O M B E IR O S E E N C A N A D O R E S
C H A P IS T A S E C A LD E IR E IR O S
C O S T U R E IR O S , B O R D A D E IR O S E A F IN S
O P E R A D O R E S D E M Á Q U IN A S D E C O S T U R A
O P E R A D O R E S D E M Á Q U IN A S D E B R A N Q U E A M E N T O ,
T IN G IM E N T O E LIM P E ZA D E T E C ID O S
T R A B A L H A D O R E S D O S S ER V IÇ O S D O M É S T IC O S E M
GERAL
T R A B A L H A D O R E S D E L IM P E Z A D E IN T ER IO R D E
E D IFÍC IO S , E S C R IT Ó R IO S , H O T É IS E O U T R O S
E S TA B E LE C IM E N T O S
T R A B A L H A D O R E S E LE M E N T A R E S D A A G R IC U L T U R A
T R A B A L H A D O R E S E LE M E N T A R E S D A C O N S T R U Ç Ã O
D E E D IF ÍC IO S
T R A B A L H A D O R E S E LE M E N T A R E S D A IN D Ú S T R IA D E
T R A N S F O R M A Ç Ã O N Ã O C LA S S IFIC A D O S
A N T E R IO R M E N T E
CARR EGADOR ES
R E P O S IT O R E S D E P R A TE L E IR A S
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S (E X C LU S IV A M E N T E D E
S E R V IÇ O S D E A LIM E N T A Ç Ã O )
C O L E T O R E S D E L IX O E M A TE R IA L R E C IC L Á V E L
O U T R A S O C U P A Ç Õ E S E LE M E N T A R E S N Ã O
C LA S SIF IC A D A S A N T E R IO R M EN T E
TOT AL
DEFIC IÊNCI A
M E NTAL
PE RM ANEN TE
13
12
15
10
9
9
8
45
17
13
11
13
20
53
17
12
20
8
21
11
24
10
3
56 0
Segundo os dados do IBGE (2010), 560
(quinhentas e sessenta) pessoas portadoras de
deficiência mental permanente possuem uma
ocupação, sendo que sua maioria está concentrada
em trabalhos domésticos, somando 53 (cinquenta e
três) trabalhadores dos serviços domésticos em
geral. Em segunda instância, os trabalhos rurais e
civis, sendo 45 (quarenta e cinco) pedreiros e 40
(quarenta) agricultores e trabalhadores qualificados
no cultivo de hortas, viveiros e jardins. Totalizam-se
138 (cento e trinta e oito) trabalhadores em um
trabalho de caráter braçal.
Ainda analisando os dados apresentados pelo
IBGE (2010) nas ocupações contendo de 21 a 30
trabalhadores, observa-se uma variação entre cargos
estritamente braçais e cargos que demandam
alguma habilidade mental. São, 28 (vinte e oito)
comerciantes de lojas, 27 (vinte e sete) secretários
(geral), 26 (vinte e seis) balconistas e vendedores de
lojas, 24 (vinte e quatro) vendedores ambulantes
serviços de alimentação) e 21 (vinte e um)
carregadores.
No nível de 11 a 20 trabalhadores por
ocupação dos dados do IBGE (2010), observam-se
alguns cargos que têm como requisito a conclusão
de curso superior, dentre outros. São 20 (vinte)
operadores de máquinas de branqueamento,
tingimento e limpeza de tecidos, 20 (vinte)
trabalhadores elementares da construção de
edifícios, 18 (dezoito) trabalhadores de serviços
estatísticos, financeiros e de seguros, 17 (dezessete)
bombeiros e encanadores, 17 (dezessete)
trabalhadores de limpeza de interior de edifícios,
escritórios, hotéis e outros estabelecimentos, 15
(quinze) professores do ensino pré-escolar, 13
(treze) ocupações mal definidas, 13 (treze)
vendedores de quiosques e postos de mercados, 13
(treze) chapistas e caldeireiros, 13 (treze)
operadores de máquinas de costura, 12 (doze)
professores do ensino médio, 12 (doze) escriturários
gerais, 12 (doze) trabalhadores elementares da
Fonte: IBGE. Censo 2010.
32
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
agricultura, 11 (onze) costureiros, bordadeiros e afins
e 11 (onze) repositores de prateleiras.
No nível de 1 a 10 trabalhadores por ocupação,
é possível encontrarem-se cargos com maior nível de
qualificação, que são: 10 (dez) jornalistas, 10 (dez)
coletores de lixo e material reciclável, 9 (nove)
artistas plásticos, 9 (nove) técnicos em enfermagem
de minas e metalurgia, 9 (nove) agricultores e
trabalhadores qualificados de cultivos mistos, 8 (oito)
agricultores e trabalhadores qualificados da
avicultura, 8 (oito) trabalhadores elementares da
indústria de transformação não classificados
anteriormente, 7 (sete) profissionais de nível médio
de enfermagem, 6 (seis) supervisores de lojas e 3
(três) outras ocupações elementares não classificadas
anteriormente.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento deste trabalho permitiu
conhecer o cenário de Montes Claros/MG com
relação ao trabalho de deficientes mentais
permanentes. Foi possível entender devido à
fundamentação proporcionada por alguns autores
clássicos.
Detectou-se, segundo o IBGE (2010), que 729
(setecentos e vinte e nove) deficientes mentais
permanentes são alfabetizados, possuindo, no
mínimo, ensino fundamental completo. E que 560
(quinhentos e sessenta) deles possuem uma
ocupação. Infere-se, assim, que o mercado de
trabalho em Montes Claros/MG tem absorvido os
portadores de deficiência mental permanente.
Apesar de os dados mostrarem uma quantidade
considerável de pessoas em trabalhos que demandam
pouco ou nenhum esforço mental, encontram-se
também ocupações de cargos com certo grau de
qualificação. É possível observar, também, que a
distribuição de trabalhadores por cargos tem sido
diversificada.
Das ocupações exercidas pelos portadores de
maioria está concentrada em serviços que não
demandam esforço mental, apenas esforço físico.
Cruzando-se os dados de ocupações com os dados
de nível de instrução, essa realidade é confirmada,
uma vez que a quantidade de pessoas que
conseguem a conclusão de um curso superior é
consideravelmente menor que as que param no
ensino básico.
Contrastando com a teoria, vê-se um
capitalismo inclusivo, no sentido de que ele
proporciona oportunidades de trabalho não só a
homens, mas também a mulheres e portadores de
deficiência. Toda força de trabalho pode ser
aproveitada. Percebe-se, ainda, que há um incentivo
e uma obrigatoriedade mediante lei, para se
destinarem vagas a pessoas portadoras de alguma
deficiência.
Conclui-se que, além da exigência da lei e do
teor inclusivo do capitalismo, para os clássicos,
tanto da sociologia quanto da administração, haverá
uma demanda por mão de obra, o que permite aos
portadores de deficiência a oportunidade de estar
alocado em algum posto de trabalho.
REFERÊNCIAS
AMARAL, L. A. Mercado de Trabalho e
Deficiência. Revista Brasileira de Educação
Especial. Disponível em:
<http://www.abpee.net/homepageabpee04_06/artig
os_em_pdf/revista2numero1pdf/r2_comentario01.
pdf>. Acesso em 11 set. 2013.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil.
Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 8.213,
DE 24 DE JULHO DE 1991. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213c
ons.htm>. Acesso em 04 set. 2013.
CARMO, A. A. Deficiência física: a sociedade
brasileira cria, recupera e discrimina –
Secretaria dos Desportos. Brasília, 1994.
DATASUS. CID-10. Versão 2008. Disponível em:
<http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHel
p/f70_f79.htm>. Acesso em 30 mar. 2014.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
33
Artigo Original
São Paulo: Martins Fontes, 1999.
IBGE. Censo Demográfico 2010. Notas
Metodológicas.
IBGE. Glossário. Censo 2010. Disponível em:
<http://censo2010.ibge.gov.br/materiais/guia-docenso/glossario>. Acesso em 30 mar. 2014.
MARX, Karl. O capital. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1989.p.201-223.
PESSOTTI, I. Deficiência mental: da superstição à
ciência – EDUSP, São Paulo, 1984.
SILVA, O. M. Epopéia Ignorada – A História da
Pessoa Deficiente no Mundo de Ontem e de Hoje.
1987.
TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios da
Administração Científica. 7ª edição. 10ª Triagem.
1980.
34
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
PERCEPÇÕES DAS JOVENS MÃES: FATORES DE
REINCIDÊNCIA GESTACIONAL NA ADOLESCÊNCIA
OLIVEIRA, Amanda Muniz*; COSTA, Amanda de Andrade**; BASTOS, Rodolpho Alexandre Santos Melo***
* UNESA e UNIMONTES; ** Enfermeira residente em saúde da Mulher na UNIMONTES. Especialista em Saúde da Família.
*** Mestrando em História e pós-graduado em História da Filosofia com ênfase em Epistemologia pela UNIMONTES.
RESUMO
O presente estudo qualitativo teve como objetivo
identificar a recorrência de gravidez na adolescência
e os fatores que influenciam essa recorrência.
Fizeram parte do estudo 8 adolescentes com
reincidência gestacional, cadastradas na Estratégia
Saúde da Família (ESF) do bairro Morrinhos, da
cidade de Montes Claros - MG. Após as adolescentes
serem identificadas pelo Sistema de Informação da
Atenção Básica – SIAB, houve a entrevista coletiva
por meio da técnica de grupo focal. Os resultados
mostraram uma população de adolescentes com
média de idade de 17,6 anos. A maioria referiu uso de
métodos anticoncepcionais, porém sem regularidade
e demonstraram desinformação quanto ao método
escolhido. Houve o predomínio de duas gestações em
75% dos casos e uma associação significativa da
recorrência da gestação na adolescência com relação
às variáveis: idade, escolaridade e aceitação da
gravidez. A ocorrência da gestação e a recorrência
gestacional entre as adolescentes pesquisadas podem
ser atribuídas à imaturidade, fantasias, revolta com os
pais, falta de informações sobre a gravidez e sobre os
métodos contraceptivos.
Palavras-chave: adolescente, gravidez, gravidez na
adolescência, sexualidade.
INTRODUÇÃO
De acordo com a World Health Organization
(WHO, 2008), a atividade sexual na adolescência
inicia-se cada vez mais precocemente, fenômeno
que, em muitos casos, acarreta
gravidez
indesejável. A gravidez na adolescência possui
sérias implicações biológicas, familiares,
emocionais, econômicas e jurídico-sociais. Essas
implicações atingem o indivíduo isoladamente e,
paralelamente, a sociedade, limitando ou adiando as
possibilidades de desenvolvimento e engajamento
das envolvidas. A gravidez nessa fase da vida é
considerada de alto risco, repercutindo
negativamente na vida das jovens mulheres
(HOGA; BORGES; RABERTE, 2010).
Quando a atividade sexual tem como
resultante a gravidez, consequências podem-se
manifestar a longo prazo, tanto para a adolescente
quanto para o recém- nascido. A adolescente poderá,
ainda durante a gestação, apresentar problemas de
desenvolvimento, emocionais, educacionais e de
aprendizado, além de complicações da gravidez e
problemas de parto (VITALLE; AMANCIO, 2003).
Restringindo a questão ao plano reprodutivo,
de acordo com Beretta et al. (2011), a maioria dessas
jovens, em nosso meio, chega à maturidade sexual
antes de atingir a maturidade social, emocional ou a
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
35
Artigo Original
ind e pend ê n c ia econômic a. D e ntre múltipla s
determinações, a erotização na fase adolescente
promovida pela mídia estimula a iniciação sexual
precoce, que, na ausência do domínio das práticas
contraceptivas, pode resultar em gravidez não
desejada (ALVES; MUNIZ; TELES, 2010).
Maia e Ribeiro (2001) destacam que, no Brasil,
a adolescência é a única faixa etária com natalidade
crescente e que o aumento do número de adolescentes
grávidas nos últimos anos é conseqüência de
mudanças nos padrões culturais, das precocidade da
menarca e da influência da mídia na iniciação sexual
da adolescente. Fatores ligados à educação sexual e à
assistência à saúde, como ausência de consulta
médica pós-parto na gravidez anterior, baixa adesão
ao uso de preservativos, não uso de anticoncepcional
pós-parto, uso inadequado do anticoncepcional e
despreocupação da família e da escola com a
educação sexual das jovens, também podem ser
citados como causa da recorrência gestacional na
adolescência (BAREIRO, 2004; FURTADO et al.,
2005).
De acordo com Rosa (2007), a escassa
literatura que se refere exclusivamente à recorrência
da gravidez na adolescência aponta que esse
problema de saúde pública constitui-se em
agravamento e multiplicação das adversidades
físicas, biológicas e psico-sociais que uma primeira
gravidez traz para a vida do adolescente. Sendo
assim, o presente estudo possibilitará o levantamento
de dados estatísticos, na área de abrangência da
Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro
Morrinhos . Os dado s apresentam-se como
fundamentais para que os profissionais de saúde
possam buscar alternativas viáveis para a análise e
assistência às mulheres, fator que justifica a
realização desta pesquisa.
Nesse contexto, esta pesquisa objetivou:
identificar a recorrência de gravidez na adolescência
em jovens do Bairro Morrinhos da cidade de Montes
Claros – MG; levantar e analisar os fatores que
36
influenciam a r e corr ê ncia da gra v idez na
adolescência no espaço delimitado para a pesquisa,
procurando traçar um perfil das adolescentes
envolvidas nesse processo; investigar a faixa etária
das adolescentes grávidas; registrar o uso e/ou
conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais
pelas adolescentes; e relacionar a influência do nível
sócio-econômico-cultural das adolescentes sobre a
reincidência de gravidez.
MÉTODO
A opção metodo1ógica para o
desenvolvimento desta pesquisa foi a abordagem
qualitativa e descritiva, que, segundo Minayo
(2001), valoriza as perspectivas dos participantes,
permitindo, assim, apreender determinações sociais
mais amplas de suas condições de existência,
priorizando a natureza descritiva. Esse aspecto é
importante, uma vez que "a abordagem qualitativa
aprofunda-se no mundo dos significados das ações e
revelações humanas, um lado não perceptível e não
captável em equações estatísticas" (MINAYO,
2001, p. 22), possibilitando a compreensão da
realidade humana e a descrição de um fenômeno
mediante a realização de um estudo em um
determinado contexto.
Foram sujeitos da pesquisa oito adolescentes
com idade igual ou inferior a 19 anos, com registro
de recorrência de gravidez. Ser adolescente com
recorrência de gravidez, estar cadastrada na ESF do
Bairro Morrinhos em Montes Claros - MG e
participar do pré-natal ou grupo do planejamento
familiar foram os critérios para inclusão das
adolescentes na pesquisa.
Obedecendo à Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, que determina que a pesquisa
com seres humanos poderá ser realizada, desde que
os sujeitos da pesquisa assinem um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, no período
anterior a coleta de dados, todas as adolescentes
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
com gravidez recorrente e que apresentavam idade
igual ou maior que 18 anos, assim como os
responsáveis pelas adolescentes com idade inferior a
18 anos, assinaram o referido termo. O responsável
pela ESF em questão também assinou um Termo de
Consentimento e Compromisso para a realização da
pesquisa.
Para efeito de esclarecimentos, antes da coleta
de dados, o termo de consentimento foi lido e
discutido com todas as participantes, garantindo-lhes
o completo anonimato na divulgação dos dados
coletados e, posteriormente, foi assinado pelo
pesquisador e pelas pesquisadas.
Atendendo aos princípios éticos definidos pelo
Conselho Nacional de Saúde – CNS/2003 – por meio
da resolução 196/96 para realização de pesquisa com
seres humanos, o projeto de pesquisa passou pela
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa das
Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE,
obtendo autorização para sua realização, mediante o
parecer no 037/09, de 14/05/2009.
Como instrumentos para a coleta de dados,
foram elaborados formulários de análise documental
e de entrevista coletiva por meio da técnica de grupo
focal, específicos para o estudo. A consulta aos dados
do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB,
para identificação dos sujeitos, assim como para a
caracterização do cenário de estudo, foi realizada
mediante a pesquisa documental, ou seja, teve como
fonte"[ ...] documentos de 'primeira mão', que não
receberam nenhum tratamento analítico e não foram
publicados." (DUARTE; FURTADO, 2002, p.30).
Foi elaborado, ainda, um formulário de
entrevista para a construção do perfil das
adolescentes com gravidez recorrente da ESF do
Bairro Morrinhos. Assim, seguindo as orientações de
Gil (1998), o formulário, como técnica de
investigação, foi composto por um número de
questões apresentadas por escrito aos sujeitos, o que
possibilitou o conhecimento do perfil das
entrevistadas, subsidiando a análise de seu discurso.
formulário de entrevista coletiva, desenvolvida por
meio da técnica de grupo focal, por favorecer,
segundo Trivinos (2000), a interação do grupo,
permitindo respostas ricas e interessantes, com
apresentação de ideias novas e originais por parte
dos participantes.
A opção inicial era o registro por meio de
áudio, mas algumas das adolescentes manifestaramse contrárias à ideia; assim, adotou-se o registro
mediante a cópia escrita da fala dos sujeitos da
pesquisa, o que ocorreu com o consentimento das
entrevistadas.
Do ponto de vista operacional, Minayo (200l)
cita que a construção do grupo focal é feita em
reunião com um pequeno número de informantes, de
seis a doze, e possui tempo de duração que não deve
ultrapassar uma hora e meia. Neste estudo, as
adolescentes com gravidez recorrente foram
divididas em grupos, visando não fugir dessas
recomendações. Durante o desenvolvimento do
grupo focal, foi proposto às adolescentes a discussão
das seguintes questões norteadoras: (1) O que vocês
consideram que leva uma adolescente a engravidar?
(2) Todas vocês já tiveram mais de uma gravidez.
Que fatores contribuíram para que vocês
engravidassem pela primeira vez? (3) Com relação à
recorrência da gravidez na adolescência, por que
vocês acham que isso acontece? Por que isso
aconteceu com vocês?
A reunião do grupo ocorreu na sede da ESF do
Bairro Morrinhos, dispondo de condições de
privacidade, comodidade e neutralidade.Antes da
realização do grupo focal, houve uma conversa
inicial, com apresentação das adolescentes,
procurando-se criar um clima descontraído de
conversa. Dando início à entrevista coletiva, foi
exposto inicialmente ao grupo o conceito de
recorrência de gravidez na adolescência aqui
adotado e já citado anteriormente, tornando possível
uma linha de discussão sobre um único conceito,
devido às várias possibilidades de interpretação do
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
37
Artigo Original
Um dos autores do estudo desempenhou o
papel de animador e, seguindo as orientações de
Minayo (2001), teve a função de intervir tentando
focalizar e aprofundar a discussão, realizando as
seguintes ações: (a) Introduzir a discussão e mantê-la
acessa; (b) Enfatizar para o grupo que não há
respostas certas ou erradas; (c) Observar
participantes, encorajando a palavra de cada uma; (d)
Construir relações com as informantes, para
aprofundar individualmente, respostas e comentários
considerados relevantes pelo grupo ou pelo
pesquisador; (e) Observar as comunicações não
verbais e o ritmo próprio das participantes, dentro do
tempo previsto para o debate.
Durante a entrevista, as falas das adolescentes
foram registradas por escrito, quando o entrevistador
teve a ajuda dos demais pesquisadores, que se
mantinham atentos à fala das adolescentes,
registrando-as na íntegra e preocupando-se em captar
com fidelidade as informações fornecidas pelos
sujeitos da pesquisa.
Após a coleta de dados, teve início a
organização e análise do material levantado no grupo
focal, e surgiram quatro categorias que respondem
aos objetivos propostos: Caracterização das
adolescentes; Fatores que levam uma adolescente a
engravidar; Consequências da gravidez na
adolescência; e Recorrência de gravidez na
adolescência.
RESULTADOS
Caracterização das Adolescentes
Participaram deste estudo oito adolescentes
com recorrência gestacional, todas cadastradas na
Estratégia Saúde da Família do bairro Morrinhos,
residentes na área de cobertura já citada, de faixa
etária de 16 a 19 anos, com média de idade de 17,6
anos. Em relação à escolaridade, cinco das
adolescentes possuem o ensino fundamental
incompleto, duas possuem o ensino fundamental
38
completo, uma possui o ensino médio incompleto.
A renda familiar média das entrevistadas é de
um a dois salários mínimos, porém duas não
souberam informar a renda, uma vez que vivem com
ajuda dos pais e realizam faxinas em casas de
família, serviço informal e sem renda fixa. Quatro
adolescentes possuem atividade fixa remunerada,
mas todas ganham menos de um salário mínimo e
ajudam a completar a renda familiar. Duas das
adolescentes desenvolvem as atividades de dona de
casa, sem remuneração, ou seja, cuidam da casa e da
família.
Quanto ao estado civil das adolescentes com
recorrência gestacional, três
declararam ser
casadas, uma está em processo de separação
judicial, duas disseram ter união estável e duas são
solteiras. Todas as adolescentes têm mais de um
filho; e, duas delas informaram já ter feito aborto.
Houve o predomínio de duas gestações em 75% dos
casos.
Fatores que levam uma adolescente a engravidar
As adolescentes investigadas consideram que
a falta de maturidade, fantasias, revolta com os pais,
falta de informações sobre a gravidez e métodos
contraceptivos, busca de liberdade, dentre outros,
são os fatores que levam uma adolescente a
engravidar pela primeira vez. Os depoimentos das
pesquisadas demonstram suas opiniões:
- Quando a gente tem quatorze pra quinze
anos a gente é besta demais. Eu mesma me
enrasquei por besteira. Não tinha juízo
nenhum e achava que engravidando o
danado ia casar comigo e eu podia ficar
livre do que eu considerava chatura de meu
pai. Engravidei e nós ficamos juntos dois
anos, mas na casa de pai e nada mudou, eu
continuei dependendo de meu pai (A – 19
anos).
- Eu também engravidei por falta de juízo.
Só tinha 14 anos (...) eu não usava
comprimido e o pai de meu primeiro filho
insistia e eu transava sem ele usar a
camisinha. Não deu outra (...) mas eu
também sempre sonhei em ter pelo menos
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
- Meu pai não me dava liberdade pra nada
(...) ele vivia no meu pé e não me deixava
fazer nada. Engravidei pra sair de casa e eu
também não sabia muita coisa, menstruei
com 13 anos, comecei a namorar antes de ter
quatorze anos e antes de completar 15 anos
engravidei. (D-19 anos).
- Eu não sei como aconteceu. (...) foi meu
primeiro namorado eu conheci ele na minha
festa de quinze anos e quando interei
dezesseis já tava com um nenê nos braços.
Foi igual com minha mãe; ela também
engravidou quando tinha 14 anos e foi com
o primeiro namorado (E-18 anos).
A maioria das adolescentes (75%) declarou
que não desejava a gravidez, mas 100% delas
informou que acabou por aceitá-la e que estão felizes
com os filhos. Apenas 18% relataram o uso de um
método contraceptivo na época da gravidez. Entre
aquelas que não utilizavam nenhum método
anticoncepcional, como justificativa argumentavam:
o desconhecimento dos métodos; não querer usar e
desejar engravidar; não acreditavam que pudessem
engravidar; não ter condições para comprar; ser
alérgica; ter medo que os pais descobrissem; o
parceiro não querer usar.
Consequências da gravidez na adolescência
Notou-se, mediante as falas, o quanto as
alterações corporais provenientes da gestação
incomodaram as adolescentes no aspecto sexual, em
sua estética corporal e em sua autoestima.
- Eu fiquei muito feia. Meu nariz ficou
assim ó; enorme. Minhas pernas incharam e
a barriga cresceu muito. Eu pesava 45 quilos
e fui para 67 (...) quem é o homem que tem
apetite pra uma mulher assim? (B-16 anos).
- Foi só eu engravidar pra ele começa a se
afastar. (...) Quando fiquei grávida na
segunda vez, teve um dia que eu cheguei na
pracinha da Igreja daqui do Morrinho e ele
tava lá com aquela filha de (...) eu arrasei
eles, xinguei demais. Falei com ela, fica ai
dando corda pra ele sua tola que vai
acontecer igual comigo. Quando a barriga
começar a crescer ele corre atrás de outra
bonitinha (...) (D-19 anos).
A gravidez na adolescência, segundo Freitas
das jovens, como pode ser comprovado nas falas
transcritas a seguir.
- Eu tive que parar de estudar né? Quando
eu descobri eu tive vergonha de ir prá
escola, depois que eu fiquei sem vergonha
(risos) fiquei sem vergonha não, todo
mundo descobriu e eu não podia ficar presa
dentro de casa até o nenê nascer né? Ai eu
voltei pra escola, mas a preguiça era muito
grande (...) eu morria de vontade de dormir
e a escola era de manhã. Todo dia eu
chegava atrasada na escola, a supervisora
começou a criar caso e eu deixei de ir (A19)
- Eu estava acostumada a pedir as coisas e
mãe comprova pra mim; com a chegada do
nenê, tive que deixar de comprar um monte
de coisa pra ele e tive que deixar de comprar
até mesmo um brinco pra mim. Além do
corpo ter ficado feio, ainda tive que deixar
de cuidar de mim pra cuidar dele (...) Ai
meu Deus, eu não to reclamando, agradeço
a Deus ter meus filhos com saúde, só to
falando o que aconteceu (D-19 anos).
A recorrência da gravidez na adolescência
Quando foi proposto às adolescentes que
discutissem sobre a recorrência da gravidez na
adolescência elas consideraram que isso acontece
pelos mesmos motivos da primeira gravidez, com
predominância para a falta de cuidados preventivos e
por acreditarem que, tendo outro filho, vão salvar
uma relação conjugal.
- (...) sempre sonhei em ter pelo menos 3 filhos e
resolvi ter logo porque queria voltar a estudar e trabalhar
(...) Tô com 2 filhos e ainda vou ter pelo menos mais um,
só que agora vou dar um tempo (...) (B-16 anos)
- Com 17 anos já tinha minha segunda filha
(...) pensei que ele ia ficar comigo porque
gostava das meninas, mas que nada (...) (D19 anos).
- Eu não tomava cuidado nenhum. Nós dois
não tinha juízo, só pensava naquilo (risos),
eu só lembrava de tomar o comprimido
quando a gente fazia o que não devia. Ai eu
corria e tomava o comprimido, pensava que
assim eu ia evitar (...) hoje tem a pílula do
dia seguinte, mas antes não tinha não (...)
(F-19 anos).
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
39
Artigo Original
primeira e a gestação recorrente, as adolescentes
assim se manifestaram:
- Fiquei grávida um ano depois que meu
primeiro filho nasceu (A-16 anos)
- I. nasceu quando eu tinha quinze anos e M.
C. quando eu ia fazer dezessete (D-19).
DISCUSSÃO
Compartilhando a compreensão de espaço
definida por Certeau (1994) como o lugar que se
constrói culturalmente a partir de significados que lhe
são atribuídos e onde se constituem relações e
identidades, o espaço delimitado para o estudo teve
como cenários, de uma forma mais ampla, o bairro
Morrinhos e, de uma forma mais específica, a
Estratégia Saúde da Família – ESF do referido bairro,
na área urbana de Montes Claros - Minas Gerais. A
ESF foi escolhida por possuir grupos de adolescentes
gestantes, e ser onde são promovidos encontros e
realização de pré-natal.
O bairro Morrinhos, como a maioria dos
bairros de qualquer cidade do terceiro mundo,
apresenta problemas sociais, ambientais e estruturais.
Esse bairro surgiu de forma desordenada quanto ao
crescimento populacional e habitacional, e
agigantou-se sem que qualquer tipo de infraestrutura
fosse adotado para acompanhar seu crescimento.
Sendo a princípio habitado por pessoas que
aportavam na cidade em busca de melhores condições
de vida, por muitos anos o bairro Morrinhos sofreu, e
ainda continua sofrendo, porém não tão fortemente,
com as disputas crescentes do tráfico de drogas que se
concentra no morro (favela), erguido no centro do
bairro, conforme dados da Polícia Militar. Apesar
disso a sensação não é mais de desproteção e
vulnerabilidade como na época de urbanização da
área que coincidiu com a chegada do trem de ferro,
trazendo trabalhadores rurais, prostitutas, jogadores,
pessoas sem qualquer qualificação profissional, que à
procura de melhores oportunidades e condições de
40
Hoje, o bairro Morrinhos, primeiro espaço de
expansão urbana da cidade de Montes Claros e um
dos mais populosos, encontra-se situado na área
central da cidade, contando com escolas, rádio,
clube social fundado pelos ferroviários e notável
estação de televisão - instalada e funcionando no
bairro. Esse espaço e seus habitantes, nos últimos
anos, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por
Amostragem Domiciliar (PNAD, 2005), realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, passaram por uma transformação positiva,
mas, apesar de composta por uma população
formada basicamente de trabalhadores do comércio,
policiais, ex-ferroviários, professores e população
escolarizada, seus habitantes historicamente sofrem
com o estereótipo de herança de marginalização
concebida pela população montes-clarense, o que
pode justificar o índice de recorrência de gravidez na
adolescência registrado pela presente pesquisa, uma
vez que, segundo a literatura pesquisada, o contexto
social e familiar influi nessa ocorrência.
Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e
Saúde da Criança e da Mulher – PNDA (Ministério
da Saúde, 2006) comprovam que, no ano de 2006,
2% dos adolescentes de 15 a 19 anos tinham pelo
menos 2 filhos nascidos vivos.
Um estudo sobre o perfil epidemiológico,
sócio-econômico e de acesso aos serviços de saúde
das adolescentes do Rio de Janeiro, realizado por
Furtado et al. (2005), registrou queda dos 12.168
registros pesquisados. Foi identificado que 29,1%
(3.542) dos partos são de adolescentes com
maternidades sucessivas, e que 99,2% das
adolescentes com recorrência gestacional estavam
na faixa etária de 15 a 19 anos, com nível de
escolaridade mais baixo e que haviam abandonado a
escola.
Siqueira et al. (2002), estudando adolescentes
grávidas de até 19 anos em quatro programas de prénatal de Florianópolis-SC, observaram que 9,5%
estavam grávidas pela segunda ou mais vezes. Esse
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
recorrência gestacional encontrado no bairro
Morrinhos.
A educação é evidenciada como fator
determinante de prevenção da gravidez, pois o maior
número de adolescentes grávidas encontra-se entre as
jovens sem nenhuma instrução formal, enquanto as
que frequentaram a escola pelo menos até o nível
fundamental, representam um número menor de
adolescentes grávidas por desinformação. No
presente estudo o número maior de adolescentes que
informou recorrência de gravidez não terminou o
ensino fundamental, o que demonstra que a educação
realmente faz a diferença quando se trata das questões
que envolvem a sexualidade na adolescência
(FREITAS, 2000).
Campos (2000) considera que a gravidez na
adolescência é multicausal e sua etiologia está
relacionada a uma série de aspectos que podem ser
agrupados em: fatores biológicos, de ordem familiar,
social, psicológicos de e concepção. Os fatores
biológicos envolvem desde a idade da primeira
menarca até o aumento do número de adolescentes na
população geral. O contexto familiar tem relação
direta com a época em que se inicia a atividade sexual.
Assim sendo, adolescentes que iniciam vida sexual
precocemente ou engravidam nesse período,
geralmente vêm de famílias cujas mães também
iniciaram vida sexual precocemente ou engravidaram
durante a adolescência. Esse fato foi comprovado
neste estudo, segundo o qual a maioria das
adolescentes com recorrência gravídica era filha de
mães solteiras e que tiveram sua primeira gravidez na
adolescência.
Ainda de acordo com Campos (2000), as
mudanças que vêm ocorrendo na sociedade estão
provocando mudanças também na estrutura familiar e
na forma como as famílias recebem a prematuridade
sexual dos filhos. Assim, o aumento de gravidez na
adolescência está relacionado à diminuição de tabus e
as mudanças de valores sociais e familiares. Para
tentar minimizar o problema social e de saúde grave
gravidez, PERSONA et al., 2004, p. 750 afirmam a
importância e necessidade
de serem
disponibilizados programas dirigidos aos
adolescentes, abordando “novas formas, que não a
maternidade, de saciar as necessidades emocionais e
de desenvolvimento através de atividades técnicas
e/ou práticas pela educação alternativa, programas
de treinamento vocacional e elaboração de projeto
de vida”. Tipo de programa ausente na área
pesquisada.
Quanto aos fatores psicológicos e
contracepção, Vitalle e Amancio (2001, p. 2)
descrevem que:
a utilização de métodos contraceptivos não
ocorre de modo eficaz na adolescência, e
isso está vinculado inclusive aos fatores
psicológicos inerentes ao período pois a
adolescente nega a possibilidade de
engravidar e essa negação é tanto maior
quanto menor a faixa etária; o encontro
sexual é mantido de forma eventual, não
justificando, conforme acreditam, o uso
rotineiro da contracepção; não assumem
perante a família a sua sexualidade e a
posse do contraceptivo seria a prova formal
de vida sexual ativa.
Com relação à influência da contracepção nos
índices de gravidez entre os jovens, os resultados
deste estudo encontram equivalência com os de uma
pesquisa realizada por Gobbatto et al. (1999), que
revelou que, das adolescentes com vida sexual ativa
que usavam algum método contraceptivo, 41% o
faziam de forma incorreta ou realizavam trocas
inadequadas.
Entre as consequências mais graves da
gravidez na adolescência apontadas pela PNDS
(1996) destacam-se as que dizem respeito à saúde
das adolescentes, como a ocorrência de aborto, pois
os dados apontaram que em cinco anos, 50 mil
adolescentes foram parar nos hospitais públicos
devido a complicações de abortos clandestinos e
que quase três mil das jovens encontravam-se na
faixa dos 10 a 14 anos. No bairro Morrinhos foram
registradas poucas ocorrências de abortos entre as
adolescentes pesquisadas.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
41
Artigo Original
A adolescência, assim como a gravidez,
implica um período de mudanças físicas e emocionais
considerado, por alguns, um momento de conflito ou
de crise, e a chegada de um filho interfere, ainda, na
vida social, escolar e financeira da adolescentemulher (FREITAS, 2000). Além disso, as mudanças
físicas que ocorrem na adolescente durante e após a
gestação refletem uma insatisfação corporal típica de
jovens do ocidente, onde ser magra significa ter
competência, sucesso e ser atraente sexualmente
(ALVES et al. 2009). Entre as adolescentes que
participaram deste estudo, foi possível comprovar a
interferência negativa da gestação e recorrência
gestacional na vida das adolescentes, resultando,
inclusive, e principalmente, no abandono da escola.
Para Takiutt (2001), durante a gravidez
inúmeras alterações fisiológicas ocorrem no corpo da
mulher, envolvendo todos os sistemas, o que é
resultado do aumento da carga fisiológica. Essas
alterações se iniciam na primeira semana e
prosseguem até o final da gestação, como aconteceu
com a maioria das adolescentes do bairro Morrinhos.
De acordo com Bocardi (2003), dados
estatísticos têm mostrado que 40% das adolescentes
voltam a engravidar após 36 meses da primeira
gestação, fato contrário a este estudo, em que as
adolescentes, em sua integralidade, informaram que
engravidaram antes de 24 meses da primeira
gestação. Esse resultado demonstra que a gestação
recorrente entre os adolescentes requer uma análise
de vários fatores e, como escreve Carvalho, Merighi,
e Jesus (2009, p.17) “a fase mais elementar dessa
compreensão resulta das transformações sociais das
últimas décadas e dos fatores psico-sócio-culturais
considerados como associados ao mesmo”. Os
autores citam estudo realizado com 140 adolescentes
no interior paulista, no qual se constatou que 24%
delas já estavam na segunda, terceira, quarta ou até
quinta gestação e 10% já haviam praticado aborto
pelo menos uma vez, resultado parecido com o
encontrado no presente estudo, o que demonstra que a
42
maternidade na adolescência é um problema de
saúde pública, que precisa ser enfrentado e que
demanda uma assistência social e humana, além de
ações educativas.
Os resultados expostos nos permitiram
concluir que na população estudada, composta por
oito adolescentes com recorrência gestacional,
houve associação significativa com a recorrência da
gestação na adolescência em relação às variáveis:
idade, escolaridade, uso de anticoncepcional e seu
tempo médio de uso, assim como a aceitação da
gravidez, uma vez que elas se encontravam-se numa
faixa etária de 16 a 19 anos, com média de idade de
17,6 anos,
Todas as adolescentes têm mais de um filho, e
duas delas informaram já ter feito aborto. Houve o
predomínio de duas gestações em 75% dos casos.
Com relação às consequências da gravidez, a
maioria das adolescentes mostrou ressentimento
com relação à privação de tempo para passear e para
estudar que a chegada de um filho provocou em suas
vidas, assim como demonstraram que enfrentam
problemas para dividir sua atenção e os recursos
materiais com o filho.
A ocorrência da gestação e a recorrência
gestacional foi atribuída pelas adolescentes à
imaturidade, fantasias, revolta com os pais, falta de
informações sobre a gravidez e os métodos
contraceptivos.
Diante do índice de recorrência gestacional
encontrado, sugere-se a realização de um trabalho
mais sistematizado sobre sexualidade na
adolescência envolvendo as escolas da área de
abrangência e os profissionais da Estratégia Saúde
da Família do bairro Morrinhos, pois só assim os
jovens poderão compreender as responsabilidades
que a gestação impõe tanto aos homens quanto às
mulheres e os aspectos relacionadas ao controle da
fecundidade.
Acredita-se que ações de educação e saúde
direcionados à população adolescente são o
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
principal caminho para evitar a primigestação ou
recorrência gestacional entre a população mais
jovem.
REFERÊNCIAS
ALVES, D.; PINTO, M.; ALVES, S.; MOTA, A.;
LEIRÓS, V. Cultura e imagem corporal. Rev.
Motricidade. v. 5, n.1, p. 1-20, 2009.
ALVES, E. D., MUNIZ, M. C. V., TELES, C. C. G.
D. Estudos sobre gravidez na adolescência: a
constatação de um problema social. Ciênc. Biol.
Saúde. v. 12, n.3, p. 49-56. 2010.
BAREIRO, A. O. G. Gravidez na adolescência:
seus entornos, peculiaridades e razões do ponto de
vista da adolescente. 2004. Monografia apresentada
para obtenção do grau em Especialista em Saúde da
Família. Universidade Federal do Paraná. Curitiba,
2004.Disponível em: <http://bases.bireme.br/
cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xi
s&src=google&base=LILACS&lang=p&nextActio
n=lnk&exprSearch=387616&indexSearch=ID>.
Acesso em: 11 abr. 2014.
BERETTA, M. I. R.; CLÁPIS, C. V.; OLIVEIRA
NETO, L. A., FREITAS, M. A., DUPAS, G.,
RUGGIERO, S. E. M. A contextualização da
gravidez na adolescência em uma maternidade de
São Carlos/SP. Rev. Eletr. Enf.. v. 13, n.1, p. 90-8,
2011. Disponível em <http://dx.doi.org/10.5216/
ree.v13i1.8128>. Acesso em 12 mar. 2014.
BOCARDI, M. I. B. Gravidez na adolescência: o
parto enquanto espaço do medo. São Paulo: Arte &
Ciência, 2003.
CAMPOS, M.A.B. Gravidez na Adolescência. A
imposição de uma nova identidade. Pediatr. Atual.
v. 13, n.11, p. 25-6, 2000.
CARVALHO, G. M, MERIGHI, M. A. B., JESUS,
M. C. P. Recorrência da parentalidade na
adolescência na perspectiva dos sujeitos envolvidos.
Texto Contexto Enferm. v. 18, n. 1, p. 17-24,
2009.
CERTEAU, M. Artes de fazer: A Invenção do
Cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução
196. Brasília – DF: MS/CNS, 1996.
DUARTE, S. V., FURTADO, M. S. Manual para
elaboração de Monografias e Projetos de
Pesquisa. Montes Claros: Unimontes, 2002.
FREITAS, E. F. Gravidez na Adolescência.
Campinas: Atual, 2000.
FURTADO, S., SILVEIRA, K., ROZENBERG,
R., BONANN, C. B., MENDES, M. A., CHUVA,
V. Estudo dos fatores associados à recorrência
da gravidez na adolescência a partir de dados
do SINASC do município do Rio de Janeiro –
2005. Rio de Janeiro: Instituto Fernandes
Figueiredo/Fundação Osealdo Cruz/Secretaria
Municipal de Saúde – SMSR, 2005.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de
pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
GOBBATO, D. O. et al. Perfil das Adolescentes
Grávidas. Pediatria Atual, ago., 1999, v.12, n.8.
HOGA, L. A. K., BORGES, A. L. V., &
REBERTE, L. M. Razões e reflexos da gravidez
na adolescência: narrativas dos membros da
família. Esc. Anna Nery. v. 14, n.1, 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA. PNAD 2005. Montes Claros:
IBGE, 2005.
MAIA, F. F. R., & RIBEIRO, J. G. L. Aspectos
médico-sociais da gravidez na adolescência nos
últimos 20 anos : uma revisão da literatura.
Revista Médica de Minas Gerais,v. 11, n.1, p.
34-9, 2001.
MINAYO, M. C. S. O desafio do Conhecimento:
Pesquisa Qualitativa em Saúde. Rio de Janeiro:
Hucitec – Febrasco., 2001.
PERSONA, L., SHIMO, A.K.K., TARALLO,
M.C. Perfil de adolescentes com repetição da
gravidez atendidas num ambulatório de pré-natal.
Rev. Latino Americana de Enfermagem. v.12, n.
5, p. 745-750, 2004.
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL). (2006).
Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde
da Criança e da Mulher – PNDS.. Disponível
em:
<http://www.soperj.org.br/download/pesquisa_nac
ional_demografia_saude.doc>. Acesso em: 11 abr.
2013.
ROSA, A. J. Novamente grávida: Adolescentes
com maternidades sucessivas em Rondonópolis –
MT. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública.
2007.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
43
Artigo Original
Disponível em: <http://pandora.cisc.usp.br/
teses/disponiveis/6/6136/tde-11022008
222655/publico/FINALDA-TESEALCINDO.pdf.>
Acesso em: 11 abr. 2014.
SIQUEIRA, M.J.T., MENDES, D., FINKLER, I.,
GUEDES, T., GONÇALVES, M.D.S. Profissionais
E Usuárias(Os) Adolescentes De Quatro Programas
Públicos De Atendimento Pré-Natal Da Região Da
Grande Florianópolis: Onde Está O Pai? Natal:
Estud. Psicol. v. 7, n.1, p. 65-72, 2002.
TAKIUTT, A.. A Adolescente está ligeiramente
grávida e agora gravidez na adolescência. São
Paulo: Coleção e Sociedade Precisa Saber, 2001.
TRIVINOS, A. N. S. Introdução a Pesquisa em
Ciências Sociais: A Pesquisa Qualitativa em
Educação. São Paulo: Atlas, 2000.
VITALLE, M.S.S.; AMÂNCIO, O.M.S. Gravidez
na adolescência. Brazilian Pediatric News,
UNIFESP, São Paulo, v.3, n.3, 2001. Disponível
em:
www.brasilpednews.org.br/set.2001/bnpar101.htm.
Acesso em: 13 mar. 2014
44
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
INFECÇÕES URINÁRIAS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
EM UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA: PREVALÊNCIA E
PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS
PINHEIRO, Thales Almeida*; MARTINS, Ávila Lopes**; PRATES, Mayrane Luiz**
* Docente das FIPMoc e FASA; ** Farmacêuticas graduadas pelas FIPMoc.
RESUMO
As infecções do trato urinário são frequentes em
pacientes hospitalizados, representando número
significativo das infecções nosocomiais e
responsáveis por elevar o risco de agravamento no
quadro de saúde dos pacientes acometidos. O
presente estudo consiste em uma análise qualiquantitativa de caráter , em que foram analisados
impressos próprios do serviço de controle de
infecções de um centro de terapia intensiva de uma
unidade hospitalar no período de janeiro de 2011 a
dezembro de 2012, usando o programa SPSS 17.0
(Statistical Package for the Social Sciences). O
objetivo do trabalho foi determinar a prevalência e o
perfil de resistência aos antimicrobianos dos agentes
causadores de infecção do trato urinário em pacientes
internados em um centro de terapia intensiva. O
estudo revelou que 13,6% das uroculturas realizadas
apresentaram positividade. O gênero mais acometido
foi o feminino, com 57,8%, e a faixa etária
predominante foi a de indivíduos com idade superior
a 60 anos. Os principais microrganismos isolados
foram Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, dos
quais o que apresentou maior resistência aos
antimicrobianos a Klebsiella pneumoniae. Os
antibióticos para os quais os microrganismos mais
apresentaram resistência foram ampicilina e
ampicilina + sulbactam. Conclui-se que 13,6% das
uroculturas apresentaram positividade, sendo mais
prevalente no sexo feminino e em indivíduos com
idade superior a 60 anos. Os principais
microrganismos isolados foram a Klebsiella
pneumoniae e Escherichia coli, sendo o primeiro o
que apresentou maior resistência aos
antimicrobianos testados. Os antibióticos para os
quais os microrganismos mais apresentaram
resistência foram ampicilina e ampicilina +
sulbactam.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção hospitalar.
Infeções urinárias. Resistência microbiana a
medicamentos.
INTRODUÇÃO
A infecção do trato urinário, também
conhecida como ITU, é uma infecção bastante
comum, respondendo por uma grande parte dos
processos infecciosos comunitários e hospitalares
(VIEIRA et al., 2007). Caracteriza-se como infecção
urinária a presença e multiplicação de
microrganismos na urina contida no aparelho
urinário, sendo que é possível a invasão das
estruturas tubulares ou parenquimatosas do aparelho
urinário, bem como nos órgão anexos (CORREIA et
al., 2007).
As infecções do trato urinário são comuns em
pacientes hospitalizados e estão associadas, na
maioria dos casos, ao uso de dispositivos invasivos,
como cateter urinário ou sonda vesical de longa
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
45
Artigo Original
duração, empregados em procedimentos
diagnósticos e terapêuticos variados. A ocorrência
dessas infecções pode levar a complicações graves
como bacteremia, septicemia, e até óbito (SILVA et
al., 2009).
As ITU's possuem diversas apresentações
clínicas, tais como cistite, pielonefrite e bacteriúria
assintomática. Elas são responsáveis por um aumento
da morbidade em hospitais, bem como na
comunidade, elevando, assim, os gastos hospitalares
(DAMASCENO et al., 2011).
A ITU é muito comum em Centros de Terapia
Intensiva, onde representa a terceira infecção mais
frequente. O sexo feminino é mais vulnerável que o
masculino. Mulheres adultas têm 50 vezes mais
chances de adquirir ITU do que os homens, sendo que
30% das mulheres apresentam sintomas da infecção
ao longo da vida. Esse fato é atribuído à menor
extensão anatômica da uretra feminina. No entanto, a
prevalência de ITU aumenta entre homens acima de
50 anos, podendo esse fato ser relacionado à
ocorrência de doença prostática e à instrumentação
das vias urinárias, incluindo-se o cateterismo vesical.
Entre idosos, as taxas de ITU também se elevam, pela
presença de comorbidades que aumentam a
susceptibilidade às infecções (RORIZ-FILHO et al.,
2010).
A maioria das ITU's é causada por bactérias
gram negativas, sendo Escherichia coli o
microrganismo invasor mais comum, responsável
por cerca de 70% a 90% das infecções urinárias
agudas de origem bacteriana. O Staphylococcus
saprophyticus pode ser responsável por 10% a 20%
dos casos de ITU em mulheres jovens sexualmente
ativas e é considerado a segunda causa mais comum
nesse grupo de indivíduos. Outras bactérias que
podem estar envolvidas nas ITU's são
Staphylococcus aureus, Streptococcus do grupo B e
D, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter sp., Proteus sp., Pseudomonas sp.
(BRAOIOS et al., 2009). No entanto, Klebsiella,
46
Enterobacter e Proteus, na maioria dos casos,
causam cistite e pielonefrite sem complicações
(VIEIRA et al., 2007).
De maneira geral, os microrganismos isolados
de infecções urinárias adquiridas em hospitais
apresentam maior resistência aos diferentes agentes
antimicrobianos. A maioria dos trabalhos
publicados sobre o perfil de resistência de
patógenos urinários refere-se às cepas microbianas
isoladas de infecções nosocomiais (BRAOIOS et
al., 2009).
As ITU's representam, atualmente, o maior
número de infecções hospitalares, cerca de 40%,
sendo mais comuns que as infecções respiratórias.
No Brasil, cerca de 80% das consultas clínicas
ocorrem devido à infecção do trato urinário
(RIBEIRO; LUZ, 2011).
Dessa forma, é de grande importância para a
saúde pública a realização de novos estudos que
possam elucidar o perfil atual dos pacientes
acometidos por ITU, e as características gerais dos
agentes causadores dessa patologia. Assim, o
objetivo deste estudo foi determinar a prevalência e
o perfil de resistência aos antimicrobianos dos
agentes causadores de infecção do trato urinário em
pacientes internados em um centro de terapia
intensiva de um hospital situado na cidade de
Montes Claros - MG.
MÉTODO
Trata-se de um estudo quali-quantitativo de
caráter retrospectivo, em que foram analisados
impressos próprios do serviço de controle de
infecções de pacientes internados no Centro de
Terapia Intensiva da instituição, no período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
O Hospital onde foi realizado o estudo atende
não só pacientes da cidade de Montes Claros, mas
abrange também cerca de 100 municípios da região
norte de Minas Gerais e do sul da Bahia. É uma
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
entidade de caráter filantrópico e está localizado na
cidade de Montes Claros - MG.
O programa estatístico SPSS 17.0 (Statistical
Package for the Social Sciences) for Windows foi
utilizado para análise da idade, do gênero, do tipo de
microrganismo isolado, dos antibióticos utilizados no
antibiograma. Foi utilizado o teste Qui-quadrado para
avaliar as diferenças de proporções dos dados
categóricos. O presente estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, nos termos do Parecer
nº 231.291.
Figura 01 - Distribuição percentual dos casos de
ITU por faixa etária.
71,6
80
70
60
50
% 40
30
12,7
20
10
3,9
0
20 a 40 anos
51 a 60 anos
41 a 50 anos
>60 anos
p=0,000*
Figura 02 - Distribuição percentual dos
microrganismos isolados em Infecção do Trato
Urinário.
RESULTADOS
31,4
klebsiella pneumoniae
No período de 2011 a 2012, foram realizadas
750 uroculturas, sendo que 13,6% (n=102)
apresentaram positividade para ITU. Analisando a
Tabela 1, observa-se que houve prevalência Do sexo
feminino.
Tabela 01: Distribuição dos casos de ITU por sexo
(Valor absoluto e percentual)
n
%
Masculino
43
42,2
Feminino
59
57,8
Quanto à faixa etária, observa-se diferença
estatística com prevalência na população acima de 60
anos (Tabela 02 e Figura 01).
Tabela 02. Distribuição dos casos de ITU por faixa
etária (Valor absoluto e percentual)
n
%
20 a 40 anos
4
3,9
41 a 50 anos
12
11,8
51 a 60 anos
13
12,7
> 60 anos
73
71,6
Sig
0,000*
Dentre as uroculturas positivas, o
microrganismo isolado com maior prevalência foi a
Klebsiella pneumoniae, seguida da Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Acinetobacter sp ( Figura 02).
28,4
Escherichia coli
Psedomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
10,8
Acinetobacter sp.
8,8
Candida sp.
6,9
Enterococcus sp.
3,9
Streptococcus sp.
3,9
Enterobacter sp.
1
Citribacter
0
5
10
15
20
25
30
35
A Tabela 03 mostra o perfil de resistência aos
antimicrobianos dos principais microrganismos
isolados nas ITU. Observa-se que a Klebsiella
pneumoniae apresentou maior resistência à
ampicilina e à ampicilina + sulbactam. A E. coli
apresentou maior resistência à ampicilina, a
norfloxacina e ao sulfametoxazol + trimetropim.
Quanto à Pseudomonas aeruginosa, apresentou-se
mais resistente à ceftazidima à ciprofloxacina, ao
cefepime e à norfloxacina. O Staphylococcus aureus
apresentou maior resistência à ciprofloxacina e à
ceftriaxona. Com relação ao Acinetobacter, verificase mais resistente à ampicilina + sulbactam e à
ciprofloxacina.
DISCUSSÃO
As infecções do trato urinário são comuns em
pacientes internados em Centros de Terapia
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
47
Artigo Original
Intensiva (CTI). Isso ocorre, provavelmente, pelo
maior grau de debilidade dos pacientes que se
encontram nessa clínica. Além disso, em CTI é
comum o uso de dispositivos invasivos, tais como
sondas vesicais e cateteres, que funcionam como
quebra das barreiras naturais e podem facilitar a
ocorrência de infecções.
Grande parte das ITU tem origem bacteriana
e, portanto, é necessário que se tenha conhecimento
quanto aos perfis de sensibilidade e resistência
desses patógenos, para que se faça a opção pela
terapêutica mais eficiente (RORIZ-FILHO et al.,
2010).
Tabela 03 - Perfil de resistência aos antimicrobianos de bactérias isoladas de pacientes internados com
infecção do trato urinário. Montes Claros, Jan/2011 a dez/2012.
AMP
Klebsiella
pneumoniae
Escherichia coli
Psedomonas
ASB
CAZ
CIP
CPM
CRO
LEV
NOR
SUT
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
N
%
n
%
22
73,3
18
60
16
53,3
5
16,7
13
43,3
16
53,3
10
33,3
11
36,7
14
46,7
19
65,5
13
44,8
8
27,6
6
20,7
8
27,6
9
31
11
37,9
14
48,3
14
48,3
1
8,3
2
16,7
5
41,7
5
41,7
5
41,7
2
16,7
0
0
5
41,7
0
0
0
0
2
16,7
1
8,3
7
58,3
0
0
6
50
4
33,3
1
8,3
4
33,3
2
18,2
9
81,8
8
72,7
9
81,8
6
54,5
8
72,7
2
18,2
1
9,1
6
54,5
aeruginosa
Staphylococcus
aureus
Acinetobacter
sp.
Legenda: AMP: Ampicilina; ASB: Ampicilina + Sulbactam; CAZ: Ceftadizima; CIP: Ciprofloxacino; CPM: Cefepime; CRO:
Ceftriaxona; LEV: Levofloxacina; NOR: norfloxacina; SUT: Sulfametoxazol + Trimetropim (Sulfazotrim)
O presente estudo revelou um percentual de
positividade para ITU de 13,6%, corroborando a
pesquisa de Queiroz e Felício (2010), que demonstrou
um percentual de positividade para ITU de 18%.
A faixa etária mais acometida pela ITU foi a de
pessoas com mais de 60 anos assemelhando-se aos
estudos de Silva et al. (2009), em que foi percebido
que 73% dos pacientes estudados pertenciam a essa
mesma faixa etária. Os estudos de Padrão et al. (2010)
e de Kazmirczak e Goulart (2005) também
concordam que a faixa etária mais acometida é
constituída por pacientes com idade superior a 60
anos. A análise quanto à faixa etária mostrou uma
forte correlação estatística com p < 0,05,
especificamente p = 0,000.
O gênero mais acometido foi o feminino. Isso
porque as mulheres têm maior susceptibilidade à
ITU's por apresentarem fatores predisponentes, tais
como alterações na anatomia da bexiga, devido a
48
múltiplos partos, e ao menor comprimento da uretra.
Concordando com o resultado obtido por meio deste
estudo, Costa et al. (2010); Martini et al. (2011) e
Costa (2009) evidenciaram em suas análises, que as
ITU acometem, predominantemente, pacientes do
sexo feminino. Vale ressaltar que, embora tenha
ocorrido uma prevalência no sexo feminino, não
houve diferença quanto ao nível de significância de
5% (p=0,05) entre os sexos, pois esse parâmetro
apresentou um p= 0,113, no presente estudo.
A bactéria mais isolada foi a Klebsiella
pneumoniae (31,4%), discordando dos dados
obtidos nas pesquisas de Oliveira e Silva (2010) e de
Pires et al. (2007), que concluíram que a
Escherichia coli é o principal agente causal da ITU.
Esse fato pode estar relacionado com as
características particulares da instituição
pesquisada, pois, na análise realizada por Cândido et
a.l (2012), esse microrganismo foi isolado em
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
27,3% dos casos, o que se aproxima do resultado
obtido pelo presente estudo.
A Escherichia coli também apresentou alta
taxa de prevalência (28,4%) nas uroculturas
analisadas, concordando com a pesquisa de Almeida
et al. (2007), que encontraram como principais
microrganismos isolados a E. coli e a Klebsiella
pneumoniae, ambas com 29,1% de prevalência. De
acordo com os estudos de Soares (2006) e Oliveira e
Silva (2010), que encontraram prevalência de E. coli
de 63,64% e 55,6%, respectivamente, verifica-se que
o valor encontrado neste estudo foi bem inferior.
Acredita-se que essa diferença possa estar associada a
particularidades da própria instituição durante o
período estudado, já que se sabe que grande parte das
ITU em pacientes hospitalizados é caracterizada
como nosocomiais.
A análise das uroculturas evidenciou que a
Klebsiella pneumoniae, a bactéria com maior taxa de
isolamento neste estudo, apresentou maior resistência
à ampicilina (73,3%), assim como a E. coli, que
também apresentou uma taxa elevada de resistência
(65,5%) ao mesmo antibiótico. Os estudos de
Almeida et al. (2007) também apresentaram uma alta
taxa de resistência da E. coli à ampicilina (62,5%),
entretanto os estudos de Santana et al. (2012)
demonstram que a Klebsiella pneumoniae é mais
resistente à ampicilina, quando comparada à E. coli,
em âmbito hospitalar.
Baseando-se no estudo realizado, é possível
concluir que 13,6% das uroculturas realizadas
apresentaram positividade para algum patógeno. O
gênero mais acometido foi o feminino, com 57,8%; a
faixa etária predominante foi a de indivíduos com
idade superior a 60 anos. Os principais
microrganismos isolados foram a Klebsiella
pneumoniae (31,4%) e a Escherichia coli (28,4%).
Dentre os microrganismos que apresentaram maior
resistência aos antimicrobianos testados no
antibiograma destaca-se a Klebsiella pneumoniae,
com 73,3%. Os antibióticos para os quais os
microrganismos mais apresentaram resistência
foram ampicilina e ampicilina + sulbactam.
Conclui-se ainda que o perfil de resistência
apresentado pelas bactérias aos antimicrobianos nos
casos de infecção do trato urinário pode variar, mas,
em geral, apresenta grande semelhança, quando
comparado a outros levantamentos realizados. O
conhecimento profundo relativo à resistência
apresentada pelos microrganismos presentes em
ambiente hospitalar dá suporte, quanto às medidas
ou políticas de prevenção que serão elaboradas, de
acordo com as particularidades de cada instituição,
sendo necessário para reduzir as taxas de morbimortalidade e dos custos com o prolongamento da
internação devido aos agravos relacionados à ITU.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. C.; SIMÕES, M. J. S; RADDI, M.
S.G. Ocorrência de Infecção Urinária em Pacientes
de um Hospital Universitário. Rev. Ciências. Farm.
Básica Apl. v. 28, n. 2, p. 215-219, 2007.
BRAOIOS, A.; TURATTI, T. F.; MEREDIJA, L. C.
S.; CAMPOS, T. R. S.; DENADAI, F. H. M.
Infecções do trato urinário em pacientes não
hospitalizados: etiologia e padrão de resistência aos
antimicrobianos. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 45,
n. 6, p. 449-56, dez., 2009.
CÂNDIDO, R. B. R.; SOUZA, W.A. de;
PODESTÁ, M. H. M. C. et al. Avaliação das
Infecções Hospitalares em Pacientes Críticos em um
Centro de Terapia Intensiva. Rev. Univer. Vale do
Rio Verde: Três Corações, v. 10, n. 2, p. 148-163,
ago./dez. 2012.
CORREIA, C.; COSTA, E.; PERES, A.; ALVES,
M.; POMBO, G.; ESTEVINHO, L. Etiologia das
I n f e c ç õ e s d o Tr a c t o U r i n á r i o e s u a s
Susceptibilidade aos Antimicrobianos. Acta. Med.
Port.: v. 20, p. 543-549, 2007.
COSTA, F. C.; Prevalência e Perfil de
Suscetibilidade a Antimicrobianos de
Microrganismos Isolados em Uroculturas no
período de janeiro a dezembro de 2007, em
Hospital Municipal de Ibirité/MG. Monografia.
Título de Especialista em Microbiologia aplicada a
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
49
Artigo Original
Ciências da Saúde. ICB/UFMG, 2009.
mai, 2011.
COSTA, L. C.; BELÉM, L. de F.; SILVA, P. M. de F.
e; PEREIRA, H. dos S.; SILVA-JÚNIOR, E. D. da;
LEITE, T. R.; PEREIRA, G. J. da S. Infecções
Urinárias em Pacientes Ambulatoriais: Prevalência e
Perfil de resistência aos antimicrobianos. RBAC, v.
42, n. 3, p. 175-180, 2010.
RORIZ-FILHO, J.; VILAR, F. C.; MOTA, L. M.;
LEAL, C. L.; PISI, P. C. B. Infecção do trato
urinário. Medicina, Ribeirão Preto: v. 43, n. 2, p.
118-25, 2010.
DAMASCENO, D. D.; TERRA, F. de S.; LIBÂNIO,
S. I. C. Perfil da Resistência Antimicrobiana nas
Infecções do Trato Urinário em uma Instituição
Hospitalar. HOLOS, v. 1, 2011.
KAZMIRCZAK, A. F. H. G.; GOULART, L. S.
Caracterização do Trato Urinário Diagnosticadas no
Município de Guarani das Missões, RS. RBAC, v. 37,
n.4, p. 205-207. 2005.
MARTINI, R.; HORNER, R.; SOUZA, M. C. M. et
al. Caracterização de Culturas de urina Realizadas no
laboratório de Análises Clínicas do Hospital
Universitário de Santa Maria – Santa Maria, RS, no
Período de 2007 a 2010. Rev. Saúde (Santa Maria),
v. 37, n.1, p. 5564, 2011.
OLIVEIRA, A. C. C. de; SILVA, A. C. O. Prevalência
de Infecção do Trato Urinário Relacionada ao Cateter
Vesical de Demora em Pacientes de UTI. Rev. Pesq.
Saúde. v.11, n. 1, p. 27-31, jan-abr, 2010.
PADRÃO, M. da C.; MONTEIRO, M. L.; MACIEL,
N. R.; VIANA, F. F. C. F.; FREITAS, N. A.
Prevalência de Infecções Hospitalares em Unidade de
Terapia Intensiva. Rev. Bras. Clin. Med., v. 8, n. 2, p.
125-128. 2010.
SANTANA, T. C. F. S. de; PEREIRA, E. de M. M.;
MONTEIRO, S. G. et al. Prevalência e Resistência
Bacteriana aos Agentes Antimicrobianos de
Primeira Escolha nas Infecções do Trato Urinário no
Município de São Luís – MA. Rev. Patol. Trop. v.
41, n. 4, p. 409-418, out.-dez. 2012.
SILVA, C. P. R.; MENDONÇA, S. H. F.; AQUINO,
C. R.; SILVA, A. F. S. Principais Fatores de Risco
para Infecção do Trato Urinário (ITU) em Pacientes
Hospitalizados: Proposta de Melhorias. Rev.
Enfermería Global, n. 15, fev., 2009.
SOARES, L. A.; NISHI, C. Y. M.; WAGNER, H. L.
Isolamento das Bactérias Causadoras de Infecções
urinárias e se Perfil de Resistência aos
Antimicrobianos. Rev. Bras. Med. Fam Com: Rio
de Janeiro, v. 2, n. 6, jul-set. 2006.
VIEIRA, J. M. dos S.; SARAIVA, R. M. C.;
MENDONÇA, L. C. de V.; FERNANDES, V. O.;
PINTO, M. R. de C.; VIEIRA, A. B. R. V.
Suscetibilidade antimicrobiana de bactérias
isoladas de infecções do trato urinário de pacientes
atendidos no Hospital Universitário Bettina Ferro de
Souza, Belém-PA. RBAC: v. 39, n. 2, p. 119-21,
2007.
PIRES, M. C. da S.; FROTA, K. de S.; MARTINS
JUNIOR, P. de O. et al. Prevalência e
Suscetibilidades Bacterianas das Infecções
Comunitárias do Trato Urinário, em Hospital
Universitário de Brasília, no Período de 2001 a 2005.
Rev. Soc. Bras. Med. Trop. v. 40, n. 6, p. 643-647,
nov-dez., 2007.
QUEIROZ, C. A.; FELÍCIO, V. T. Interações
Urinárias de origem bacteriana em Pacientes
Atendidos em Laboratórios de Análises Clínicas de
Presidente Olegário – MG. Newlab, v. 101, p. 106111. 2010.
RIBEIRO, E. C. C.; LUZ, A. C. da. Perfil
Microbiológico de Pacientes Ambulatoriais com
Infecção Urinária. Florence: São Luís, MA, n. 1,
50
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES NA PÓSMENOPAUSA
LEAL, Thaís Borges*; ROCHA, Lorena Silveira*; DE QUEIROZ, Marcelle Mafra*; CAMPOS, Maria Cecília Costa*;
GONTIJO, Bia Gomes*; BARRAL, Ana Beatris Cezar Rodrigues **
*Discentes do curso de Medicina das FIPMoc; **Docente do curso de Medicina das FIPMoc; *** Farmacêutica graduada pelas
FIPMoc
RESUMO
As doenças cárdio-vasculares (DCV) ocupam no
Brasil o primeiro lugar dentre as causas de
morbimortalidade. Além disso, ocasionam grande
número de internações, gerando custos médicos e
sócioe-conômicos elevados. Sua incidência aumenta
com a idade, especialmente em mulheres, pois, com o
envelhecimento, elas sofrem modificações
metabólicas que estão relacionadas tanto à gênese
quanto à progressão da DCV. Frente à importância do
tema proposto, o presente trabalho teve como
objetivo conhecer o risco cárdio-vascular em
mulheres na pós-menopausa, mediante uma revisão
sistemática de literatura. Para tanto, realizou-se uma
revisão de artigos publicados entre 2007 e 2013 em
revistas científicas indexadas por meio de buscas nas
bases de dados bibliográficos do SciELO e PubMed.
Concluiu-se que a pós-menopausa é uma fase da vida
em que a mulher se torna mais suscetível ao
desenvolvimento de doenças cárdio-vasculares e,
devido ao alto índice de morbimortalidade associado
a essas doenças, torna-se útil a contribuição acerca do
conhecimento desse assunto.
Palavras-chave: mulheres, pós- menopausa,
doenças cárdio-vasculares
INTRODUÇÃO
O aumento da expectativa de vida da população
tem-se refletido na conformação da população
brasileira. Em nosso país, as mulheres representam a
maioria da população idosa. Com isso, elas
passaram a viver um tempo suficiente para vivenciar
mudanças que muitas gerações anteriores não
conseguiram alcançar (ZANOTELLI, 2012).
Com o envelhecimento, as mulheres sofrem
modificações metabólicas que levam a alterações na
composição e distribuição do tecido adiposo. Essas
modificações estão relacionadas tanto à gênese
quanto à progressão das doenças cárdio-vasculares
(DCV) (DE SOUZA et al., 2010).
No Brasil, este grupo de doenças ocupa o
primeiro lugar dentre as causas de mortalidade
desde a década de 60, tanto para homens quanto para
mulheres (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CLIMATÉRIO - SBC e SOBRAC, 2008) e são
responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes
em indivíduos acima de 30 anos (MANSUR e
FAVARATO, 2011). Além disso, ocasiona alta
frequência de internações, gerando custos médicos e
sócioe-conômicos elevados (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA,
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO
e SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
51
Artigo Original
- SBC, SBH e SBN, 2010).
A prevalência de DCV aumenta com a idade,
especialmente em mulheres (SBC e ABC, 2008).
Durante o período do climatério, ocorre a diminuição
da atividade ovariana e consequente diminuição da
produção de estrogênios (FONSECA; BAGNOLI;
ARIE, 2009).
Estudos clínicos e experimentais evidenciam
que o sexo feminino possui fatores considerados
como protetores cárdio-vasculares em relação ao
sexo masculino. Essa proteção permanece até o
climatério, quando ocorre a privação dos hormônios
ovarianos (DIAS et al., 2012).
Durante o período da menacme, o risco para
doenças cárdio-vasculares nas mulheres é cerca de
três vezes menor que nos homens. Após a menopausa,
com a queda dos níveis de estradiol, o risco cárdiovascular feminino aumenta progressivamente,
equivalendo-se ao do homem (LORENZI et al.,
2009).
Considerando que o climatério é uma fase em
que a mulher se torna mais exposta ao
desenvolvimento de doenças cárdio-vasculares, que e
essas doenças apresentam alto índice de morbidade e
mortalidade, torna-se de extrema relevância
conhecer, por meio da literatura, o risco cárdiovascular em mulheres na pós-menopausa.
possuírem valor teórico relevante para a elaboração
do texto. Utilizaram ainda, materiais publicados
pela World Health Federation e World Health
Organization, além de materiais da Sociedade
Brasileira de Cardiologia e Associação Brasileira de
Climatério. Para serem inclusos no presente estudo,
os artigos deveriam ser recentes ou ser consensos de
sociedades médicas, além de abordar o tema
proposto e pertencerem a revistas indexadas.
RESULTADOS
Os resultados obtidos estão descritos nas
tabelas 1 e 2.
Tabela 1
Tabela 2
MÉTODO
Para a elaboração deste artigo, foi realizada
revisão de literatura na qual foram pesquisados
trabalhos científicos, no período de março a maio de
2013, nas bases de dados Pubmed e Scielo. As
palavras-chave utilizadas foram: mulheres, pósmenopausa e doenças cárdio-vasculares. A pesquisa
foi limitada a trabalhos em inglês e português,
publicados entre 2007 a 2013. Foram encontrados 39
trabalhos publicados e, ao final, 25 foram
selecionados, por se tratarem de estudos recentes ou
por serem consensos de sociedades médicas, e por
52
DISCUSSÃO
Dados epidemiológicos revelam que o Brasil
não é mais um país de jovens. Dos 190.732.694
habitantes, 97.342.162 são mulheres, das quais
14,3% têm 45 anos ou mais. Portanto, uma parcela
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
significativa das mulheres brasileiras está
vivenciando ou prestes a vivenciar a fase do
climatério (SANTOS; FIALHO; RODRIGUES,
2013).
Um processo universal que transporta em si
um significado único na vida das mulheres,
comparativamente com os homens, é a menopausa,
que ocorre, nos países de rendimentos médios e mais
elevados, por volta dos 50 anos de idade. (MARTINS,
2012).
A mulher vive, em média, cinco a oito anos
mais que o homem, por isso, atualmente, a maioria
das mulheres alcança a fase da menopausa. No século
XVII, apenas 28% das mulheres chegavam à
menopausa. Hoje esse número chega a 95%, sendo
que 50% delas ultrapassam os 75 anos de idade, em
países desenvolvidos (SANTOS; FIALHO;
RODRIGUES, 2013).
A maior longevidade das mulheres tem sido
também explicada com base nas diferenças
hormonais. Tem sido frequentemente notado que a
mortalidade feminina associada às doenças cárdiovasculares, até os 50 ou 60 anos, é inferior à registrada
para os homens. A explicação avançada tem sido
baseada na existência do hormônio feminino
estrógeno, que motivaria a diminuição dos níveis de
colesterol das lipoproteínas de baixa densidade e o
aumento do colesterol das lipoproteínas de alta
densidade, constituindo um fator de proteção
aterogênica (MARTINS, 2012).
Fases Reprodutivas da Mulher
A vida biológica da mulher é dividida em
infância, puberdade, menacme e climatério. Na
puberdade ocorre a primeira menstruação chamada
de menarca sendo esta o ápice de todas as
transformações somáticas e hormonais da
adolescente. Após, inicia-se o período reprodutivo,
menacme, presente até os 40 anos, quando começa o
climatério, ocorrendo a esterilidade definitiva e
O climatério é a fase da vida feminina na qual
ocorre a transição do período reprodutivo ao não
reprodutivo. É o período da vida da mulher
caracterizado pela diminuição da função ovariana e
da produção de hormônios estrógenos (GRAEF;
LOCATELLI; SANTOS, 2012).
O Ministério da Saúde estabelece o limite
etário para o climatério de 40 aos 65 anos de idade,
dividido em fases que constituem parte de um
processo contínuo, englobando: pré-menopausa –
geralmente, inicia após os 40 anos, com diminuição
da fertilidade em mulheres com ciclos menstruais
regulares ou com padrão menstrual similar ao
ocorrido durante a vida reprodutiva; perimenopausa
– inicia dois anos antes da última menstruação e vai
até um ano após (com ciclos menstruais irregulares e
alterações endócrinas); pós-menopausa – começa
um ano após o último período menstrual
(VALENÇA e GERMANO, 2010).
A pós-menopausa é definida como o período
prolongado de hipogonadismo hipergonadotrópico,
caracterizado por níveis elevados de FSH e LH,
associados a baixos níveis de estradiol e valores não
detectáveis de inibina B. Os picos sistêmicos de LH
e FSH são atingidos no primeiro e terceiro anos após
a menopausa, respectivamente. Na fase pósmenopáusica, o FSH poderá estar aumentado cerca
de 10 a 15 vezes, enquanto o LH, de 3 a 5 vezes. Por
essa altura, a produção estrogênica é inteiramente
derivada da aromatização extragonadal de
androgênios em estrona, o principal estrogênio
dessa fase (DUARTE, 2010).
Em relação ao conteúdo androgênico na pósmenopausa, verifica-se uma redução de 50% dos
níveis de androstenediona e de 25% do total de
testosterona em relação às concentrações do período
reprodutivo, com a síntese ovárica contribuindo
fortemente para o total circulante deste último
esteróide, o que deve à estimulação do estroma
ovárico, ainda capaz de produção androgênica, pelo
excesso de gonadotrofinas (LH). Assim, a secreção
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
53
Artigo Original
ovárica aumentada de testosterona, associada à
diminuição da SHBG (sex hormone-binding
globulin), que contribui para uma maior
biodisponibilidade desta hormona, poderá estar na
base da indução de hirsutismo e sintomas virilizantes
na mulher, na pós-menopausa (DUARTE, 2010).
Com a diminuição de estrogênios e na
tentativa de manter a foliculogênese há um aumento
de LH e FSH e, consequentemente, aumento na
produção de androgênios (principal hormônio da
mulher no climatério), que são convertidos em
estrona. Dessa forma, algumas mulheres atingem seu
equilíbrio endócrino. Porém, 30-40% das mulheres
não o alcançam e acabam sofrendo com as
consequências da diminuição dos estrogênios no
organismo (FONSECA et al., 2009).
A falta do hormônio ovariano leva a alterações
no perfil lipídico, aumento das lipoproteínas de baixa
densidade (LDL), redução das lipoproteínas de alta
densidade (HDL) e aumento na deposição de gordura
(ANDRES, 2012). Os níveis de colesterol total e da
fração LDL, assim como dos triglicerídeos
plasmáticos, aumentam após a menopausa,
provavelmente em razão da redução da atividade do
receptor de LDL, que tem sido associada ao declínio
gradual do estrógeno sanguíneo no período do
climatério (DIAS et al., 2012).
O sexo feminino, antes da privação dos
hormônios ovarianos, possui maior predomínio vagal
e sensibilidade dos receptores de pressão e, portanto,
maior proteção cárdio-vascular, em relação ao sexo
masculino. Entretanto, é importante enfatizar que
essa proteção autonômica cárdio-vascular
apresentada pelo sexo feminino atenua-se após a
privação dos hormônios ovarianos. Deve-se enfatizar
ainda que no climatério, é comum observar, na
mulher, além de aumentado risco de doenças cárdiovasculares, redução na capacidade de exercício, na
força muscular e na massa óssea, aumento do peso
corporal e da prevalência de diabetes (DIAS et al.,
2012).
54
Risco Cárdio-vascular e Menopausa
Apesar de a maioria das doenças cárdiovasculares terem etiologias desconhecidas, sabe-se
que alguns fatores contribuem para o surgimento
delas (NOGUEIRA, 2009).
Os fatores de risco para doenças cárdiovasculares podem ser divididos em dois grandes
grupos: os fatores de risco não modificáveis, nos
quais estão incluídos o sexo, a idade e a genética, e
os fatores de risco modificáveis, que são aqueles que
surgem com o passar do tempo e estão relacionados
com hábitos de vida. Dentre eles, podemos citar: o
tabagismo, o consumo de álcool, o sedentarismo, o
estresse, a obesidade, a hipertensão arterial, o
diabetes mellitus e as dislipidemias
(NASCIMENTO; GOMES; SARDINHA, 2011).
A doença cardiovascular (DCV) compreende
um conjunto de doenças que afetam coração e vasos
sanguíneos, tendo como algumas das principais
manifestações um ataque cardíaco ou acidente
v a s c u l a r c e r e b r a l ( W O R L D H E A RT H
FEDERATION - WHF, 2013). Esse grupo de
doenças é o principal motivo de óbitos e
incapacitação, nos países desenvolvidos, e sua
etiologia não pode ser dada por uma única causa
(BATISTA et al., 2012).
Caracteristicamente, a DCV é uma doença
crônica que, geralmente, apresenta um longo
período de latência, evolui lentamente, transcorre
com lesões irreversíveis e com complicações que
desenvolvem graus variáveis de incapacidade ou
óbito (MARTINS et al., 2011).
Atualmente, as doenças cárdio-vasculares são
a causa mais comum de morbimortalidade em todo o
mundo, sendo responsáveis por 16,7% milhões de
mortes por ano (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO,
2012). As estimativas para 2020 é que elas se
mantenham como principal causa de óbito, sendo
que os maiores contribuintes são os países em
desenvolvimento, quanto comparados aos
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
desenvolvidos (CESARINO et al., 2012).
No Brasil, representam a principal causa de
morte a partir dos 40 anos de idade, tanto em homens
quanto em mulheres (MANSUR e FAVARATO,
2011). O país está entre os 10 países com maior índice
de mortes por doenças cárdio-vasculares. Além disso,
constituem uma das principais causas de
hospitalização prolongada, gerando custos médicos e
sócio-econômicos elevados (SBC, SBH e SBN,
2010).
Epidemiologicamente, mesmo se mantendo
como a principal causa de morte no Brasil, esses
valores vêm decrescendo nas últimas décadas,
principalmente no Sul e Sudeste e em maiores de 60
anos. (MANSUR e FAVARATO, 2011).
A incidência das doenças arteriais circulatórias
aumenta proporcionalmente ao envelhecimento
populacional, principalmente em mulheres. Segundo
o Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral
(AVC) e o infarto são as principais causas de morte
em mulheres com idade superior a 50 anos
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO CLIMÁTERIO
- SBC e SOBRAC, 2008).
Apesar de se preocuparem mais com o câncer
de mama, o maior índice de mortalidade em mulheres
está mais relacionado a doenças cárdio-vasculares,
responsáveis por 53% dos casos de morte enquanto o
câncer de mama representa 4% (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA e
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMATÉRIO SBC e SOBRAC, 2008).
Na população feminina, a doença cárdiovascular é responsável por mais de 8,6 milhões de
óbitos no mundo ao ano, representando um terço de
todas as mortes nessa população. Esse valor é maior
do que se somado às mortes devidas a todos os
cânceres, tuberculose, HIV e malária. 3,3 milhões
desses óbitos estão relacionados a ataques cardíacos,
3,2 milhões dessas mulheres morrem devido a
acidente vascular encefálico, e 2,1 milhões devem-se
a outras doenças cárdio-vasculares como
insuficiência cardíaca e doença cardíaca
hipertensiva. (WHF, 2013).
Sabe-se que, quanto mais tempo a mulher for
exposta ao estrogênio durante a pré-menopausa,
ocorre maior proteção para doenças cárdiovasculares (DUARTE, 2010).
Considerando mulheres de mesma faixa etária,
aquelas que se encontram na menopausa têm risco
de doença arterial coronariana (DAC) duas a três
vezes mais do que aquelas na pré-menopausa. Na
faixa etária de 45 a 64 anos, uma em cada nove
mulheres possui alguma forma de DCV, sendo essa
proporção diminuída (uma a cada 3 mulheres) após
os 65 anos. Menopausa precoce também está
associada a aumento de DAC (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA e
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMATÉRIO
- SBC e SOBRAC, 2008).
Segundo estimativas, ocorre aumento de 4
vezes do risco de DCV na primeira década pósmenopausa (DUARTE, 2010).
Normalmente os homens desenvolvem DCV
mais cedo, cerca de 10 anos antes que as mulheres.
Porém, a partir dos 50 anos, o que coincide com o
período climatérico, ocorre aumento considerável
do risco cárdio-vascular em mulheres, pois esse
período está relacionado com o surgimento e com
agravo de alguns fatores de risco, nos quais estão
incluídos a obesidade central e a dislipidemia
(NETO et al., 2011; GRARAKHNLOU et al.,
2012).
Inúmeros são os fatores relacionados ao
elevado risco cárdio-vascular nas mulheres na pósmenopausa e, quanto maior o número de fatores de
risco presentes, maior a chance de ocorrer um evento
cárdio-vascular. Da mesma maneira, quanto melhor
o controle dos hábitos de vida com redução do
número de fatores associados, maior é a diminuição
desse risco (SBC e SOBRAC, 2008).
A pós-menopausa é uma fase da vida em que a
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
55
Artigo Original
mulher torna-se mais suscetível ao desenvolvimento
de doenças cárdio-vasculares. Devido aos altos
índices de morbidade e mortalidade por essas
doenças nota-se a relevância deste tema,
especialmente nessa população. Dessa forma, este
estudo pode ser útil na contribuição acerca do
conhecimento desse assunto tanto para essas
mulheres quanto para muitos profissionais da saúde,
auxiliando-os para que eles, cada vez mais, possam
ajudar na prevenção das doenças cárdio-vasculares e
na promoção da saúde da mulher.
REFERÊNCIAS
ANDRES, F. G. Uso da isoflavona no climatério e na
pós-menopausa. 2012. 20 f. Trabalho de Conclusão
de Curso (Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em
Nutrição Clínica) - Departamento de Ciências da
Vida, Universidade Regional do Noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul, Ijuí. 2012.
BATISTA, A. L. A.; LINS, R. D. A. U.;
RODRIGUES, R. Q. F.; SEABRA, E. G.; GOMES,
R. C. B.; GOMES, D. Q. C.; BENTO, P. M. Interrelação entre doença periodontal e doenças
cardiovasculares - abordagem etiopatogenética.
Revista Brasileira de Medicina, v. 69, n. 3, mar.
2012.
CESARINO, E. J.; VITUZZO, A. L. G.; SAMPAIO,
J. M. C.; FERREIRA, D. A. S.; PIRES, H. A. F.;
SOUZA, L. Avaliação do risco cardiovascular de
indivíduos portadores de hipertensão arterial de uma
unidade pública de saúde. v. 10, n. 1. 2012.
CEZARINO, P. Y. A. Cinarizina no tratamento de
sintomas climatéricos. 2010. 85 f.
DE SOUZA, L. P. S.; SOUSA, M. H. M.;
GRAVENA, A. A. F.; CARVALHO, I. Z. Fatores de
risco cardiovascular em mulheres na pós-menopausa.
2011. VII Encontro Internacional de Produção
Científica, Maringá: Editora Cesumar. 2011, 5p.
DIAS, D. S.; BERNADES, N.; BRITO, J. O.;
CONTI, F. F.; IRIGOYEN, M. C.; RODRIGUES, B.;
ANGELIS, K. Impacto do Envelhecimento nas
Disfunções Metabólicas e Cardiovasculares em
Modelo Experimental de Menopausa. Revista
Brasileira de Cardiologia, São Paulo, v. 24, n. 5.
2012.
56
DUARTE, A. M. B. Climatério: o impacto sobre a
condição feminina. Mestrado Integrado em
Medicina. Revista: Acta Obstétrica e
Ginecológica Portuguesa, Portugal, abr. 2010.
FONSECA, A. M.; BAGNOLI, V. R; ARIE, W. M.
Y. A Dúvida do ginecologista: prescrever ou não
hormônios na mulher no climatério. Revista da
Associação Medica Brasileira, São Paulo, v. 55, n.
5. 2009.
GRAEF, A. M.; LOCATELLI, C.; SANTOS, P.
Utilização de fitoestrógenos da soja (Glycine Max) e
Angelica Sinensis (Dong Quai) como uma
alternativa terapêutica para o tratamento dos
sintomas do climatério. Evidência, Joaçaba, v. 12, n.
1, p. 83-96, jan./jun. 2012.
GRARAKHNLOU, R.; FARZAD, B.; ALINEJAD,
H. A.; STEFFEN, L. M.; BAYATI, M. Medidas
Antropométricas como Preditoras de Fatores de
Risco Cardiovascular na População Urbana do Irã.
Arquivo Brasileiro de Cardiologia, v. 98, n. 2.
2012
LORENZI, D. R. S.; CATAN, L. B.; MOREIRA, K.;
ÁRTICO, G. R. Assistência à mulher climatérica:
novos paradigmas. Revista Brasileira de
Enfermagem, v. 62, n. 2. 2009.
MANSUR, A. P; FAVARATO, D. Mortalidade por
Doenças Cardiovasculares no Brasil e na Região
Metropolitana de São Paulo. Arquivo Brasileiro de
Cardiologia, São Paulo, v. 9, n. 2. 2011.
MARTINS, L. N.; SOUZA, L. S.; SILVA, C. F.;
MACHADO, R. S.; SILVA, C. E. F.; VILAGRA, M.
M.; CARVALHO, C. V. A.; PEREIRA, A. B. C. N.
G. Prevalência dos Fatores de Risco Cardiovascular
em Adultos Admitidos na Unidade de Dor Torácica
em Vassouras, RJ. Revista Brasileira de
Cardiologia, v. 24, n. 5, set./out. 2011.
MARTINS, R. A. S. Envelhecimento, atividade
física e saúde cardiovascular. Faculdade de
Ciências do Desporto e Educação Física da
Universidade de Coimbra, Coimbra, set. 2012.
NASCIMENTO, J. S.; GOMES, B.; SARDINHA,
A. H. L. Fatores de risco modificáveis para as
doenças cardiovasculares em mulheres com
hipertensão arterial. Revista René, v. 12, n. 4. 2011.
NETO, F. J. A; FIGUERÊDO, E. D; BARBOSA, J.
B; BARBOSA, F. F; COSTA, G. R. C; NINA, V. J. S;
NINA, R. V. A. H. Síndrome metabólica e
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
menopausa: estudo transversal em ambulatório de
ginecologia. Arq. Bras. Cardiol. [online], v. 95, n. 3.
2010.
NOGUEIRA, M. A, D. Fatores de risco
cardiovascular em mulheres atendidas em unidade de
saúde. Conscientiae Saúde, Piauí, v. 8, n. 3. 2009.
RIBEIRO, A. G.; COTTA. R. M. M.; RIBEIRO, S. M.
R. A Promoção da Saúde e a Prevenção Integrada dos
Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares.
Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 1. 2012.
SANTOS, J. S.; FIALHO A. V. M.; RODRIGUES, D.
P. Influências das famílias no cuidado às mulheres
climatéricas. Revista Eletrônica de Enfermagem, v.
15, n. 1, p. 215-22, jan./mar. 2013.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMATÉRIO. I
Diretriz Brasileira sobre Prevenção de Doenças
Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a
Influência da Terapia de Reposição Hormonal (TRH)
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da
Associação Brasileira do Climatério (SOBRAC).
Arquivo Brasileiro de Cardiologia, v. 1, n. 1. 2008.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA.
VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arquivo
Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v. 95, n. 1.
2010.
VALENÇA, N. C.; GERMANO, R. M. Concepções
de mulheres sobre menopausa e climatério. Revista
Rene, Fortaleza, Parnamirim, v. 11, n. 1, jan./mar.
2010.
WHF. WORLD HEARTH FEDERATION.
D i s p o n í v e l e m : h t t p : / / w w w. w o r l d - h e a r t federation.org/press/fact-sheets/cardiovasculardisease-terms/. Acesso em 16 de maio de 2013.
ZANOTELLI, S. S. Vivências das mulheres acerca do
climatério em uma unidade de saúde da família.
Revista de Pesquisa: cuidado é fundamental
online, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, jan./mar. 2012.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
57
Artigo Original
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS VALORES DE
GLICEMIA CAPILAR E GLICEMIA VENOSA EM PACIENTES
DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS
Thales Almeida PINHEIRO*; Bárbara Lessa Alves REIS**; Jéssica Mendes TEIXEIRA**
* Docente do curso de Farmácia das FIPMoc; ** Farmacêuticas graduadas pelas FIPMoc
RESUMO:
O diabetes mellitus (DM) é a doença metabólica mais
comum no ser humano, caracterizada por distúrbios
endócrinos associados ao metabolismo de
carboidratos, lipídios e proteínas; e está associadA a
uma elevada taxa de morbidade, exigindo cuidados
constantes para evitar suas complicações agudas e
crônicas. Este trabalho teve como objetivo verificar
se há diferença significativa entre os valores de
glicemia capilar e venosa em relação à presença de
diabetes, ao sexo, idade, prática de atividade física e
alimentação balanceada. O estudo foi realizado com
205 voluntários universitários. Utilizou-se o
glicosímetro ACCU-CHEK Active - Glucotrend para
as dosagens capilares; e o equipamento Quick Lab
(DRAKE), empregando a metodologia enzimática
colorimétrica trinder, para dosagem da glicemia
venosa. O programa SPSS 17.0 (Statistical Package
for the Social Sciences) foi usado para os cálculos
estatísticos.
O estudo revelou que: houve prevalência do sexo
feminino na amostra analisada com predomínio da
faixa etária de 18 a 30 anos; aproximadamente 50%
da população estudada praticam exercícios físicos e
fazem uso de alimentação balanceada; e glicemias
capilar e venosa não sofrem influência dessas duas
últimas variáveis. Os resultados ainda mostraram que
houve diferença significativa entre as glicemias
capilar e venosa para os indivíduos não diabéticos e
quando analisados por gênero, mas não houve
diferença para os indivíduos diabéticos. Contudo,
pôde-se concluir que o uso de glicemia capilar para
monitorar pacientes diabéticos é aceitável, entretanto
58
faz-se necessária a realização de novos estudos com
um número maior de pacientes diabéticos para
conclusões mais contundentes.
Palavras-chave: Glicemia capilar, glicemia venosa
e glicosímetro.
INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é a doença
metabólica mais comum no ser humano, e é
caracterizada por distúrbios endócrinos associados
ao metabolismo de carboidratos, lipídios e
proteínas. O DM é causado por uma completa ou
relativa anormalidade na secreção e/ou ação da
insulina. O DM tipo 1 tem sua fisiopatologia
associada à destruição das células beta do pâncreas
por meio de autoanticorpos, ao passo que a DM Tipo
2 está relacionada a uma resistência periférica à ação
da insulina. A DM gestacional se caracteriza por
hiperglicemia pela primeira vez durante a gestação,
podendo permanecer ou voltar aos parâmetros de
normalidade, após o parto. Independente do tipo de
diabetes, a prevalência em geral é estimada em 200
milhões de pessoas, 5% da população adulta
(RODRIGUES e MOTTA, 2012).
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o
número total de pessoas com diabetes no mundo,
aumentará de 171 milhões em 2000 para 366 milhões
e m 2 0 3 0 ( F R E I TA S ; G A R C I A , 2 0 1 2 ;
MIELCZARSKI, et al., 2012). No Brasil, estima-se
que ela aumente de 4,5 milhões para 11,3 milhões no
mesmo período, tornando o país o oitavo país com
maior número de pessoas diabéticas (FREITAS;
GARCIA, 2012).
O diagnóstico do DM é importante para
prevenir e diminuir complicações agudas e crônicas
através de assistência médica e educação do paciente,
contribuindo para o controle da doença
(MAGALHÃES, et al., 2012). O diagnóstico é
baseado nas alterações no nível plasmático de glicose
jejum de 8 horas, nos pontos de jejum e de 2h após
sobrecarga oral de 75g de glicose (teste oral de
tolerância à glicose – TOTG) e nível plasmático de
glicose aleatória ou casual associado a sinais e
sintomas típicos da diabetes (PEREIRA, et al., 2006;
MAGALHÂES, et al., 2012). Nos últimos anos, a
Organização Mundial de Saúde também incluiu a
dosagem de hemoglobina glicada como forma de
diagnóstico do diabetes (OMS, 2011).
As dosagens da glicemia capilar e da glicemia
venosa, quando coletadas de pacientes em estado de
jejum simultaneamente, apresentam valores
próximos, entretanto, quando coletadas em estado
alimentado, o valor da glicemia capilar é mais
elevado. (DIRETRIZES SBD, 2012 – 2013).
A importância da monitorização da glicemia
capilar é essencial para controlar o tratamento do
diabetes, ajustar doses e posologia de medicamentos,
reduzir complicações decorrentes da doença e
proporcionar a melhoria na qualidade de vida dos
pacientes com diabetes. Estudos apresentam que,
com o auxílio da monitorização da glicemia capilar, é
possível manter a glicose próxima aos níveis normais,
prevenindo o desenvolvimento de suas complicações
crônicas. (TEIXEIRA, et al., 2009).
O uso dos glicosímetros portáteis para aferição
da glicemia capilar pelo próprio paciente diabético
tem levantado questionamentos sobre a exatidão e a
precisão dos resultados, quando comparados com os
resultados dos níveis de glicemia venosa dosados
por métodos convencionais (CORDOVA, et al.,
2009). Dessa forma, é de grande importância, para a
saúde pública, a realização de novos estudos que
possam demonstrar a equivalência ou não entre os
valores de glicemia capilar e glicemia venosa em
pacientes diabéticos e não diabéticos. Assim, este
estudo tem como objetivo verificar se há diferença
significativa entre os resultados de glicemia capilar
dosados pelo glicosímetro portátil, e os valores de
glicemia venosa determinados pelos métodos
tradicionais empregados pelos laboratórios de
análises clínicas em relação à presença de diabetes,
ao sexo, idade, prática de atividade física e
alimentação balanceada.
MÉTODO
Amostra
O estudo foi realizado com estudantes das
Faculdades Integradas Pitágoras de Montes ClarosMG. Analisaram-se 205 amostras de sangue capilar
e venoso coletadas simultaneamente, sendo 70 do
sexo masculino e 135 do feminino. Os indivíduos
participantes da pesquisa tinham idade de 18 a 64
anos, e não estavam em jejum no momento da coleta
das amostras. Foram excluídos da pesquisa aqueles
voluntários que não aceitaram que fossem colhidas,
ao mesmo tempo, dois tipos de amostras e/ou que
não concordaram em assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido para a
participação da pesquisa. Também foram excluídos
da pesquisa pacientes com difícil acesso venoso e
que estavam gestantes. O presente estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das
Faculdades Integradas Pitágoras do Norte de Minas
- FIPMoc, nos termos do Parecer nº 236.529.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
59
Artigo Original
ANOVA para analisar dados numéricos, sendo
considerado significativo p ≤ 0,05.
Instrumentos
O instrumento utilizado para a coleta de dados
foi um questionário criado pelos próprios
pesquisadores, embasado em outros questionários já
validados, com perguntas abrangendo a idade, sexo,
presença de diabetes, uso de medicamentos ou
insulina, alimentação balanceada, prática de
exercício físico e peso corporal. Utilizou-se o
glicosímetro ACCU-CHEK Active - Glucotrend para
as dosagens capilares; e o equipamento Quick Lab
(DRAKE), empregando a metodologia enzimática
colorimétrica trinder, para dosagem da glicemia
venosa.
RESULTADOS
Foram analisadas amostras de 205 indivíduos,
sendo 70 (34,1%) homens e 135 (65,9%) mulheres.
A partir da Tabela 1, observa-se predomínio entre as
idades de 18 a 30 anos, em virtude de as amostras
terem sido coletadas em ambiente universitário.
Verifica-se, também, que a prática de exercício
físico e a presença de alimentação balanceada
apresentaram uma distribuição próxima de 50%
para a população estudada. Observa-se que o
número de pacientes diabéticos analisados é muito
pequeno, em relação à amostra.
Procedimentos
Amostras da glicemia capilar foram obtidas
através da punção da polpa do dedo médio, com
lanceta não reutilizável, empregando álcool 70% para
antissepsia. As amostras da glicemia venosa foram
obtidas mediante a da punção da veia basílica ou
cubital média com seringa não reutilizável. Foram
coletados 3 mL de sangue venoso em tubo contendo
fluoreto de sódio e homogeneizado na sequência.
Logo após, o tubo foi centrifugado por 5 minutos
durante 3.500 rpm para a separação do plasma. As
dosagens de glicose nas amostras de plasma foram
realizadas no mesmo dia da coleta, no Laboratório de
Análises Clínicas do Núcleo de Atenção a Saúde e
Práticas Profissionalizantes (NASPP) das
Faculdades Integradas Pitágoras, localizado na
cidade de Montes Claros - Minas Gerais.
Tabela 1 - Distribuição em valor absoluto e
percentual das amostras analisadas quanto à faixa
etária, realização de exercício físico, alimentação
balanceada e presença do diabetes.
Classificação
Idade
Realiza
Atividade Física
Tem
Alimentação
Balanceada
Diabético
18 a 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
> 41 anos
Sim
Não
Sim
n
73
108
11
13
98
107
114
%
35,6
52,7
5,4
6,3
47,8
52,2
55,6
Não
91
44,4
Sim
Não
3
202
1,5
98,5
Na Tabela 2, onde se comparam os valores de
glicemia capilar e glicemia sérica, verifica-se
diferença significativa com valor de “p” igual zero
(p = 0). Dessa forma, pode-se dizer que os valores de
glicemia capilar não podem ser comparados aos
valores de glicemia venosa. O mesmo se observa
quando se faz a análise comparativa da glicemia
capilar e glicemia sérica, de acordo com o gênero
(Tabela 3).
Análise Estatística
Tabela 2 - Análise comparativa da Glicemia
Capilar X Glicemia Sérica.
Os dados foram avaliados pelo programa SPSS
17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) for
Windows. Foi utilizado o teste Qui-quadrado para
avaliar as diferenças de proporções dos dados
categóricos, os testes t student independente e
60
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
Média
Mínimo
Máximo
105,34
93,98
70,00
51,00
186,00
163,00
Desvio
Padrão
19,17
16,35
Sig
0,000*
A Tabela 4 mostra que a prática de atividade
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
física e a alimentação balanceada, respectivamente,
não interferem na comparação entre os valores de
glicemia capilar e glicemia sérica, mantendo uma
forte diferença significativa com valor de “p” igual a
zero.
Tabela 3 - Análise comparativa da Glicemia Capilar
e Glicemia Sérica, de acordo com o Gênero.
N
Média
Masculino
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
70
70
106,20
93,37
Desvio
Padrão
17,79
18,13
Feminino
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
135
135
104,89
93,78
19,90
15,42
Sig
0,000*
0,000*
Tabela 4: Análise comparativa da Glicemia Capilar
e Glicemia Sérica, de acordo com a Prática de
Atividade Física e Alimentação balanceada.
N
Média
98
105,32
Desvio
Padrão
18,07
Pratica Atividade
Física
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
98
94,36
17,82
Não Pratica
Atividade Física
Glicemia Capilar
107
105,35
20,22
Glicemia Sérica
107
93,63
14,95
Faz Alimentação
Balanceada
Glicemia Capilar
114
103,80
16,97
Glicemia Sérica
114
92,66
14,94
Não Faz
Alimentação
Balanceada
Glicemia Capilar
91
107,26
21,57
Glicemia Sérica
91
95,63
17,92
encontrados, que os valores de glicemia capilar são
estatisticamente mais elevados que os valores de
glicemia venosa no estado alimentado. Esse
resultado é condizente com as Diretrizes da
Sociedade Brasileira de Diabetes (2013). É
importante dizer que Borges e Andrade (2009);
Pereira. et al., (2006) e as Diretrizes da Sociedade
Brasileira de Diabetes (2013) demonstraram que
amostras de glicemia capilar e glicemia venosa,
quando coletadas em pacientes em jejum, não
apresentam diferenças significativas.
Tabela 5 - Análise comparativa da Glicemia
Capilar e Glicemia Sérica, de acordo com o
Diabetes e a Faixa Etária.
Sig
0,000*
0,000*
Diabético
Não Diabético
18 a 20 anos
0,000*
21 a 30 anos
31 a 40 anos
0,000*
Quanto à análise comparativa da glicemia
capilar e glicemia sérica, de acordo com o diabetes
(Tabela 5), observa-se que, para os pacientes não
diabéticos, existe grande diferença significativa.
Entretanto, que para os pacientes diabéticos não há
diferença significativa, o que permite comparar os
valores de glicemia capilar e glicemia Sérica para este
grupo. Esta informação é de grande importância, já
que a aplicação clínica da glicemia capilar é indicada
para o monitoramento de pacientes diabéticos. Vale
ressaltar que o número de amostras de pacientes
diabéticos foi pouco expressivo em relação ao total,
em consequência do local onde se coletaram as
amostras de sangue. Quanto à faixa etária (Tabela 5),
verifica-se diferença significativa para as faixas
etárias de 18 a 20 anos e de 21 a 30 anos. Para os
pacientes entre 31 a 40 anos e acima de 40 anos, não
houve diferença significativa.
DISCUSSÃO
Foi possível constatar, a partir dos resultados
> 41 anos
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
Glicemia Capilar
Glicemia Sérica
N
Média
3
3
202
202
73
73
108
108
11
11
13
13
112,66
113,33
105,23
93,69
104,72
93,57
104,83
92,86
106,36
95,00
112,15
104,76
Desvio
Padrão
26,95
23,45
19,11
16,13
21,67
16,07
16,50
14,99
22,11
15,74
23,30
25,45
Sig
0,774
0,000*
0,000*
0,000*
0,059
0,157
Os valores encontrados para a glicemia capilar
e a venosa, em relação à prática de atividade física e
alimentação balanceada, não demonstraram
diferenças estatísticas. Entretanto, Santos et a,
(2006) afirma que a redução de peso proveniente da
prática de atividade física seguida de dieta reduz
60% da probabilidade dos que apresentam
tolerância a glicose de desenvolver o diabetes
mellitus. Ainda nesse contexto, Filho et al, (2012) e
ADA (2012) demonstram que a realização de
exercício físico mantém os níveis glicêmicos
normais, prevenindo complicações no diabetes.
Dessa forma, é importante dizer que a prática de
exercício físico e a alimentação balanceada exerce
grande influência no controle glicêmico, apesar de
não influenciar nos valores de glicemia capilar e
venosa de forma comparativa.
A análise estatística mostrou diferença
estatística entre os valores de glicemia capilar e
venosa para pacientes não diabéticos, e a ausência de
diferença estatística para pacientes diabéticos, o que
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
61
Artigo Original
confirma a importância do uso do glicosímetro,
conforme as Diretrizes SBD (2013) e o estudo de
Pereira et al,. (2006), que recomendam o
automonitoramento da glicemia capilar para pessoas
com DM Tipo I e DM Tipo II, que fazem uso da
insulina. Nesse contexto, evidencia-se a importância
do automonitoramento da glicemia capilar no
controle glicêmico, para reduzir o desenvolvimento
das complicações crônicas associadas ao paciente
diabético. Entretanto, vale ressaltar que o número de
pacientes diabéticos na população estudada é muito
pequeno em relação à amostra total, devido ao perfil
da população estudada. Entende-se, dessa forma, que
o baixo número de pacientes diabéticos foi um fator
limitante do estudo. Além disso, segundo Vandresen e
colaboradores (2009), a exatidão dos resultados
liberados pelos aparelhos de glicemia capilar é
questionada, principalmente quanto ao uso
inadequado de volume da amostra e manuseio
incorreto da fita e do próprio glicosímetro, o que
poderia ser considerado outro fator limitante do
estudo.
De acordo com Silva et al . (2012), o
envelhecimento do indivíduo está associado à
tendência de desenvolver o DM. Sabe-se que
pacientes a partir de 50 anos apresentam maior
chance de desenvolver a doença. A partir dos
resultados do estudo, verifica-se que o valor médio da
glicemia aumenta quando se analisam as faixas
etárias de forma ascendente, corroborando a
afirmativa de Silva et al,. (2012). Quanto à
comparação entre os valores de glicemia capilar e
venosa de acordo com a faixa etária, percebe-se que
houve diferença estatística para pacientes de 18 a 20
anos e para pacientes com idade entre 21 e 30 anos.
No entanto, não houve diferença significativa para
pacientes de 31 a 40 anos e para pacientes com idade
superior a 40 anos. Acredita-se que o baixo número de
amostras para essas duas últimas faixas etárias
possam ter interferido no resultado, eliminando uma
possível associação estatística.
62
Baseando-se no estudo realizado, é possível
concluir que: houve prevalência do sexo feminino
na amostra analisada, com predomínio da faixa
etária de 18 a 30 anos; aproximadamente 50% da
população estudada praticam exercícios físicos e
fazem uso de alimentação balanceada; e glicemias
capilar e venosa não sofrem influência dessas duas
últimas variáveis. Conclui-se, ainda, que houve
diferença significativa entre as glicemias capilar e
venosa para os indivíduos não diabéticos e quando
analisados por gênero, mas não houve diferença
para os indivíduos diabéticos. Contudo, pode-se
inferir que o uso de glicemia capilar para monitorar
pacientes diabéticos é aceitável, entretanto faz-se
necessária a realização de novos estudos, com um
número maior de pacientes diabéticos, para
conclusões mais contundentes.
REFERÊNCIAS
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
(ADA). Diagnosis and Classification of Diabetes
Mellitus. Diabetes Care, v. 35, n. 1, Jan. 2012.
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
(ADA). Standards of medical care in diabetes.
Diabetes Care, v. 35, n. 1, Jan. 2012.
ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA;
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.
PROJETO DIRETRIZES. Diabetes Mellitus Tipo
2: Prevenção. Agosto, 2011.
Disponível em: <http://www.projetodiretrizes.org.br
/diretrizes11/diabetes_mellitus_tipo_2_prevencao.pdf>
Acesso em: 16 out. 2012, 12:30:00.
BOLOGNANI, V.; SOUZA, S. S. de;
CALDERON, I. de M. P. Diabetes mellitus
gestacional - enfoque nos novos critérios
diagnósticos. Com. Ciências Saúde, v. 22, n. 1,
p. 31-42, 2011.
CORDOVAL, C. M. M. de.; VALLE, J. P.;
YAMANAKA, C. N.; CORDOVA, M. M. de.
Determinação das glicemias capilar e venosa com
glicosímetro versus dosagem laboratorial da
glicose plasmática. Jornal Brasileiro Patologia
Médica Lab., v. 45, n. 5, p. 379-384, out. 2009.
DIAS, V. M.; PANDINI, J. A.; NUNES, R. R.;
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
SPERANDEI, S. L. M.; PORTELLA, E. S.;
COBAS, R. A.; GOMES, M. de. B. Influência do
índice glicêmico da dieta sobre parâmetros
antropométricos e bioquímicos em pacientes com
diabetes tipo 1. Arq Brs Endocrinol Metab., v. 54,
n. 9, 2010.
FIGUEIREDO, D. M.; RABELO, F. L. A. Diabetes
insipidus: principais aspectos e análise comparativa
com diabetes mellitus. Semina: Ciências
Biológicas e da Saúde. Londrina, v. 30, n. 2, p.
155-162, jul/dez. 2009.
FILHO, A. D. dos R; AMORIM, P. D;
PAZDZIORA, A. Z. Efeito de 12 semanas de
hidroginástica sobre a glicemia capilar em
portadores de diabetes mellitus tipo II. Revista
Brasileira Atividade Física e Saúde. Pelotas/RS.
v. 17, n. 4, p. 252-257. Agosto/ 2012.
FREITAS, L. R. S. de; GARCIA, L. P. Evolução da
prevalência do diabetes e deste associado à
hipertensão arterial no Brasil: análise da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios, 1998, 2003 e
2008. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 21, n. 1,
jan/mar. 2012.
MAGALHÃES, G. L.; MUNDIM, A. V.;
OLIVEIRA, C. M. de.; MOURÃO, JR. C. A.
Atualização dos critérios diagnósticos para Diabetes
Mellitus utilizando a A1C. HU Revista, Juiz de
Fora, v. 37, n. 3, p. 361-367, jul/set. 2012.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância de fatores
de risco e proteção para doenças crônicas por
inquérito telefônico: Dados sobre Diabetes.
Vigitel, Brasil, 2011.
NETO, D. L.; ROBLES, F. C.; DIAS, F. G.; PIRES,
A. C. Avaliação da glicemia capilar na ponta de
dedo versus locais alternativos – valores resultantes
e preferência dos pacientes. Arq. Bras. Endocrinol
Metab., São Paulo, v. 53, n. 3, Apr. 2009
.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Use of
Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis
of Diabetes Mellitus. 2011.
Disponível em: < http://www.who.int/
diabetes/publications/report-hba1c_2011.pdf>
Acesso em: 25 set. 2014, 11:30:00
PEREIRA, G. R.; GASPARETO, A.; AMPOLINI,
C. Análise Comparativa dos Níveis de Glicose
Capilar x Glicose Venosa. NewsLab. 79 ed. 2006.
REIS, L. B de S. M.; SILVA, A. P. R. da,
CALDERON, I. de M. P. Acompanhamento
nutricional no diabete melito gestacional. Com.
Ciências Saúde, v. 22, n. 1, p93-100, 2011.
ROCHA, C. M.; MADEIRA, L. G.; SÁ, K.
R.;LOPES, L. N.; ALBUQUERQUE, D. P. de.;
DINIZ, L. M.; RODRIGUES, L. O. C. Diabetes
mellitus tipo 1 na ausência de neuropatia
autonômica não altera a taxa de sudorese no
exercício. Rev. Bras. Med. Esporte, Niterói, v.
15, n. 1, Jan/Fev. 2009.
RODRIGUES, M. L. C.; MOTTA, M. E. F. A.
Mecanismos e fatores associados aos sintomas
gastrointestinais em pacientes com diabetes
melito. Jornal de Pediatria, v. 88, n. 1, 2012.
SANTOS, C. R. B; PORTELA, E. S; AVILA, S. S;
SOARES, E. de ABREU. Fatores dietéticos na
prevenção e tratamento de comorbidades
associadas à síndrome metabólica. Revista de
Nutrição, v. 19, n. 3. Campinas Maio/Jun. 2006
SILVA, T. R; ZANUZZI, J; SILVA, C. D de M.
Prevalência de doenças cardiovasculares em
diabéticos e o estado nutricional dos pacientes.
Journal Health science institute, v. 30, n. 3, p.
266-270, 2012.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES.
Tratamento e acompanhamento do Diabetes
mellitus. Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Diabetes. 2006
SOUZA, C. F. de.; GROSS, J. L.;GERCHMAN,
F.; LEITÃO, C. B. Pré-diabetes: diagnóstico,
avaliação de complicações crônicas e tratamento.
Arquivo Brasileiro Endocrinologia Metab., v.
56, n. 5, 2012.
VANDRESEN, L. T. S.; SCHNEIDER, D. S. L.
G.; BATISTA, M. R.; CROZATTI, M. T. L.;
TEIXEIRA, J. J. V. Níveis glicêmicos de pacientes
diabéticos segundo estudo comparativo entre duas
técnicas. Rev. Ciên. Farm. Básica Apl., v. 30, n.
1, p. 111-113. 2009.
TEIXEIRA, C. R. de. S.; ZANETTI, M. L.;
LANDIM, C. A. P.; BECKER, T. A. C.; SANTOS,
E. C. B. dos.; FRANCO, R. C.; CITRO, R.
Automonitorização da glicemia capilar no
domicílio: revisão integrativa da literatura. Rev.
Eletr. Enf (online)., v. 11, n. 4, p. 1006-17. 2009.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
63
Artigo Original
EXPLORAÇÃO MINERAL NO NORTE DE MINAS:
COMPREENDENDO MELHOR A QUESTÃO DOS ROYALTIES
LAGES, Gabriela Lemos*; FERREIRA, Diogo Fabiano**; REGO, Thaís Cristina Figueiredo***
*Discente do curso de Engenharia de Minas das FIPMoc; ** Coordenador do curso de Engenharia de
Minas e docente das FIPMoc; *** Docente das FIPMoc
RESUMO
A Compensação Financeira pela Exploração
Mineral (CFEM) no Brasil remete aos valores dos
royalties repassados às regiões mineradoras.
Contudo, devido à complexidade da extração de
recursos minerais como o minério, a atual legislação
carece de revisões, especialmente em sua forma de
arrecadação e na distribuição financeira entre os três
beneficiários: União, os estados e os municípios
produtivos. Esta pesquisa teve como objetivo
compreender de que maneira a Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (royalties)
poderá auxiliar nas demandas dos projetos de
mineração para o norte de Minas Gerais. Utilizou-se
nesta pesquisa a análise de documentos relacionados
à exploração dos recursos minerais e dos valores
arrecadados pela CFEM, com carácter investigativo
exploratório e qualitativo. Muitos são os problemas
que circundam a mineração nos pequenos
municípios; os principais envolvem recursos
hídricos e de energia, além do inchaço populacional
proporcionado pela atração de investimentos das
empresas mineradoras. Os projetos minerários para
as regiões do norte de Minas são evidentes, mas há de
se aproveitar a possível mudança por meio do Novo
Marco da Mineração, com a Lei n˚ 5.807/2013, para
melhorar as formas de arrecadação da CFEM, sem,
contudo, prejudicar a competitividade brasileira no
mercado mineral. Conclui-se, a partir desta pesquisa,
pela necessidade da reformulação do antigo Código
de Mineração de 1967, e da discussão mais intensa
do Projeto de Lei n˚ 5.807/2013, a fim de garantir
64
melhores critérios de distribuição dos royalties
atribuídos à exploração de recursos minerários
para as cidades produtoras e região.
Palavras-chave: Mineração. Royalties. CFEM.
Código de Mineração de 1967. Projeto de Lei n˚
5.807/2013.
INTRODUÇÃO
A exploração mineral deve estar vinculada às
questões sociais, ambientais e econômicas, a partir
do ponto de vista de que a ação dos projetos
minerários arrecadam significativos investimentos
que contribuem para a região.
Ferreira (2013, p. 13) descreve o Brasil como
um país de grande potencial na produção de
commodities, em especial nos setores da
agricultura e o minério. Tais atividades produtivas
são passíveis de compensações financeiras
mediante royalties, pois envolvem a exploração de
recursos naturais, como, por exemplo, a água,
minerais e recursos fósseis. Ainda segundo o autor,
por meio de estudos investigativos sobre royalties,
por tratar-se de uma considerável parcela
financeira pela exploração de recursos naturais,
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
cabe a essa atividade o investimento no meio social e
ambiental de uma região.
Buscou-se apresentar o contexto da
exploração mineral internacional, tendo em vista a
diferença significativa constatada no valor dos
royalties arrecadados por outros países, mesmo os
menos favorecidos que o Brasil, no quesito mineral.
Esses países compensam as regiões exploradas
atribuindo-lhes o devido valor financeiro, sem,
contudo, prejudicar a competitividade do mercado.
Em seguida, trouxemos a contextualização da
mineração em Minas Gerais, que tem sido o estado
considerado o segundo detentor da maior parcela da
riqueza mineral arrecadada para o país, de acordo
com dados do Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM, 2012). A partir daí, foi possível
verificar a exploração mineral no norte de Minas
Gerais, com principal atenção para o município de
Montes Claros, MG, mediante futuros projetos
minerários inseridos no Plano de Desenvolvimento
de Minas Gerais, segundo a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (SEDE, 2011),
considerando que isso poderá arrecadar
significativos valores de royalties para investimento
no desenvolvimento da cidade.
Parte-se do princípio de que os recursos
minerais são considerados patrimônios nacionais e
devem ser explorados. Contudo, essa exploração
deve ser realizada considerando a comunidade em
que está inserida, sendo necessário, portanto, o
constante diálogo das empresas exploradoras com os
órgãos públicos federais e estaduais.
Esta pesquisa teve como objetivo
compreender de que maneira a Compensação
Financeira pela Exploração Mineral (royalties)
poderá auxiliar nas demandas dos projetos de
mineração para o norte de Minas Gerais. Interroga-se
sobre a perspectiva da mudança prevista pelo Projeto
de Lei n˚ 5.807/2013, conhecida como o Novo
Marco da Mineração, e considerar o potencial
mineral recém-descoberto no norte de Minas Gerais.
Considera-se, para esta análise, a forma de
arrecadação dos royalties em outros países,
buscando um parâmetro que demonstra a precária
legislação atual do Código de Mineração, tendo em
vista a forma de arrecadação da Compensação
Financeira (CFEM) no Brasil, o que atualmente
limita investimentos estrangeiros e compromete o
potencial minerário do país e, consequentemente, de
Minas Gerais.
MÉTODO
Este estudo insere-se no âmbito das
investigações qualitativas e exploratórias. A
pesquisa qualitativa é a “modalidade de pesquisa na
qual os dados são coletados através de interações
sociais e analisados subjetivamente pelo
pesquisador” (APPOLINÁRIO 2007, p.155).
Quanto ao carácter exploratório da pesquisa, Gil
(2010, p.41) aponta como aquela que tem como
objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema.
Para Chizzotti (1995), o objeto na abordagem
qualitativa não pode ser considerado como algo
inerte e neutro, mas, sim, cheio de significados e
relações que os sujeitos concretos criam à medida
que agem.
A pesquisa documental foi realizada mediante
a análise de relatórios, tabelas, Plano Diretor e
legislações a respeito do objeto de estudo. A
pesquisa documental “vale-se de documentos
originais, que ainda não receberam tratamento
analítico por nenhum autor [...]” (HELDER, 2006,
p.1-2).
Por meio da análise documental, divisa-se: a
arrecadação e distribuição dos royalties no país, a
contribuição da atividade minerária para as regiões
produtivas, em paralelo com o comprometimento
ambiental; e outros problemas de origem urbana,
advindos da exploração mineral. Os documentos
avaliados foram: tabelas de valores arrecadados da
CFEM para os municípios, distribuídos por estado;
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
65
Artigo Original
Projeto de Lei n˚ 5.807/2013, que dispõe sobre a
atividade mineral; 2º Plano Diretor do
Desenvolvimento do Nordeste pela SUDENE,
Decreto n. 196; Código de Mineração (1967);
Caderno do Setor Mineral do Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica (2009). Esses
documentos estão disponíveis nos sites oficiais do
Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) e da Câmara dos Deputados.
DESENVOLVIMENTO
A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
INTERNACIONAL
A compensação financeira pode aparecer com
diferentes conotações em cada país, mas seu
significado e objetivo não mudam: servir de amparo
às divergências entre o progresso minerário e os
prejuízos causados por ele. Em países-referência,
que alcançaram o desenvolvimento de forma sólida,
como Austrália e Canadá, a arrecadação e a
distribuição dos royalties também refletem a visão de
que os valores pagos às regiões minerárias é
sinônimo de contribuição para a manutenção das
atividades de exploração por mais tempo, evitando
prejuízos mais profundos para as regiões
produtivas (CADERNO DO SETOR MINERAL,
2011).
Segundo Lima (2007), a compensação
financeira na maioria dos países é realizada de
forma diferente para cada tipo de minério, que pode
recair sobre o recurso já extraído, denominado “na
mina”, ou sobre o valor de venda. Destaca-se,
também, que esses minérios são agrupados e
seguem uma taxa uniforme a cada grupo, como, por
exemplo: metais básicos, pedras preciosas, metais
para construção, entre outras. A forma de venda,
seja a importação ou exportação, é relevante, pois
reflete no fato de que há minérios altamente
dependentes de investidores estrangeiros. Ainda
segundo o autor, os governos também podem
ajustar a arrecadação, dependendo do tipo de
minério, mas sempre seguindo um reajuste aos
royalties, o que não traz prejuízos às regiões
exploradas.
Tabela 1 - Comparação das Compensações Financeiras, em % , entre Austrália, China, Indonésia e Brasil –
2012
Substância
Austrália
China
Indonésia
Cobre
5% do valor “na
mina”*
2% do valor de
venda
Bauxita
7,5% do valor de
venda
2% a 4% do valor 3,25% do valor de 3% do faturamento
de venda
venda
líquido
Diamante
7,5% do valor “na 4% do valor de
mina”
venda
6,5% do valor de
venda
0,2% do
faturamento líquido
Minério de ferro
5% a 7,5% do
valor “na mina”
3% do valor de
venda
2% do faturamento
líquido
2% do valor de
venda
4% do valor de
venda
Brasil
2% do faturamento
líquido
*Valor do minério considerado sem o processo de beneficiamento
Fonte: (IBRAM, 2012)
66
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
A Austrália é considerada o quinto país que
mais explora minérios não-energéticos, em geral, e
representa 5% da produção mineral total no mundo,
segundo o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional (COSIF, 2012). De
acordo com o Caderno do Setor Minerário (2011), a
Austrália é ainda o segundo país no ranking da
exploração do minério de ferro - produto
considerado como o mais relevante para a economia
mineral brasileira. Considerando a TAB. 1, a
Austrália também é o país que mais contribui com os
royalties de forma a compensar sua exploração
mineral.
A Indonésia ocupa a lista dos principais países
que recebem investimentos estrangeiros no setor
mineral, além de ser um dos países que mais
compensam em percentuais de royalties a
exploração de seus recursos naturais
(EMBAIXADA DA INDONÉSIA, s/d). De acordo
com a TAB. 1, a Indonésia vem apresentando
crescimento na exploração mineral, mesmo sendo
suas reservas ainda muito aquém das reservas
brasileiras.
A China destaca-se como um país que cresce
cada vez mais no ramo minerário e ocupa a sexta
posição dos países que mais exploram minério,
representando 4% na produção total de minério nãoenergético no mundo. Segundo o Plano Contável
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF, 2012), a China também possui percentuais
maiores de faturamento, se comparada ao Brasil, o
que faz com que consequentemente, suas
compensações financeiras sejam maiores que as
brasileiras.
A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NO
BRASIL
Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração
(IBRAM),
O Brasil detém um dos maiores
patrimônios minerais do mundo e é um
importante produtor e exportador de
minérios de alta qualidade. Essa é a
razão pela qual a mineração é uma das
forças da economia brasileira. A
indústria da mineração é uma das
responsáveis pelo saldo positivo da
balança comercial brasileira e as
perspectivas para esta atividade
econômica são extremamente otimistas
para as próximas décadas. A indústria
mineral brasileira registra ao longo da
última década crescimento vigoroso
graças a fatores como as profundas
mudanças socioeconômicas e de
infraestrutura que o país tem
vivenciado. Muito embora, a atividade
mineral tenha sofrido redução em suas
expectativas em razão da crise
internacional. Esse crescimento é
impulsionado pelo processo de
urbanização em países emergentes com
grandes áreas territoriais, alta densidade
demográfica e alto PIB (Produto Interno
Bruto), como os BRICs (Brasil, Rússia,
Índia e China), os quais
coincidentemente são de grande
importância para a mineração mundial
(IBRAM, 2012, p.3).
Porém, segundo o Caderno do Setor
Minerário (2011), o Brasil não atribui, de forma
eficiente, os valores dos royalties, o que resulta em
burocracia legislativa e baixos investimentos
estrangeiros. Ainda segundo a mesma fonte, apesar
de o Brasil ser um dos países no ranking da
exploração mineral, ele agrega valores pequenos em
relação às taxas da CFEM para explorar, além de
outras isenções tributárias, o que promove a
exaustão dos recursos naturais, sem, contudo,
retorná-los para o Estado e para a população. Essa
característica brasileira dispõe-se no Código da
Mineração revisado em 1967. Ainda segundo esse
código, a atividade minerária é fator relevante para o
saldo positivo na balança comercial do país, com
20% de participação total das exportações
brasileiras, além da contribuição de 4,2% para o
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O país
também ocupa o oitavo lugar pela exploração
mineral não-energética, e contribui com 2,2% da
produção total de minério no mundo, de acordo com
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
67
Artigo Original
o COSIF (2012). De acordo com a TAB. 01, o país
demonstra uma baixa contribuição em royalties pela
compensação da exploração mineral, em relação a
outros países. O faturamento líquido que representa
os valores dos royalties no Brasil compreende,
segundo o artigo 2º da Lei 8.001/90, “o total das
receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes
sobre a comercialização do produto mineral, as
despesas de transporte e as de seguros” (BRASIL,
1990).
Os recursos minerais passíveis de sofrerem
tributações são atribuídos às esferas do Governo
Federal, Estado e Município que auxiliam na
implementação de recursos que irão mobilizar
projetos de desenvolvimento; daí a importância
desses repasses, como é o exemplo dos royalties da
mineração, a CFEM. Segundo o Código da
Mineração de 1967, o papel da Compensação é
suprir a demanda estrutural e social das áreas
afetadas pela mineração; inclui setores, como, por
exemplo, infraestrutura, saneamento, saúde; além
de garantir que a manutenção do volume de capital
permaneça constante, apesar de se tratar de um
recurso natural esgotável.
Os royalties da mineração estabelecidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 – CRFB/88, parágrafo 1˚ do art. 20,
contribuem para com os municípios, estados e a
União, de forma a assegurar um valor financeiro,
como compensação pelos impactos causados pela
complexa ação minerária. De acordo com o DNPM,
órgão máximo que regula os assuntos minerários do
país:
[…] a Compensação Financeira é
devida por quem exerce atividade de
mineração em decorrência da
exploração ou extração de recursos
minerais. A exploração de recursos
minerais consiste na retirada de
substâncias minerais da jazida, mina,
salina ou outro depósito mineral,
para fins de aproveitamento
econômico. Constitui como fator
gerador da Compensação Financeira
68
a saída por venda do produto
mineral das áreas da jazida, mina,
salina ou outros depósitos minerais.
E, ainda, a utilização, a
transformação industrial do produto
mineral ou mesmo o seu consumo
por parte do minerador […].
Atualmente, o valor da CFEM é repassada de
forma distributiva da seguinte forma: sessenta e
cinco por cento (65%) para os municípios
produtores, ou seja, aqueles em que ocorrem a
extração da substância mineral - de acordo com o
Código da Mineração (1967), caso haja a
abrangência desSa exploração em outras cidades
limítrofes, o valor deverá ser dividido com a devida
proporcionalidade. Vinte e três por cento (23%)
são repassados para o estado, e o restante, doze por
cento (12%,) para a União - representada pelo
DNPM, pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) e pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT). Esse repasse da CFEM está
inserido no valor máximo da alíquota em 3%, de
acordo com a substância mineral, no faturamento
líquido das empresas mineradoras, ou seja, o valor
da venda do minério. Sendo assim, são deduzidos
os valores dos tributos (ICMS, PIS, COFINS), que
incidem na comercialização, assim como as
despesas com transporte e seguro.
Segundo Lima (2007), o regime de cobrança
dos royalties pela base de cálculo do faturamento
líquido, e não bruto, como ocorre nos outros países
que exploram minério, é prejudicial
principalmente para as regiões denominadas
produtoras - que extraem minérios - , pois os
descontos com o transporte e outras taxas, gerados
pelo faturamento líquido, iriam ser valores que
seriam repassados aos municípios e estados,
contribuindo para a melhoria em setores
prioritários. O estado de Minas Gerais, o segundo
maior gerador econômico nesse setor, arrecada, a
título de compensação financeira, cerca de 60% do
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
valor devido, ou seja, o estado deixa de receber parte
dos royalties pela exploração, e tal medida ainda
está prevista no Código da Mineração (1966). Nessa
perspectiva, a atual forma de cobrança pela base
líquida impõe limites ao crescimento que as minas
do país poderiam produzir e arrecadar, o que deixa
as cidades produtoras aquém do desenvolvimento
que poderiam alcançar.
De acordo com Silva (2008), os royalties que
são dedicados aos municípios são inferiores e
incapazes de sanar os problemas sociais e culturais
gerados pela mineração. São problemas como esses
que as cidades minerárias enfrentam. A autora
assinala, ainda ,que uma nova tramitação da lei é
necessária, para que os municípios busquem a
melhor forma de aplicação dos royalties recebidos,
direcionando-as para os principais serviços que
ocupam a necessidade prioritária de atendimento
em relação à atividade mineral, como energia e
infraestrutura. Contudo, são também
representativos, na perspectiva estadual, o
crescimento acentuado que o investimento
minerário traz aos municípios (FURTADO, s/d). Os
benefícios mais comuns dessa atividade se validam
nas áreas de geração de empregos, apoio às
atividades econômicas locais e outros aspectos da
infraestrutura.
Em relação aos prejuízos da atividade
mineradora, alguns autores alertam para a própria
ambição das empresas privadas, que se prezam à
maximização do lucro. Lustosa (1998) adverte que
essas empresas sobrepõem-se às necessidades da
sociedade, o que resulta na relapsa fiscalização e ou
na falta dela, comprometendo uma melhor
arrecadação dos impostos sobre uma atividade tão
complexa. Esse comprometimento fiscal gera
consequências que serão instaladas no município
produtor, podendo também se estender às áreas
rurais e às fronteiras com outras cidades,
perdurando durante anos. A dinâmica econômica e,
consequentemente social, é alterada nessas regiões;
transparecendo tanto de forma negativa quanto
positiva. Quando há o envolvimento do governo
federal, os impactos negativos tendem a
minimizar-se nos municípios explorados
(MATTA, 2001).
Nessa perspectiva, faz-se necessário
fortalecer o convênio federal com os municípios e
estados, o que contribuirá na redução da
informalidade e/ou inadimplência do setor, em
especial no setor de agregados para a construção
civil, como é o exemplo da cidade de Montes
Claros, localizada no norte de Minas Gerais.
O crescimento do setor de construção civil,
segundo Matta (2001), é diretamente impulsionado
pelo aumento da atividade minerária, tornando os
espaços urbanos ocupados por meio de disputas e,
consequentemente, um súbito preenchimento
dessas regiões, levando a problemas como o
inchaço da malha urbana e os demais que envolvem
a infraestrutura da cidade. Uma alternativa para a
questão seria a fiscalização mediante operações
conjuntas entre o sistema público e o privado.
Gráfico 1 - Arrecadação da CFEM no Brasil –
1997 - 2010 (em R$ milhões)
*Arrecadação até o dia 30 de junho
Fonte: Caderno Setor Minerário (2011)
Percebe-se, no GRAF. 1, o aumento linear da
arrecadação da Compensação Financeira (CFEM)
em milhões, e um significativo decréscimo nos
anos de 2009 e 2010. Segundo os relatórios do
DNPM (s/d), ainda assim são insuficientes os
valores arrecadados, levando-se em consideração a
disposição mineral no país e os faturamentos das
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
69
Artigo Original
empresas mineradoras. Segundo Nascimento
(2009), a economia brasileira em 2008 representou
um crescimento positivo, um dinamismo na
economia na época e uma alta de 14,5% no balanço
geral econômico, comparado ao de 2007. Esse
cenário propiciou o aquecimento interno da
demanda de commodities no país, ou seja, o minério
como produto foi inserido na intensa operação das
indústrias de base; além do aumento do salário
mínimo, do consumo da classe média, resultaram na
diversificação da matriz industrial do Brasil.
Segundo Furtado (s/d), a partir da análise do GRAF.
1, o valor arrecadado a partir de 2009 sofreu uma
1
queda devido à crise financeira internaciona, que se
estendeu também no setor minerário do Brasil caracterizando a diminuição da demanda de
exportações, ou seja, das vendas brasileiras de
produtos e, consequentemente, do minério.
A relação demonstrada no GRAF. 1 também
reflete o cenário geral da extração minerária do país.
A Produção Mineral Brasileira (PMB), a partir do
ano 2000, sofreu um aumento na demanda por
minerais, o que foi possível graças ao processo de
urbanização e ao cenário da economia mundial; no
caso do Brasil, as vantagens de estar inserido no
grupo dos BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China)
trazem até hoje boas perspectivas no cenário
econômico da mineração (IBRAM, 2012).
O Projeto de Lei n˚ 5.807/2013 - Novo Marco
Regulatório da Mineração, do Ministério de Minas e
Energia - prevê a mudança de 3% para até 4% no
total do valor repassado a ser compensado pela
exploração de mineral, variando de acordo com o
tipo de minério. Além disso, a cobrança passará a ser
sobre o valor bruto declarado pelas empresas, e a
fiscalização ocorreria pela criação da Agência
Nacional de Mineração (ANM), que substituiria a
ação que hoje pertence ao DNPM.
A possível aplicação futura do projeto de lei
viabilizaria grandes mudanças para o setor
minerário do país, especialmente das regiões
70
afetadas pela atividade, pois garantiria uma
cobrança da compensação de forma mais objetiva
para as empresas. A proposta prevê mudanças para
o valor bruto do lucro das empresas e visa ao
aumento do valor arrecadado de forma
significativa, o que poderá contribuir para maiores
investimentos nos setores mais afetados pela
mineração. Algumas críticas são feitas em relação
ao Projeto de Lei n˚ 5.807/2013, como as da
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
Mineral (ABMPM) que teme por o Brasil perder a
competividade no setor da mineração, o que
acarretaria prejuízos para a economia do país;
além das relativas à proposta do projeto de lei
quanto à mudança da atual DNPM para a criação
da ANM, a fim de regular mais o regime de
fiscalização das empresas que exploram o
minério.
O diretor-geral do DNPM, Miguel Antônio
Cedraz Nery, por intermédio do Caderno do Setor
Minerário (2011), discutiu a importância na
revisão do atual Código da Mineração do Brasil.
Contudo, o autor também apontou ressalvas que
seriam relevantes para as mudanças previstas no
projeto de lei do Novo Marco da Mineração, como,
por exemplo, na atribuição mais clara das funções
dos novos órgãos que estariam sendo propostos a
serem criados; assim, o objetivo de cada um deles
seria o de realizar mudanças positivas na
legislação mineral.
A MINERAÇÃO NO NORTE DE MINAS
GERAIS
A mesorregião do norte de Minas Gerais é
uma das doze em que se subdivide o estado. Os
municípios componentes da mesorregião
totalizam 89, ocupando uma área territorial de
2
128.602 km . Essa mesorregião está dividida em
sete microrregiões, a saber: Bocaiuva, Grão
Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros,
Pirapora e Salinas (NUNES et al, 2012).
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
Figura 1 - Localização da região do norte de Minas Gerais propensas à exploração mineral
Fonte: (FERREIRA, 2012).
Historicamente, há cerca de algumas
décadas, a divisão de tarefas entre o garimpo e o
cultivo de alimentos trouxe à tona problemas
advindos de questões físicas na região de Minas
Gerais. Houve, então, a necessidade de se
estabelecer o intercâmbio com outras regiões do
país, que passariam a fornecer produtos dos mais
variados, desde alimentos até roupas. Esse seria o
papel do norte de Minas Gerais, tomado, até então,
como região fornecedora de serviços terciários para
os municípios que constituíam o Quadrilátero
Ferrífero de Minas - a rica região que iria elevar o
potencial econômico do estado. O norte de Minas
Gerais não era visto no passado como uma região de
potencial econômico, especialmente no setor da
mineração; porém esse quadro está-se revertendo,
uma vez que essa região vem tornando-se atrativa,
devido às recentes descobertas de seu potencial
geológico e mineralógico, o que lhe proporcionará
investimentos em grande escala (GUIMARÃES,
2003).
De acordo com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico – SEDE (2011), o
norte de Minas Gerais tornou-se alvo de atenção
por parte de empresas minerárias, por ser uma
região de alto potencial mineral, tendo em vista as
especulações geológicas. É denominada
“Fronteira Mineral”, para designar a nova gama de
investimentos por parte de empresas nacionais e
internacionais no ramo da mineração para os
municípios do norte de Minas Gerais. A
expectativa da extração minerária para estas
cidades essá em cerca de 20 bilhões de toneladas
de minério, como o ferro e o ouro, abrangendo 20
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
71
Artigo Original
municípios, incluindo, por exemplo, Salinas, Rio
Pardo de Minas, Grão Mogol e Porteirinha, conforme
demonstrado na FIG. 1. Ainda pela declaração da
SEDE, estes investimentos contam com o apoio do
Governo de Minas Gerais.
Dentre as cidades de destaque do norte de
Minas Gerais, Montes Claros está inserida como a
principal, destacando-se pelo fornecimento de
produtos e serviços para os outros municípios da
região norte do estado. A cidade já ocupa posição de
destaque na mineração, especialmente nos minérios
que são fonte de produção para a construção civil. A
2
empresa francesa Lafarge é a maior empresa nesse
setor, com produtos como o cimento, concreto e
agregados - areia, calcário e, consequentemente,
participa da maior parte de arrecadação da CFEM
para o município.
Montes Claros é dotada de infraestrutura que
atrai investimentos para o município, destacando-se
o segundo maior entrocamento rodoviário do país,
implantado com recursos do Governo Federal e
classificado pelo Plano Rodoviário Nacional como
de grande relevância para o escoamento de produtos
e cargas entre as regiões Sudeste e Nordeste.
De acordo com Leite et al (2010), o
crescimento econômico de Montes Claros deu-se de
forma isolada, se comparado aos outros municípios
da região. Isso acabou contribuindo para que a cidade
se tornasse um polo de atração regional. Esse mesmo
autor destaca a imigração como um fator intrínseco
para a expansão de Montes Claros, mas que
contribuiu para a exclusão e marginalização social,
peculiaridades no modelo de expansão urbana,
específicos para a realidade da região.
Matta (2001) afirma que mesmo com um
crescimento urbano desenfreado - como é o caso de
Montes Claros -, a produção mineral é impulsionada,
porque grande parte do desenvolvimento dessas
regiões acontece por meio da relação de dependência
com a atividade da mineração, tanto na manutenção
desse crescimento, quanto para a dinâmica
72
econômica do município. Para esse mesmo autor, o
exemplo mais claro ocorre quando o minério é
ligado aos materiais de construção civil - como
ocorre com a empresa Lafarge, quando as áreas
periféricas são as mais atingidas pelos impactos
negativos da mineração, mas a situação de
dependência dos produtos de construção civil faz
com que essas vítimas da poluição incentivem esse
setor produtivo.
De acordo com Leite et al (2010), o processo
de industrialização inserido na cidade de Montes
Claros, no que se refere à expansão descontrolada e
sem planejamento, especialmente do setor de
crescimento urbano, ocorreu de forma abrupta, o
que contribuiu para muitas deficiências na
infraestrutura do município. O Plano de
Desenvolvimento Local – PDL3 na década de 1970
foi uma proposta para as leis de uso e ocupação de
solos, de obras e de posturas, buscando-se, com
essas leis, as diretrizes para o crescimento da
cidade.
Por se tratar de um plano antigo, o PDL não
garante a lei para os processos que envolvem a
mineração no solo da região, o que acaba
contribuindo para o aproveitamento de ações das
empresas mineradoras, sem, contudo, suprir a
reposição de que a cidade necessita, em termos de
infraestrutura e desgastes com outros setores, como
o fornecimento de energia e água para os locais de
extração da lavra mineral.
Segundo Matta (2001), apesar de a
mineração trazer o aquecimento da economia, ela
complica o ambiente em que está inserida,
agravando transtornos
que já existiam no
município, o que produziria novos conflitos,
envolvendo tanto interesses sociais como privados.
No caso particular de Montes Claros, o transtorno
maior está na disputa por espaços urbanos, que se
tornam cada vez mais valorizados e disputados frutos do inchaço populacional que se acomodou
na região, com o súbito processo de crescimento,
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
impulsionado pelas atividades da mineração de
empresas como a Lafarge e Sobritas, e de outros
ramos do mercado.
Os impactos positivos das regiões minerárias
exploradas são processos marcantes na
característica urbana e social dos municípios. O
desenvolvimento trazido pela mineração pode ser
medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) calculado pelo Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) das
cidades produtoras, que varia de 0 a 1 - quando a
cidade alcança o máximo desenvolvimento,
segundo esse indicador. De acordo com dados do
IBRAM (2012), os exemplos das maiores cidades
minerárias de Minas Gerais, e suas respectivas
arrecadações da CFEM, são: Itabira, com IDH do
município de 0,798 com a exploração do minério de
ferro; Araxá, com a exploração de Nióbio com IDH
de 0,799; e Nova Lima, o maior contribuinte da
Compensação Financeira do estado, assim como em
exploração de Ouro, com IDH de 0,821. Em relação
às cidades norte-mineiras, o IDH de Montes Claros
atinge 0,770; Salinas, com 0,679; Grão Mogol, com
0,604; Porteirinha, com o índice de 0,651; Rio
Pardo de Minas, com 0,624; Bocaiuva, com 0,700;
Pirapora, com 0,731; Janaúba, com 0,696 e Januária,
com 0,658 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO NO BRASIL, 2013).
Percebe-se a relevância do papel da
exploração da atividade mineral para esses
municípios, pois ela está vinculada com o aspecto
geral econômico, além de estar atrelada à
sustentação do desenvolvimento dessas regiões.
Comparando-se o IDH das cidades já sedes de altos
investimentos por parte das empresas de
exploração desse recurso natural em relação ao
norte de Minas Gerais, percebe-se a diferença nos
índices, tendo em vista os aspectos mensurados
pelo IDH municipal: longevidade da população,
r e n d a e e d u c a ç ã o ( AT L A S D O
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL,
2013).
De acordo com a TAB. 2, os percentuais de
arrecadação da CFEM pelo DNPM variam
consideravelmente para cada cidade, o que nos leva
a deduzir que os valores dos royalties representam
a quantidade de investimento por parte das
empresas minerárias em cada regiã, mesmo tendo
em vista a similaridade minerária nas cidades do
norte de Minas Gerais. Ou seja, é o investimento de
empresas que faz a diferença na arrecadação dos
royalties, o que sugere também a finalidade de
parte dos investimentos para a cidade de Montes
Claros, pois, por ser a maior cidade da região norte
Tabela 2 - Valores da CFEM arrecadados nos municípios do Norte de Minas Gerais – 2009 a 2013
Ano
Montes
Claros
Januária
Janaúba
Grão
Mogol
Bocaiúva
Salinas
Pirapora
2009
179.020,08
2.606,45
7.757,31
----
-----
35.025,05
2.906,64
2010
263.269,63
2.004,33
49.994,90
----
2.578,41
39.178,63
3.485,48
2011
186.395,83
3.777,18
58.505,30
1.299,63
8.541,64
28.788,72
8.025,62
2012
212.106,28
3.700,37
50.084,62
6.873,83
10.612,06
81.151,92
4.973,84
2013
254.029,06
8.280,94
60.233,11
13.870,41
4.060,70
82.785,86
12.979,66
Fonte: (DNPM, 2013).
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
73
Artigo Original
de Minas, acaba tornando-se polo de atração e
referência de crescimento em relação às regiões
vizinhas.
Os valores dos investimentos apresentados na
TAB. 3 demonstram o potencial mineralógico dessas
regiões, visto que os investimentos previstos
ocorrem somente com a averiguação prévia de que
há quantidade suficiente de minerais passíveis de
serem explorados, para receber os projetos de
extração minerária (SEDE, 2011). A exploração dos
minérios dependerá da construção de uma
infraestrutura adequada, de modo que as cidades
possam acompanhar o ritmo acelerado de
crescimento. O papel da CFEM, nesse sentido, é
fundamental como forma de suprir essas demandas
da infraestrutura e outras áreas públicas ligadas à
atividade minerária - o que viabilizaria a
implementação desses projetos nos municípios
destacados.
O Projeto do Grupo Votorantim, ainda em fase
final de estudo, segundo o jornal eletrônico In the
Mine4, irá viabilizar seu projeto minerário no
município de Salinas. A projeção do grupo, de
acordo com a mesma fonte, é de uma produção de
25 milhões de toneladas por ano de minério de ferro
(tipo pelled feed). Esse investimento é uma
integração que abrangerá outros municípios como
Grão Mogol, com a instalação de uma mina
localizada próxima à região, além de um
mineroduto de 500 quilômetros. A mesma fonte
destaca a previsão de gerar em torno de dois mil
empregos diretos e outros 5 mil indiretos para a
região.
Contudo, as projeções feitas pela chamada
“Fronteira Minerária” não alcançaram ainda
resultados sólidos sobre o empreendimento para o
norte de Minas; segundo o jornal Folha de São
Paulo (2014), as implantações do projeto estão
paradas devido às licenças, revisões e
investimentos que a extração minerária requer.
Segundo a mesma fonte, devido à crise
Tabela 3 - Investimentos na extração de minerais no norte de Minas Gerais
Empresas
Valores dos investimentos
Onde ocorre
Mineração Minas Bahia (MIBA)
3,6 bilhões
Grão Mogol e Porteirinha
Sul Americana Metais (SAM) do
grupo Votorantim em parceria
com a chinesa Honbridge Holgins
Limited
3,2 bilhões
Grão-Mogol, Padre Carvalho e
outros municípios vizinhos
(para o escoamento do minério)
Mineração Riacho dos Machados
(do grupo canadense Carpathian
Gold)
250 milhões
Riacho dos Machados
Grupo Votorantim
Sem dados oficiais divulgados
Salinas, com abrangência
também em Grão Mogol
Fonte: (SEDE, 2011).
74
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
internacional em 2009, o preço da tonelada do
minério estava em US$90,00; atualmente, com a
nova fase da crise financeira internacional, o preço
alcança cerca de US$132,00 a tonelada. Os
investimentos elevados para a região se devem à
baixa concentração de teor de ferro no minério, o que
necessita de mais processos nas etapas do
beneficiamento e, consequentemente maiores gastos
para a empresa - fato que também desestimula o
investidor, além da demanda burocrática dos
embates previstos na legislação brasileira no Código
da Mineração.
Os investimentos desses projetos pelas
empresas minerárias alavancariam a arrecadação
dos royalties para cada município a um novo
patamar. Contudo, segundo o Jornal Folha de São
Paulo (2014), o prefeito de Grão Mogol discute os
prejuízos da paralisação da empresa Miba, uma vez
que essa empresa não tem divulgado novas
informações sobre as concessões de licenças, e sobre
a extração prevista em 25 milhões de toneladas. Os
projetos da Samarco também foram adiados para
2017 nos municípios do norte de Minas Gerais para a
exploração do minério de ferro.
Essas perspectivas trazem diversas
consequências e impactos para as regiões que ainda
não receberam a concretização dos projetos da
Fronteira Minerária. A questão mais relevante ecoa
sobre a especulação fundiária nesses municípios do
norte de Minas, que subiram o preço dos terrenos nas
zonas rurais de R$450,00 para R$2.500,00 o hectare,
segundo a mesma fonte do jornal Folha de São Paulo
(2014). Na área urbana, também se reflete a teoria de
Matta (2001) da valorização dos espaços periféricos
da cidade - sendo outra forma de expansão da cidade,
como também ocorre no município de Montes
Claros.
Ribeiro (2011) descreve que, além dos
investimentos em infraestrutura nos municípios em
que ocorrerão a exploração mineral, torna-se
necessário o planejamento logístico e a criação de
rodovias e/ou outras formas para escoamento da
produção – aspecto somente destacado pelo
projeto da empresa Samarco para a região de Grão
Mogol; os outros que não mencionaram esse
investimento podem acabar por prejudicar o fator
ambiental dessas regiões, visto que a alta produção
levaria a um significativo acúmulo de rejeitos parte indesejada do minério.
Sem um planejamento adequado, esses
investimentos poderão acarretar impactos
negativos para a região, como, por exemplo,
poluição dos recursos hídricos usados na irrigação
de culturas pela população residente nas áreas
exploradas. Felizmente, a atividade minerária
atual demanda uma série de licenças e projetos,
como o Plano de Recuperação das Áreas
Degradadas (PRAD), a fim de minimizar os
problemas ambientais enfrentados nas áreas em
que ocorrem a extração da lavra. Algumas
empresas elaboram o PRAD por obrigação legal,
porém outras estão além da obrigatoriedade
prevista em lei e realizam projetos ambientais,
como, por exemplo, a Sul Americana de Metais
(SAM), em Grão Mogol, com a criação de um
viveiro em suas instalações, com diversos tipos de
plantas a serem reflorestadas após a extração do
minério; além disso, compartilham essa ação com
a população local, mediante doações de plantas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Código da Mineração, datado na década
de 1960, necessita de revisões e melhorias, que
garantiriam um melhor aproveitamento dos
recursos minerais dispostos no território brasileiro.
No que se refere ao papel da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral, seu impacto
no ambiente em que ocorre a extração da lavra está
diretamente ligado à dependência destas regiões
em relação à atividade minerária; daí a importância
da implementação do Projeto de Lei nº 5.807/2013
nos futuros planos da mineração no Brasil.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
75
Artigo Original
A Compensação Financeira, mediante os
royalties, são recursos que os municípios,
detentores da maior parte da arrecadação poderiam
usar a fim de evitar impactos ambientais negativos e
estimular o processo de desenvolvimento a longo
prazo para essas regiões.
Os investimentos para a mineração no norte
de Minas Gerais são tomados com grande
expectativa, porém devem estabelecer previamente
as condições necessárias para garantir que não haja
mais impactos negativos que positivos, visto que a
região já possui as condições para o agravamento de
realidades específicas, como abrupto crescimento
urbano, seca, desmatamento.
Estudos apontam que os projetos da Fronteira
Minerária também poderão encaminhar o norte de
Minas Gerais para um grande salto no
desenvolvimento, como ocorreu com a rica região
do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Faz-se
necessário assegurar que os investimentos na
extração minerária sejam feitos de forma positiva
para os municípios que irão recebem esses projetos,
a fim de garantir desenvolvimento a longo prazo
para essas regiões.
REFERÊNCIAS
APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de
metodologia científica. São Paulo, Atlas, 2007.
ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
NO BRASIL. Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD). 2013.
Disponível em
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em
25 jun. 2014.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Plano
Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional ( C O S I F ) , 2012 . D i s p
o n í v e l em
<http://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=re
servasestrategicas>. Acesso em: 7 abr. 2014.
Boletim de Metas para a CFEM, Brasília. Sem
data. Disponível em <http://www.dnpm.gov.br/
mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=41
76
2.> Acesso em: 16 nov. 2013.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF,
Senado,1998.
BRASIL. II Plano Nacional do Desenvolvimento
(PND) 1975-1979. Programa de investimento
econômico e de infra-estrutura para os
municípios. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19701979/anexo/ANL6151-74.PDF>. Acesso em: 14
abr. 2014.
BRASIL. Lei nº 4.239, de 27 de junho de 1963.
Aprova o Plano de Desenvolvimento do Nordeste
nos anos de 1963,1964 e 1965, e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF. 27 jun. 1963.
Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/:4239.
htm>. Acesso em: 17 fev. 2014.
BRASIL. Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990.
Define os percentuais da distribuição da
compensação financeira de que se trata a Lei nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF. 13 mar. 1990.
Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8001.
htm> . Acesso em: 07 abr. 2014.
BRASIL. Projeto de Lei n° 5.807, de 18 de
janeiro de 2013. Dispõe sobre a atividade de
mineração, cria o Conselho Nacional de Política
Mineral e a Agência Nacional de Mineração
(ANM), e dá outras providências. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 18 de jan. 2013.
CFEM. Sobre a CFEM. Disponível em
<http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao
=60>. s/d. Acesso em: 18 nov. 2013.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências
humanas e sociais. 2.ed. São Paulo: Cortez,
1995.
DNPM. Ministério de Minas e Energia. Programa
Nacional de Arrecadação da CFEM 2009-2012.
FERREIRA, Thamiris Rodrigues. Royalties
minerais e capacidade de gestão em governos
locais: um estudo em municípios mineradores de
Minas Gerais. 2013. 124f.Di ssertação (Mestrado
em Administração Pública e Governo) –
Fundação Getúlio Vargas – Escola de
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
Administração de Empresas de São Paulo, São
Paulo, 2013.
Geográficas sobre o Norte de Minas Gerais. p.
33-51. Montes Claros: Unimontes, 2004.
PEIXOTO, Paulo. FOLHA DE SÃO PAULO.
Disponível em:
<http://www.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/14
05686-mineracao-frustra-regiao-norte-de-minasgerais.shtml>. 01 fev. 2014. Acesso em: 15 abr.
2014.
LIMA, P. C. Ribeiro. A Compensação
Financeira pela exploração mineral no Brasil
e no mundo. Biblioteca Digital da Câmara dos
Deputados. Brasília, DF. Maio, 2007.
FURTADO, Lucas Lacerda; MACEDO, Alexandre
José Buril. A importância da Compensação
Financeira pela Exploração Mineral no
Município de Parauapebas, Pará. s/d.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de
pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010
GUIMARÃES, C. Magno et al. Mineração
Colonial: Arqueologia e História. In: ANAIS DA
JORNADA SETECENTISTA, n. 05. 26 a 28 nov.
2003. Curitiba, PR.
HELDER, R. R. Como fazer análise documental.
Porto, Universidade de Algarve, p. 1-2, 2006.
LUSTOSA. O Custo de Uso e os Recursos
Naturais. In: ENCONTRO NACIONAL DE
ECONOMIA, n. 26. Vitória, Espírito Santo,
1998.
NERY, Miguel Antonio Cedraz. Caderno do
Setor Mineral: rumo a um novo marco legal.
Biblioteca digital da Câmara dos Deputados.
Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica. Brasília, DF. 2011.
MARTINS, Jaime. Caderno Setor mineral:
rumo a um novo marco legal. Biblioteca digital
da Câmara dos Deputados. Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica. Brasília, DF.
2011.
IN THE MINE. Disponível em:
<http://www.inthemine.com.br/mineblog/?p=311>.
Acesso em: 15 abr. 2014. S/d.
MATTA, Paulo Magno da. Reflexos da
Mineração na Qualidade Ambiental das
Cidades. Universidade Federal da Bahia. BA,
2001.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA (IBGE). Org: FERREIRA M.F.
Localização da região do norte de Minas Gerais.
2012.
NASCIMENTO, Carla do. Efeitos da Crise
Financeira Internacional no Nível de
Atividade Econômica. Caderno de Conjunto e
Planejamento, n. 162. Salvador, BA. 2009.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO
(IBRAM). A Força da Mineração Brasileira.
Brasília: 2012. Disponível em:
<www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002151.pdf
> Acesso em: 30 maio 2014.
NUNES, M.A. Jesus et al. O Quadrilátero
Ferrífero e o Norte de Minas Gerais: Análise
da história e importância econômica. Unimontes.
Montes Claros, MG, 2012.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO
(IBRAM). Informações e Análises da Economia
Mineral Brasileira. 7 ed., 2012. Disponível em:
<http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/000028
06.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2013.
POVEDA, Eliane Pereira Rodrigues;
HERRMANN, Hildebrando; SILVA, Marcus
Vinicius Lopes da. Código da Mineração de
“A” a “Z”. 2. ed. São Paulo: Millennium, 2011.
LEITE, E. Marcos et al. Segregação espontânea
na cidade de Montes Claros/MG: Uma análise
auxiliada pelo sensoriamento remoto.
Universidade Federal de Goiás. Jataí, GO. 18 nov.
2010.
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Índice de
Desenvolvimento Humano dos Municípios.
Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/RankingIDHM-Municipios-2010.aspx>. 2013. Acesso
em: 14 abr. 2014.
LEITE, M. E e PEREIRA. A. M. A expansão
urbana de Montes Claros a partir do processo de
industrialização. In. PEREIRA, A. M. e
ALMEIDA, M. I. S de (org). Leituras
SEDE - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento de Minas Gerais, jun. 2011.
Disponível em:
<http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/pt/com
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
77
Artigo Original
ponent/gmg/story/829-norte-de-minas-recebenovoprojeto-de-mineracao-da-vale>. Acesso em 17 fev.
2014.
SILVA, Maria Amélia Rodrigues. Royalties da
Mineração: Instrumento de promoção de
Desenvolvimento Sustentável de Regiões
Mineradoras na Amazônia Oriental? 2008.
SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTES CLAROS. Disponível
em: <http://www.montesclaros.mg.gov.br>; s/d.
Acesso em: 25 jan. 2014.
NOTAS
1. A Crise Financeira Internacional iniciou-se nos Estados
Unidos devido à questão da “bolha” imobiliária que culminou
no descrédito bancário seguido pelo mundo, o que refletiu
negativamente sobre as taxas de crescimento do país.
(NASCIMENTO, 2009).
2. O Grupo Lafarge adquiriu em 1995 a unidade em Montes
Claros. Segundo o documento Relatório Social e Ambiental
(2004), a empresa conta com parcerias para a distribuição e
escoamento de seu produto para o o país; além disso, também
desenvolve projetos de treinamento para os funcionários e
outros de caráter social para a região de Montes Claros.
3. No final da década de 1970, Montes Claros foi incluída no
Programa Cidades de Porte Médio, parte integrante da política
pública definida pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento
(PND). Os incentivos desse programa foram investidos na
melhoria da estrutura social e econômica da cidade,
envolvendo ações como pavimentação de ruas, infraestrutura
urbana, além da legalização da posse de terras, anteriormente
ocupadas pela invasão e remoção de favelas.
4. Disponível em:
<http://www.inthemine.com.br/mineblog/?p=311>
78
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
UM SIMULADOR EDUCATIVO SOBRE O CONSUMO DE
ENERGIA EM PEQUENAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CARVALHO, Ricardo Pinto de*; MOURA, Raissa Rayanna Araújo**
*Docente das FIPMoc; **Discente do curso de Engenharia de Produção das FIPMoc
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o
desenvolvimento de um simulador educacional sobre
o consumo de energia em pequenas instalações
elétricas. A metodologia, de caráter exploratório,
com abordagem qualitativa e quantitativa, consistiu
em realizar testes e montagem em bancada de energia
de uma instalação elétrica composta de lâmpadas
fluorescentes compactas e motores universais. Um
modelo matemático computacional foi desenvolvido
com base na determinação de parâmetros como
método normalmente usado para representar
fenômenos físicos a partir de medições em regime
permanente. Em seguida, o modelo computacional e
a interface gráfica foram desenvolvidos no DevC++. Com isso, o usuário pode, por meio de um
processo interativo simular o modelo matemático
com as seguintes variáveis: energia elétrica, tensão
elétrica, corrente elétrica, potência aparente,
potência ativa, potência reativa e fator de potência.
Dessa maneira, ao reproduzir uma pequena
instalação elétrica por meio de um simulador
educativo torna-se possível simular o faturamento do
consumo de energia elétrica e ampliar as
possibilidades de interação do usuário, fazendo com
que haja sua imersão, possibilitando analisar novas
situações de aprendizagem.
Palavras-chave: Consumo de energia. Energia
elétrica. Simulador educativo.
INTRODUÇÃO
O fornecimento de energia elétrica aos
consumidores finais tornou-se um grande desafio
para o planejamento da oferta e do gerenciamento
da demanda por energia elétrica, uma vez que o
consumo de energia é o fator determinante para o
desenvolvimento econômico e social ao fornecer
apoio mecânico, térmico e elétrico às ações
humanas (ANEEL, 2008).
Perdas de energia podem ocorrer durante o
fluxo de energia elétrica, reduzindo a eficiência dos
aparelhos elétricos e prejudicando a qualidade do
fornecimento de energia. Segundo Calili (2005), as
perdas de energia em instalações elétricas podem
ser divididas em perdas técnicas e perdas não
técnicas. As perdas técnicas ocorrem no sistema por
características físicas dos equipamentos, como
perdas por efeito Joule. Já as perdas não técnicas
estão diretamente relacionadas com o furto de
energia elétrica, à falta de manutenção dos
medidores e à falta de manutenção dos
equipamentos. Esses aspectos permitem avaliar a
qualidade de energia elétrica, uma vez que podem
gerar flutuações de tensão, desequilíbrios e
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
79
Artigo Original
distorções harmônicas na rede elétrica (JUNIOR et
al, 2009).
As perdas não técnicas nas instalações
elétricas podem ser identificadas por meio de
medições de tensão elétrica, de corrente elétrica, do
posicionamento fasorial das tensões e das correntes
elétricas, da queda de energia consumida e da
demanda de energia entre dois períodos de
faturamento (MAITELLI e MENESES, 2011;
ANGELO; SAAVEDRA; CORTES, 2007).
A aplicação de simuladores educativos tem
como finalidade educar o consumidor de energia
elétrica sobre os efeitos decorridos do mau uso dela.
Análises sobre o consumo de energia elétrica podem
ser feitas utilizando um programa de computador
que simulam os circuitos elétricos de uma instalação
elétrica. Esses programas podem simular modelos
matemáticos, como maneira de entreter o usuário
sobre um determinado fenômeno elétrico. Os
fenômenos elétricos comumente observados em
uma instalação elétrica são: consumo de energia
elétrica, tensão elétrica da rede, corrente elétrica
fornecida aos equipamentos, potências dos
aparelhos elétricos e fator de potência. Enfim, esses
programas podem reproduzir processos muito lentos
ou muito perigosos de seu ambiente natural
permitindo analisar as etapas necessárias para a
observação dos fenômenos físicos (GREIS e
REATEGUI, 2010; SOUZA; DANDOLINI, 2009).
É sabido que a modelagem matemática e a
simulação permitem gerar uma infinidade de
interações e aplicações no campo educacional, o que
permite construir o aprendizado a partir de um ciclo
de observações, testes, experimentações e
comprovações das leis físicas (SOUZA e
DANDOLINI, 2009).
Segundo Pegden (1990 apud GREIS;
REATEGUI; MARQUES, 2013), “a simulação é um
processo de projetar um modelo computacional de
um sistema real e conduzir experimentos com este
modelo com o propósito de entender seu
80
comportamento e/ou avaliar estratégias para sua
operação”. Conforme afirmam Greis, Reategui e
Marques (2013), os simuladores educativos
permitem representar situações-problema de uma
simulação e testar seus resultados estabelecendo um
tipo de interação entre homem e máquina, o que
permite o usuário interagir com um ambiente
gráfico que combina os elementos de uma
instalação elétrica.
O propósito pretendido nesse trabalho é:
desenvolvimento de um programa de computador
gráfico amigável que possa representar o modelo
matemático de uma instalação elétrica,
interatividade que possibilita o usuário alterar
conteúdos e socialização/comunidade, o que
permite a formação de grupos de estudo.
MÉTODO
O trabalho de pesquisa caracterizou-se como
exploratório, com abordagem qualitativa e
quantitativa; e quanto ao procedimento de coleta de
dados, como experimental.
Os experimentos foram realizados no
Laboratório de Elétrica. Inicialmente foi feita uma
montagem de um circuito elétrico em paralelo para
representar uma instalação elétrica na bancada de
energia da Bit 9 com duas lâmpadas fluorescentes
compactas (L1 e L2), dois motores universais (M1 e
M2), quatro interruptores simples de uma secção e
um disjuntor monofásico. Em seguida, os
equipamentos foram testados.
Os parâmetros elétricos resistência, reatância
indutiva e reatância capacitiva foram determinados
usando as expressões de lei de Ohm, potência
aparente, fator de potência e impedância complexa a
partir de medições de tensão elétrica, corrente
elétrica e potência elétrica. Os instrumentos de
medição usados foram: voltímetro analógico com
faixa de medição de 0 a 440 V, amperímetro
analógico com faixa de medição de 0 a 1 A e
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
wattímetro analógico com faixa de medição de 0 a 1
kW. As leituras dos instrumentos foram realizadas
em regime permanente.
Conforme modelo matemático proposto por
Johnson, Hilburn e Johnson (1998), a potência
complexa entregue pela fonte às cargas
interconectadas é a soma das potências entregues a
cada carga individual, e logo a potência complexa se
conserva. Esse princípio é conhecido como
conservação de potência complexa, qualquer que
seja o número de cargas individuais existentes e
qualquer que seja a associação.
Na avaliação dos reativos, o motor universal
foi considerado como uma carga indutiva que
consome potência reativa, o que equivale dizer que o
valor da potência reativa é positivo. A lâmpada
fluorescente compacta foi considerada como uma
carga capacitiva que fornece potência reativa, o que
equivale dizer que o valor da potência reativa é
sempre negativo.
O fator de potência da instalação foi analisado
a partir da expressão para o faturamento de energia
em uma unidade consumidora com base nas
Condições Gerais de Fornecimento de Energia
Elétrica, Resolução Nº 456 de 29, de novembro de
2000, da Agência Nacional Energia Elétrica
(ANEEL). O valor da multa correspondente ao
consumo de energia reativa foi simulado
considerando a quantidade permitida pelo fator de
potência de referência de 0,92 para o período de
faturamento.
O modelo matemático e a interface gráfica
foram desenvolvidos no Dev-C++ versão 5.6.1,
usando os controles do Windows API para
programação de interfaces e aplicativos Windows.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma interface amigável é o principal requisito
para o desenvolvimento de um simulador usado
como estratégia de ensino. No que tange ao
desenvolvimento de interface gráfica interativa para
Figura 1 – Interface gráfica do simulador educativo de instalação elétrica
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
81
Artigo Original
simulação de modelos computacionais, o programa
Dev-C++ usa um ambiente de desenvolvimento
integrado livre para compilar programas no sistema
Windows.
A FIG.1 ilustra a tela principal do programa
simulador.
Na parte inferior do programa, há um painel de
comando com botões Liga/Desliga, onde o usuário
pode interagir graficamente com o disjuntor do
quadro de distribuição, as lâmpadas fluorescentes e
os motores universais elétricos das máquinas, pode,
ainda, simular o faturamento de energia alterando os
valores iniciais de perdas de energia globais na
instalação, do período de consumo dos
equipamentos na instalação, e o custo de energia
elétrica. O usuário pode salvar as condições iniciais
das simulações em arquivo-texto, usando o botão
Salvar, cancelar as condições iniciais do
faturamento de energia mediante o botão Cancelar e
simular o período de consumo de energia elétrica
usando o botão Simular. Os resultados numéricos
visualizados na tela gráfica são: energia elétrica,
tensão elétrica da instalação, corrente elétrica,
potência aparente, potência ativa dos equipamentos
e potência reativa total dos equipamentos.
Em um processo interativo, o usuário aprende
observando a dinâmica dos fenômenos elétricos em
uma instalação elétrica, acionando botões,
escrevendo dados numéricos, visualizando as
informações sobre o funcionamento da instalação
elétrica e analisando os relatórios de parâmetros e
das simulações. Conforme afirma Greis e Reategui
(2010), a possibilidade de ambientar o fenômeno
físico que está sendo estudado traz para o processo
de ensino/aprendizagem a capacidade do usuário de
relacionar o conteúdo da simulação com
experiências pessoais. Contudo, existem
experiências pessoais que certamente são mais
intensas e significativas para ele do que o modelo
descritivo. O modelo matemático demonstra, de
maneira simplificada, o fenômeno físico, trazendo
82
consigo uma sensação de segurança e
desencadeando no usuário um maior interesse e
engajamento para realizar as atividades.
Como afirma Andreoli (2011), o emprego de
ferramentas de simulação para avaliação de
sistemas elétricos mostra-se como uma ferramenta
eficiente no planejamento e compreensão de
instalações elétricas. Esses sistemas são
completamente representados por seus parâmetros
elétricos do modelo matemático, tornando-o o mais
fiel possível. Assim, a modelagem matemática, em
termos de impedância e potência complexa, é
suficiente para representar o consumo de energia,
uma vez que os parâmetros resistivos e reativos da
instalação elétrica caracterizam o processo de
conversão de energia dos equipamentos.
Como mostra a FIG.2, o usuário inicializa o
simulador educativo com a interface gráfica. A
lógica do programa permite registrar os valores dos
parâmetros e os resultados das simulações em um
arquivo texto. A sequência lógica de
funcionamento dos equipamentos admitida foi a
mesma realizada nos experimentos da bancada de
energia.
Observa-se na TAB.1 uma variação do erro
de medição de tensão elétrica proporcionada pela
instabilidade da rede elétrica e por efeitos de
retroação nas medições. Discrepâncias encontradas
nos valores de resistência elétrica, reatância
indutiva e reatância capacitiva estão relacionadas
com as condições operacionais, o regime de
fornecimento de energia, os aspectos funcionais
dos equipamentos e as perdas inerentes ao circuito
elétrico.
As causas possíveis para o valor da
impedância do motor universal 2 ser até três vezes
menor que a impedância do motor universal 1
podem ser: discos com geometrias diferentes
acoplados em seus eixos, defeito nos enrolamentos
do motor, ou especificações inadequadas, uma vez
que consome mais energia e opera com um baixo
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
Figura 2 – Fluxograma lógico do simulador
educativo
fator de potência (FP=0,57), o que o torna um
equipamento menos eficiente.
Um histórico de faturamento de energia de
quinze meses foi simulado considerando um
período de consumo médio de 30 dias, sem perdas
de energia e um custo de energia por tarifa de
energia ativa de R$ 0,41. Conforme mostram os
resultados de potência na TAB.2, para cada mês a
instalação elétrica funcionou com os
equipamentos ligados em diferentes situações.
Nos meses 1, 2, 5 e 11, a instalação
funcionou com fator de potência capacitivo, e, no
mês 10, a instalação passou a funcionar com um
maior reativo. Nota-se que, no mês 4, a instalação
funcionou com baixo fator de potência,
evidenciando baixa eficiência.
Conforme o GRAF.1, o histórico do
faturamento de energia elétrica mostra as melhores
condições nos meses 6 e 8, quando a instalação
funcionou com um fator de potência indutivo
(FP=0,98) e no mês 11, quando a instalação
funcionou com um fator de potência capacitivo
(FP=0,99).
CONCLUSÃO
Ao reproduzir uma pequena instalação
elétrica mediante de um simulador educativo, é
possível ampliar as possibilidades de interação do
Tabela 1 – Parâmetros elétricos dos equipamentos
Parâmetros elétricos
Corrente elétrica (A)
Tensão elétrica (V)
Potência elétrica (kW)
Potência aparente (VA)
Potência reativa (VA R)
Fator de potência
Ângulo de fase (rad)
Impedância ()
Resistência elétrica ()
Reatância indutiva ()
Reatância capacitiva ()
Lâmpada
fluorescente 1
0,100
125,0
0,010
12,5
-7,5
0,80
-0,64
1250,0
1000,0
-750,0
Lâmpada
fluorescente 2
0,100
125,0
0,010
12,5
-7,5
0,80
-0,64
1250,0
1000,0
-750,0
Motor
universal 1
0,120
124,0
0,010
14,9
11,0
0,67
0,83
1033,3
694,4
765,2
-
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Motor
universal 2
0,361
122,0
0,025
44,0
36,3
0,57
0,97
338,0
191,8
278,2
-
83
Artigo Original
Tabela 2 – Potência consumida na instalação elétrica
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Potência
aparente (VA)
12,5
12,5
14,9
44,0
25,0
20,3
45,3
20,3
45,3
58,8
30,3
49,8
60,1
60,1
63,8
Potência ativa
(W)
10,0
10,0
10,0
25,0
20,0
20,0
35,0
20,0
35,0
35,0
30,0
45,0
45,0
45,0
55,0
Potência
reativa (VAR)
-7,5
-7,5
11,0
36,3
-15,0
35,2
28,8
35,2
28,8
47,3
-4,0
21,3
39,8
39,8
32,3
Fator de
potência
0,80
0,80
0,67
0,57
0,80
0,98
0,77
0,98
0,77
0,60
0,99
0,90
0,75
0,75
0,86
Gráfico 1 – Histórico do faturamento de energia elétrica
usuário com o modelo simulado, fazendo com que
haja uma imersão do usuário em um ambiente
amigável e possibilitando analisar novas situações
de aprendizagem.
O simulador educativo de instalações
elétricas usa um modelo matemático simplificado
para representar o consumo de energia elétrica em
pequenas instalações elétricas. Permite o
instrutor/professor se relacionar com o aluno
84
mediante uma aprendizagem interativa, em um
ambiente de simulação com tecnologia gratuita.
Integra as habilidades inerentes para o aprendizado
do aluno, podendo realizar uma autoavaliação sobre
seus conhecimentos acerca do consumo de energia
elétrica.
REFERÊNCIAS
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo Original
ANDREOLI, André Luiz. Modelagem de
lâmpadas de descarga: uma análise de
desempenho considerando parâmetros de
qualidade da energia. 300 f. Dissertação
(Doutorado em Ciências). Programa de
Engenharia Elétrica. São Carlos, SP: Universidade
de São Paulo, Escola de Engenharia de São
Carlos, 2011.
MAITELLI, A. L.; MENESES, L. T. Automação
da detecção de fraudes em sistemas de medição
de energia elétrica utilizando lógica fuzzy em
ambiente SCADA. In: Simpósio Brasileiro de
Automação Inteligente. 10. São João del-Rei,
MG. Anais... São João Del Rei, MG: Sociedade
Brasileira de Automação – SBA, 18 a 21 de
setembro de 2011. 6p.
ANEEL. Atlas de energia elétrica do Brasil.
Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, 2008. 236 p.
SOUZA, J. A. de e DANDOLINI, G. A.
Utilizando simulação computacional como
estratégia de ensino: estudo de caso. Revista
Renote – Novas Tecnologias na Educação. v. 7,
n. 1, jul, 2009.
ÂNGELOS, E. W. S. dos; SAAVEDRA, O. R.;
CORTES, O. A. C. Sistema inteligente para
identificação de fraudes em redes de energia
elétrica baseado em lógica fuzzy. In: Simpósio
Brasileiro de Automação Inteligente, 8..
Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC:
Sociedade Brasileira de Automática (SBA), 2007.
CALILI, Rodrigo Flora. Desenvolvimento de
sistema para detecção de perdas comerciais em
redes de distribuição de energia elétrica. 157f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica).
Rio de Janeiro, RJ: PUC-Rio, Departamento de
Engenharia Elétrica, 2005.
EPE. Balanço Energético Nacional 2014: ano
base 2013. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa
Energética - EPE, 2014. 288 p.
GREIS, L. K.; REATEGUI, E.; MARQUES, T. B.
I. Um simulador de fenômenos físicos para
mundos virtuais. Revista Latinoamericana de
Tecnología Educativa. v. 12(1) (2013) 51-62.
GREIS, L. K.; REATEGUI, E. Um simulador
educacional para disciplina de física em mundos
virtuais. Revista Renote – Novas Tecnologias na
Educação. v. 8, n. 2, jul., 2010. 10p.
JOHNSON, D. E.; HILBURN, J. L.; JOHNSON,
J. R. Fundamentos de análise de circuitos
elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do
Brasil, 1994. 539p.
JUNIOR, E. A. M.; SUEMATSU, A. K.;
CAMARGO, J. de; AHN, S. U.; BRONZEADO,
H. S.; BONATTO, B. D.; BELCHIOR, F. N.;
SOLETTO, K. T. Medição da qualidade da
energia elétrica – Protocolo, padronização e
certificação. In: Conferência Brasileira sobre
Qualidade da Energia Elétrica, 8., 2009,
Blumenau, SC. Anais... Blumenau: Sociedade
Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica, 2009.
4p.
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
85
Artigo de Revisão
AS RELAÇÕES REAIS E PRÁTICAS ENTRE
PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO PARA A COMPREENSÃO
SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
RODRIGUES, Rogério.
Mestre e Doutor em Educação (UNICAMP). Docente da UNIFEI e do curso de pós-graduação em
Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade da UNIFEI
RESUMO
Pensar as relações reais e práticas entre a Psicologia e
a Educação tendo como foco a compreensão sobre as
práticas educativas implica diversos pontos de
análise. Nossa reflexão se divide em dois momentos,
quais sejam, primeiramente, as proposições teóricas
sobre a Psicologia da Educação e, num segundo
momento, uma reflexão sobre o modo como
trabalhamos a Psicologia da Educação como
disciplina no curso de graduação para a licenciatura.
A hipótese é que as teorias da educação pautadas
exclusivamente na ciência perdem a condição de
analisar o “real educativo” e, em oposição a essa
situação, o não saber educar pautado na ciência tem
promovido a possibilidade de inovar e encontrar na
relação educativa o inédito que permite o impossível
educar o outro. Conclui-se que os avanços para as
relações entre Psicologia e Educação realizam-se na
atuação dos sujeitos, no campo educativo, em
implicar-se com a transmissão da cultura.
Palavras-chave: Educação. Psicologia. Psicologia
da Educação. Educação e Psicanálise. Emancipação
do Sujeito.
86
INTRODUÇÃO
As teorias da educação entre a ciência e o não
saber educar
Propomos, com o título “relações reais e
práticas entre a Psicologia e a Educação” e “as
contribuições da Psicologia da Educação para a
compreensão sobre as práticas educativas,” apontar
um corte no campo das teorias educativas que, de
um lado, encontram as teorias de aprendizagem
pautadas na ciência e, de outro lado, as diversas
teorias educativas que se apresentam nas
causalidades das transmissões do saber e que
também realizam elementos de aprendizagens no
sujeito.
Neste caso, a educação pautada nas teorias
de aprendizagem decorre da correta aplicação de
critérios científicos, mais propriamente de um
conjunto de técnicas de aprendizagem que se
pautam no modelo científico de educar o outro.
Em oposição a essa situação da ciência da
educação, o educar seria a transmissão do saber no
paradoxo de que “não sabemos” como se realizam
esses processos que educam o sujeito, pois ele se
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo de Revisão
encontra circunscrito no conjunto de práticas
conscientes e inconscientes que o instituem e,
principalmente, estabelecem determinados
vínculos no campo educativo. Portanto, o corte se
estabelece em decorrência de que, por um lado, para
a teoria educativa, o sujeito é modelado pela ciência
naquilo que se denomina “formação cultural” e
institui uma intencionalidade na produção de
subjetividade. De outro lado, o sujeito é educado
como alguém que não compreende o processo, mas
que se apresenta com o desejo de educar — o não
saber no exercício das relações educativas que
também produz diversas subjetividades.
Sob a ruptura entre essas duas perspectivas
teóricas e práticas no campo educacional (ciência e
não saber) é que vamos analisar as relações entre a
Psicologia e a Educação, mais propriamente as
proposições da Psicologia da Educação como uma
área do conhecimento que possa colaborar para
efetiva compreensão dos sujeitos inseridos nos
processos educativos — as práticas educativas.
O que se constata é uma hegemonia no
campo das teorias educativas pautadas na
Psicologia como ciência, pois ela postula um
conjunto de técnicas que estabelecem os
pressupostos de aprendizagem, mais propriamente
se constitui na “psicologia da aprendizagem” que
define postulados sobre como devemos proceder
para educar o outro. Em oposição a essa situação,
compreendemos a educação como um processo
artesanal, na qual o sujeito se representa como uma
construção inédita, portanto uma possível invenção
da “psicologia da educação” no teor das relações
educativas.
Nesse caso, tanto de um lado (ciência) como
de outro lado (não saber), a Psicologia e a Educação
são vistas como áreas do conhecimento específicas
que estabelecem determinadas junções para analisar
o sujeito inserido em relações educativas. Portanto,
o professor/intelectual é aquele que se torna
responsável por denominar e evidenciar a
compreensão do “sujeito psicológico” e sua
interpretação que o institui no conjunto das
práticas educativas hegemônicas presentes em
nossa modernidade.
O discurso das ciências educativas que se
apresenta para resolver os problemas educativos é
também a base do argumento que justifica o
fracasso escolar. Avança-se nessa hipótese e
afirma-se que, em decorrência do fracasso
escolar, institui-se o mesmo argumento que serve
para justificar seu próprio fracasso no social.
Afirma-se também a hipótese de que essa
situação do fracasso do sujeito no campo
educacional é uma imposição da sociedade de
mercado, pois o processo de exclusão social
precisa de justificativas para que os conflitos
surgidos entre a produção coletiva e a apropriação
individual da riqueza produzida não se
reapresente no conjunto das relações humanas
como um conflito a ser resolvido no campo da
política, ou seja, o sujeito compreende sua
condição social de ser explorado na ordem do
sistema capitalista como sendo algo
completamente justo e compreensível por sua
“falta de educação”. Portanto, em grande parte, a
escola ao revelar sua falência no processo de
escolarização, é fator valioso para a manutenção
das diferenças sociais, pois permite a
compreensão, por parte do sujeito, que ele
também se encontra fracassado no social ao
apresentar-se destituído da cultura. (BOURDIEU
& PASSERON, 1982).
O paradoxo apresenta-se quando o
capitalismo precisa de sujeitos qualificados para
operar os maquinários das linhas de produção.
Nesse caso, o Estado apresenta-se como principal
aliado do capitalismo, operando de forma
contraditória, qual seja, de um lado, qualifica a
unidades de ensino no processo de avaliação
quantitativa, em que se busca identificar e indicar
redução da presença do sujeito desqualificado
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
87
Artigo de Revisão
pelo alcance de metas que se apresentam em
números, como por exemplo, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Por
outro lado, desqualifica a unidade de ensino em
decorrência das condições precárias do trabalho,
principalmente salários não adequados para os
profissionais da educação.
Tendo essa questão paradoxal da falência da
educação e seus aspetos objetivos e subjetivos,
vamos nos deter somente na questão do sujeito para,a
fim de compreender as relações entre a Psicologia e a
Educação, para efetivas contribuições da Psicologia
da Educação na construção de práticas educativas
que promovam a emancipação do sujeito.
MÉTODO
A teoria do sujeito e o fazer educativo.
O método utilizado para a coleta da pesquisa
é o da revisão bibliográfica, fundamentada na
pesquisa no campo da Filosofia da Educação.
Conforme proposição anterior, parte-se da tese de
que a falência na educação apresenta-se pelos
motivos de os profissionais da educação assumirem
a tarefa de anunciar sua teoria científica de sujeito
que não se realiza no conjunto das práticas
educativas e, principalmente, por idealizarem um
tipo de escola que não corresponde a suas reais
condições de funcionamento. Portanto, as dinâmicas
das práticas educativas, em grande parte, são
apreendidas por essas teorias do “senso comum”,
que passam a representar verdadeiros dogmas que
instituem um tipo de sujeito e unidade escolar que
não acontece no real.
O ideal de unidade de ensino e as teorias de
sujeitos descompassadas com o real não deixam de
produzir o próprio real, ou seja, a não compreensão
de escola e sujeito são elementos que também
promovem efeitos, uma vez que produzem práticas
que investem no real as condições efetivas para
realizar-se. Assim, independente da apreensão da
88
teoria científica sobre os determinantes do real,
temos a presença de um círculo entre a teoria e
prática, qual seja: a teoria do sujeito e instituição
escolar também produz práticas educativas que, por
sua vez, alimentam a compreensão teórica de escola
e do próprio sujeito.
Em termos metodológicos, compreende-se
o “real educativo” como algo que se apresenta em
diversas práticas, como elementos responsáveis
pelas produções de subjetividades e, portanto,
responsáveis por instituir o sujeito no campo do
social. No entanto, o “real educativo” acaba por
instituir elementos que favorecem a sociedade de
mercado, que tende a coisificar as relações
humanas. Esse processo é intensificado por uma
sociedade que valoriza a ciência que se realiza em
técnicas, portanto, no campo educacional, em
técnicas educacionais, o que também é expressão
do processo de tornar tudo em coisa — a técnica
educativa como processo de reificação das relações
educacionais.
Assim sendo, o ponto inicial para balizar as
teorias que permitem a compreensão do “real
educativo” é justamente conceituar a própria
compreensão de sujeito em referências que
permitam alcançar a amplitude do “ser”. Esse
conceito deve permitir destituir o sujeito do campo
científico pautado na sociedade de mercado para o
alcance da verdade radical e extensa.
No limite, a compreensão radical e extensa
do “sujeito educado” é que aquela que se realiza nas
tentativas de responder a si mesma, pois ele não
quer se defrontar com o vazio de sua existência. São
essas proposições de instituir a verdade que produz
a instituição escolar e o sujeito e, principalmente, a
reprodução do conhecimento em processos
educativos que se materializam no conjunto da
organização das instituições escolares cujas
dinâmicas impedem sua emancipação.
Em se tratando da verdade radical e extensa,
parte-se de algumas pressuposições teóricas, como
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo de Revisão
por exemplo, Darwin, Foucault, Freud, Nietzche,
Marx, entre outros que não atribuem dogmas para a
compreensão do sujeito e da instituição de ensino e,
sim, estabelecem rupturas das verdades
constituídas e que possam colaborar com análises
que apreendam o “real educativo”.
A compreensão radical e extensa do sujeito
no campo das relações entre a Psicologia e a
Educação resulta de aproximar essas distintas
concepções filosóficas de sujeito, as quais
permitem romper com a tese iluminista pautada na
razão instrumental, e isso é de fundamental
importância no campo educacional, principalmente
pelo motivo de indicar que a falência no campo
educacional é, antes de mais nada, uma falência da
própria concepção do sujeito moderno.
RESULTADOS
As contribuições da Psicologia da Educação
para a compreensão sobre as práticas
educativas.
Em todo início do curso de Psicologia da
Educação oferecida aos alunos da licenciatura
sempre se apresentavam dois elementos, quais
sejam, o eixo temático e a ferida narcísica em
relação ao curso.
Em relação ao eixo temático,
é um fator que se encontra presente com o efetivo
“problema educativo”, ou seja, trata-se de analisar a
educação como um processo de produção de
subjetividade, portanto, pensar criticamente as
relações entre o sujeito e as transformações sociais.
O outro elemento apresentado é aquele que
trata da “ferida narcísica em relação ao curso”, pois
compartilhamos da compreensão teórica que busca
destituir a obrigatoriedade compulsiva da disciplina
Psicologia da Educação para a formação do
licenciado.
A proposição teórica é que a disciplina
Psicologia da Educação se realiza somente na
condição de o sujeito se implicar no exercício do
pensamento intelectual e crítico sobre a questão das
relações entre a Psicologia e a Educação no campo
escolar. Assim sendo, defino a seguinte situação
paradoxal: para “ser professor”, a Psicologia da
Educação não se apresenta na condição da
apropriação de mais uma técnica de intervenção no
sujeito que se realiza em diversas proposições de
ensino, mas como uma teoria/prática que permite
ao sujeito inventar-se como intelectual/prático no
sentido de compreender e fazer as práticas
educativas.
A técnica destituída de criticidade
apresenta-se sem significado em sua aplicação,
mas, paradoxalmente, apresenta seus resultados, e
isso pode ser constatado no fato de que temos
diversos professores que não fizeram licenciatura e
atuam no ensino escolar. No entanto, o curso de
“Psicologia da Educação” se efetiva no momento
em que se realiza o processo de transmissão do
saber para além da aplicação das “técnicas
educacionais”. Portanto, aqueles que realizam o
curso de Psicologia da Educação devem elaborar
uma condição de reflexão que os distingue como
intelectuais da área da educação.
Tendo esses dois pontos básicos para
analisar as relações entre a Psicologia e a Educação
como “recentes serviços prestados pela psicologia à
educação”, propõe-se a seguinte questão: como as
teorias da Psicologia da Educação, na condição de
educar o outro, poderiam realizar o processo de
emancipação do sujeito?
Responder essa questão da “emancipação
do sujeito” é compreender como o educador
poderia romper com os limites das pedagogias
hegemônicas que subordinam seu pensamento e
suas práticas na ordem da sociedade de mercado.
Para tanto, a pergunta central em termos
educacionais, seria: Como o sujeito pode, nas
relações com o outro, construir pensamentos e
práticas que ampliem em diversas formas, sua
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
89
Artigo de Revisão
própria condição de existência e de se compreender
no interior do fenômeno educativo. Portanto, nossos
resultados apontam para a compreensão de que a
análise crítica sobre os fundamentos da “psicologia
do sujeito” passa a ser um ponto central em termos
educativos, pois determina as práticas do educador,
principalmente seu modo de ser sujeito perante o
outro, e isso é um aspecto central naquilo que se
entende como sendo o ato de educar.
DISCUSSÃO
Rupturas e pontos de fuga no interior das
teorias educativas hegemônicas e a
emancipação do sujeito.
Pensar a questão do sujeito e estabelecer
uma relação direta entre a Psicologia e a Educação
permite retratar, basicamente, o modo como
compreendemos nossa existência, e nossa maneira
de nos (re)construirmos como sujeito.
Nesse caso, Charles Darwin foi um
intelectual que realizou um corte profundo na ideia
de sujeito que se encontra ordenado e produzido na
ordem divina para uma concepção científica desse
sujeito pautada na tese sobre o surgimento das
espécies, em decorrência da teoria da evolução.
(DARWIN, 2002). Afirma-se que essa nova
concepção de sujeito foi uma inovação, pois
deixamos de existir como um legado da ordem
divina que organiza todo o universo, e passamos a
existir na causalidade cientifica sobre a origem da
vida.
Em termos educacionais, afirma-se que essa
ruptura da teoria de Darwin da concepção religiosa
do sujeito para a concepção científica de seu
surgimento é uma grande possibilidade para que
esse possa se responsabilizar pela maneira de ser e
existir e não se sujeitar aos destinos da vida.
No entanto, esse responsabilizar-se por sua
existência não ocorre plenamente no sujeito que
90
opta por ser coisificado no campo das relações
humanas, ao ser tratado como objeto. Para tanto,
Sigmund Freud indica o sintoma no sujeito, algo que
se apresenta e o destitui na razão de ser, mais
propriamente, apresenta uma teoria do sujeito como
aquele que se realiza no sintoma, ou seja, o retorno
do recalque — o inconsciente psicanalítico.
(FREUD, 1996, p. 25-65).
Assim sendo, para Freud, estabelece-se
outro corte na concepção de sujeito, qual seja, que
ele não se apresenta na unidade da razão científica e,
sim, é compartilhado por outro (inconsciente), que o
destitui como individuo (não dividido) e apresentase cindido em sua existência e, principalmente, não
reconhece a si mesmo no campo de suas atuações
sintomáticas.
Para Foucault, o “sujeito do inconsciente” se
constitui na norma, portanto apresenta a tese da
sociedade do pan-óptica (FOUCAULT, 1991, p.
177), na qual estamos inseridos em condições
objetivas do exercício do poder que nos institui
como aquele que se realiza e se (re)produz a si
mesmo.
No entanto, seria possível o sujeito
circunscrito pelas linhas de força do poder encontrar
mecanismos de realizar-se na liberdade? Para tanto,
seria preciso uma educação do sujeito que o leva-se
para esse outro caminho, o qual Nietzsche (2000)
indica, em seu prefácio sobre os “pensamentos sobre
o futuro de nossos institutos de formação”,
apontando as seguintes condições educacionais:
O leitor do qual espero alguma coisa deve ter
três qualidades. Deve ser calmo e ler sem
pressa. Não deve intrometer-se, nem trazer
para a leitura a sua “formação”. Por fim, não
pode esperar na conclusão, como um tipo de
resultado, novos tabelamentos.
(NIETZSCHE, 2000, p. 33).
Essa condição para educar o sujeito requer
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, setembro 2014
Artigo de Revisão
uma condição psicológica que aceite o “livre
pensamento”, portanto uma condição em que “(...)
não traga para a leitura a sua 'formação', algo como
uma medida, como se com isso possuísse um critério
para todas as coisas”. (NIETZSCHE, 2000, p. 35).
Para tanto, seria aquele que “(...) só ousa falar do
não-saber e do saber do não-saber”. (NIETZSCHE,
2000, p. 35).
Contudo, observa-se que essa condição de
desprendimento e liberdade do pensamento não se
realiza na sociedade de mercado, pois o sujeito
encontra-se reificado no campo das relações sociais,
ou seja,
(...) na produção social da própria vida, os
homens contraem relações determinadas,
necessárias e independentes de sua vontade,
relações de produção estas que
correspondem a uma etapa determinada de
desenvolvimento das suas forças produtivas
materiais. A totalidade destas relações de
produção forma a estrutura econômica da
sociedade, a base real sobre a qual se levanta
uma superestrutura jurídica e política, e à
qual correspondem formas sociais
determinadas de consciência. O modo de
produção da vida material condiciona o
processo em geral da vida social, político e
espiritual. Não é a consciência dos homens
que determina o seu ser, mas ao contrário, é o
eu ser social que determina sua consciência.
(MARX, 1974, p. 135-136).
Essa questão da consciência do sujeito e suas
relações com o social deveria ser motivo de
investigação, pois a condição de pensamento, mais
propriamente a condição psicológica de sujeito, está
relacionada com o modo como se organiza o social.
Pensar o sujeito em um curso de Psicologia
da a Educação e, principalmente, analisar
diretamente as relações entre a Psicologia e a
Educação, no campo escolar, também determina a
concepção de sujeito e o sujeito do conhecimento,
portanto é importante que fique esclarecido como
essas junções se representam no campo das
pedagogias modernas e suas proposições
educativas, principalmente, seus resultados no
campo das práticas educativas.
Assim sendo, analisaremos as relações entre
a Psicologia e a Educação como produções
específicas de determinadas proposições teóricas e
práticas de sujeito que, de um lado, trabalham as
relações educativas tornando a Educação demais
psicológica; ou, de outro lado, fazem que a
Psicologia seja demais educativa - , as quais
apresentam disjunções na compreensão entre o
sujeito ideal e o sujeito real. Portanto, falar em
Psicologia da Educação é tem um caráter amplo, em
se tratando de sujeito, e pouco se sabe qual seria o
ponto médio que alcança a verdadeira análise do
“ser”.
Observam-se diversas relações entre a
Psicologia e a Educação e a produções de
subjetividade como passíveis de contínua
investigação, pois se lida com situações em que se
apresentam as diversas dinâmicas que podem
dificultar a compreensão teórica sobre o sujeito e as
práticas educativas.
O ponto primordial para a construção do real
no campo da Psicologia da Educação é a análise do
argumento sobre a falência da educação como um
conjunto de situações problemáticas que decorrem
de diversas situações, como, por exemplo, o já citado
empobrecimento material das instituições de ensino,
nas quais isso se apresenta, em grande parte nos
discursos dos educadores, como um fator impeditivo
para a realização do processo educativo.
Em seu artigo intitulado “Educação após
Auschwitz” — Adorno (1995) já apontava para a
possibilidade de humanizar o homem pela educação.
Considerava ser de fundamental importância a
formação de uma “autoreflexão crítica” para se
evitar a barbárie. (ADORNO, 1995, p. 121) Ou seja,
para ele, “hoje em dia é extremamente limitada a
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
91
Artigo de Revisão
possibilidade de mudar os pressupostos objetivos,
isto é, sociais e políticos, que geram tais
acontecimentos; as tentativas de se contrapor à
repetição de Auschwitz são impelidas
necessariamente para o lado subjetivo”. (ADORNO,
1995, p. 121). Mais adiante, Adorno afirma que é
“fundamental produzir inicialmente uma certa
clareza acerca do modo de constituição do caráter
manipulador, para em seguida poder impedir da
melhor maneira possível a sua formação”.
(ADORNO, 1995, p. 130-131). Portanto, o foco
central para romper com a falência na educação é o
próprio sujeito em sua representação de si mesmo e
como efetivamente alterará as estruturas das relações
sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Questões colocadas à Psicologia da Educação.
Identificam-se no campo das pedagogias
hegemônicas no campo escolar, basicamente, três
suposições teóricas dos processos de aprendizagem,
quais sejam: 1) o sujeito aprende por um exercício da
memória conceitual que pode ser exercida por uma
contínua repetição do conteúdo (pedagogia
tradicional); 2) o sujeito aprende por uma memória
emocional, que se realiza em conjunto de ações que
buscam favorecer os afetos no campo das relações
educativas (pedagogia nova); e por último, 3) o
sujeito aprende por uma memória neural, que resulta
na aplicação correta de estímulos de aprendizagem
(pedagogia tecnicista).
No entanto, para o senso comum, o aprender
está relacionado diretamente com um ato de
insistência daquele que educa e que se apresenta,
basicamente, no processo de satisfação e frustração,
ou seja, quando o sujeito realiza o ato esperado, o que
se escuta é: “muito bem”; “parabéns”; “que lindo”;
enfim um conjunto de reforço no sentido de o outro
incorporar o ato como sendo uma natureza própria de
92
si mesmo. No caso contrário, quando o sujeito não
corresponde à solicitação em ato, o que se tem é o
não reconhecimento, como por exemplo: “não
gostei”; “você vai ter que aprender novamente”;
“muito feio”; portanto, afirmações que buscam
recusar a existência desse sujeito “mal educado”. O
que temos nessa suposição teórica e prática é a
insistência na produção do sujeito que seja o
mesmo e, simultaneamente, o impedimento da
“fala fora do sujeito” (GUATTARI, 1981, p. 177),
ou seja,
Em família, reprime-se uma criança que se
exprime 'fora do assunto', 'fora do sujeito', e
isto continua na escola, no quartel, na
fábrica, no sindicato, na célula do partido. É
preciso se estar sempre 'no assunto', 'no
sujeito' e 'na linha', mas o desejo, por sua
própria natureza, tem sempre a tendência de
'sair do assunto', 'sair do sujeito' e derivar.
(GUATTARI, 1981, p. 177-178).
São essas rupturas e pontos de fugas que
constituem “saídas” encontradas pelo sujeito
desejante que se consideram como verdadeiros
elementos nas produções de subjetividades que se
encontram subsumidas às condições do mercado
capitalista que impõem uma ordem necessária para
a produção e consumo de coisas.
Neste caso, o preocupante é quando na
relação educativa a questão do desejo se apresenta
subsumida pelo fazer obrigatório. A escola
apresenta-se na função de destituir a verdade do
sujeito, ou seja, apresenta-se como aquele que
educa no esforço de constituir o outro sem
significado algum — somente para atender o
mercado.
O processo de produção de si mesmo não
deveria ocorrer somente por um movimento de
esforço do educador, ou seja, o educando também
deve esforçar-se, processo de identificação que se
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo de Revisão
apresenta em relação ao educador — aprende por
amor. (FREUD, 1990, 281-288). No entanto, na
lógica do mercado qual seria o processo de
identificação? A resposta é direta: para o
funcionamento da sociedade do mercado é
fundamental importância que o sujeito se identifique
com as coisas que se apresentam no próprio
mercado.
Assim sendo, a contribuição da Educação
para a Psicologia, mais propriamente, para a
Psicologia da Educação, seria a de esclarecer os
educadores no campo da psicologia sobre a função
dupla do desejo que se apresenta nas relações
educativas hegemônicas, como a negação do desejo
na deformação do sujeito coisificado e a
positividade do desejo que se realiza ao atender o
sujeito alienado no consumo do mercado. Nesse
caso, o processo educativo seria um esforço
permanente do pleno reconhecimento do impossível
na realização do desejo na sociedade de mercado,
que o posiciona como objeto para uma situação de
dúvida, qual seja, que sua existência é uma condição
inventiva, portanto com a propriedade de revelar
parte da verdadeira condição de sua própria
humanidade — o não saber ser sujeito.
Como docente que fui, responsável pelo
curso da disciplina Psicologia da Educação nos anos
de 2004 até 2011, que foi oferecida no curso de
licenciatura, tive como premissa básica que os meus
alunos pudessem enveredar para uma análise crítica
sobre uma análise das relações entre o sujeito e a
realidade, ou seja, pensar o campo educacional
como um lugar da realização das relações humanas
e, para tanto, partiu da tese de que é preciso
minimizar as “técnicas de aprendizagem” para uma
condição de pensar o educar “sujeito real”.
Portanto, tenho como hipótese de trabalho
que o curso de Psicologia da Educação é uma
elaboração teórica e prática no sentido de indicar
alguns caminhos possíveis para alcançar essa
elaboração do educar o outro destituído das
exigências das técnicas educativas que possam
coisificar o sujeito no campo das relações
educativas, ou seja, o ponto de partida é o
pressuposto de que no campo educacional, ocorre
uma tendência de as ciências da educação
impedirem de pensar as múltiplas determinações do
sujeito, principalmente como uma “invenção
artesanal” no campo das práticas educativas.
(SENNETT, 2009).
Considera-se essa “invenção artesanal”
presente no campo das relações humanas como
ponto central para analisar o sujeito educado, e isso
pode permitir aos educadores assumirem a
condição intelectual seu fazer educativo.
A intervenção do educador no processo de
educar o outro é um elemento fundamental na
construção de subjetividades, e isso é o grande
motivo para que cada aula possa retratar a invenção
do educar esse outro. Cada aula é um encontro com
o inédito, em que se inventam a si mesmos no
campo das relações educativas, pois, em cada aula,
realiza-se um encontro em que parte do enigma do
outro pode revelar-se e apresentar-se como uma
pequena peça de um “quebra-cabeça”, e algo que
nunca de fecha. Essa condição permanente do
pensamento é que torna a função verdadeira do
intelectual na instituição escolar como aquela em
que ele analisa as questões do sujeito,
principalmente, sua própria condição de educador.
(LARROSA, 2004, p. 183-198).
O curso de Psicologia da Educação em que
trabalhei com meus alunos apresentou dois
momentos, o primeiro é aquele que denominei
como sendo uma filosofia do sujeito, ou seja, a
compreensão do sujeito no campo das relações
sociais e, principalmente, uma análise do sujeito
psicológico como um processo de educação em que
se produzem determinadas subjetividades.
O segundo momento do curso foi voltado
para um estudo das teorias educativas hegemônicas
e, principalmente, como elas posicionam o sujeito
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
93
Artigo de Revisão
psicológico no campo das relações educativas.
Nesse caso, parte-se da tese de que a condição de
educar o outro tem como base uma teoria do sujeito
e, principalmente, de como o psicológico opera no
campo das relações humanas. Essa teoria talvez
esteja em disjunção com o real das práticas
educativas, mas não deixa de existir como um
discurso teórico e, principalmente prático, do
sujeito ou até mesmo, grande parte dos educadores
não reconhece a teoria do sujeito e os elementos do
psicológico que se apresentam no âmbito das
relações educativas.
Identificam-se, como já foi dito, três teorias
educativas no campo das pedagogias hegemônicas
que se apresentam no campo escolar, quais sejam:
1) memória conceitual (pedagogia tradicional); 2)
memória emocional (pedagogia nova); e por
último, 3) memória neural (pedagogia tecnicista).
Nessas teorias educativas é que se baseia a ideia de
sujeito da consciência, que institui as dinâmicas de
práticas educativas no campo escolar.
No campo das teorias educativas,
evidencia-se o modo como se ensina diretamente
relacionado com o saber instituído e,
principalmente, o “processo de aprendizagem”
apresenta-se como a consciência do sujeito e
estabelece conexões com a cultura. Nesse ponto em
que se estabelecem as conexões entre os sujeitos e a
cultura, é preciso romper com os processos de
reificações em que o sujeito se torna submetido ao
outro. Para tanto, optou-se por estabelecer
pequenos diálogos entre a Psicanálise e a Educação
como elementos de ruptura e inovação que poderão
inverter essa lógica do “sujeito coisa”, para o
reconhecimento do impossível na realização do
“sujeito do desejo”.
A Psicologia da Educação se realizará
quando favorecer processos educativos que possam
apresentar-se na linha do “sujeito do desejo”. O
diálogo em que se apresentam os pontos de
conexões entre a Psicanálise e a Educação pode
94
permitir uma interpretação do sujeito no campo
educativo, principalmente ao indicar os paradoxos
do desejo em educar o outro, que se encontra entre:
o “não saber” educar e a responsabilidade pautada
no dever. Nesse diálogo é que se torna possível
romper com as formas de engessamento das
“técnicas de aprendizagem”, as quais instituem
uma verdade obsoleta do sujeito. Portanto, em
relação às “técnicas de aprendizagem”,
compreendemos que as mesmas podem ser
apropriadas de maneira criativa, permitindo que o
sujeito possa realizar-se, principalmente o
educador, como intelectual, mais propriamente,
filósofo da educação. Isso, de fato, permitiria
realizar as “relações reais e práticas entre a
Psicologia e a Educação”.
REFERÊNCIAS
ADORNO, Theodor W. Educação e
Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1995.
ANAIS. V Congreso Internacional de
Psicologia y Educación: los retos del futuro –
Universidade de Oviedo Oviedo, abril, 2008.
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude.
A reprodução: elementos para uma teoria do
sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1982.
DARWIN, Charles. Origem das Espécies. Belo
Horizonte: Itatiaia Editora, 2002.
GUATTARI, Félix. Revolução Molecular:
pulsações políticas do desejo. São Paulo:
Brasiliense, 1981.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o
nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1991.
FREUD, Sigmund. Obras Completas. v. 13. Rio
de Janeiro: Imago, 1990.
FREUD, Sigmund. Obras Completas. v. 11.
Rio de Janeiro: Imago, 1996.
LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças,
piruetas e mascaradas. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
MARX, Karl. Contribuições à crítica da
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Artigo de Revisão
economia política. São Paulo: Martins Fontes,
1983.
MARX, Karl. Para a Crítica da Economia
Política. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São
Paulo: EPU/EDUSP, 1974.
NIETZSCHE, Friedrich. Cinco Prefácios para
cinco livros não escritos. Rio de Janeiro: 7 Letras,
2000.
SENNETT, Richard. O artífice. São Paulo: Editora
Record, 2009.
AGRADECIMENTOS
Ao “Apoio a Projetos de Pesquisa em Educação
Básica – Acordo CAPES – FAPEMIG”. (Processo
Nº CHE-APQ-03301-12).
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
95
Normas para Publicação
REGRAS EDITORIAIS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA
MULTIDISCIPLINAR DAS FIPMoc
1) INSTRUÇÃO AOS AUTORES
A Revista Multidisciplinar das FIPMoc é um
periódico especializado, nacional, aberto a contribuições
da comunidade científica nacional, arbitrada e distribuída
a leitores do Brasil.
Esta revista tem por finalidade publicar
contribuições científicas originais sobre temas relevantes
para as áreas de Ciências da Saúde, Ciências Humanas,
Ciências Exatas e Ciências Sociais, promovendo a
divulgação da produção de conhecimento das diversas
áreas do saber e estimulando as relações
interdisciplinares. Os manuscritos devem destinar-se
exclusivamente à Revista Multidisciplinar das
Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, não
sendo permitida sua apresentação simultânea a outro
periódico, quer na íntegra ou parcialmente, excetuandose resumos ou relatórios preliminares publicados em
anais de reuniões científicas.
Os manuscritos publicados são de propriedade da
Revista, vedada tanto a reprodução, mesmo que parcial,
em outros periódicos, como a tradução para outro idioma,
sem a autorização do Conselho de Editores.
O(s) autor(es) deverá/deverão assinar e
encaminhar, juntamente com o manuscrito: Declaração
de Responsabilidade e Transferência de Direitos
Autorais, na forma de documentos suplementares.
Os manuscritos deverão ser encaminhados,
exclusivamente por via eletrônica, utilizando o site de
Editoração Eletrônica de Revista (SEER) que encontra-se
no endereço www.fip-moc.edu.br/revista Os interessados
deverão criar um login e senha para acesso ao sistema, e
seguir as orientações para submissão de manuscritos.
Todo o acompanhamento para publicação dos
trabalhados será feito através desse sistema.
2) CATEGORIAS DE ARTIGOS
Além dos artigos originais, que têm prioridade, a
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas
Pitágoras publica ensaios de Atualização Científica,
Relatos de Experiências, Relatos de Casos, Notas
Técnicas e Cartas ao Editor.
Artigos originais: Devem ser oriundos de pesquisas de
natureza empírica ou experimental, original, que possam
ser replicadas ou generalizadas.
Artigos ou Ensaios de Atualização Científica: Devem
apresentar uma composição de revisão crítica da
literatura existente e pertinente às áreas temáticas a que se
destina.
Relatos de Experiências e Relatos de Casos: Artigo
apresentando experiências exitosas ou de interesse aos
profissionais da área, casos clínicos ou situações
peculiares de determinada área do conhecimento, que
possam ser úteis aos leitores pela escassez de literatura
e/ou pela raridade ou notoriedade do evento.
Notas Técnicas: Espaço destinado para comunicações
técnicas das diversas áreas do conhecimento abordadas
pela Revista. A autoria deverá ser necessariamente
assumida por uma entidade representativa da categoria a
que se destina a nota técnica em questão.
Cartas ao Conselho Editorial: Devem ser fruto de
crítica ou comentários pertinentes a artigo publicado em
fascículo anterior ou notificação de fato relevante ao
corpo editorial e de leitores.
3) RECOMENDAÇÕES PARA REDAÇÃO DOS
ARTIGOS
Os textos enviados devem ter a objetividade
como princípio básico. O(s) autor(es) deve(m) deixar
claro quais as questões que pretende responder ou o
objetivo proposto. A estrutura proposta para os artigos é a
que se segue:
Artigos Originais:
Incluem estudos observacionais, estudos experimentais
ou quase experimentais, avaliação de programas, análises
de decisão e estudos sobre avaliação de desempenho,
entre outros. O artigo deve conter no máximo 5.000
palavras e até cinco ilustrações. A estrutura recomendada
é: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão.
A Introdução deve ser curta, definindo o problema
estudado, sintetizando sua importância e destacando as
lacunas do conhecimento na área. A seção sobre os
Métodos deve descrever de forma detalhada todos os
passos da realização do estudo, permitindo a análise
crítica sobre o desenvolvimento do estudo e possibilidade
de replicação. Deverá ser informada a aprovação por
Comitê de Ética, quando pertinente. Os resultados devem
ser apresentados de forma objetiva sem repetição de
dados presentes nas figuras (gráficos ou tabelas). A
discussão deve retomar o objetivo do estudo, apreciando
as limitações e os resultados do estudo e apresentando
comparação com a literatura científica existente. As
conclusões devem estar inseridas ao final da seção de
discussão dos resultados.
Outros formatos poderão ser aceitos, segundo critérios
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
96
Normas para publicação
específicos do corpo editorial. O resumo deve ser
apresentado de forma não estruturada e possuir até 250
palavras.
Artigos ou Ensaios de Atualização Científica:
Devem analisar e discutir a literatura existente sobre o
tema e devem possuir no máximo de 7.000 palavras e até
cinco ilustrações. Recomenda-se a apresentação do texto
em itens que possam oferecer ao leitor uma compreensão
lógica do processo de revisão (temática, histórica etc.).
Nesse sentido, a distribuição das seções é relativamente
livre, após apresentação do tema e da relevância do
produto apresentado na Introdução. O resumo deve ser
apresentado de forma não estruturada e possuir até 250
palavras.
Relatos de Experiência/Caso:
Recomenda-se o máximo de 1.800 palavras e até três
ilustrações. A estrutura proposta é de Introdução, Relato
do Caso ou da Experiência e Discussão. Os resumos (não
estruturados) devem possuir até 200 palavras.
Notas Técnicas:
Incluem comunicações em diversos formatos, segundo a
estrutura da nota. Entretanto, recomenda-se o máximo de
1.800 palavras e até três ilustrações. A estrutura é variável
e pode suprimir o resumo, que, se presente, deve possuir
até 200 palavras.
Cartas ao Conselho Editorial:
Devem ser redigidas de forma bem objetiva e em bloco
único, sem apresentação de seções distintas. Recomendase o máximo de 1.000 palavras. Não serão aceitas
ilustrações.
Observações:
(*) As figuras (tabelas, gráficos e ilustrações diversas)
devem ser apresentadas ao longo do próprio do texto e
devem ser numeradas consecutivamente. Devem possuir
título ou legendas pertinentes. Nas tabelas deve-se evitar o
uso de traços internos horizontais ou verticais. As notas
explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e
não no cabeçalho ou no título.
(**) Pesquisas envolvendo seres humanos deverão
apresentar no texto a informação sobre aprovação por
Comitê de Ética e o número do parecer.
(***) As Referências estão limitadas a 25, devendo-se
incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática
abordada, havendo, entretanto, flexibilidade.
Com tipo de letra: Times New Roman ou Arial tamanho
12;
Com espaçamento de 1,5 cm entre as linhas em todo o
texto e
Com parágrafos alinhados em 1,0 cm
Citações e referências deverão ser normalizadas de
acordo com o estilo ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) vigente.
Serão aceitas contribuições apenas em português.
Notas de rodapé e anexos não serão aceitos.
A contagem de palavras inclui apenas o corpo do texto,
excluindo-se as figuras e referências bibliográficas.
5) AUTORIA
O conceito de autoria está baseado na contribuição
substancial de cada uma das pessoas alistadas como
autores, no que se refere sobretudo à concepção do projeto
de pesquisa, análise e interpretação de dados, redação e
revisão crítica. Os trabalhos publicados restringem-se a,
no máximo, seis autores.
Cada manuscrito deve indicar o nome de um autor
responsável pela correspondência com a Revista
Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras, e
seu respectivo endereço, incluindo telefone e e-mail.
6 ) P R O C E S S O D E J U L G A M E N TO D O S
MANUSCRITOS
Os manuscritos submetidos à Revista Multidisciplinar das
Faculdades Integradas Pitágoras que atenderem às
“instruções aos autores” e que se coadunarem com sua
política editorial são encaminhados para revisão por pares
de forma anônima e independente. Após análise do mérito
científico da contribuição, o parecer é encaminhado ao
autor responsável pelo contato.
Os manuscritos aceitos poderão sofrer alterações segundo
critérios dos revisores e do corpo editorial, e a publicação
estará condicionada à aprovação final dos autores.
7) ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO
Os manuscritos deverão ser enviados exclusivamente por
via eletrônica (www.fip-moc.edu.br/revista) conforme
descrito no item 1, sem qualquer identificação. O texto
apresentado deve suprimir as possibilidades de
identificação dos autores ou da instituição onde o estudo
foi realizado. Recomenda-se que os autores também
encaminhem carta de submissão anexa solicitando a
avaliação para publicação.
8) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4) FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS
Os artigos deverão ser enviados:
Em formato Microsoft Word 2003 ou superior (*.doc);
Digitados em páginas tamanho A4, numeradas
sequencialmente a partir da primeira página;
Com margens de 2,5 cm;
97
Fontes de financiamento
Os autores devem declarar todas as fontes de
financiamento ou apoio de qualquer natureza para a
realização do estudo.
Conflito de interesses
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
Normas para publicação
Os autores devem informar qualquer potencial conflito de
interesse em qualquer das etapas de produção do
manuscrito.
fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e
fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está
baseado para exame dos leitores”.
Agradecimentos
Possíveis menções em agradecimentos incluem
instituições e/ou pessoas que de alguma forma
possibilitaram ou auxiliaram a realização da pesquisa (e
que não preenchem critérios para autoria).
Assinatura do(s) autor(es) e Data
Citações e Referências
As referências devem ser ordenadas alfabeticamente,
normalizadas de acordo com o estilo ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) vigente. A exatidão das
referências constantes da listagem e a correta citação no
texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do
manuscrito. Deve-se evitar a inclusão de número
excessivo de referências numa mesma citação e evitar
citações de documentos não publicados.
Figuras
Em casos de publicação de imagens coloridas os custos
devem ser assumidos pelos autores.
II - Transferência de Direitos Autorais.
Primeiro Autor:
Título do Manuscrito:
“Declaro que, em caso de aceitação do artigo por
parte da Revista Multidisciplinar das Faculdades
Integradas Pitágoras de Montes Claros, concordo com que
os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade
exclusiva das FIPMoc, ficando vedada qualquer
produção, total ou parcial, em qualquer outra parte ou
meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a
prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida,
farei constar o competente agradecimento às Faculdades
Pitágoras de Montes Claros e os créditos
correspondentes”.
Assinatura do(s) autor(es) e Data
9) MODELOS DE DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE
DIREITOS AUTORAIS*
(*) Como o processo de envio é realizado de forma
eletrônica, os documentos com assinatura dos autores
deverão ser digitalizados e enviados como documento
(arquivo) suplementar.
Cada autor deve ler e assinar os documentos (1)
Declaração de Responsabilidade e (2) Transferência de
Direitos Autorais.
Todas as pessoas relacionadas como autores devem
assinar a declaração de responsabilidade nos termos
abaixo:
I - Declaração de Responsabilidade
Primeiro Autor:
Título do Manuscrito:
“Certifico que participei suficientemente do
trabalho para tornar pública minha responsabilidade por
seu conteúdo. Certifico que o manuscrito representa um
trabalho original e que nem este manuscrito, em parte ou
na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo
substancialmente similar, de minha autoria, foi publicado
ou está sendo considerado para publicação em outra
revista, quer seja no formato impressa ou no eletrônico,
exceto o descrito em anexo. Atesto que, se solicitado,
Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, ano 12, n. 20, 2º semestre de 2014
98