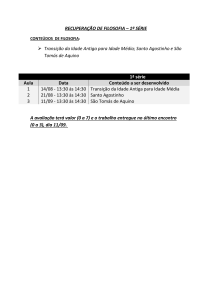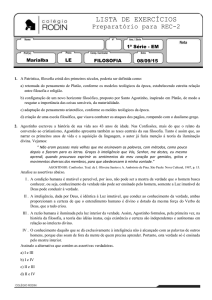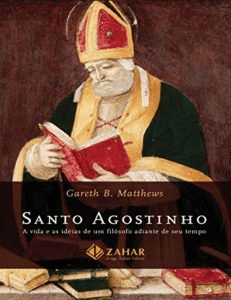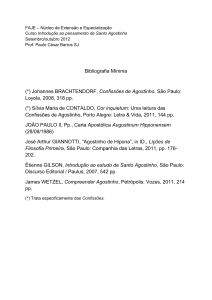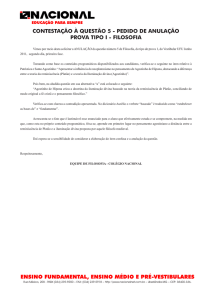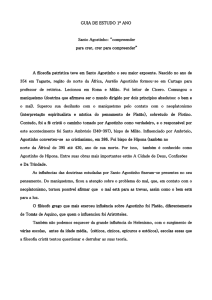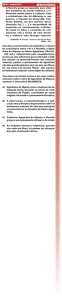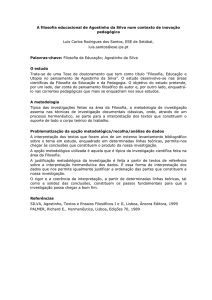92
O “caput religionis” no De uera religione de Agostinho de Hipona
Fabrício Klain Cristofoletti1
Resumo
Agostinho postula no De uera religione (v, 8) que a filosofia não é algo totalmente distinto da
religião, já que uma doutrina verdadeira deve implicar algum culto. É por essa razão que ele
procurou mostrar nos primeiros parágrafos do tratado, quase à maneira de um neoacadêmico,
por que há incoerência no politeísmo admitido pelos filósofos antigos, por que é mais
coerente a doutrina e o culto de um Deus único, por que a mediação entre o Deus único e o
homem é mais crível quando realizada por um mediador único e simultaneamente divino e
humano, e por que tudo isso está comprovado pela credibilidade das Escrituras e de certos
sinais, e reforçado pelo presente fato da expansão mundial dos cristãos. Contudo, como
Agostinho pretende mostrar que a filosofia verdadeira é somente aquela que está unida
especificamente à religião católica, já que a expansão dos cristãos ocorreu por meio da Igreja
católica (v, 9 – vii, 12), então o “fundamento da religião” (caput religionis) não pode ser
apenas a soma daquelas teses, mas deve envolver a crença em toda a história e profecia da
divina providência (De uera religione, vii, 13). De fato, o postulado da necessária unidade
entre filosofia e religião não estaria plenamente justificado se não fosse mostrado por que a
doutrina de um Deus único e da mediação universal por meio de um homem divino é coerente
e está em íntima unidade com a religião católica, o que só ocorre, porém, quando se crê em
todo o fundamento histórico e profético dessa religião.
Palavras-chave: Religião. Filosofia. Agostinho de Hipona (354 – 430 d.C.).
Que Agostinho tenha produzido um tratado “sobre a verdadeira religião”, o De uera
religione, isso não significa, porém, que se trate de algo diferente de uma obra filosófica. A
religião, isto é, a religação das almas a Deus, segundo a etimologia apresentada no parágrafo
1112, não é algo inteiramente distinto da filosofia, pois todo culto acaba por implicar alguma
1
Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), ex-bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no nível de Doutorado. Endereço eletrônico:
[email protected].
2
Diz Agostinho: “[…] tendemos ao único Deus, e só a Ele religamos nossas almas, donde se crê que se chame
religião” (ad unum Deum tendentes, et ei uni religantes animas nostras, unde religio dicta creditur; De uera
religione, lv, 111) – todas as traduções para o português são de nossa autoria, salvo menção em contrário.
Pieretti (2010, p. 21) situa a data de composição do De uera religione aproximadamente depois do retorno à
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
93
doutrina, como já se lê no parágrafo 8: “[…] não é uma coisa a filosofia, isto é, o estudo da
sabedoria, e outra a religião, uma vez que não aprovamos a doutrina daqueles que não
comungam dos sacramentos conosco.” (uera rel., v, 8).3
Isso não é, porém, apenas um postulado. Agostinho pretendeu mostrar, embora quase
à maneira neoacadêmica, ou seja, não pela evidência, mas pelo que é mais digno de se crer 4,
onde se encontra a perfeita unidade entre a filosofia e a religião, e o fez em três etapas.
Na primeira etapa (i, 1), argumenta-se que, dos antigos “filósofos” (philosophi),
considerados “sábios” (sapientes) pelos politeístas, nenhum conseguiu produzir uma doutrina
que fosse perfeitamente compatível com o culto dos vários deuses. De fato, embora todos os
filósofos seguissem a mesma religião, cada um sustentava uma doutrina diferente a respeito
dos deuses. Essa incoerência já é suficiente, portanto, para tornar o politeísmo pouco digno de
crença:
Não se discute agora quem deles pensou de modo mais verdadeiro, mas
certamente isso mostra de modo suficiente, o quando me parece, que em
religião sustentavam uma coisa com o povo, mas os mesmos, com o próprio
povo que os ouvia, defendiam outra privadamente. (uera rel., i, 1).5
África em 388 e antes da ordenação sacerdotal em 391, conforme as Retractationes (I, x, 1 – xiv, 1), com
término em 390, data da Epistola 15, na qual Agostinho informa Romaniano da finalização do tratado.
3
“[…] non aliam esse philosophiam, id est sapientiae studium, et aliam religionem, cum ii quorum doctrinam
non approbamus, nec Sacramenta nobiscum communicant.” (SANT'AGOSTINO, 1995, p. 30). O sintagma
communico sacramenta do parágrafo 8 é explicado por Anoz (2008, p. 288) do seguinte modo: “[…] o tom
pessoal da expressão, mediante a qual Agostinho mostra sua pertença ao grupo que os possuem ('conosco'),
indica que se trata dos sacramentos cristãos; em concreto, o batismo e a eucaristia.” De fato, no De moribus
Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum (I, xxxii, 69), os diuina sacramenta já apareciam com esse
significado litúrgico, relacionado aos “bispos, presbíteros, diáconos e ministros desse tipo” (episcopi;
presbyteri; diaconi et cuiuscemodi ministri). No De diuersis quaestionis octoginta tribus (61, 2) se usa, por
exemplo, a expressão sacramentum baptismatis. Quanto à data do De moribus, os monges beneditinos
maurinos que publicaram a edição Monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri (1679, vol. I,
colunas 687-716), julgaram que o De moribus foi escrito depois dos dois livros do De Genesi aduersus
Manichaeos (mor., I, i, 1) e que estes teriam sido compostos depois do retorno de Agostinho à África no final
de 388 (contrariando, nesse ponto, o relato das Retractationes, I, vii, 7), pelo que concluíram que o início do
De moribus teria ocorrido a partir dessa mesma data e que o término teria acontecido somente no início de 389
(PIERETTI, 1997, p. 4). Por outro lado, Decret retroage o início da redação a 387, durante a estada em Roma e
antes do retorno à África, e retarda a finalização ao período entre 389 e 390, devido à composição simultânea
do De quantitate animae e do De libero arbitrio (DECRET, 1970, p. 13, nota 6; 1991, p. 65, apud PIERETTI,
1997, p. 5). Já o De diuersis quaestionis octoginta tribus é datado de 388 por Brown (2005, Tabela cronológica
B).
4
Agostinho afirma no Contra Academicos (I, iii, 7) que a Nova Academia se resume em duas teses principais:
que tudo é incerto e que, por isso, deve-se suspender o assentimento. Agostinho não adere evidentemente a
essas duas posições; ao contrário, visa refutá-las no livro III com um discurso contínuo sobre a existência de
coisas verdadeiras, como as disjunções lógicas, o mundo enquanto soma do que é percebido, a matemática, as
sensações enquanto meras sensações etc. Contudo, sobre tudo o que ainda não se sabe verdadeiro, Agostinho
utiliza o método neoacadêmico para mostrar o que é mais plausível ou mais crível, já que conhecia o proceder
de Cícero. Esse antigo filósofo se filiava, de fato, à noua Academia (Academica posteriora, I, iv, 13;
Tusculanae disputationes, II, i-ii), pois buscava o que é credibile, também chamado por ele de uero simile
(Tusculanae disputationes, IV, xxi, 47), e procurava evitar, portanto, o que não é plausível (non probabile) e
“não crível” (non credibile; Academica priora, II, xxvi, 85).
5
“Non nunc agitur, quis eorum uerius senserit; sed certe illud satis, quantum mihi uidetur, apparet, aliud eos
in religione suscepisse cum populo, et aliud eodem ipso populo audiente defendisse priuatim.”
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
94
Na segunda etapa argumentativa (ii, 2 – iii, 3), o autor defende que, embora Sócrates e
principalmente Platão tivessem vislumbrado algumas verdades, sobretudo a de um Deus
único, a formulação dessa doutrina e a purificação do culto parecem adquirir perfeição
somente no cristianismo, pois caso exista uma mediação entre os homens e Deus, é mais
crível que o mediador seja único, divino e, ao mesmo tempo, humano, tal como os cristãos
acreditam ter sido historicamente Jesus Cristo.
Quanto a Sócrates, se ele jurava sobre uma pedra ou qualquer coisa que estivesse à
sua frente6, talvez essa atitude não fosse necessariamente uma superstição, mas uma crítica, se
bem que parcial, à religião grega, na medida em que mostrava que as coisas da natureza são
mais divinas do que os ídolos e os objetos religiosos confeccionados pelos homens. 7 Poder-seia perguntar, porém, por que Agostinho prefere interpretar que os objetos religiosos fossem
para Sócrates menos dignos de culto do que uma pedra. Contudo, Agostinho deixa claro que
sua opinião é pessoal pelo uso da palavra credo (uera rel., ii, 2). Por conseguinte, vale mais a
pena mostrar qual é o objetivo por trás desse exemplum uerosimile8: trata-se de mostrar a
possibilidade de que um filósofo do tempo de Sócrates poderia ter chegado à conclusão de
que os ídolos merecem menos honra do que uma pedra. Ora, existindo no politeísmo essa
contradição, isso enfraquece ainda mais, portanto, a credibilidade dessa religião.
Agostinho também informa que Sócrates “[…] admoestava de sua torpeza aqueles
que opinavam que o mundo visível fosse o supremo deus […]” (uera rel., ii, 2).9
Independentemente do aspecto moral dessa crítica socrática, isso certamente faz lembrar o
(SANT'AGOSTINO, 1995, p. 18).
6
Segundo Bochet (2004, p. 331), a fonte agostiniana desse relato sobre Sócrates é Lactâncio, Institutiones
diuinae, III, xx. Além disso, esse relato também se encontra em Tertuliano, Apologeticus aduersus gentes pro
christianis, xiv.
7
Diz Agostinho: “Creio que ele compreendia que quaisquer obras da natureza, as quais são geradas com o
governo da divina providência, são muito melhores do que as obras de quaisquer homens e, por isso, mais
dignas de honras divinas do que aquelas que são cultuadas nos templos.” (uera rel., ii, 2). “Credo, intellegebat
qualiacumque opera naturae, quae administrante diuina prouidentia gignerentur, multo quam hominum et
quorumlibet opificum esse meliora, et ideo dininis honoribus digniora, quam ea quae in templis colebantur.”
(SANT'AGOSTINO, 1995, p. 18).
8
“Exemplo verossímil” é um tipo de exemplum/παράδειγμα. O exemplum é um argumentum ou “prova”
(probatio) que consiste numa “recordação de um feito” (rei gestae commemoratio) transferido “do exterior
para a causa” (extrinsecus in causam), segundo a nomenclatura de Quintiliano (Institutio oratoria, V, xi, 6);
conferir: LAUSBERG, 2002, p. 196, n. 410. O exemplum só é do tipo verossímil quando é “verdadeiro para a
vida e plausível” (true for life and plausible), como afirma Lausberg (2002, p. 198, n. 414) baseando-se na
anônima e antiga Rhetorica ad Herennium (I, xiii), onde aparece que a narração, que também é uma
recordação, pode ser um argumentum fundamentado numa “ação ficta que, no entanto, poderia ter acontecido”
(RETÓRICA, 2005, p. 65). “[…] ficta res, quae tamen fieri potuit […]” (ID., ib., p. 64).
9
“[…] illos qui mundum istum uisibilem, summum deum esse opinabantur, admonebat turpitudinis suae […]”
(SANT'AGOSTINO, 1995, p. 18).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
95
Timeu de Platão, que Agostinho conhecia de modo superficial por meio de Cícero10, diálogo
em que Timeu e Sócrates concebem a ideia de um “deus supremo” (summus deus) superior ao
mundo sensível. A finalidade desse relato agostiniano é, mais uma vez, evidente: trata-se de
mostrar que até mesmo um politeísta como Sócrates tendia à ideia de um deus supremo,
superior até mesmo ao mundo sensível, ao contrário do que pensavam outros filósofos pagãos.
Para Agostinho, a incoerência dos filósofos antigos se torna ainda mais patente pelo fato de a
atitude de Sócrates ter permitido que muitos passassem a execrar (exsecrare) o culto a coisas
sensíveis e a “buscar o Deus único” (unum Deum quaerere; uera rel., ii, 2). Essa busca se
concretizou, de fato, em Platão, pois acerca do Deus único, “[…] que está sozinho acima das
nossas mentes e pelo qual toda alma e todo este mundo foi criado, depois escreveu Platão, de
modo mais suave para se ler do que vigoroso para persuadir.” (uera rel., ii, 2).11 Essa visão
agostiniana acerca de Platão parece estar em contradição, porém, com o Timeu12, no qual não
se afirma um Deus único, mas um deus supremo, o demiurgo, aquele que criou o deus que é o
mundo e o “gênero dos deuses”13, bem como os δαίμονας (“demônios”) que, por serem filhos
dos deuses, também são superiores às mentes dos homens 14. Contudo, a interpretação
agostiniana a respeito de Platão provavelmente está baseada numa passagem do diálogo De
natura deorum de Cícero (I, xii, 30-31), em que o epicureu Veleio censura a “inconstância”
(inconstantia) de Platão por ele ter sugerido no Timeu e nas Leis que, por um lado, o deus “pai
deste mundo” (pater huius mundi) não deve ser nomeado nem inquirido, mas que, por outro
lado, o mundo também pode ser chamado de deus, assim como o céu, a terra etc., de modo
que ali Sócrates aparece dizendo “[…] algumas vezes que há um único [Deus], mas depois
que há vários deuses […]” (nat. deor., I, xii, 31)15, atitude que também aparece no retrato que
Xenofonte fez de Sócrates. Portanto, provavelmente Agostinho interpretou aquela
inconstância de Platão como uma tentativa de conceber, ainda que de modo pouco
10
No diálogo Timeu, Sócrates parece aderir à teoria de Timeu acerca de um “demiurgo” (δεμιυργὸς; Τίμαιος,
29d), “criador e pai disso tudo” (ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς) (vi, 28b-29a), inclusive do mundo ou
cosmos (29a), embora este também seja um “deus” (θεὸς), dotado de “corpo” (σῶμα) e “alma” (ψυχὴ; viii,
34b). Durante a composição do De uera religione, Agostinho provavelmente sabia dessas ideias do Τίμαιος
pelo De natura deorum de Cícero (xii, 30-31). Para Courcelle, Agostinho só conhecia superficialmente o
Timeu, pois ainda que tivesse tido contato com a tradução ciceroniana, ele faz poucas citações (COURCELLE,
1948, p. 23). Ademais, essas citações só aparecem tardiamente (Τίμαιος, 40a-b é citado no De ciuitate dei,
XIII, xvi, 1; e Τίμαιος, 45 é citado no De Genesi ad litteram, VII, x, 15), cf.: CARVALHO, 2000, p. 293, n. 15.
11
“[…] quem solum supra mentes nostras esse, et a quo omnem animam et totum istum mundum fabricatum.
Postea suauius ad legendum, quam potentius ad persuadendum scripsit Plato.” (SANT'AGOSTINO, 1995, p.
18).
12
Tal contradição não foi investigada por Madec (1981) nem por Lössl (1994).
13
“θεῶν γένος” (Τίμαιος, xii, 39e), traduzido por Cícero com “diuinum” (Timaeus, x, 35).
14
Cf. Τίμαιος, xiii, 40d-e.
15
“[…] modo unum tum autem plures deos […]” (CICERO, 1967, p. 34).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
96
convincente, a ideia de um Deus único. 16 O mais importante para Agostinho, porém, é que
esse fato revela a menor credibilidade do politeísmo em comparação com a ideia de um Deus
único, a qual é essencial ao cristianismo e que será demonstrada racionalmente por Agostinho
nos parágrafos 46, 80 e 81 do De uera religione17.
É claro que Platão incidiu, porém, na mesma incoerência dos outros filósofos antigos,
pois certamente não abandonou o culto pagão, o qual, aliás, tampouco Sócrates recusou.18
Agostinho se exime de julgar, no entanto, se Sócrates e Platão persistiram nessa prática “por
temor ou por alguma consciência daqueles tempos” (timore an aliqua cognitione temporum).
De qualquer forma, o fato é que as posturas filosóficas de Sócrates e de Platão já contrariavam
e enfraqueciam a credibilidade do culto politeísta e idolátrico.
Além de entrever filosoficamente a ideia de um Deus único, Platão também é notável
por ter demonstrado algumas teses que foram retomadas pelos cristãos. Segundo Agostinho,
“se Platão estivesse vivo” (si Plato uiuerat), ele “persuadiria” (persuaderetur) qualquer
interlocutor de nove teses19, a saber:
1. A verdade só se vê com a mente purificada.
2. A alma torna-se feliz e perfeita quando adere à verdade.
3. Os prazeres e as falsas imagens provocam opiniões e erros.
4. O intelecto (animus) precisa ser curado.
5. O intelecto curado pode intuir a forma imutável dos entes.
6. O intelecto curado pode intuir a beleza sempre semelhante a si mesma, inteligível,
eterna, una, idêntica, verdadeira e suprema.
7. Os entes, na medida em que existem, foram criados por um deus eterno por meio de
sua verdade.
16
Esse vislumbre de Platão em relação a um Deus único, que contradiz as demais filosofias antigas, revela-se
como o motivo que estava pressuposto no primeiro parágrafo do De uera religione, pelo qual “se depreende de
modo mais evidente o erro” (euidentius error deprehenditur) daqueles que cultuam vários deuses.
17
Nos parágrafos 80 e 81, lê-se que a razão humana, ao constatar nas coisas a sua “ordenada proporção”
(ordinata conuenientia), pode apreender “a própria medida da ordem” (ipse ordinis modus), o “uno primário”
(unum principale), que é o “Pai” (pater).
18
Agostinho diz que Sócrates “venerava os ídolos” (uenerabat simulacra; uera rel., ii, 2). O contexto sugere
que Platão também fazia o mesmo.
19
No parágrafo 3, Agostinho imagina uma conversa sua com Platão, ou de Platão com um discípulo, nos
moldes de um “argumento de ficção” (καθ᾿ ὑπόθεσιν), isto é, “propor algo que, se for verdadeiro, ou resolve a
questão ou auxilia, e depois tornar isto, sobre o qual se questiona, similar àquele” (proponere aliquid, quod, si
uerum sit, aut soluat quaestionem aut adiuuet; deinde id, de quo quaeritur, facere illi simile; Quintiliano,
Institutio oratoria, V, x, 95). Quintiliano exemplifica sua definição com uma frase do Pro Caecina (55) de
Cícero, cf. Institutio oratoria, V, x, 98. Agostinho inclui nesse argumento, é claro, novamente um exemplum
uerosimile (sobre essa combinação retórica, cf.: LAUSBERG, 2002, p. 198, n. 141).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
97
8. Só as almas racionais e intelectuais podem contemplar a eternidade e merecer a vida
eterna.
9. O erro também provém do amor e da dor pelas coisas efêmeras, bem como dos
costumes da vida temporal.
Agostinho não explica, porém, por que essas teses são verdadeiras. Talvez seja
possível pesquisar, como fez De Plinval (1961) 20, as fontes platônicas de cada uma delas, ou
as citações e paráfrases platônicas que se acham nos escritos de Cícero que Agostinho leu, ou
ainda os vestígios platônicos de dois importantes diálogos agostinianos: o De immortalitate
animae21 e o De quantitate animae22. Todavia, é mais importante identificar o motivo pelo
qual Agostinho mencionou aquelas nove teses, a saber, a ostentação do elo que concilia a
filosofia platônica com o cristianismo, de modo a aumentar a credibilidade deste. Tal
entrelaçamento pode ser percebido, de fato, pela sequência do parágrafo 3, em que Agostinho
imagina um discípulo de Platão perguntando ao mestre se seria digno de honra divina um
homem que persuadisse a todos de que somente as almas purificadas dos prazeres e das
opiniões merecem a vida eterna e a contemplação da beleza superior e inteligível:
[…] se, caso existisse alguém, um homem grandioso e divino, que
persuadisse os povos de que tais coisas devem ser pelo menos acreditadas, se
não as pudessem compreender, e que, se as pudessem compreender,
envolvidos pelas opiniões deformadas da multidão, [persuadisse-os] para que
não fossem encobertos por erros vulgares, julgá-lo-ia digno de honras
divinas […] (uera rel., iii, 3).23
É claro que se trata de uma questão que Platão não se colocou. No entanto, o objetivo
de Agostinho é mostrar que um discípulo de Platão poderia ter feito essa pergunta, de modo
que se trata de uma hipótese que o platonismo pode considerar. Não é o caso de indagar,
20
Segundo De Plinval (1961, p. 313, nota 6), o parágrafo 3 do De uera religione oferece um resumo do
“método de ascese e de dialética” (Méthode d'ascèse et de dialectique) do Fédon (63e-68b), pelo qual a alma
se distancia dos sensíveis, dos prazeres e das dores para ascender à verdade, a qual poderá ser eternamente
contemplada após a morte corporal. De Plinval também sugere que ideias parecidas também estão presentes na
República, no Fedro e no Banquete, em passagens possivelmente mencionadas ou mesmo parafraseadas por
Cícero no Hortensius, no De legibus e no De consolatione, escritos que certamente eram do conhecimento de
Agostinho, mas dos quais só sobreviveram fragmentos.
21
O De immortalitate animae foi redigido no retorno a Milão, portanto entre 387 e 388 (retr., I, v, 1). A data de
387 é sugerida por Brown (2005, Tabela cronológica B).
22
O De quantitate animae foi composto em Roma, após o batismo em Milão e antes da volta à África, de
modo que é datado do ano 388 (retr., I, viii, 1), cf. Brown (2005, Tabela cronológica B).
23
“[…] utrum si quisquam exsisteret uir magnus atque diuinus, qui talia populis persuaderet credenda saltem,
si percipere non ualerent, ut si qui possent percipere, non prauis opinionibus multitudinis implicati uulgaribus
obruerentur erroribus; eum dininis honoribus dignum indicaret […]” (SANT'AGOSTINO, 1995, p. 20, 22).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
98
porém, qual platônico teria posto historicamente tal questão, mas de cogitar qual teria sido a
melhor resposta de Platão:
[…] creio que ele responderia que isso não pode ser feito por um homem, a
não ser talvez por alguém que, retirado da própria natureza das coisas pela
própria Virtude e Sabedoria de Deus, não com um ensinamento humano, mas
iluminado desde o berço com íntima iluminação, Ela o honrasse com tanta
graça, fortalecesse com tanta firmeza e depois conduzisse com tanta
majestade; de modo que, desprezando tudo o que os homens perversos
desejam, suportando tudo o que temem, fazendo tudo o que admiram, ele
convertesse o gênero humano para a salubre fé com supremo amor e
autoridade. Sobre as honras devidas a ele, porém, em vão se perguntou,
quando facilmente se pode imaginar quantas honras são devidas à Sabedoria
de Deus […] (uera rel., iii, 3).24
Desse modo, que um homem divino seja capaz de persuadir todos os homens, seja
pela “autoridade” (auctoritas), para aqueles que não podem compreender a “sabedoria”
(sapientia), seja pela própria sapientia, para aqueles que talvez possam compreendê-la
diretamente, esse mediador universal não é somente uma hipótese, mas a possibilidade mais
crível do ponto de vista platônico. Contudo, a formulação agostiniana da resposta já visa
indicar um passo a mais, a saber: dada a possibilidade de um homem divino, é crível que tal
mediador universal seja Jesus Cristo. Isso pode ser claramente notado pelo uso da expressão
“retirado da natureza das coisas pela Virtude e Sabedoria de Deus”, pois Paulo usa o binômio
“Virtude de Deus e Sabedoria de Deus” (Dei uirtus et Dei sapientia; 1Cor., 1:22-24) para se
referir precisamente a Cristo, aquele que, “[…] embora constituído da forma divina, não
considerou uma conquista a sua igualdade com Deus, mas esvaziou a si mesmo aceitando a
forma de servo à semelhança dos homens […]” (Epístola aos Filipenses, 2:6-7).25
Por mais que um desdobramento do platonismo possa indicar, portanto, a
credibilidade do cristianismo, é evidente que Agostinho ainda não forneceu, porém, o motivo
24
“[…] responderet, credo, ille, non posse hoc ab homine fieri, nisi quem forte ipsa Dei Virtus atque Sapientia
ab ipsa rerum natura exceptum, nec hominum magisterio, sed intima illuminatione ab incunabulis illustratum,
tanta honestaret gratia, tanta firmitate roboraret, tanta denique maiestate subueheret, ut omnia contemnendo
quae praui homines cupiunt, et omnia perpetiendo quae horrescunt, et omnia faciendo, quae mirantur, genus
humanum ad tam salubrem fidem summo amore atque auctoritate conuerteret. De honoribus uero eius frustra
se consuli, cum facile possit existimari, quanti honores debeantur Sapientiae Dei […]” (SANT'AGOSTINO,
1995, p. 22).
25
“[…] cum in forma Dei constitutus, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo 6 sed semet ipsum
exinaniuit formam serui accipiens, in similitudinem hominum factus […]7” (BIBLIORUM, 1751, vol. III, p.
817). Como somente um homem divino seria capaz de convencer todos os homens, quer pela sabedoria, quer
pela autoridade, é por essa razão que Agostinho havia dito que Sócrates e Platão “[…] não nasceram de tal
modo que convertessem seus povos da opinião para o verdadeiro culto do verdadeiro Deus.” (uera rel., ii, 2).
“Non […] sic […] nati erant, ut populorum suorum opinionem ad uerum cultum ueri Dei […] conuerterent.”
(SANT'AGOSTINO, 1995, p. 18).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
99
decisivo pelo qual um filósofo, até mesmo platônico, deva considerar o cristianismo a religião
de maior credibilidade.
É na terceira etapa argumentativa (iii, 4 – iii, 5), portanto, que Agostinho deverá
mostrar por que o cristianismo não é somente crível, mas é a crença preferível: “[…] nos
tempos cristãos não se deve pôr em dúvida qual religião deva ser sustentada preferivelmente e
qual seja a via para a verdade e a felicidade.” (uera rel., iii, 3).26 Isso é elucidado pela extensa
frase que se estende do parágrafo 4 ao 5, marcada pela estrutura “se x, por que ainda y?” (si…
quid adhuc…?), onde os dois primeiros elementos27 tornam ainda mais críveis aquelas duas
possibilidades cabíveis no platonismo, a de um homem divino e a de sua persuasão e
mediação universal, a primeira pela credibilidade dos livros e dos sinais relativos à divindade
de Jesus Cristo, que é a encarnação do “Verbo de Deus” (Dei uerbum), e a segunda pelo
processo histórico da ampliação da autoridade e da sabedoria de Cristo por todo o mundo:
Essas [possibilidades], se foram realizadas, se com letras e sinais são
celebradas, se de uma única região da terra, única em que se cultuava um
Deus único e onde convinha nascer aquele [homem divino], homens eleitos,
enviados por toda a superfície da terra, com virtudes e discursos incitaram o
incêndio do amor divino, se, confirmada a mais salubre disciplina, deixaram
iluminadas as terras para os posteriores, para não falar do passado, o qual é
lícito a alguém não crer, se hoje pelas nações e pelos povos se diz: “No
princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e Deus era o Verbo:
este estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada
foi feito” [Evangelho segundo João, 1:1-3] […], por que ainda abrimos a
boca à bebedeira do passado e indagamos dizeres divinos nos animais
sacrificados […]? (uera rel., iii, 4-5).28
Contra os pagãos e os judeus, referidos de modo implícito sob as expressões
“bebedeira” e “animais sacrificados”, Agostinho utiliza a credibilidade de certos sinais 29 e
26
“[…] christianis temporibus quaenam religio potissimum tenenda sit, et quae ad ueritatem ac beatitudinem
uia, non esse dubitandum.” (SANT'AGOSTINO, 1995, p. 20).
27
Esses dois elementos são aludidos por Lössl (1994, p. 82): “Vera rel., i, 1 (1) - x, 20 (57) diz o que eles [, os
platonistas,] precisaram para completar sua conversão ao cristianismo: um conceito teológico histórico de
Deus presente no mundo (in una regione terrarum) e um guia (uir diuinus) para o povo (catholica) no
caminho (via, iter).”
28
“Quae si facta sunt, si litteris monumentisque celebrantur, si ab una regione terrarum, in qua sola unus
colebatur Deus, et ubi talem nasci oportebat, per totum orbem terrarum missi electi uiri, uirtutibus atque
sermonibus diuini amoris incendia concitarunt; si confirmata saluberrima disciplina, illuminatas terras
posteris reliquerunt; et, ne de praeteritis loquar, quae licet cuique non credere, si hodie per gentes populosque
praedicatur: In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum: hoc erat in principio
apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil […], quid adhuc oscitamus crapulam
hesternam, et in mortuis pecudibus diuina eloquia perscrutamur […]?” (SANT'AGOSTINO, 1995, p. 22, 26).
29
Com o termo “sinais” se traduz “monumenta”, palavra ligada ao verbo “moneo” (admoestar, avisar), que
indica tudo o que envolve um sinal, um aviso, uma lembrança. De modo mais preciso, Agostinho talvez se
refira a monumentos de Israel, já que se trata da região em que Jesus nasceu, como a basílica de Jerusalém, a
qual o imperador romano Constantino I mandou construir em 325 ou 326 perto do calvário e da cripta de
Jesus, e a Igreja de Belém, ereta com seu patrocínio entre 327 e 333 no local da gruta em que Jesus teria
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
100
livros, como os Evangelhos, para tornar preferível, portanto, a crença na divindade de Jesus
Cristo. Ademais, a crença histórica na divindade de Jesus não contradiz, para Agostinho, a
verdade da ideia de um Deus único, pois se convinha que o mediador nascesse em Israel, a
única terra em que se adorava o Deus único, deve-se afirmar que Jesus é Deus, pois não pode
ser um deus separado do Deus único.
Em segundo lugar, a mediação universal por Cristo é preferível tendo em vista a
expansão mundial do cristianismo, a qual, por ser um fato do presente vivido por Agostinho,
aparece-lhe como uma crença de maior dignidade, diferentemente de um evento “passado”
(praeteritus), no qual “é lícito a alguém não crer” (licet cuique non credere). Desse modo, a
credibilidade da mediação universal de Cristo mostra-se como a mais forte, pois está
relacionada a uma crença que concerne ao presente.
Em terceiro lugar, o crescimento mundial do cristianismo não somente torna mais
crível a mediação universal de Jesus Cristo, como também revela estar “consolidada”
(confirmata) a disciplina dos apóstolos e bispos pela qual eles “deixaram as terras
iluminadas” (illuminatas terras reliquerunt; uera rel., iii, 4). E isso também reforça, é claro, a
crença principal dessa disciplina: a divindade de Jesus Cristo. Esse tipo de confirmação pode
ser definido, portanto, como o aumento da credibilidade de uma crença primária referente ao
passado pela credibilidade maior de uma crença relativa ao presente.
A esses argumentos, Agostinho agrega, na sequência do texto, valores morais que
podem ser vistos nos cristãos e que visam consolidar, por conseguinte, a maior dignidade
tanto da credibilidade da expansão do cristianismo quanto da crença da divindade de Cristo.
Agostinho ainda não explicou, porém, por que deve haver uma perfeita coerência
entre a filosofia e a religião e por que tal harmonia só se encontra realizada na religião
católica, conforme o seu dizer:
[…] nem na confusão dos pagãos, nem na imundícia dos heréticos, nem
na fraqueza dos cismáticos, nem na cegueira dos judeus deve ser procurada a religião, mas somente entre os únicos que são denominados cristãos
católicos ou ortodoxos, isto é, aqueles que guardam a inteireza e seguem
o que é correto. (uera rel., v, 9).30
nascido. Sobre a Basílica de Jerusalém, cf. Eusébio de Cesareia (c. 260/5 – 339/40), Vita Constantini (Vida de
Constantino), III, xxvi-xl, obra escrita entre 325 e 339/40; cf. o anônimo Itinerarium Burdigalense (Itinerário
de Bordeaux), escrito entre 333 e 334. Quanto à Igreja de Belém, cf. Vita Constantini, III, xli-xliii. Justino, o
mártir (100 – 165), em seu Diálogo com Trifão, já relatava que Jesus havia nascido numa gruta perto de Belém
(Προς Τρύφωνα Ιουδαίον Διάλογος, lxxviii). Orígenes (184/5 – 253/4) precisa que essa gruta era um local de
adoração (Contra Celsum, I, li).
30
“[…] neque in confusione Paganorum, neque in purgamentis haereticorum, neque in languore
schismaticorum, neque in caecitate Iudaeorum quaerenda est religio, sed apud eos solos, qui Christiani
catholici, uel orthodoxi nominantur, id est integritatis custodes et recta sectantes.” (SANT'AGOSTINO, 1995,
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
101
De fato, esse ponto é ainda mais complexo e exige outra argumentação, ainda que do
mesmo tipo, ou seja, quase à maneira neoacadêmica, pelo que é mais crível. Com efeito, é
somente no final do parágrafo 12 que se acha um argumento mais direto: a expansão mundial
do cristianismo que se constata no presente não se deu por meio de outras vertentes cristãs,
mas pela Igreja católica, isto é, universal (καθολική), como reconhecem os próprios
cismáticos e heréticos:
[…] nós devemos sustentar a religião cristã e a comunhão da sua Igreja, que
é a católica e é denominada católica não somente pelos seus, mas também
por todos os seus inimigos. Pois queiram ou não, os próprios heréticos e os
pupilos dos cismas, não quando falam com os seus, mas com estranhos,
chamam de católica somente a católica. Pois não podem ser compreendidos
a não ser que a distingam com esse nome, com o qual é nomeada por toda a
terra. (uera rel., vii, 12).31
É evidente, porém, que o fundamento da religião católica não pode estar restrito ao
argumento da credibilidade da expansão do cristianismo através da Igreja católica. Se a
religião católica deve ser distinguida não somente dos cismáticos, mas também dos heréticos,
o fundamento deve ser mais complexo. É por isso, então, que Agostinho precisa estabelecer
como fundamento da religião católica toda a história e toda a profecia da divina providência,
pois somente isso poderia ser chamado, de fato, de “caput” da religião católica:
O fundamento dessa religião a ser seguida é a história e a profecia da
distribuição temporal da providência divina para a salvação do gênero
humano a ser reformado e reparado na vida eterna. Quando essas forem
cridas [...] (uera rel., vii, 13).32
p. 32).
31
“[…] tenenda est nobis christiana religio, et eius Ecclesiae communicatio quae catholica est, et catholica
nominatur, non solum a suis, uerum etiam ab omnibus inimicis. Velint nolint enim ipsi quoque haeretici, et
schismatum alumni, quando non cum suis, sed cum extraneis loquuntur, catholicam nihil aliud quam
catholicam uocant. Non enim possunt intellegi nisi hoc eam nomine discernant, quo ab uniuerso orbe
nuncupatur.” (SANT'AGOSTINO, 1995, p. 36).
32
“Huius religionis sectandae caput est historia et prophetia dispensationis temporalis diuinae prouidentiae,
pro salute generis humani in aeternam uitam reformandi atque reparandi. Quae cum credita fuerit […]”
(SANT'AGOSTINO, 1995, p. 36). No De moribus, cujo objetivo não é fundamentar a religião, mas repudiar
os costumes dos maniqueus opondo-os à moral católica, Agostinho já sustentava que toda discussão sobre
religião deveria principiar, de preferência, pela crença no Antigo Testamento e no Novo Testamento, bem como
nos eventos históricos e nas profecias da divina providência, inclusive no domínio católico sobre todos os
povos: “O que de mais benéfico, de mais liberal pode ser dito do que a divina providência […]? Que
certamente seja tão belo, tão grandioso, tão digno de Deus, tão, enfim, verdadeiro aquilo que se busca, de
nenhum modo poderemos entender se não começarmos pelas coisas humanas e [mais] próximas. Com a fé e os
preceitos da verdadeira religião conservados, não desertaremos da via que Deus aplainou para nós com a
escolha dos patriarcas, com o vínculo da Lei, com o presságio dos profetas, com o sacramento do Homem que
foi assumido, com o testemunho e o martírio de sangue dos apóstolos, e com a dominação dos povos. Por isso,
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
102
Portanto, sem a crença na história e na profecia da divina providência, seja durante a
época dos patriarcas e dos profetas, seja durante a era cristã, não há como fundamentar, de
fato, a religião católica, pois só se crê na mediação universal de Cristo na medida em que a
sua encarnação foi profetizada, realizou-se na história e está associada, de modo exclusivo, à
Igreja católica. Eis o “caput religionis”.
Quanto à questão, porém, sobre o modo como Agostinho pode mostrar quais são
exatamente os fatos e profecias mais dignos de crença, ou mais plausíveis, isso constitui,
porém, um assunto que deve ser pesquisado para além do De uera religione.33
Referências
ANOZ, J. Ensenãnzas de san Agustín laico y presbítero sobre los sacramentos, Augustinus,
Madrid, vol. 53, pp. 281-308, 2008.
BIBLIORUM Sacrorum Latinae Versiones Antiguae: seu, Vetus Italica, et caeterae
quaecunque in codicibus mss. & antiquorum libris reperiri potuerunt: quae cum Vulgata
Latina, & cum Textu Graeco comparantur (Volume III). Paris: F. Didot, 1751 (Obra e estudo
de Pièrre Sabatier).
BOCHET, I. "Le firmament de l'écriture." L'herméneutique augustinienne. Paris: Institut
d'Études Augustiniennes, 2004.
BONNAMOUR, J. et al. (org.). Les cahiers de Fontenay. Néoplatonisme: Mélanges offerts à
Jean Trouillard. Paris: E.N.S., 1981.
BROWN, P. [1967]. Santo Agostinho: uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 2005.
CARVALHO, M. S. de. Presenças do platonismo em Agostinho de Hipona (354-430) (Nos
1600 anos das “Confissões”), Revista filosófica de Coimbra, Coimbra, pp. 289-307, 2000.
CICERO. De natura deorum. Academica. Tradução de H. Rackham. Cambridge (Mass.),
Londres: Harvard University Press, W. Heinemann Ltd., 1967 (Edição bilíngue).
CRISTOFOLETTI, F. K. História e profecia como fundamento filosófico-religioso na
pregação de Agostinho, presbítero de Hipona. Tese (Doutorado em Filosofia). Universidade
de São Paulo. São Paulo, 2015.
ninguém me pergunte doravante minha opinião, mas, antes, ouçamos os oráculos e submetamos nossas
pequenas razões às palavras divinas.” (mor., I, vii, 12). “Quid beneficentius, quid liberalius diuina prouidentia
dici potest […]? Quod quidem quam sit pulchrum, quam magnum, quam Deo dignum, quam postremo id quod
quaeritur uerum, nequaquam intelligere poterimus nisi ab humanis et proximis incipientes. Verae religionis
fide praeceptisque seruatis non deseruerimus uiam quam nobis Deus et Patriarcharum segregatione et Legis
uinculo et Prophetarum praesagio et suscepti Hominis sacramento et Apostolorum testimonio et martyrum
sanguine et gentium occupatione muniuit. Quare deinceps nemo ex me quaerat sententiam meam, sed potius
audiamus oracula nostrasque ratiunculas diuinis submittamus affatibus.” (SANT'AGOSTINO, 1997, p. 34).
33
Sobre esse ponto, cf. a nossa tese de Doutorado, da qual este trabalho decorre: CRISTOFOLETTI, 2015.
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
103
COURCELLE, P. Les lettres grècques en Occident, de Macrobe à Cassiodore. Paris: Ed. de
Boccard, 1948.
DECRET, F. Aspects du manichéisme dans l'Afrique romaine. Les controverses de
Fortunatus, Faustus et Felix avec saint Augustin. Paris: Études Augustiniennes, 1970.
. De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, livre II. In:
SETTIMANA Agostiniana Pavese. “De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus
Manichaeorum”, “De quantitate animae”. Palermo: Ed. Augustinus, 1991.
DE PLINVAL, G. Anticipations de la Pensée Augustinienne dans l'Oeuvre de Platon,
Augustinianum, Roma, Collegium Internationale Augustinianum, vol. I, fasc. 2, pp. 310-326,
1961.
DI PALMA, G. (Org.). Deum et animam scire cupio. Nápoles: Pontificia Facoltà Teologica
dell'Italia Meridionale, 2010.
LAUSBERG, H. Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study. Leiden:
Brill, 2002.
LÖSSL, J. The One (unum): A Guiding Concept in De uera religione: An Outline of the Text
and the History of Its Interpretation, Revue des Études Augustiniennes, Paris, vol. 40, pp. 79103, 1994.
MADEC, G. Si Plato viveret... (Augustin, De Vera Religione, 3.3). In: BONNAMOUR, J. et
al. (org.). Les cahiers de Fontenay. Néoplatonisme: Mélanges offerts à Jean Trouillard. Paris:
E.N.S., 1981, pp. 231-247.
MONACHORUM ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri. Paris: Franciscus Muguet,
1679.
PIERETTI, A. Introduzione. In: SANT'AGOSTINO. Polemica con i Manichei, XIII/1. I
costumi della chiesa cattolica e i costumi dei Manichei. Le due anime. Disputa con Fortunato.
Natura del bene. Roma: Città Nuova, 1997.
. La vera filosofia come vera religione. In: DI PALMA, G. (Org.). Deum et animam
scire cupio. Nápoles: Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, 2010, pp. 21-42.
RETÓRICA a Herênio. Tradução de A. P. C. Faria e A. Seabra. São Paulo: Hedra, 2005.
SANT'AGOSTINO. La vera religione, VI/1. La vera religione. Utilità del credere. La fede e il
simbolo. La fede nelle cose che non si vedono. Intr., trad. e notas de A. Pieretti. Roma: Città
Nuova, 1995 (Testo latino dell'edizione Maurina confrontato con il Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417
104
. Polemica con i Manichei, XIII/1. I costumi della chiesa cattolica e i costumi dei
Manichei. Le due anime. Disputa con Fortunato. Natura del bene. Roma: Città Nuova, 1997
(Testo latino dell'Edizione Maurina confrontato con il Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum).
Anais do Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
2015 / 11ª edição
ISSN (Digital): 2358-7334
ISSN (CD-ROM): 2177-0417