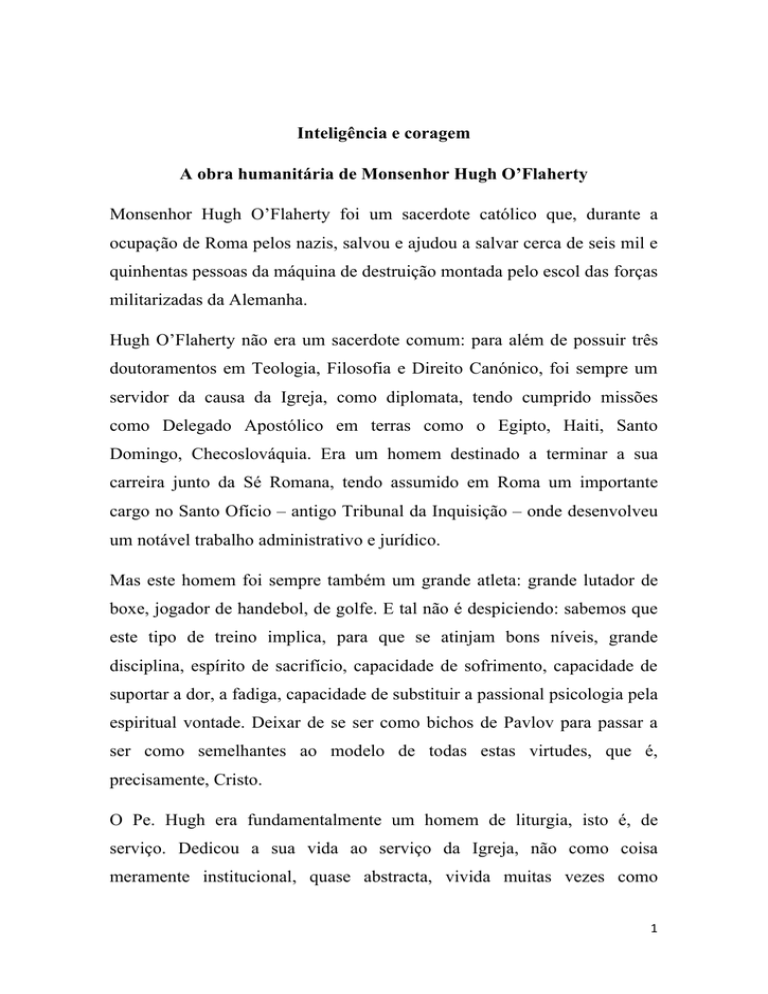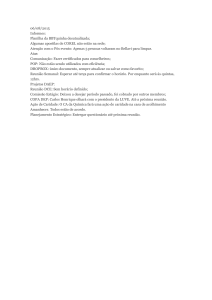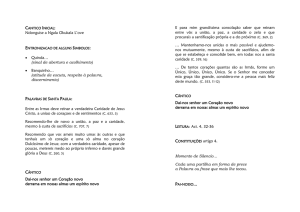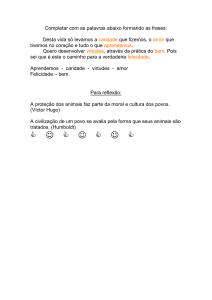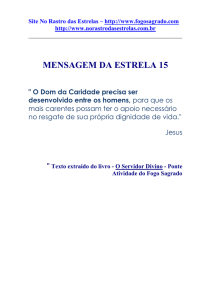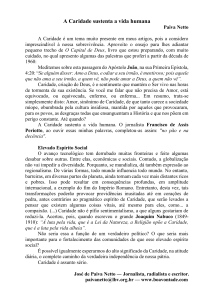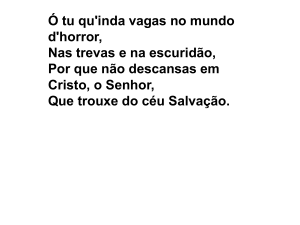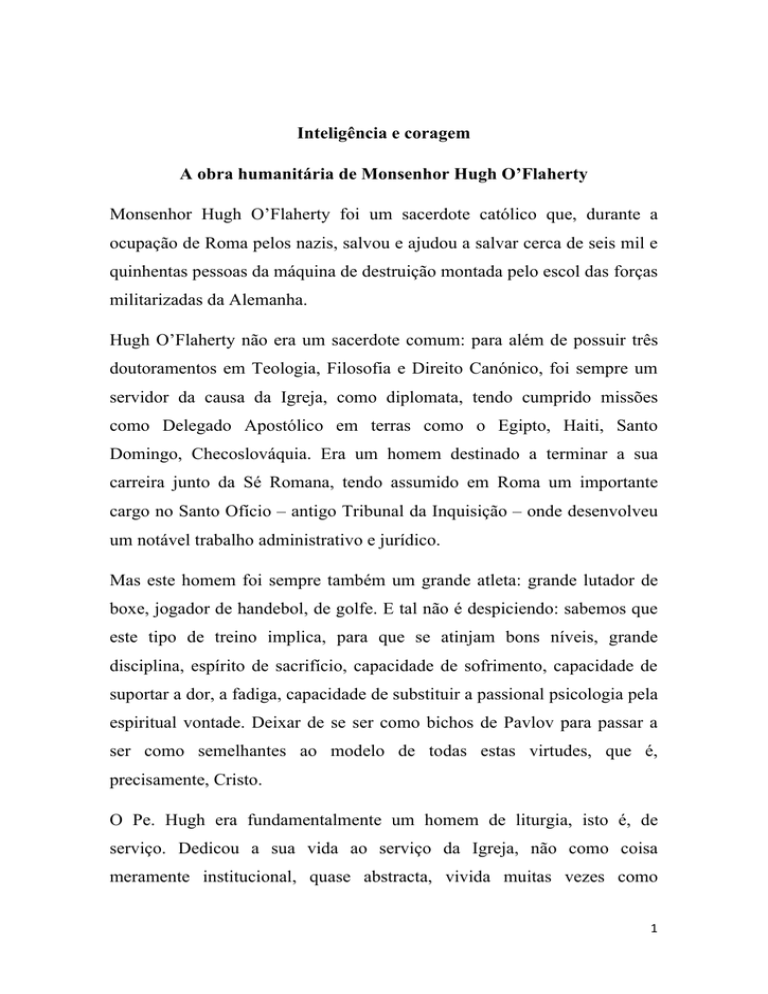
Inteligência e coragem
A obra humanitária de Monsenhor Hugh O’Flaherty
Monsenhor Hugh O’Flaherty foi um sacerdote católico que, durante a
ocupação de Roma pelos nazis, salvou e ajudou a salvar cerca de seis mil e
quinhentas pessoas da máquina de destruição montada pelo escol das forças
militarizadas da Alemanha.
Hugh O’Flaherty não era um sacerdote comum: para além de possuir três
doutoramentos em Teologia, Filosofia e Direito Canónico, foi sempre um
servidor da causa da Igreja, como diplomata, tendo cumprido missões
como Delegado Apostólico em terras como o Egipto, Haiti, Santo
Domingo, Checoslováquia. Era um homem destinado a terminar a sua
carreira junto da Sé Romana, tendo assumido em Roma um importante
cargo no Santo Ofício – antigo Tribunal da Inquisição – onde desenvolveu
um notável trabalho administrativo e jurídico.
Mas este homem foi sempre também um grande atleta: grande lutador de
boxe, jogador de handebol, de golfe. E tal não é despiciendo: sabemos que
este tipo de treino implica, para que se atinjam bons níveis, grande
disciplina, espírito de sacrifício, capacidade de sofrimento, capacidade de
suportar a dor, a fadiga, capacidade de substituir a passional psicologia pela
espiritual vontade. Deixar de se ser como bichos de Pavlov para passar a
ser como semelhantes ao modelo de todas estas virtudes, que é,
precisamente, Cristo.
O Pe. Hugh era fundamentalmente um homem de liturgia, isto é, de
serviço. Dedicou a sua vida ao serviço da Igreja, não como coisa
meramente institucional, quase abstracta, vivida muitas vezes como
1
abstracta, mas ao serviço da Igreja de carne, isto é, do Povo de Deus, que é
constituído por todos os crentes, desde o seu chefe máximo, o Papa, até ao
que for o menos mundanamente honrado, que, aos olhos de Deus e,
portanto, também aos nossos, aqui, nunca pode ser dito como o menos
digno ou o menos importante.
Mas o entendimento que Hugh tem da tarefa da Igreja e, deste modo, da
sua própria tarefa transcende a eclésia entendida deste modo: a tarefa da
Igreja é católica, quer dizer, universal, transcendental a toda a humanidade,
pois toda ela é «de Deus», independentemente de o reconhecer ou não.
Hugh reconhece-o e faz sua a tarefa de levar os meios de humana salvação
a quem deles necessitar. Mas este Padre sabe que a humana salvação só é
possível porque é obra de Deus, mas sabe também que Deus não opera
magicamente, servindo-se da carne litúrgica dos seus filhos para o bemfazer aos seus filhos, quaisquer sejam, pois a vontade salvífica de Deus é
absoluta, universal, gratuita, sem condições que não o amor: amor para
com Deus, que tem de necessariamente passar pelo amor para com as
criaturas de Deus, particularmente para com as criaturas humanas,
especialmente queridas.
Usámos o termo «católico» e este termo, no seu significado matricial de
«universal», de «kath-holon», de «segundo o todo» vai assumindo para nós
um especial sabor de bondade à medida que vamos estudando estes temas
relacionados com a cooperação humana com Deus para a salvação – em
muitos modos – dos seres humanos. A matriz católica da liturgia da graça
salvífica marca a acção de três grandes homens – são os que até agora
estudámos, há muitos mais e de confissão não-católica, mas não é da
confissão que aqui se trata – que actuaram liturgicamente nesta época,
neste meio de universal morte, em benefício de uma metamorfose para um
novo mundo de vida.
2
A matriz de vontade divina de salvação universal que o catolicismo é
marcou-os com uma latitude antropológica não muito comum para a época,
de grande vínculo etnocêntrico e nacionalista ou internacionalista, de tipo
fascista, fosse segundo a matriz clássica italiana ou segundo as derivações
nazi e comunista de tipo soviético. A matriz católica é, paulinamente, serva
de todos, independentemente das suas características secundárias,
interessando apenas que em cada ser humano há uma entidade feita à
imagem e semelhança de Deus. Apenas isto interessa, apenas isto é
merecedor de atenção e de respeito fundamentais.
De nada interessa catolicamente se o ser humano é mais ou menos escuro,
circuncidado, baixo ou alto, muito ou pouco pecador, dado que o são todos,
mas que é uma pessoa, sempre amável como tal, amável humanamente
porque
paradigmaticamente
amada
por
Deus.
Universalmente,
catolicamente. Ser católico, é participar desta e nesta acção amante de Deus
para com as suas criaturas.
Os católicos, como todos os outros seres humanos, são imperfeitos,
relativamente a Deus, e pecadores. Os nossos três católicos servos do bem
humano são todos pecadores. Por exemplo, Schindler era um inveterado
mulherengo, não se importando com o sofrimento que causava; Sousa
Mendes, católico devoto, não se inibiu de ter uma amante; O’Flaherty
odiou os britânicos que oprimiram o seu povo.
Para todas estas imperfeições, podemos encontrar justificações, mais ou
menos especulativas. Mas todas não relevam a imperfeição e o pecado.
No entanto, se tivermos em consideração o bem feito por estes homens
imperfeitos, as suas imperfeições resultam não só muito relativas, como,
pelo facto de terem sido capazes de, apesar delas, realizar bens imensos,
ajudam a exaltar tais bens, precisamente porque foram feitos não por
3
deuses artificialmente postos em cena, mas por entes humanos comuns,
tomados por uma paixão e um amor incomuns. Entre os três, salvaram
cerca de quarenta mil pessoas.
Pessoas: eis o ponto fulcral, o ponto «católico», pois o ponto universalista.
Não salvaram os da sua laia, não salvaram segundo protocolos formais,
apenas aplicaram à espécie humana que se lhes expunha o mandamento
católico do amor. Sem esta forma católica, teriam estes homens tido o
sentido não-preconceituoso que tiveram?
No caso do nosso Monsenhor, o sentido da catolicidade da salvação é
levado ao extremo, pois, mesmo obrigando o tirano nazi Kappler, chefe da
Gestapo em Roma, a sofrer amargamente o novo sabor da angústia da
possível perda dos que amava, aquando da chegada dos Aliados à cidade –
e, sim, estas pessoas são capazes de amar –, não deixou Hugh de salvar a
mulher e os filhos daquele.
Aliás, num filme que lhe é dedicado,1 o Monsenhor trabalha muito bem o
que estava de fundamental em causa, pois, quando Kappler pede para que
Hugh salve os seus familiares e este recusa, lembrando o mal que o tiranete
tinha feito e mandado fazer, este insulta-o, bem como à Igreja, dizendo que,
no fundo, é tudo igual e que não há caridade, amor, Deus.
Quando percebe, mais tarde, que, afinal, o Monsenhor tinha feito chegar a
bom porto a família, intuiu que nem tudo é igual, que há quem seja
diferente nos actos, mesmo que use palavras duras. Mas são palavras que
servem para despertar as bestas, para as fazer cair no abismo da sua
maldade, sem o que, sem esta autêntica passagem pelo inferno espiritual do
mal, não pode haver conversão, pois, sem a quebra substancial da estupidez
1
LONDON Jerry, The scarlet and the black, produção de Bill McCutchen, argumento de David Butler,
com: Gregory Peck, Christopher Plummer, John Gielgud, ITC Entertainment Productions,
MCMLXXXVIII.
4
que constitui o bloqueio que torna a bondade invisível, não pode haver
reconhecimento de tal bondade, não pode haver arrependimento substancial
– não apenas verbal ou psicológico –, não pode haver conversão, conversão
que coincide com a própria salvação, pois é, já, aceitação de Deus.
O ápice da acção litúrgica de Hugh, historicamente irónico, mas ética e
religiosamente (teologicamente, até) perfeito, aconteceu quando, quinze
anos mais tarde, em 1959, Kappler acaba por receber o baptismo, depois de
se ter convertido. Desde a sua prisão, todos os meses, Hugh foi a única
pessoa que visitou o antigo monstro, assim providenciando não uma lição,
mas, mais uma vez, uma liturgia de caridade, de misericórdia.
No especial ano da misericórdia que estamos a viver, a obra do Pe.
O’Flaherty é um monumental testemunho do que pode ser e é o trabalho de
misericórdia, sem o qual não há salvação quer de inocentes quer de nãoinocentes.
A obra de Hugh é uma obra completa segundo a dinâmica e o movimento
da caridade: tendo em si um dom de extraordinária virtude, soube este
Padre ser digno de tal dom, pondo-o a frutificar esplendorosamente em
favor do católico bem da humanidade. Tanto quanto podia e podia muito. E
muito realizou. Soube apresentar ao dador dos talentos grandes lucros.
Hugh pecador tem em si um manancial de virtudes, mais, é exemplo
paradigmático do septenário das virtudes.
Temperança, que aprendeu a usar com os britânicos inicialmente odiados,
mas também com os nazis e fascistas, talvez já não odiados, mas de quem
teve de presenciar actos, esses sim odiosos, sem se deixar levar pela paixão,
sob pena de tudo deitar a perder, como chefe que era de uma organização
vasta de apoio a vítimas e possíveis vítimas. Durante muito tempo, a sua
cabeça esteve a prémio e a Gestapo tudo fez para o apanhar, prender,
5
torturar e matar. O seu domínio temperante de si próprio libertou-o de um
destino terrível e ajudou milhares de outros a também de tal se libertarem.
A coragem era um de seus fortes. Desde muito novo, assim foi, tendo sido
criado num ambiente político em que a cobardia e a temeridade matam
precocemente. Mas Hugh era mestre no uso da força interior, sabendo
muito bem até onde ir, se bem que, muitas vezes, a sua acção fosse vista
como temerária por quem não o conhecia suficientemente. É claro que uma
pessoa que não tivesse a sua formação, física e intelectual, não poderia
expor-se do modo como muitas vezes se expunha, mas as suas capacidades,
desde sempre trabalhadas, constituíram uma mediação preciosa.
Por outro lado, sem a força interior que possuía, não teria conseguido ser
tão bom em tudo como era. Mas a vida não é boa para os cobardes e é curta
para os temerários. É também a coragem isso que dá força ao ser humano
para ser temperante: diante de certas situações, para que não explodisse o
Hugh celta e aguerrido, para que o necessário tempero da acção surgisse e
se mantivesse, foi preciso ter muita força, do tipo que apenas certos
religiosos muito bem treinados em ascese ou militares com treino análogo
possuem. Hugh era corajoso e temperado, por isso foi vitorioso sobre um
poder imenso, capaz de causar terror a outros.
Hugh era um sábio, um homem de prudência sem medida, com uma visão
estratégica de um general, o conhecimento de um triplo Doutor, uma
tarimba de um diplomata endurecido pelo sol dos trópicos da sobrevivência
no seio da perversidade política (como, aliás, na mesma altura aquele que
viria a ser o Papa João XXIII, que também salvou vários milhares de
pessoas e um dignitário nazi, von Papen; é o nosso quarto católico, ainda
por nós não estudado).
6
A sabedoria administrava a coragem e a temperança no sentido do bem
maior do serviço à Igreja, ao Povo de Deus e ao povo humano em busca de
salvação. A caridade não é apenas um acto de vontade, é também um acto
de inteligência, essa que percebe o absoluto do bem a atingir e que constrói
as mediações necessárias para tal aportação.
Mas a caridade é sempre uma obra do ser humano, da pessoa, como um
todo: é Cristo quem se dá em acto de oblativa e litúrgica caridade; o mesmo
para o Pe. Hugh.
E, assim, Monsenhor O’Flaherty foi um homem justo, pois foi temperante,
corajoso e sábio, fazendo o bem e a justiça que é o bem próprio de cada
coisa.
Teologalmente, deparamo-nos com realidade homóloga: o Pe. Hugh soube
ser um homem de fé, de esperança, de caridade.
Desta última já falámos bastante. Quanto à fé, ela é incoativa nele, segundo
rezam as crónicas, mas, sobretudo, é o dado que permite o sustento das
virtudes cardeais: sem uma indefectível confiança transcendente e
transcendental em Deus como Pai amante e que quer o bem de seus filhos,
como suportar tal tarefa? Aliás, todas as tarefas? Para quê? Para quê os
esforços diplomáticos, para quê os esforços jurídicos no Santo Ofício, para
quê apostar na salvação política dos perseguidos ou espiritual dos
pecadores? Para quê, se não houver um bem infinito em que confiar?
Tudo é nada e nada vale coisa alguma e mais vale acabar já com tudo. A
acção de Hugh é contraditória deste cenário e só faz sentido precisamente
tendo como pano de fundo o cenário contraditório, que a tudo dá sentido
primeiro e último, alfa e ómega.
7
Esperança. Para quem nasce numa Irlanda ainda de luto por uma matança
de um milhão de seres humanos à fome, vítimas da maldade de outros seres
humanos, espezinhada por colonos que tratavam os autóctones celtas como
bichos, não deve ser muito fácil viver com esperança, pois, pouco há de
mundano em que esperar.
Mas a esperança é dom de Deus. Certo, mas dom de Deus que grande parte
da humanidade se esforça por derrotar sistematicamente. O velho
Agostinho demorou a encontrar a fonte da esperança bem dentro de si, tão
funda que pareceu nunca lá estar. E teve de ser mandado «tomar e ler».
A toma e leitura de Hugh realizou-se na matriz católica da Irlanda celta,
nos Padres Jesuítas, em missão, depois já como adulto no modo como a sua
acção foi ajudando a moldar um mundo com menos injustiça, menos fome,
menos ódio. A esperança não vive sem a mediação da obra realizada, sem
que o Agostinho que há em todos nós se dê ao trabalho de se encontrar a si
próprio como instrumento mediacional da obra de Deus. Descoberto isto,
não apenas se descobre Deus, mas a si próprio em Deus, mais do que Deus
em si próprio. E a esperança nasce como intuição de que, em Deus e com
Deus, eu posso. Absolutamente, eu posso.
O ser humano que se transforma na mediação litúrgica de Deus no mundo
para bem do mundo e dos seres humanos, e, assim e só assim, para e como
glória de Deus (que sempre vê o que é bom, e, nisso, se revê), deixa
imediatamente de ser metal vazio que ressoa ao vento num mundo sem
ouvidos, para passar a ser divina música, divina e humana harmonia,
caridade perfeita, que o é sempre, por mais ínfima que nos possa parecer.
Como Agostinho depois da sua conversão, todo o ser humano que descobre
o fascínio do bem, de Deus, não descansa enquanto não tiver feito todo o
8
bem possível, até que Deus seja servido levá-lo do tempo para a eternidade,
para a paz.
É Agostinho em constante trabalho pastoral, pondo os fundamentos
teológicos de sempre; é Schindler a comprar tresloucadamente pessoas para
as salvar; Sousa Mendes a carimbar passaportes como se o mundo fosse
acabar ali e então; Monsenhor O’Flaherty a enfrentar com prudência de
serpente e candura de diplomática pomba a tirania nazi, sempre pronta a
reclamar vitória mesmo sobre aqueles a quem não tendo podido vencer no
campo da honra assassinava.
A caridade triunfa sempre. Não é com isto que nos devemos preocupar,
pois é dom de Deus de que Deus não abdica: quando abdicar, tudo o que se
move cairá no nada. É com o preço do triunfo da caridade que nos devemos
preocupar, como o facto de não sermos tão fortemente agentes do bem
como o Pe. Hugh, tão activas boas imagens e semelhanças de Deus.
A caridade e a misericórdia finais de Deus não nos devem servir de
desculpa para a nossa mediocridade. A recompensa que Deus nos dá não
anula a recompensa que damos a nós próprios e que vai ser a nossa
eternidade, transformada, mas não anulada.
Que me trazes como dote, Pe. O’Flaherty? Pergunta Deus.
Que me trazes, Américo?
Março de 2016
Américo Pereira
9