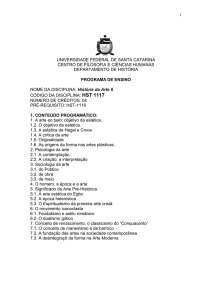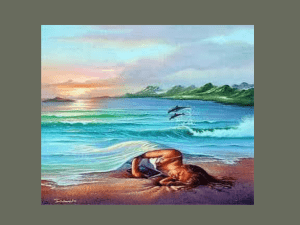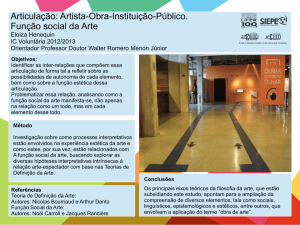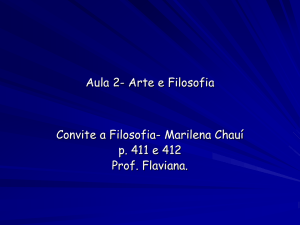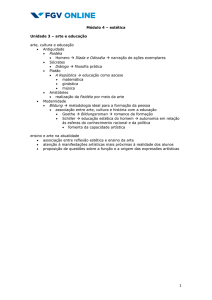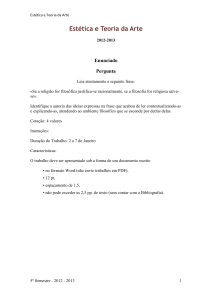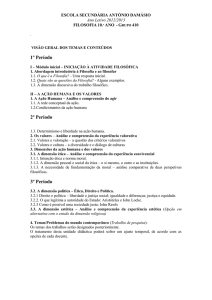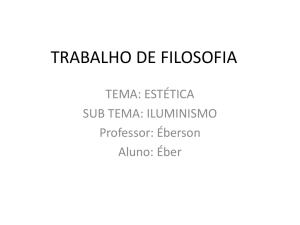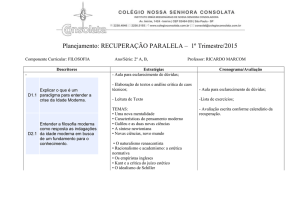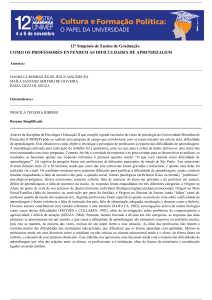1
EDUCAÇÃO ESTÉTICA: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ARTE
Aurélia R. de S. Honorato (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC)
Édina Regina Baumer (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC)
O presente artigo apresenta questões sobre a formação continuada a partir da
experiência de professoras1 de Arte, reunindo reflexões sobre educação,
educação estética e arte. Tem como pressupostos a necessidade e a
importância da formação continuada na perspectiva da reflexão sobre a prática
docente. Interrogamo - nos sobre a possibilidade de oportunizarmos, enquanto
formadoras, experiências estéticas às participantes da formação. O objetivo foi
avaliar a nossa prática pedagógica para perceber até que ponto nossas
proposições propiciaram a formação estética dessas professoras de Arte e
para alcançá-lo utilizamos os espaços de narrativa criados durante as
atividades nos encontros, além dos relatos escritos pelas professoras. Os
espaços de narrativa se abrem como constituidores do sujeito e de sua
consciência. São ressignificadores da prática docente, pois possibilitam um
aprofundamento da teoria ao mesmo tempo em que permitem que o professor
se torne autor e reconheça sua identidade. Os relatos das professoras
participantes mostram suas reflexões a partir das experiências estéticas e
indicam a possibilidade desse recurso para a formação continuada.
Palavras-chave: Formação continuada. Educação Estética. Ensino da arte.
1
Referimos-nos ao gênero feminino por contarmos apenas com mulheres nos grupos de formação.
2
EDUCAÇÃO ESTÉTICA: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA PROFESSORES DE ARTE
A formação continuada é uma proposta que caminha na direção da
qualidade do ensino e está prevista na LDB n. 9.394/96, no artigo 43, que trata
das finalidades da educação superior. No inciso II, a lei coloca como finalidade
“formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos [...] e colaborar na
sua formação contínua” ao que acrescentamos: “promover a divulgação de
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da
humanidade” (LDB 9.394/96, art. 43, inciso IV). Ao tratar dos profissionais da
educação, o artigo 61 apresenta seus fundamentos, entre eles “a associação
entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço” (LDB
9.394/96, art. 61, inciso I) e no artigo 63, a determinação sobre a necessidade
de “programas de educação continuada para os profissionais de educação dos
diversos níveis” (LDB 9.394/96, art. 63, inciso III) que segundo Carneiro (2007,
p. 168) “destinam-se à atualização profissional de docentes”.
Esses dizeres legais fundamentam nosso desejo de trabalhar com a
formação continuada de professores de Arte, além de contribuirmos com sua
formação na graduação, mais especificamente, no Curso de Artes Visuais –
Licenciatura da Universidade do Extremo Sul Catarinense. No entanto, em
nosso entendimento sobre o conceito de formação continuada, comungamos
com a idéia de Silva e Araújo (2005, p. 2), que decidem, referindo-se ao termo,
“adotar um conceito de formação que consiste em construir conhecimentos e
teorias sobre a prática docente, a partir da reflexão crítica”. Em seus estudos,
os autores buscam o conceito de reflexão em Paulo Freire e sua contribuição
para a formação continuada dos docentes.
Segundo Silva e Araújo (2005)
para Freire, a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o
pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e
no “pensar sobre o fazer”. Nesta direção, a reflexão surge da
curiosidade sobre a prática docente. Essa curiosidade inicialmente é
ingênua. No entanto, com o exercício constante, a curiosidade vai se
transformando em crítica. Desta forma, a reflexão crítica permanente
deve constituir-se como orientação prioritária para a formação
3
continuada dos professores que buscam a transformação através de
sua prática educativa.(p.4)
No conceito de reflexão, Freire envolve a crítica, que conforme explicam
Silva e Araújo (2005) é a curiosidade epistemológica, que resulta da
transformação da curiosidade ingênua. No entanto, “não basta refletir sobre a
prática pedagógica docente, é preciso refletir criticamente e de modo
permanente” (SILVA e ARAUJO, 2005, p. 5) dizem os autores, reafirmando a
importância de uma formação continuada.
Nesta concepção, a formação continuada de professores, deve
incentivar a apropriação dos saberes pelos professores, rumo à
autonomia, e levar a uma prática crítico-reflexiva, abrangendo a vida
cotidiana da escola e os saberes derivados da experiência docente.
(SILVA e ARAUJO, 2005, p. 5)
Nessa perspectiva aceitamos o desafio de trabalhar como formadores de
professores de Arte, em sua maioria concursados e contando alguns anos de
experiência na rede municipal de ensino da cidade. A proposta da Secretaria
Municipal de Educação foi a formação continuada em todas as áreas do
conhecimento, e assim elaboramos o projeto, apoiadas nas necessidades do
grupo, apontadas pela própria secretaria. Entre elas, a compreensão da
Proposta Curricular do Município, um documento criado em 2008 e que teve a
participação de muitos dos docentes da rede, inclusive algumas das
professoras que estão na formação, assim como o desafio de transpor para a
prática o que a teoria da proposta aponta.
A perspectiva Histórico-Cultural é o fundamento deste documento, que
tem como base a concepção de que o homem constitui-se como sujeito na sua
relação com o mundo, logo “o fazer artístico no ambiente escolar tem como
objetivo socializar as práticas culturais da humanidade, vivenciando-as a partir
dos sujeitos no contexto coletivo” (CRICIÚMA, 2008, p. 106). O homem é um
ser social que nasce, desenvolve-se biológica e cognitivamente num grupo com
ideologias e culturas próprias.
É importante destacar que enfrentamos neste desafio a complexa
questão da relação entre propostas teóricas e prática pedagógica, tão relevante
na área da educação.
Já nos primeiros encontros, apresentamos o projeto para as professoras
participantes, abrindo espaço para suas necessidades e anseios, o que remete
4
à Silva e Araújo (2005, p. 5) quando dizem que “o processo formativo deverá
propor situações que possibilitem a troca dos saberes entre os professores,
através de projetos articulados de reflexão conjunta”.
Entre os objetivos do projeto destacamos o desejo de construir uma
educação transformadora, capaz de contribuir, entre outras necessidades, com
a educação estética dos sujeitos e a ampliação do acesso aos conhecimentos
artísticos historicamente sistematizados. Esses objetivos, do nosso ponto de
vista concorrem para um currículo do ensino de Artes, que contemple a
pluralidade, que reconheça o espaço social da arte e prepare os educadores,
no âmbito da educação básica, para a formulação de um discurso crítico, de
uma prática expressiva e de um olhar inquietante.
Sobre a construção do currículo, corroboramos com a ideia de Moreira e
Silva (2006, p. 28) que afirmam
o currículo não é o veículo de algo a ser transmitido e passivamente
absorvido, mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá
cultura. O currículo é, assim, um terreno de produção e de política
cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria
prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e
transgressão.
Enquanto professoras na educação superior, optamos por trilhar o
caminho da pesquisa sobre questões da estética, da cultura, da arte e da
educação. Nesta jornada em especial, interrogamos se é possível oportunizar
experiências estéticas para um grupo de professoras estabelecidas em sua
profissão, dentro de um projeto de formação continuada. Procuramos em cada
encontro/atividade, avaliar a nossa prática pedagógica para perceber até que
ponto nossas proposições propiciaram a formação estética das professoras de
arte participantes. Obtivemos os dados a partir dos espaços de narrativa, os
quais são constituídos por narrativas orais, corporais, gestuais e visuais.
Emergem quando se acredita na potencialidade da história de cada um, na
constituição de sujeito fazedor da sua cultura, no valor da história narrada, na
concepção de história descontínua. Podem ser uma possibilidade outra de
ressignificar a forma de ver e fazer a formação de professores. Uma formação
na qual se possa
ampliar olhares, escutas e movimentos sensíveis, despertar
linguagens adormecidas, acionar esferas diferenciadas de
conhecimento, mexer com corpo e alma, diluindo falsas
5
dicotomias entre corpo e mente, ciência e arte, afetividade e
cognição, realidade e fantasia (OSTETTO & LEITE, 2004, p.8).
Fundamentamos esta investigação em alguns conceitos como o de
estética. Segundo Abbagnano (2000, p. 367), o conceito de estética se refere,
na filosofia moderna e contemporânea, ao substantivo que “designa qualquer
análise, investigação ou especulação que tenha por objeto a arte e o belo,
independentemente de doutrinas ou escolas”. Pareyson (2001) utiliza o termo
estética ao falar da experiência estética “na qual entra toda experiência que
tenha a ver com o belo e com a arte: a experiência do artista, do leitor, do
crítico, do historiador, do técnico da arte e daquele que desfruta de qualquer
beleza” (PAREYSON, 2001, p. 5).
Para Pareyson (2001), a estética é uma reflexão sobre a experiência.
A estética torna-se assim um frutífero ponto de encontro, um campo
no qual têm direito de falar os artistas, os críticos, os amadores, os
historiadores, os psicólogos, os sociólogos, os técnicos, os
pedagogos, os filósofos, os metafísicos, com a condição de que todos
prestem atenção ao ponto em que experiência e filosofia se tocam, a
experiência para estimular e verificar a filosofia, e a filosofia para
explicar e fundamentar a experiência. (p.10)
Para compreender a arte em nossos dias pensamos que é necessário
aceitar o convívio com o estranhamento e a possibilidade de interação dos
apreciadores. Logo a arte na escola deve propiciar a compreensão a partir da
experiência de “fazer arte, pensar a arte e transformar-se pela arte” (PILLOTTO
e SCHRAMM, 2001, p. 12).
Pillotto e Mognol (2005, p. 41) afirmam que o processo de conhecimento
em arte “é compreendido pela experiência da percepção” e preocupam-se com
a qualidade da presença do ensino da arte na escola afirmando que “a arte
como conhecimento sensível também propicia a compreensão da cultura e da
filosofia” (PILLOTTO e MOGNOL, 2005, p. 41) e que “o contexto cultural e a
história, constroem os fundamentos teórico-conceituais da Arte na educação”
(PILLOTTO e MOGNOL, 2005, p. 41).
Sobre o ensino da arte na escola concordamos com Buoro e Costa
(2007) quando conceituam a arte
como uma linguagem capaz de dar conta de conhecimentos
específicos do ser humano em suas relações consigo, com o outro e
6
com o mundo em que vive. Arte não serve para nada útil e imediato e,
como disciplina dentro da grade curricular, é uma oportunidade
importante de viver aprendizagens ligadas ao sensível, pois nos
permite sonhar, refletir, imaginar...além de pensar.(p.252)
Nesse sentido propusemos às professoras de Arte que realizassem
produções tendo como limites ou suportes, o teto, as paredes e o chão, em
relação aos e com os textos poéticos de Ítalo Calvino. De posse de uma vasta
gama de materiais elas organizaram, em grupos, suas produções a partir da
leitura de textos como o que destacamos:
As
cidades
e
a
memória
3
Inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei descrever a cidade de Zaíra
dos altos bastiões. Poderia falar de quantos degraus são feitas as
ruas em forma de escada, da circunferência dos arcos dos pórticos,
de quais lâminas de zinco são recobertos os tetos; mas sei que seria
o mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, mas das
relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do
passado: a distância do solo até um lampião e os pés pendentes de
um usurpador enforcado; o fio esticado do lampião à balaustrada em
frente e os festões que empavesavam o percurso do cortejo nupcial
da rainha; a altura daquela balaustrada e o salto do adúltero que foge
de madrugada; a inclinação de um canal que escoa a água das
chuvas e o passo majestoso de um gato que se introduz numa janela;
a linha de tiro da canhoneira que surge inesperadamente atrás do
cabo e a bomba que destrói o canal; os rasgos nas redes de pesca e
os três velhos remendando as redes que, sentados no molhe, contam
pela milésima vez a história da canhoneira do usurpador, que dizem
ser o filho ilegítimo da rainha, abandonado de cueiro ali sobre o
molhe.
A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das
recordações e se dilata. Uma descrição de Zaíra como é atualmente
deveria conter todo o passado de Zaíra. Mas a cidade não conta o
seu passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos
ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das
escadas, nas antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras,
cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes,
esfoladuras. (CALVINO, 1990, p. 14-15)
Percebemos no decorrer da proposição a emoção com que cada
professora, em cada grupo, externalizava suas reflexões a partir das palavras
do texto, da imaginação dos colegas, da cumplicidade ao optar pelos materiais
e ao decidir os caminhos da construção que viria a representar suas
percepções. Em todas as manifestações, as questões da cidade nas
sociedades eram contempladas de forma a provocar a reflexão, no grupo,
sobre o mundo em que vivemos o que nos lembra Pareyson (2001, p. 112)
quando diz que, apesar da vida social, a arte é a expressão da subjetividade
7
única, “muito singular e irrepetível, ainda que nutrida pelo ambiente e pela
sociedade em que vive”. Para Zanella (2007)
Professores, pois, são forjados cotidianamente a partir de suas
práticas e da necessária reflexão sobre estas [...]. Trata-se de
um processo que transcende a esfera profissional e implica a
própria constituição do sujeito que se assume enquanto
docente: este é formado, reformado e/ou deformado nos
encontros com os muitos outros com os quais estabelece
relações, em um movimento que envolve razão e emoção,
cognição e sensibilidade. (p. 144)
Transpondo essa experiência para a educação básica, onde continuarão
atuando, os professores de Arte podem refletir sobre a ideia de que os
conhecimentos, na escola devem segundo alguns documentos norteadores da
educação brasileira, favorecer a compreensão sobre os modos como as
pessoas desenvolveram e desenvolvem suas formas de viver em sociedade.
Uma das professoras participantes reflete “nós professores de arte precisamos
saber nos posicionar em sala de aula, para tornarmos nossas aulas um espaço
de cultura” (Ana Maria). Queremos deixar claro que nesta pesquisa, é
importante identificar as professoras pelo nome, pois se elas são sujeitosparticipantes e co-autoras da pesquisa é necessário que possam reconhecer a
si e as suas falas.
A professora em formação continuada fala em cultura e segundo Laraia
(2001), “estudar cultura é, portanto, estudar um código de símbolos partilhados
pelos membros dessa cultura” (p. 63). Sabemos que a arte, nas suas diferentes
formas de expressão, se apresenta por códigos e símbolos e revela
conhecimentos e sentimentos de seus contextos históricos e sociais. Nesse
sentido é preciso considerar as palavras de CARNEIRO (2007).
As fontes do currículo incorporam traços sócio-culturais (carências do
aluno e da sociedade), traços epistemológicos (características
particulares das disciplinas e das articulações das disciplinas
configurando uma área de conhecimento), traços psicopedagógicos
(especificidades psico-evolutivas dos alunos e respectivas
competências). A referência a conteúdos curriculares específicos [...]
deve ser interpretada como uma preocupação de se construir um
currículo ativo, contemporâneo e empolgante, não apenas pela
inclusão de disciplinas de base como Português e Matemática, mas
também de disciplinas que ajudem a situar o aluno no mundo físico e
em sua cultura. (p. 102)
Sobre o ensino da arte nesse currículo flexível, ele destaca que vivemos
“numa cultura totalmente icônica” (CARNEIRO, 2007, p. 102), reafirmando a
8
idéia de Laraia (2001, p. 63) quando (2001) diz que “estudar cultura é, portanto,
estudar um código de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura”.
Conforme Bakhtin (1988) o sujeito compreende o mundo na e por meio
da linguagem – mas não aquela que é exclusivamente baseada na
identificação de códigos ou nos elementos normativos do discurso. Os sujeitos
se constituem sujeitos da linguagem na medida em que esta seja carregada de
contexto, de sentido, de significação.
O produto da linguagem é a enunciação. De natureza social, ela é
determinada pela situação e pelo meio; e se dá sempre numa interação. A
enunciação acontece nas relações entre sujeitos. O que está em jogo não é a
palavra, mas seu significado, afinal, a palavra está sempre carregada de um
conteúdo e de um sentido ideológico.
A enunciação acontece no diálogo cotidiano, na leitura de um livro, num
filme. São os elementos verbais e não-verbais de cada situação de
comunicação, de cada enunciação, que determinam o tema e sua significação.
Promover espaços onde possa emergir a enunciação com significado para o
sujeito, é valorizar a história de cada um e também acreditar nas linguagens
como formadoras de identidade.
No entanto a palavra e a contrapalavra, nessa relação dialógica que
compõe a comunicação, depende da entoação que, segundo a autora, revela
“todas as vibrações sociais e afetivas que envolvem o falante” (JOBIM e
SOUZA, 1994, p. 105). A entoação faz parte da estrutura de significação
daquilo que se quer dizer e
permite colocar algo novo no próprio ato de fala, algo que é particular
ao falante, e implica, portanto, sua singularidade. A entoação é, por
assim dizer, testemunha da singularidade da situação dialógica e do
particular direcionamento e responsabilidade dos participantes do
diálogo. (JOBIM e SOUZA, 1994, p. 105-106).
A partir da entoação obtém-se uma enunciação viva, uma comunicação
ativa que requer, segundo Jobim e Souza (1994), a apreciação pois “ela é que
irá indicar se uma determinada significação objetiva entrou no horizonte dos
interlocutores” (p. 108). A apreciação permite as mudanças de significação o
que podemos entender como processo criativo na medida em que cada
espectador irá criar sua própria significação sobre o texto apreciado.
Outras propostas de atividades foram sendo elaboradas pelo grupo de
9
formadores, a partir da interação com os professores participantes e, embora a
Proposta Curricular do município enfatize o trabalho, na escola, com a
linguagem das Artes Visuais, nós, enquanto formadores, decidimos realizar um
trabalho com outras linguagens da arte também. Uma das razões é que o
documento base para a atividade docente no município valoriza “diversos
modos de expressão estética, cognitiva e também cultural, uma vez que, no
currículo escolar, a disciplina de Artes, é uma das únicas áreas que viabiliza a
expressão simbólica” (CRICIÚMA, 2008, p. 108). Outra razão funda-se em
nossos estudos sobre a estética, pontuados aqui, na voz de Pareyson (2001).
Certamente, compete à estética estabelecer o específico de uma
determinada arte; mas a estética deve fazê-lo num plano que
interesse a todas as artes, isto é, tendo em conta todos os aspectos
da experiência artística e, por isso, as repercussões que a teoria de
uma determinada arte pode e deve ter no âmbito das outras artes e
as ressonâncias que, no tratamento de uma determinada arte, pode
ter o tratamento geral de todas as outras artes. (p.13)
Assim o grupo vivenciou a apreciação musical - por meio da música de
Djavan: Faltando um pedaço – e a criação de um poema a partir da leitura de
texto sobre a infância e que foram depois, narrados por crianças do ensino
fundamental, gravados e apresentados para as professoras participantes,
causando grande surpresa, admiração e êxtase. Na continuidade do trabalho
com a poesia, as professoras participantes representaram, na linguagem
corporal, o seu poema.
A arte nos dá suporte para o processo criativo e crítico, seja pela
dança, música, artes cênicas, artes plásticas. Cabe ao professor
explorar essa experiência estética junto com seus alunos. Acredito
que a formação continuada desse ano nos propiciou estas
experiências. (Érica)
Nesse sentido Bakhtin, segundo Jobim e Souza (1994, p.112), fala sobre
a expressão semiótica e acrescenta que “não é a atividade mental que
organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a
atividade mental” sempre situada no território social do sujeito e dirigida por ele.
Bakhtin, em uma de suas obras afirma que “não é tanto a expressão que se
adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às
possibilidades de nossa expressão, aos seus caminhos e às suas orientações
possíveis” (JOBIM e SOUZA, 1994, p. 112).
10
No início da formação continuada, ainda em fase de pensar o ensino da
Arte que temos e o ensino da Arte que queremos, as professoras fizeram seu
Autorretrato, assinalando o momento em que se encontravam, com relação ao
seu trabalho como professora de Arte na educação básica. Ao final do primeiro
semestre de formação (no total cinco encontros de quatro horas de duração)
propusemos um momento avaliativo objetivando que as participantes
registrassem suas impressões, concepções, expectativas e aprendizados com
relação ao processo de formação continuada.
O instrumento de avaliação trazia quatro imagens, doze palavras e o
enunciado: entrelace, recorte, argumente, posicione-se, relacionando imagens
e palavras a partir de seu olhar enquanto professor de Arte em contínua
formação. Dessa experiência pontuamos algumas narrativas.
Penso então, que estes encontros foram e são de certa forma
combustível para nosso cotidiano, buscando um comprometimento
com o ensino e com a metodologia, valorizando a individualidade,
organizando conceitos e definindo identidades, nos encaminhando
para um amadurecimento de valores, tornando-nos professores
propositores de fazeres e saberes. (Carla Daniela)
Neste caso, os professores deixam de ser objetos de pesquisa para
serem sujeitos dela – mais que isso, tornam-se co-autores das investigações
pois mudam seus rumos, apontam novas possibilidades, (re)constroem os
caminhos previamente pensados como desabafa Denise: “ quando iniciamos a
formação éramos espectadores olhando de fora, hoje posso dizer que já me
encontro participante; de fato uma professora em busca do conhecimento que
leve meu aluno a buscar, instigue-o.”
Os espaços de narrativa acabam por se constituírem também como
espaços de interação dialética, que pressupõe o entrecruzamento de valores
sociais, econômicos, de raça, de gênero, que promovem conflitos que passam
a ser responsáveis pela transformação social. Transformação esta que gera
mudanças, que amplia olhares, que sensibiliza, que desperta como diz a
professora participante Juliana: “Lembro-me bem do primeiro encontro. Foi nele
que pude perceber que eu não era um peixe fora da água. Todas as minhas
angústias medos e dúvidas eram também os das minhas colegas.”
E faz perceber que há outras formas de se perguntar para o professor o
que ele pensa sobre formação, criança, arte, cultura etc., além de ampliarem a
11
relação pesquisador-sujeito, abrindo, assim, possibilidades de co-autoria
consciente.
Nos encontros pude perceber os diferentes olhares e formas de
pensar e ver a arte. De como tudo é um processo de aprendizado,
assim como os nossos alunos, aprendemos no dia-a-dia e com as
experiências. Em relação a proposta curricular, tudo está ficando
mais claro, tornando o nosso trabalho mais comprometido e
seguro.(Gerusa)
Ao longo desta experiência de pesquisa, foi possível perceber que o
pensamento das professoras e suas expressões por meio das linguagens (
oral, corporal, visual, cênica etc.) foram ressignificados a partir das situações
criadas nos espaços de narrativa. A professora Maria Luiza diz “A forma como
as atividades nos são propostas nos encontros são bem inteligentes,
dinâmicas, deixam sempre uma “pulguinha atrás da orelha”, ampliam nossos
olhares, modificam nossos sentidos.” Isso nos leva a pensar que quanto mais
oportunidades as professoras tiverem de socializar seus pensamentos, de
maneira crítica e consciente, maior será a qualidade na sua formação.
É importante lembrar da organização de conceitos que foram
diretamente ao encontro da Proposta Curricular principalmente no
que diz respeito ao histórico-cultural em relação ao posicionamento
dele dentro da elaboração do nosso planejamento; os critérios de
avaliação dentro de um planejamento foram bem elencados e
discutidos e, é claro que para o próximo ano teremos um novo olhar.
(Sandra)
A partir desta experiência com a formação continuada, podemos pensar
que a educação estética promove o desenvolvimento cultural, entendido como
o conhecimento, a compreensão e a aceitação da diversidade das culturas e
promove o reconhecimento de si mesmo enquanto sujeito da cultura, produtor
ou apreciador dos objetos artísticos. Sobre o ensino da arte na educação
básica acreditamos em uma maior dedicação ao trabalho por parte dos
professores de Arte. Essa maior dedicação, além da formação continuada,
pede pela autonomia na busca do conhecimento e reflexões sobre os objetivos
da educação.
Investigar os processos de apropriação e produção cultural em oficinas
de reflexão e ação contribui na desconstrução de propostas de formação
amarradas e ortopédicas, que engessam e inibem; ao contrário, traz subsídios
importantes que alimentarão projetos de formação futuros ligados ao fazer
crítico das coisas, ao produzir com significação, encorajando outros modos de
12
expressão não mais centrados unicamente no verbo e na escritura, sem
dicotomizar razão e sensibilidade, reconhecendo a importância de outros
modos de produção que sublinhem a dimensão estética e poética do
conhecimento.
13
REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394, de
20 de dezembro de 1996.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. São Paulo:
Hucitec, 1992.
BUORO, Anamélia Bueno; COSTA, Bia. Por uma construção do olhar na
construção do professor. In: OLIVEIRA, Marilda Oliveira de. Arte Educação e
Cultura. Santa Maria: Ed. da USFM, 2007. P. 251 – 270.
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. São Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
CARNEIRO, Moaci Alves. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva: artigo a
artigo. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
CRICIÚMA, Secretaria Municipal de Educação. Proposta Curricular da Rede
Municipal de Criciúma: currículo para a diversidade, sentidos e práticas.
Criciúma, SC, 2008.
JOBIM e SOUZA, Solange. Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e
Benjamin. Campinas, SP: Papirus, 1994.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. Sociologia e
teoria crítica do currículo: uma introdução. In: MOREIRA, Antônio Flávio
Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da (orgs.). Currículo, Cultura e Sociedade. 9
ed. São Paulo: Cortez, 2006.
OSTETTO, Luciana Esmeralda; LEITE, Maria Isabel. Arte Infância e
Formação de Professores: autoria e transgressão. Campinas, SP: Papirus,
2004.
PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. Trad. Maria Helena Nery
Garcez. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte; SCHRAMM, Marilene de Lima Körting.
Reflexões sobre o ensino das artes. Joinville: Univille, 2001.
PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte; MOGNOL, Leticia T. Coneglian. Currículo em
Artes Visuais: Proposições Teórico-metodológicas para os cursos de
Formação. In: PILLOTTO, Sílvia Sell Duarte (org.). Processos curriculares
em arte: da universidade ao ensino básico. Joinville: Univille, 2005.
14
SILVA, Everson Melquiades Araújo; ARAUJO, Clarissa Martins de. Reflexão
em Paulo Freire: uma contribuição para a formação continuada de
professores. V Colóquio Internacional Paulo Freire, 2005.
ZANELLA, Andréa Vieira. Sobre olhares, fios e rendas: reflexões sobre o
processo de constituição de educadores (as). In: ZANELLA, Andréa Vieira et al.
Educação estética e constituição do sujeito: reflexões em curso.
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2007. P. 143 – 154.