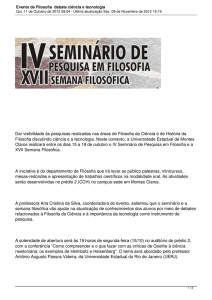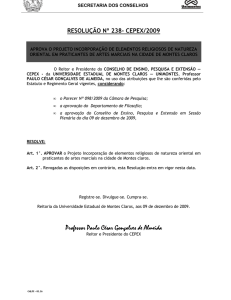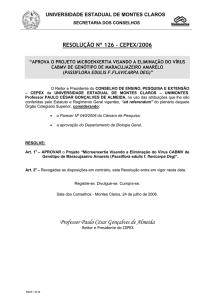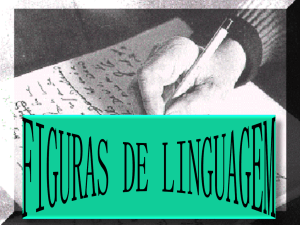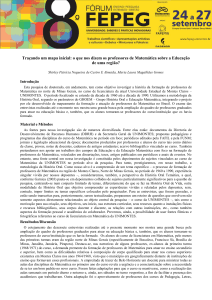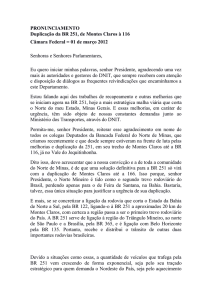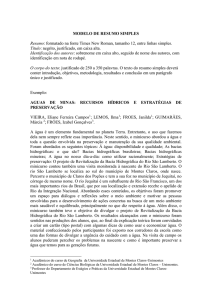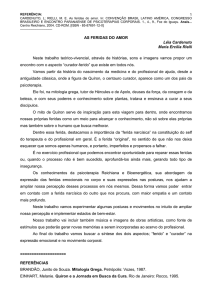PITÁGORAS
Montes Claros
AGOSTO DE 2003
•
Nº 0
•
ANO 1
FACULDADES
0
EXPEDIENTE
ÍNDICE
EDITORIAL
REVISTA CIENTÍFICA DAS
FACULDADES PITÁGORAS
DE MONTES CLAROS
Publicação semestral das Faculdades
Pitágoras de Montes Claros.
Montes Claros – Minas Gerais
Brasil
4
5
6
ESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA
Marise Fagundes Silveira
PROJETO GRÁFICO
E EDITORACÃO
Idéias Bizarras
FOTOLITO E IMPRESSÃO
Gráfica e Editora Lopes
É permitida a reprodução
de artigos desta revista mediante
autorização dos editores e desde
que citada a fonte.
Fundamentos do ensino nas Faculdades Pitágoras de Montes Claros
Fátima TURANO
UM PONTO À FRENTE
8
Perceber-se interdisciplinar
Rosina Maria Turano MOTA
MULTITEXTOS
9
O cuidar de feridas crônicas: como está sendo realizado?
Carlene do Prado Barbosa FAGUNDES, Josiana Martins Dornelles FERRAZ,
Patrícia Fernandes do PRADO, Patrícia Gonçalves CARVALHO, Raquel Guimarães MAIA
11
Catálogo dos tipos de deficiência motoras em pacientes de clínicas
privadas de fisioterapia em Montes Claros (MG)
Paula Maria SOARES, Antônio Igor de Castro ALVES, Carla Geanine Santos
OLIVEIRA, Cláudio Tadeu SANTOS, João Warley ALVES, Leonardo Emílio de
Freitas PATENTE, Paulo Afonso Ruas JÚNIOR
12
A utilização de aparelhos terapêuticos que produzem diatermia
no tratamento de pacientes portadores de lesões meniscais
em clínicas particulares de Montes Claros
Ivanilson SOARES, Kátia Gonçalves MENDES, Liliane Lacerda SILVA,
Silvana Mendes BATISTA, Tanísia Teixeira SILVA, Viviane Costa FAGUNDES
13
Conhecimento e aplicação de medidas preventivas contra acidentes
domésticos. Uma experiência nas micro-áreas 1 e 2 do bairro
Indenpendência na cidade de Montes Claros (MG)
Daniele Aparecida Vieira ROCHA, Franciele Aparecida NEVES, Karla Beatriz
Ferreira SANTOS, Lady Daiane Ribeiro da SILVA, Mariele Almeida GOMES,
Monalisa Marques GONÇALVES, Renata Maria Silva SALES, Renato Souza
BARBOSA, Tânia Soares da ROCHA
14
Comparação entre o atendimento fisioterápico particular
e público em Montes Claros (MG)
Ricardo Fernandes de PAULA, Anna Paula Cursino de MENEZES,
Daniel Silveira A. MAIA, Nathália Maria Gomes FERNANDES,
Rejane Grace ALENCAR, Sérgio Augusto M. BASTOS, Vicente JUNIOR
15
Rompendo as barreiras do silêncio: relações de preconceito
e/ou discriminação racial: os desafios da educação inclusiva
na educação infantil
Claudia Denise Alkimim Lopes de LIMA, Flávia Ferreira FRANÇA, Maria da
Conceição BATISTA
TIRAGEM
1.500 exemplares
ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA
Faculdades Pitágoras de Montes Claros
Rua Monte Pascoal, 284
Bairro Ibituruna
CEP 39.401-347 - Montes Claros - MG
Fone/Fax: 0xx38 3214-7100
E-mail: [email protected]
Internet: www.fap-moc.com.br
????
Cláudio MOURA E CASTRO
NOVA LEITURA
7
DIRETOR CIENTÍFICO
Alfredo Maurício Batista de Paula
A Revista Científica das Faculdades Pitágoras de Montes Claros
Fátima TURANO
PERFIL INTERATIVO
Ano 1 - Nº 0 - Agosto de 2003
EDITORES RESPONSÁVEIS
Rosina Turano
Alfredo Maurício Batista de Paula
?????
Alfredo Maurício Batista DE PAULA
3
EDITORIAL
????
Alfredo Maurício Batista DE PAULA
4
EDITORIAL
A Revista Científica das Faculdades
Pitágoras de Montes Claros
Fátima TURANO
Ensinar requer dispor e mobilizar conhecimentos para
improvisar, isto é, agir em situações não previstas, atribuir
valores e fazer julgamentos que fundamentam a ação da
forma mais pertinente e eficaz possível. Por essas razões,
a pesquisa ou investigação que se desenvolve no âmbito
do trabalho refere-se a uma atitude de busca de compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos, e à autonomia na interpretação da
realidade e dos conhecimentos que constituem seus objetos de ensino.
À Instituição escola cabem a busca e seleção da informação, as tentativas e erros, e a liberdade de ir e vir na
construção do conhecimento, elementos que precisam estar presentes no processo educacional. Sem essa liberdade e interatividade, não haverá mais prazer e motivação
para se estudar. Eric Hobsbawn, o historiador inglês (naturalizado), acertou quando disse: é difícil escrever no
momento em que se vive a transformação. Assim, como
podemos transformar pessoas em seres humanos, ativos,
sujeitos de sua história?
Acreditamos que seremos senhores da história fazendo nossa própria história. Se a pessoa consegue compreender a realidade, mesmo que ainda não consiga controlá-la, é sinal de que um dia poderá saber o rumo da história – de sua história e da grandiosa história do mundo.
E foi pensando em fazer história, em buscar novas alternativas e possibilidades que criamos a nossa revista
científica. Por menor que seja a publicação, já é um grande feito, uma vez que nasceu com uma função definida,
objetivos claros e tempo de vida “eterno, enquanto dure”
o tempo de suas necessidades.
Nossa Instituição tem como função principal a geração do conhecimento. Porém, desenvolver ou mesmo estar atualizado em novas tecnologias é uma tarefa complexa e que requer investimentos significativos.
Não adianta desenvolver um ambiente de incentivo à
tecnologia se não houver profissionais habilitados para
trabalhar com essa tecnologia; assim como não adianta
formar mão-de-obra especializada sem oferecer a tecnologia necessária para que esses profissionais exerçam suas
habilidades.
É necessário que procuremos meios de nos aprimorarmos, de melhorarmos naquilo que fazemos. E é isso que estamos fazendo. Queremos desempenhar nossa missão institucional com o respeito da sociedade, convictos de que
buscamos sempre o melhor em se tratando de educação.
Ao se falar de uma revista cientifica, estamos falando
de informação; falamos de idéias, de criatividade, de técnica, de pensamento, de descobertas. Pensamos como
Pierre Lévy: não são os aspectos negativos que importam
e, sim, as potencialidades latentes, os caminhos possíveis
para uma mudança de paradigma civilizacional – mudan-
ça que, a longo prazo, venha despertar nos homens o desejo de sabedoria. É essa a visão que devemos espalhar
por nossa escola.
Acredito que as sementes do novo tempo estão vivendo em meio ao caos do velho. Aqui e agora nasce uma
oportunidade única a todos os estudiosos, sejam alunos
ou professores. Na verdade, precisamos de ferramentas
que possibilitem atacar esse foco, criando em nossos alunos e professores o prazer de pesquisar, de aprender, sem
perder de vista os conteúdos de aprendizagem. Aí é que
mora o segredo. É preciso, mais uma vez, lembrar que o
professor, enquanto gerenciador de pessoas, torna-se
cada vez mais indispensável por conviver no dia-a-dia
com os alunos e ter a capacidade de perceber suas atitudes e posturas. Apesar de continuar sendo o ensinoaprendizagem sua meta maior, é preciso usar de um recurso, uma ferramenta, um instrumento de trabalho, chamado persuasão, assim como se usa o giz, o quadro-negro e a voz, para que, em sintonia com a proposta pedagógica da faculdade, possa garantir nossa meta maior,
que é transformarmos nossa escola num espaço de buscas e descobertas, onde alunos e professores são investigadores à procura de alternativas, de soluções para os
problemas do nosso dia-a-dia.
Cabe a nós, profissionais das FACULDADES
PITÁGORAS, usar nossa inteligência educacional para fazer uso dessas ferramentas de forma responsável, criativa
e inovadora, a fim de que, juntos, trabalhemos para o bem
comum, visto que a investigação e a pesquisa significam
permanência e estabilidade na busca do conhecimento.
Nessa perspectiva, a FACULDADES PITAGORAS DE MONTES CLAROS constrói um novo paradigma de educação
superior, em que se mesclam o ensino, a pesquisa e a extensão. Embora as distinções terminológicas sejam muitas, o princípio do projeto interdisciplinar é o mesmo: caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pela integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa.
O projeto é uma atitude intencional, um plano de trabalho, um conjunto de ações que implicam um envolvimento individual e coletivo nas atividades empreendidas,
pelo aluno e pelo grupo, sob a coordenação dos professores. Uma das possibilidades de execução do projeto interdisciplinar na universidade, segundo FAZENDA (1998)1, é a
pesquisa coletiva, em que uma pesquisa nuclear catalisa
as preocupações dos diferentes pesquisadores. É esse material que está sendo produzido em nosso dia-a-dia de
forma científica e que ocupa esse espaço especial, formando a nossa revista científica.
1
FAZENDA, Ivani C. A. (org.). Didática e Interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998.
5
PERFIL INTERATIVO
Título
Cláudio MOURA E CASTRO*
6
*P
NOVA LEITURA
Fundamento do ensino nas
Faculdades Pitágoras de Montes Claros
TURANO, Fátima*
INTRODUÇÃO
O homem em equilíbrio consigo mesmo e com seu meio deverá ser o desafio –
tarefa primordial do século incipiente. No
âmbito da formação de nível superior, esse
desafio aponta para a necessidade de uma
reflexão/ação, em pelo menos, três vertentes: a) a expansão do acesso aos sistemas
de ensino superior; b) a melhoria da gestão
e o reforço dos laços com a sociedade; e c)
as respostas às necessidades do desenvolvimento social.
Nesta fase da história mundial, o elemento essencial é a mudança de rumo do
processo civilizatório, com reflexos sobre todos os domínios e condições das atividades
da vida dos homens e da sociedade, com características de constância e rapidez. Assim,
as universidades, como cérebros das nações,
e as demais instituições de ensino superior
não podem eximir-se de participar da construção de uma nova cultura. É preciso produzir conhecimentos fundamentais para a
compreensão do momento que se vive,
adaptando-se aos novos tempos e, principalmente, assumindo, por meio de atividades de pesquisa, de busca e reflexão permanentes, a capacidade de antecipar e influenciar as mudanças, orientando suas
ações na direção de um desenvolvimento
humano durável e solidário.
Se, por um lado, temos mais riqueza e
tecnologia e mais compromissos em relação à comunidade mundial do que antes, a
demanda atual é por profissionais cultos,
dotados de conhecimentos gerais e, por
isso mesmo, flexíveis, com capacidade de
assumir diferentes funções e, sobretudo,
enfrentar situações e problemas inéditos,
como nos assegura SINGER (XXXX). Nesse
contexto, é preciso que nós, como Instituições de Ensino, estejamos preparados para
responder às demandas e às exigências da
sociedade do conhecimento, da informação e da educação.
Nessa sociedade, a Educação ganha
novo e fundamental papel – ela que foi, é e
continuará a ser a prioridade das prioridades-, pois permitirá continuar sustentando a
vida nas cidades, nos estados, nos países e
no planeta, preparando o cidadão para o
mundo da vida e do trabalho.
Educação como formação – calcada
em princípios sólidos que habilitem o profissional a agir crítica e produtivamente
em serviços e mercados, criando, construindo, descobrindo oportunidades que
transformem o lugar comum no único e
inesperado - precisa considerar a urgência
de uma efetiva interação com o conjunto
da sociedade; de um olhar prospectivo
para a atualização constante dos conhecimentos, que será demandada por alunos e
egressos, e que exigirá diversificação e fle-
xibilidade. É preciso que o façamos com a
convicção de que é possível modificar o
curso do mundo e tornar a Educação o
grande desafio de nosso tempo, se acreditarmos que o futuro se constrói agora. E
essa construção só será sólida se estiver
apoiada em uma consciência perspicaz da
distância que separa o que existe do que
deveria existir, em uma nítida orientação
ética.
Se é verdade que ciência e técnica experimentaram desenvolvimentos notáveis no
século recém findo, é também verdade a
profunda crise ética em que nos vimos imersos, de tal sorte que urge, ainda uma conjugação orgânica entre verdade, liberdade individual e justiça social.
Uma escola que leve em consideração
tais aspectos certamente deve ser estruturada de forma diferente e, principalmente,
deve contar com professores que possuam a
competência de interagir, de construir com
esses cidadãos uma nova visão de mundo,
preparando-os para serem autônomos intelectualmente e gestores de seu processo de
aprendizagem ao longo de toda a sua vida –
um profissional que tenha presente que, não
obstante a sua formação, é preciso mudar.
Mudar, inovar, imaginar e construir, com sua
luta de cada dia, uma nova cultura, na qual
o homem possa viver em paz consigo mesmo e com seu meio.
Utopia? Não, mas a certeza de que, na
sociedade do conhecimento, essa é uma tarefa que lhe cabe como ser participativo, reflexivo, em busca de realização como pessoa.
Entendemos que, ao propor um processo de
formação de um profissional reflexivo e pesquisador, devemos levar em consideração a
importância tríplice sugerida por SCHÖN
(XXXX) como constitutivo da competência: a
reflexão na ação; a reflexão sobre a ação; a
reflexão sobre a reflexão na ação.
DISCUSSÃO
A REFLEXÃO NA AÇÃO
A formação crítico-reflexiva envolve, segundo NOVOA (1993), os processos de produzir a vida do profissional em formação
por meio da reflexão sobre as práticas que
realiza e experiências que compartilha; produzir o profissional, dotando-o de saberes
específicos em constante reelaboração; produzir a escola como espaço de trabalho e
formação, implicando gestão democrática e
práticas curriculares participativas.
A REFLEXÃO SOBRE A AÇÃO
Segundo ELIAS E FELDMAN (1999), uma
forma de se fugir à fragmentação do ensino
é a de se pesquisar a realidade em todas as
possibilidades e interconexões. Tal perspectiva remete-nos para a importância da contextualização na formação profissional.
A REFLEXÃO SOBRE A REFLEXÃO NA AÇÃO
O saber valorar permeia todo o processo
de formação de nossos profissionais. Segundo RISTOFF (1996), avaliar tem a função de
afirmar valores. Precisa ser espelho e lâmpada, não apenas espelho. Logo, a avaliação
precisa não apenas refletir a realidade, mas
iluminá-la, criando enfoques, perspectivas,
mostrando relações, atribuindo significados.
Para alcançar a formação de um profissional crítico e reflexivo, acredita-se na adoção de uma pedagogia crítica, fundamentada na realidade e na identificação de problemas reais. A pedagogia problematizadora
traz em seu bojo um modelo de processo
ensino – aprendizagem que se dá numa relação entre dois elementos: um sujeito que
aprende e um objeto que é aprendido, tendo-se em conta os padrões culturais dos
elementos envolvidos no processo. Propõe o
aluno como construtor de seu conhecimento a partir da reflexão e indagação de sua
prática. Traz também o professor como
orientador, condutor do processo, um provocador de dúvidas, organizando sistematicamente uma série gradual de situações observadas numa realidade, através de sucessivas aproximações, desencadeando um
processo de ação-reflexão. O resultado dessa escola é um ser social, ativo, reflexivo,
criativo e solidário, capaz de compreender e
modificar sua realidade. (BORDENAVE, 1996;
SAUPE, 1998; VALENTE, 1999; CHIRELLI, 1999).
BORDENAVE (2001) afirma que a educação problematizadora não tem uma metodologia única, nem adota técnicas fixas. É
orientada por alguns princípios: a percepção
da realidade, o protagonismo do aluno e o
trabalho em grupo.
Portanto, essa proposta pedagógicometodológica baseia-se na tríade ação-reflexão-ação, considerando que a aprendizagem se dá a partir de uma realidade vivenciada, que é problematizada, teorizada, refletida e transformada. A adoção dessa concepção de ensino-aprendizagem produz no
aluno um espírito crítico e investigativo,
transformando-o em agente ativo de sua
formação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BORDENAVE, JE. Estratégias de ensino e aprendizagem. Vozes. 22 ed. p. 312 p. Petropolis, 2001.
CHIRELI
ELIAS E FELDMAN
NOVOA, A. Avaliação em educação: Novas perspectivas. Ed. Porto Alere, 1993.
SAUPE, R. Ensinando e aprendendo. Revista da USP.
São Paulo, 1992.
SCHÖN
SINGER
VALENTE
* Psicóloga, Coordenadora das Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
7
UM PONTO À FRENTE
Perceber-se interdisciplinar
Rosina Maria Turano MOTA*
INTRODUÇÃO
Trabalhar pluri ou multidisciplinarmente, justapondo várias disciplinas sem
pensar na síntese – esse foi o primeiro
passo dado pelas Faculdades Pitágoras de
Montes Claros na implantação do projeto
pedagógico de seus cursos, elegendo como
eixo um Projeto Multidisciplinar.
Investigar interdisciplinarmente, buscando a síntese das várias disciplinas que
compõem cada período de curso, com novas relações estruturais e nova linguagem
descritiva – essa é fase atual, em que o saber que intencionaliza a ação pedagógica
pressupõe o conhecimento como um processo interdisciplinar de construção de
seus objetos.
Pensar transdisciplinarmente, reconhecendo que a síntese dialética provocada pela interdisciplinaridade, quando bem
sucedida, leva à transdisciplinaridade –
essa é a utopia que norteia a presente proposta. Ela foge do alcance da ciência, mas
pode orientar sua evolução.
No cotidiano do trabalho, os conceitos
acima, fundamentados em teóricos da interdisciplinaridade, como GUSDOR (XXXX)
e JAPIASSU (XXXX) e, particularmente, nas
publicações de FAZENDA (1993; 1998), são
discutidos e permeiam o fazer pedagógico.
DISCUSSÃO
Cada um dos atores sente-se componente de um todo, parte de uma mesma pesquisa e uma pesquisa à parte.
O projeto, antes multi, agora cada vez
mais interdisciplinar, viabiliza-se nesta instituição como um processo globalizador,
como uma postura pedagógica que tem
um princípio ativo, integrador, e objetiva
minimizar a artificialidade do ensino acadêmico tradicional, aproximando-o, o mais
possível, da realidade social e das exigências do mercado de trabalho. Ultrapassa os
muros da faculdade e cria elos entre os
conteúdos estudados e o meio, permitindo
uma melhor compreensão da historicidade
de nosso tempo e a formação de profissionais conscientes de seu papel como cida-
dãos e sujeitos de seu próprio conhecimento.
O projeto é uma atitude intencional,
um plano de trabalho, um conjunto de
ações que implicam um envolvimento pessoal do aluno e do grupo nas atividades
empreendidas. Vincula aspectos teóricos
de cada disciplina à realidade, a partir de
pontos de convergência entre as disciplinas e a problematização em cada campo
específico do conhecimento. Caracterizase pelas trocas entre os especialistas e pela
integração das disciplinas num mesmo
projeto de pesquisa.
No vai-vém das ações desencadeadas,
juntam-se esforços na construção do
todo.
No projeto, o processo de aprendizagem centra-se na resolução de problemas.
Estes geram uma série de indagações e necessidades que vão dando o eixo de estudo e de pesquisa. O problema central é
real, significativo para os alunos e está inserido num contexto sociocultural.
Os projetos de trabalho constituem
uma produção de caráter científico. Cada
fase (problematização, coleta de dados,
sistematização, relatório técnico e seminário) desenvolve-se para os primeiros passos do estudante em uma faculdade, informando-o no estudo, tornando eficazes
suas leituras e indicando caminhos seguros para a pesquisa e a redação de textos.
Nas trilhas do saber, docentes e discentes reconhecem-se como unidade
na diversidade.
Nesse trabalho, é indispensável a cumplicidade e o envolvimento de cada um dos
professores. Ele exige que cada um se
comprometa com os objetivos do projeto,
que se empenhe em chegar à comprovação de hipóteses levantadas na resolução
de problemas, que persista em sua ação de
orientador e supere os obstáculos. A implementação dos projetos interdisciplinares depende essencialmente da postura
dos docentes. Os múltiplos pontos-de-vista tendem a gerar tensão no grupo; enri-
* Pedagoga, Mestre em Geografia, Coordenadora Acadêmica das Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
8
quecem a pesquisa e desafiam os participantes a administrarem os conflitos. Pelo
fato de os docentes terem sua formação ligada a um regime de especialização, a
idéia da interdisciplinaridade provoca um
repensar da própria autonomia dos especialistas.
O trabalho interdisciplinar convida à
renovação da inteligência no encontro de
pesquisas antes solitárias, agora solidárias,
e provoca uma viagem interior, com reações quase sempre surpreendentes. Segundo ASHVAGHOSHA (1986), o que de
mais valioso se tem apreendido dessa experiência acadêmica é a constatação de
que quando a mente é perturbada, produz-se a multiplicidade das coisas; quando
a mente é aquietada, a multiplicidade das
coisas desaparece.
Portanto, “interdisciplinar” é um termo
do século XX, embora o conceito subjacente seja da filosofia antiga. No entanto, as
idéias de integração, síntese e unidade
persistem como valores filosóficos, sociais
e educacionais. Procurando superar a crise
de fragmentação do conhecimento, as Faculdades Pitágoras de Montes Claros constróem um novo paradigma de educação
superior, onde se mesclam o ensino, a pesquisa e a extensão.
Nessa desafiadora construção, cada
um dos artífices não tem como deixar de
perceber-se interdisciplinar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASHVAGHOSHA. The Awakening of Faith. p. 78, cit in
CAPRA, F. O tao da física. p. 26, São Paulo: Cultrix,
1986.
FAZENDA, ICA. Interdisciplinaridade: um projeto. São
Paulo: Loyola, 1993.
_____. (Org.) Didática e interdisciplinaridade em
parceria. Campinas: Papirus, 1998.
GUSDUR
JAPIASSU
MULTITEXTOS
O CUIDAR DE FERIDAS CRÔNICAS: COMO
ESTÁ SENDO REALIZADO?
Carlene do Prado Barbosa FAGUNDES; Josiana Martins Dornelles FERRAZ;
Patrícia Fernandes do PRADO; Patrícia Gonçalves CARVALHO; Raquel Guimarães MAIA*
RESUMO
Este artigo constitui-se de informações
sobre determinantes que venham influenciar no tratamento e cuidado de feridas
crônicas, com os objetivos de verificar
como está sendo realizado o cuidado das
feridas dos portadores entrevistados e
proporcionar aos autores deste estudo um
amplo conhecimento e capacidade para
analisar características e aspectos relacionados às feridas crônicas. Toma como o referencial teórico estudos morfofuncionais
da pele normal, processo de cicatrização,
produtos utilizados no tratamento de lesões de pele e os tipos de feridas. Com
base no método qualitativo de pesquisa os
dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturada com portadores de
feridas crônicas em domicílios e hospitais
da cidade de Montes Claros (MG). A partir
das análises dos resultados foi possível
identificar tanto fatores condicionadores
positivos de uma boa evolução, quanto fatores negativos que retardariam o processo cicatricial.
Palavras-chaves: Ferida crônica, cuidados
no tratamento e processo de cicatrização.
INTRODUÇÃO
As feridas na pele são rupturas estruturais ou fisiológicas no tegumento que
incitam respostas de reparação. Quando
há uma lesão de qualquer tecido, inicia-se
uma série completa de respostas que contribue para eliminação das células lesadas
e de outros elementos não desejados, visando proteger os tecidos viáveis e reconstruir a área (MENDES ET AL., 2000; MARQUES, 2002).
Feridas crônicas são aquelas onde há
déficits de tecido como resultado de uma
lesão duradoura ou com reincidência freqüente (DEALEY, 2001).
Cuidar de feridas é um processo que
está presente no dia-a-dia dos profissionais da Enfermagem, sendo necessário,
portanto, que se tenham conhecimentos a
respeito da fisiologia da pele, da classificação das feridas, das fases de cicatrização e
dos fatores que influenciam o processo de
cicatrização, para fazer uma boa avaliação
e estabelecer uma conduta para o seu tratamento. Além disso, para compreender a
cura das feridas é necessário conhecer o
paciente como um todo, uma vez que cada
indivíduo é diferente e tem suas especificidades (MENDES ET. AL., 2002).
Dessa forma, surge assim o problema
deste artigo: avaliar como está sendo realizado o processo do cuidado das feridas
crônicas dos portadores aqui estudados.
Frente ao que foi exposto, buscou-se
com este trabalho, contextualizar o processo do cuidar das feridas crônicas, associado a uma avaliação da realidade cultural e social do universo estudado.
Dadas essas considerações, o presente
artigo tem por objetivo verificar como está
sendo realizado o cuidado das feridas crônicas dos portadores entrevistados, descrever e avaliar os resultados obtidos e
proporcionar um maior conhecimento aos
autores deste trabalho sobre o cuidar de
feridas crônicas, almejando a formação de
profissionais mais críticos e capacitados a
desenvolver suas habilidades de acordo
com a sua realidade.
REVISÃO DE LITERATURA
Para embasamento teórico do presente
trabalho, citam-se conceitos de alguns autores sobre temas que serão abordados, a
saber: pele normal e suas características,
processo de cicatrização, tipos de feridas e
fatores que interferem no processo de cura
da ferida.
Segundo CÂNDIDO (2001), a pele é o
maior órgão do nosso corpo; mede aproximadamente 2m2, pesa cerca de 2kg, com a
espessura, variando, conforme a região, de
1mm a 4 mm. Sua principal função é revestir e proteger as estruturas internas,
isolando-as dos fatores agressivos externos. Divide-se em três camadas com funções especificas.
A epiderme, a camada mais externa da
pele tem como funções básicas manter a
integridade da pele e atuar como barreira
física. A função da derme é oferecer resistência, suporte, sangue e oxigênio à pele
(HESS, 2002). A hipoderme é rica em tecido adiposo tendo como função principal
proteção mecânica e isolamento térmico
(CÂNDIDO, 2001).
De acordo com SANTOS (2000), as feridas são resultado da perda ou não da integridade tissular que leva a um comprometimento de sua função fisiológica. Assim,
as feridas são classificadas em agudas e
crônicas de acordo com o tempo de reparação tissular. Segundo esse autor, as feridas agudas são oriundas de cirurgias ou
traumas, cuja reparação ocorre em tempo
adequado e seqüência ordenada, sem
complicações levando à restauração da integridade anatômica e funcional; as crônicas, contrariamente, são aquelas que não
são reparadas em tempo esperado e apresentam complicações.
As feridas pós-operatórias são feridas
agudas intencionais. Podem cicatrizar por
primeira intenção, caso em que as bordas
da pele são mantidas próximas. Algumas
feridas cirúrgicas são deixadas abertas
para cicatrizarem por segunda intenção,
geralmente a fim de permitir a drenagem
de material infectado (DEALEY, 2001)
Segundo HESS (2002), quando a integridade da pele é alterada e aparece uma
ferida, inicia-se um processo de cicatrização. A primeira fase é a inflamatória (fase
defensiva ou reativa), seguida pela fase
proliferativa (fase fibroblástica de regeneração ou do tecido conjuntivo). A fase final
é a fase da maturação ou remodelagem.
Como afirma CÂNDIDO (2001), a fase
inflamatória ou exsudativa dura, em média
de 48 a 72 horas. É caracterizada pelo aparecimento de sinais prodrômicos da inflamação: dor, calor, rubor e edema. Os mediadores químicos provocam vasodilatação, aumentando a sua permeabilidade, o
que favorecerá a quimiotaxia dos leucócitos; os neutrófilos combaterão os agentes
invasores e os macrófagos realizarão a fagocitose.
A segunda fase é denominada proliferativa, com duração média de 12 a 14 dias.
Ocorre a neo-angiogênese, produção de
colágenos jovens pelo fibroblasto, e intensa migração celular, principalmente de
queratinócitos, promovendo a epitelização.
A terceira etapa pode durar de meses
a anos e é chamada maturação ou remodelação. Ocorre a reorganização do colá-
* Acadêmicas do 4º período do curso de Enfermagem das Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
9
MULTITEXTOS
geno, que adquire maior força tênsil e
empalidece.
Diversos fatores podem atrasar ou impedir a cicatrização. Fatores locais são os
que incidem diretamente na ferida enquanto os fatores sistêmicos ocorrem de
forma disseminada pelo corpo. Os fatores
locais que impedem a cicatrização de feridas incluem pressão, ambiente seco, trauma, edema, infecção, necrose e incontinência. Os fatores sistêmicos incluem idade, biótipo, doenças crônicas, condições
nutricionais ineficiências vasculares imunossupressão e radioterapia (HESS, 2002).
De acordo com BORGES (2001), a idade é um fator sistêmico que pode interferir negativamente no processo de cicatrização, uma vez que fisiologicamente, com
o avançar dos anos, inicia-se a redução
dos processos metabólicos, de multiplicação celular, da taxa de produção de colágeno e da velocidade da cicatrização.
A localização de uma ferida pode ser
um indício de possíveis problemas, como
risco de contaminação, nas feridas na região sacra, ou problemas de mobilidade,
provocados por feridas no pé. Um outro
aspecto é o fato de que um curativo pode
se posicionar bem em uma parte do corpo,
mas não em outra (Dealey, 1996).
SANTOS (2000), diz: “o processo de cuidar de pacientes com feridas agudas ou
crônicas é muito mais amplo, científico e
interdisciplinar do que cuidar de feridas”. O
cuidado sob medida para o paciente é base
para um tratamento efetivo das feridas,
que tem por fim promover a cicatrização,
reduzir o risco de infecção, agravamento
da lesão, e manter a viabilidade cutânea.
Para alcançar um desfecho positivo no tratamento, devem ser considerados, de um
modo amplo, tanto o paciente quanto a
ferida.
De acordo com DEALEY (2001), há inúmeros produtos à disposição para tratamento de feridas e muitas opiniões conflitantes sobre a maneira de usá-los.
“Os procedimentos técnicos e as substâncias empregadas no cuidado de feridas
devem propiciar um micro ambiente ótimo
para a restauração tissular, sem traumas
ou toxicidade complementares” (SANTOS,
2000).
GOMES E CARVALHO (2002) relatam
que o uso indiscriminado de anti-séptico,
como o PVPI, é um problema pois as substâncias são tóxicas ao microrganismo
como também às células humanas. Além
disso, algumas soluções anti-sépticas podem ser inativadas ou terem sua ação diminuída em presença de exsudato plasmático muito freqüente em feridas, principalmente crônicas.
10
BRUNNER & SUDDARTH (2002) descreve que o uso de água oxigenada no tratamento de feridas tem efeito oxidante,
destruindo as células anaeróbicas. Os mesmos autores ainda chamam a atenção
quanto ao uso de sabões, que são caracterizados como secantes e irritantes, podendo agravar problemas cutâneos.
GOMES & CARVALHO (2002) ainda
afirmam que o soro fisiológico a 0,9% para
limpeza e desinfecção da ferida é um produto seguro, tratando-se de uma solução
inócua às células humanas, não apresentando toxicidade ao organismo. Além disso, o soro fisiológico a 0,9% remove os tecidos debéis através da força hidráulica,
sem traumatizar a ferida.
Sabe-se ainda que existem outros produtos não convencionais utilizados no tratamento de feridas, dentre eles destacamse o açúcar e o pó de café. Segundo SANTOS (2001), desde a antiguidade havia relatos do uso de mel para o tratamento de
feridas. Somente em 1933 surgiram as primeiras publicações sobre o uso do açúcar
ter efeito bactericida, cuja ação eficazdemanda a troca a cada duas horas. Já
o pó de café não oferece nenhum benefício para o tratamento da ferida, impedindo o processo de reparação tissular.
DEALEY (2001) afirma que uma circulação deficiente reduz a perfusão nos tecidos. Isto desacelera a cicatrização e aumenta o risco de infecções. A doença vascular periférica geralmente é uma complicação do Diabetes Mellitus. Tem um efeito
prejudicial sobre a cicatrização das feridas
dos membros inferiores e pode até ser um
fator predisponente à sua ocorrência.
HOLZMAN & TURK (1986), citados por
DEALEY (2001), descrevem a dor como
uma experiência única de cada indivíduo.
Segue-se, portanto, que somente o paciente poderá descrever sua presença e sua
gravidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo qualitativo e
quantitativo. A abordagem quantitativa
significa quantificar opiniões, dados na
forma de coleta de informações, como
também o emprego de recursos e técnicas
estatísticas, como percentagem. O método
qualitativo não emprega dados estatísticos
como centro do processo de análise de um
problema (OLIVEIRA, 1999).
Este trabalho foi desenvolvido em domicílios e unidades de saúde da cidade de
Montes Claros (MG), entre 5 e 13 de dezembro de 2002. Neste período, foram entrevistados sete portadores de feridas crônicas, com idade acima de 40 anos e de
ambos os sexos.
Para a coleta de dados foram utilizadas
entrevistas semi-estruturadas compostas
por 19 perguntas, cujo roteiro foi elaborado pelos autores do presente trabalho,
acadêmicos do 4º período do curso de graduação em Enfermagem das Faculdades
Pitágoras de Montes Claros.
As falas dos entrevistados serão reproduzidas com fidelidade e identificadas
como E(1), E(2), E(3)... para mantermos em
sigilo as identidades. O anonimato
proporcionou uma maior abertura dos entrevistados – fundamental para a compreensão profunda do quadro e de como eles
compreendem suas feridas.
RESULTADOS
A pesquisa de campo iniciou-se a partir da busca de indivíduos portadores de
feridas crônicas em domicílios e nas unidades de saúde na cidade de Montes Claros. Com base nos relatos coletados nas
sete entrevistas dos portadores de feridas,
foi possível levantar algumas questões referentes à prática do cuidar. Os resultados
teceram-se da seguinte forma:
Resultados Descritivos Quantitativos das
Entrevistas aos Portadores de Feridas
Crônicas em domicílios e nas Unidades
de Saúde da Cidade de Montes Claros
Quando questionado sobre a idade,
constatou-se que 57,14% dos entrevistados possuem faixa etária entre 40 a 50
anos e 42,86%, acima de 51 anos.
Em relação à escolaridade, 57,14% dos
entrevistados possuem até a 4ª série do
ensino fundamental, 28,57% são analfabetos e 14,28% possuem até a 6ª série do
ensino fundamental.
N degas
14,28%
P diab tico
14,28%
Tornozelo
14,28%
Pernas
57,13%
0,00% 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
% %
%
% %
%
GRÁFICO I: LOCAL DA FERIDA NOS INDIVÍDUOS
PORTADORES
FONTE: PESQUISA DIRETA, DEZEMBRO DE 2002.
MULTITEXTOS
melhorar mais, já fiz de tudo. E(2)
14,28%
28,56%
O pr prio
portador da ferida
Insufici ncia vascular dos
membros inferiores
Parente do
portado de ferida
Diabetes Mellitus
O parente e o
pr prio portador
da ferida
Hipertens o Arterial
100%
Minha ferida mesmo deu bicho, tá fedendo, não acho que esta melhorando.
E(3)
100%
71,42%
No início a minha ferida era mais avermelhada, e agora já esta até diminuindo de tamanho. E(4)
100%
Acho que é quando a ferida tem menos
secreção e quando arde menos. E(1)
28,57%
57,14%
42,85%
0,00% 50,00 100,00 150,00
% % %
GRAFICO II: CUIDADOR DA FERIDA
FONTE: PESQUISA DIRETA, DEZEMBRO DE 2002.
14,28%
28,57%
Auxiliar de enfermagem
Funcionario do PSF
14,28%
Ningu m
M dico
14,28%
28,57%
Gerente do Posto de
Sa de
Produtos utilizados
GRÁFICO III: ORIENTAÇÃO SOBRE O CUIDADO DAS
FERIDAS CRÔNICAS AO PORTADOR/CUIDADOR DE
FERIDAS CRÔNICAS.
FONTE: PESQUISA DIRETA, DEZEMBRO DE 2002.
Folhas
1
28,57%
14,28%
14,28%
14,28%
14,28%
42,84%
71,41%
0,00% 50,00% 100,00%
gua fervida
gua
Oxigenada
PVPI
Oleo de
Girassol
gua e sab o
GRÁFICO IV: PRODUTOS UTILIZADOS PELOS
PORTADORES DE FERIDAS CRÔNICAS
FONTE: PESQUISA DIRETA, DEZEMBRO DE 2002.
GRÁFICO V– INDIVÍDUOS QUE APRESENTA
DOENÇAS QUE PODEM COMPROMETER O
TRATAMENTO DAS FERIDAS
FONTE: PESQUISA DIRETA, DEZEMBRO DE 2002
Em relação à atividade diária, 28,57%
dos entrevistados relataram que a ferida
atrapalha as atividades diárias, 42,85%
disseram que a ferida não interfere, e
28,57% dos entrevistados afirmara m que
a ferida somente atrapalha quando causa
dor.
Resultados Descritivos Qualitativos das
Entrevistas aos Portadores de Feridas
Crônicas nos Domicílios e nas Unidades
de Saúde da Cidade de Montes Claros
Referente ao tempo de duração e surgimento da ferida, verifica-se um processo
individualizado e passível de alterações,
uma vez que características, manejos e hábitos pessoais determinam o tempo de
permanência da ferida.
Sendo relatado:
Fiquei paraplégico por causa de um tiro
e há 10 meses estou com esta ferida por
ficar em uma mesma posição. A gente
não tem conhecimento pra cuidar, então a ferida foi só aumentando e a única posição que eu fico é de bruço. E(1)
Tinha um feridinha de varizes na perna
que, desde junho desse ano, inchou,
deu bicho, febre. Foi quando eu internei
pra fazer uma cirurgia na perna. E(4)
Desde os 12 anos tenho essas feridas e
há 68 anos convivo com elas. E(6)
Quando perguntamos sobre o conhecimento do portador de feridas em relação à
evolução e o processo de melhora da lesão,
obtivemos as seguintes respostas:
Ah, acho que essa ferida minha não vai
No que diz respeito ao processo de dor
os entrevistados relataram:
Sinto muita dor na ferida, e já cheguei a
tomar 15 Voltarem no mesmo dia. E(5)
Já senti dores horríveis e os analgésicos
acabaram com minha saúde. E(6)
DISCUSSÃO
Análise Quantitativa dos Resultados
Discutiremos, a seguir, os resultados
obtidos em suas respectivas categorias.
Em relação à idade, os indivíduos que
possuem faixa etária acima de 51 anos,
possuem maior propensão a adquirir ou a
agravar lesões cutâneas. O que pode ser
comprovado, segundo BORGES (2001),
porque a pele começa a apresentar sinais
de involução por volta de 40 anos, tornando-se mais evidente aos 65 anos, quando o
processo se torna acelerado. Além disso, a
idade interfere no processo de cicatrização, como foi confirmado por BORGES
(2001). É importante que o profissional de
saúde esteja mais atento a indivíduos nesta faixa etária, prestando maiores cuidados, dando maior enfoque de informações,
pois percebe-se nestas pessoas uma relutância muito grande em aderir a tratamentos e medidas preventivas que visem à manutenção de sua saúde.
Quanto à escolaridade, os dados comprovam o baixo nível de escolaridade dos
entrevistados, o que compromete o tratamento de sua ferida, uma vez que a carência de instruções prejudica na compreensão das orientações sobre os cuidados para
com a ferida. A partir desse contexto, o
profissional de saúde terá maiores dificuldades para exercer seu papel de cuidador,
para promover a adesão ao tratamento de
feridas crônicas, porque não basta somente esclarecer mas, sim, convencer o paciente de que não só a ferida em si lhe trará limitações, como também seus hábitos
de vida (dieta, exercícios físicos, tabagismo
11
MULTITEXTOS
e consumo de bebida alcoólica).
Em se tratando do local da ferida, dados comprovam a maior incidência de lesões em membros inferiores, uma vez que
estes locais têm relação direta com complicações relacionadas a Diabetes Mellitus,
Hipertensão Arterial, Doença Vascular Periférica, entre outras. Tais locais são sujeitos
a fricção e possuem a evolução da cicatrização dificultada como afirmou DEALEY
(2001).
No que diz respeito ao cuidador da ferida, o resultado indica uma prevalência
do cuidador informal. Sendo assim, compete ao profissional enfermeiro orientar o
portador da ferida crônica e seus familiares, que podem estar auxiliando ou mesmo realizando o cuidado, para atentar-se
aos procedimentos corretos da troca de
curativos, bem como à higienização adequada do ambiente e material utilizado.
Sobre a orientação do cuidado de feridas crônicas, a carência de informações
acerca dos cuidados por parte de um profissional de saúde deixa os indivíduos à
mercê de tratamentos não convencionais,
como ervas, óleos, pó de café, açúcar, entre outros – o que pode prolongar o processo de cicatrização e o restabelecimento
da integridade da pele, como foi afirmado
SANTOS (2000).
Quanto aos produtos utilizados pelos
portadores de feridas, chama-se a atenção para a diversificação dos produtos
disponíveis no mercado. Além deles, é comum a utilização de produtos não convencionais, como ervas, óleos, açúcar, entre outros. Tais produtos são usados de
maneira cultural e podem não ser realmente eficazes no tratamento de feridas,
como diz SANTOS (2000). É importante
que o profissional de saúde fique atento
para a desmistificação da utilização de
produtos que já fazem parte da cultura
popular, esclarecendo até que ponto esses
produtos podem ou não auxiliar no processo de cicatrização.
Quanto à presença de doenças que
podem comprometer no tratamento da
ferida, ela pode propiciar o aparecimento
de feridas ou manter a sua cronicidade.
Além das patologias mencionadas, também constatou-se a presença de outras
doenças, tais como enfisema pulmonar,
artrose e insuficiência respiratória, que
podem agravar o quadro clínico dos pacientes.
Já em relação à atividade diária, a localização da ferida é um fator preponderante para o impedimento ou não da mesma,
como é o caso de feridas em membros inferiores e articulações, o que foi comprovado no universo das entrevistas.
12
Análise qualitativa dos resultados
Referente ao tempo de duração e surgimento da ferida, verifica-se um processo
individualizado e passível de alterações,
uma vez que características, manejos e hábitos pessoais determinam o tempo de
permanência da ferida.
Pela análise das respostas dos entrevistados, verifica-se que a origem e o tempo de duração de uma ferida crônica foram diversificados, sendo um processo individualizado, dependendo de características pessoais de cada portador.
Quando perguntamos sobre o conhecimento do portador de feridas em relação à
evolução e o processo de melhora da lesão,
pelas respostas dos entrevistados, pôde-se
perceber o desconhecimento a respeito
das características que indicam a evolução
da ferida – o que pode estar relacionado
ao nível educacional dos entrevistados.
Com isso, faz-se necessária a atuação de
um profissional de saúde, através de orientações sobre o processo de melhora, junto
aos portadores de feridas crônicas.
No que diz respeito ao processo de dor,
um dos propósitos das entrevistas foi investigar a presença ou não de dor nos pacientes. Observou-se que o melhor indicador da dor do paciente é o relato do próprio paciente.
CONCLUSÕES
Os resultados e as análises dos dados
coletados permitiram constatar que o portador de ferida crônica é um indivíduo integral, com necessidades físicas, psicológicas e sociais, e a ferida é parte desse contexto, não podendo ser vista de forma isolada ou secundária no tratamento.
Baseando-se nas entrevistas realizadas, foi possível perceber fatores condicionantes a uma boa recuperação dos ferimentos, quais sejam: alguns produtos utilizados no tratamento e limpeza da lesão,
formas de identificação, melhora do comprometimento da ferida.
Por outro lado, esses clientes também
apresentaram fatores negativos, comprometendo a saúde e a qualidade de vida,
tais como: tempo de cuidado X tempo de
existência da ferida – muitos só iniciaram
o tratamento da ferida após alguma complicação, já decorrido algum tempo; o uso
de uma medicação natural e cultural a
partir de plantas e outros produtos – o que
muitas vezes pode ser prejudicial pela falta
de conhecimento específico.
Na área do “cuidar de feridas”, a todo
momento surgem novos produtos, novas
tecnologias e diretrizes. É imprescindível,
portanto, mudar conceitos e comportamentos. Os caminhos são inúmeros e interdependentes. Não basta, nem se deve,
trabalhar sozinho.
É essencial que os profissionais de saúde estejam sintonizados com a realidade,
aperfeiçoando sempre mais sua ação e interação.
O trabalho do enfermeiro requer empenho e tenacidade para flexibilizar conceitos que foram, muitas vezes, endurecidos pelo tempo e pela falta de cultura.
O enfoque do tratamento é feito na
perspectiva de que o paciente ou o eventual tratador leigo saibam cuidar da ferida.
É de responsabilidade do profissional enfermeiro não só esclarecer, mas fazer com
que o individuo enxergue que os fatores
que, em um primeiro momento de sua
vida, não são sentidos negativamente
(como por exemplo o sedentarismo, a falta
de uma dieta equilibrada e a falta de atividade física), sejam encarados como futuros desencadeadores de sua patologia e
também como dificultadores do processo
de cura.
Diante dos resultados obtidos, verificou-se a necessidade de transmitir ao
cliente portador de ferida crônica o conhecimento necessário para auxiliar no
tratamento e recuperação da lesão. Portanto, cabe a nós, enquanto futuros profissionais de saúde, estimular a promoção
e prevenção da saúde, enfocando, principalmente, o ato de cuidar, através de programas educativos, e visando, assim, mobilizar e alcançar os clientes portadores
de feridas crônicas, motivando-os a melhorar o autocuidado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
CÂNDIDO, L. CC. Novas Abordagens no Tratamento do
Feridas. São Paulo: Senac, 2001. pg. 74, 76.
DEALEY, Carol. Cuidando de Feridas: Um Guia para as
Enfermeiras. 2ª ed. São Paulo: Editora Atheneu,
2001. pg. 49, 50, 67.
MENDES, MARQUES et al. Nursing Revista Técnica de
Enfemagem. Nº 55, dez. 2002, Ano 5. pg. 23.
SANTOS, V. L. C. G. Avanços Tecnológicos no Tratamento de Feridas e Algumas Aplicações em Domicílio. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2002.
HESS, C. T. Tratamento de Feridas e Úlceras. 4ª ed. Rio
de Janeiro: Editora Reichmann & Affonso, 2002, pg.
11.
OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Ciêntífica. 1ª
ed. São Paulo: Editora Pioneira, 2002. pg 115,116.
GOMES, F. S. L., CARVALHO, D. V. Revista Mineira de
Enfermagem. Belo Horizonte: Faculdades de Enfermagem da UFMG. v. 6, Jan. / Dez. 2002.
BRUNNER, Suddarth. Enfermagem Médico Cirúrgica.
9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1998.
BORGES, Eline Lima et al. Feridas: como tratar. Editora Coopmed, 2001.
MULTITEXTOS
CATÁLOGO DOS TIPOS DE DEFICIÊNCIA EM
PACIENTES DE CLÍNICAS PRIVADAS DE
FISIOTERAPIA EM MONTES CLAROS (MG)
Paula Maria SOARES*; Antônio Igor de Castro ALVES; Carla Geanine Santos OLIVEIRA; Cláudio Tadeu SANTOS; João Warley ALVES;
Leonardo Emílio de Freitas PATENTE; Paulo Afonso Ruas JÚNIOR**
RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar um catálogo dos tipos de
deficiências encontradas em pacientes de
clínicas de fisioterapia da cidade de Montes Claros. Visa também a fornecer dados
atuais, de forma descritiva e sucinta, que
poderão contribuir para futuras pesquisas
e auxiliar na elaboração de programas preventivos ou de acompanhamento ao tratamento voltado para a melhoria na qualidade de vida dos deficientes, podendo também contribuir significativamente para
maiores informações sobre as deficiências
mais encontradas. A pesquisa caracterizase como bibliográfica e descritiva analítica,
constituída pela análise de entrevistas
através de formulário com questões duplas, centradas na temática proposta.
Palavras-chaves: Deficiência mental; deficiência física; deficiência motora; deficiência visual; deficiência auditiva.
INTRODUÇÃO
Os Portadores de Necessidades Especiais são aquelas pessoas que apresentam
alguma deficiência física, cognitiva, sensorial, múltipla, ou que é portadora de condutas típicas, ou ainda de altas habilidades,
de caráter permanente ou temporário, necessitando de recursos especializados para
superar ou minimizar suas dificuldades.
No Brasil, de acordo com os dados do
IBGE do censo demográfico de 2000, a população é de 169.799.170 habitantes, onde
as deficiências atingem todas as camadas
sociais. Entretanto, seus efeitos e problemas são mais freqüentes e agravados junto a populações de baixa renda, ou populações sem condições mínimas de acesso à
atenção primária de saúde e educação, que
se encontram desassistidas e marginalizadas.
Para demonstrar o número de deficientes existente no Brasil, o IBGE dividiu
os tipos de deficiência em: física, motora,
mental, visual e auditiva. A população com
deficiência física é de 2.844.447 pessoas;
com deficiência motora, 7.879.600; com
deficiência mental, 2.848.684; com deficiência visual, 16.573.937; e com deficiência auditiva, 5.750.810.
Em Montes Claros não há registros disponíveis de catalogação das deficiências
apontadas pelo censo 2000, dificultando
uma melhor intervenção fisioterápica junto aos pacientes. Diante disso, os objetivos
deste estudo foram: a) catalogar os tipos
de deficiência em pacientes de clínicas de
fisioterapia de Montes Claros, fornecendo
dados atuais de forma descritiva e sucinta
que poderão contribuir para basear futuras
pesquisas; b) contribuir significativamente
para maiores informações sobre as deficiências mais encontradas na cidade; c) relacionar dados obtidos após realização da
pesquisa com os dados fornecidos pelo
censo de 2000; e d) fornecer dados informativos para uma melhor intervenção fisioterápica na deficiência.
REVISÃO DE LITERATURA
O termo “pessoas deficientes” refere-se
a qualquer pessoa incapaz de assegurar
por si mesma, total ou parcialmente, as
necessidades de uma vida individual ou
social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais (ROWLAND,
1997).
Tipos de Deficiências
1. DEFICIÊNCIA MENTAL: Refere-se ao funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, que coexiste
com falhas no comportamento adaptado
e se manifesta no período de desenvolvimento. Os portadores de deficiência mental apresentam o Quociente de Inteligência (QI) inferior à média apresentada pela
população. A ocorrência de deficiência
mental gira em torno de 50% dos casos
de deficiências. Os portadores desse tipo
de deficiência são vítimas de preconceito
em relação a seus potenciais. Avaliando
individualmente cada caso, enriqueceria a
possibilidade de um acompanhamento
especializado e evolutivo.
Pode ser classificada como:
• Deficiência Mental Leve: Ocorre um atraso leve no desenvolvimento da criança
na idade escolar e não diferencia da média das crianças consideradas normais.
Ao iniciar sua fase escolar, apresenta dificuldades gerais ou específicas em ler,
escrever ou contar. Esses distúrbios começam a aparecer com o aumento das
exigências do ensino, necessitando um
apoio adequado quanto às disciplinas de
rendimento deficitário. Na adolescência
ou idade adulta, podem adaptar-se socialmente e desempenhar atividades
profissionais, adquirindo independência
econômica ou social (UMPHRED, 1994).
• Deficiência Mental Moderada: Esta deficiência é identificada nos primeiros anos
de vida. Atrasos nas áreas de desenvolvimento motor, mental, social e da
aprendizagem são facilmente perceptíveis (EDWARDS, 1999).
• Retardo Mental: São as limitações substanciais do funcionamento presente. Retardo Mental é definido como uma dificuldade fundamental em aprender (limitação intelectual) e desempenhar certas
habilidades na vida diária. Essas habilidades são importantes para o sucesso
funcional e estão freqüentemente relacionadas à necessidade de apoio que as
pessoas com retardo mental apresentam
(SAMPAIO, 1999).
2. DEFICIÊNCIA FÍSICA: Segundo BOBATH
(1989), a deficiência física é um comprometimento do aparelho locomotor que
compreende o sistema ósteo-articular, o
sistema muscular e o sistema nervoso. As
doenças ou lesões que afetam quaisquer
desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis,
segundo o(s) segmento(s) corporais afeta-
* Fisioterapeuta, Professora das disciplinas Movimento e Desenvolvimento Humano I e II da Faculdade Pitágoras de Fisioterapia de Montes Claros.
** Acadêmicos do 4º período do curso de Fisioterapia da Faculdade Pitágoras de Montes Claros.
13
MULTITEXTOS
dos e o tipo de lesão ocorrida. As mais comuns são:
• Tetraplegia: causada por alguma lesão
medular.
• Hemiplegia: causada por alguma lesão
cerebral.
• Paraplegia: causada por alguma lesão
medular.
• Falta do membro ou parte dele.
3. DEFICIÊNCIA VISUAL: É uma limitação
sensorial grave que pode anular ou reduzir
a capacidade de enxergar, abrangendo vários graus de acuidade visual. Situação irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou
hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. A deficiência visual é uma das
formas mais comuns de perdas sensoriais
de indivíduos com deficiência. Embora freqüentemente receba pouca atenção, a lesão pode afetar um olho, a sua irradiação
ótica e o córtex visual, representando respectivamente a recepção, transmissão e
apreciação de qualquer estrutura visual
(www.sarah.br).
4. DEFICIÊNCIA AUDITIVA: É considerada
genericamente como a diferença existente
entre a performance do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora.
Pode ser classificada como:
• Deficiência Auditiva Condutiva: Qualquer
interferência na transmissão do som
desde o conduto auditivo externo até a
orelha interna (cóclea). A orelha interna
tem capacidade de funcionamento normal, mas não é estimulada pela vibração
sonora. Esta estimulação poderá ocorrer
com o aumento da intensidade do estímulo sonoro. A grande maioria das deficiências auditivas condutivas pode ser
corrigida através de tratamento clínico
ou cirúrgico (ANDRÉ, 1999).
• Deficiência Auditiva Sensório-Neural:
Ocorre quando há uma impossibilidade
de recepção do som por lesão das células ciliadas da cóclea ou do nervo auditivo. Os limiares por condução óssea e
por condução aéreas, alterados, são
aproximadamente iguais. A diferenciação entre as lesões das células ciliadas
da cóclea e do nervo auditivo só pode
ser feita através de métodos especiais
de avaliação auditiva. Este tipo de deficiência auditiva é irreversível (ANDRÉ,
1999).
• Deficiência Auditiva Mista: Ocorre quando há uma alteração na condução do
som até o órgão terminal sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou do
nervo auditivo. O audiograma mostra
14
•
geralmente limiares de condução óssea
abaixo dos níveis normais, embora com
comprometimento menos intenso do
que nos limiares de condução aérea
(ANDRÉ, 1999).
Deficiência Auditiva Central, Disfunção
Auditiva Central ou Surdez Central: Este
tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, acompanhado de diminuição da sensitividade auditiva, mas
manifesta-se por diferentes graus de
dificuldade na compreensão das informações sonoras. Decorre de alterações
nos mecanismos de processamento da
informação sonora no tronco cerebral
(Sistema Nervoso Central) (ANDRÉ,
1999).
5. DEFICIÊNCIA MOTORA: É considerada
como um comprometimento do movimento devido algum tipo de deficiência do Sistema Nervoso Central, comprometendo
articulações e músculos. Ocorre a perda de
capacidades, afetando diretamente a postura e/ou o movimento, em conseqüência
de uma lesão, congênita ou adquirida, nas
estruturas reguladoras e efetoras do movimento no sistema nervoso. A deficiência
motora pode ser causada ainda por anormalidades durante o desenvolvimento psicomotor, levando a uma hipotonia generalizada, afetando toda a musculatura e a
parte ligamentar. A criança que apresenta
uma deficiência psicomotora vai apresentar uma dificuldade no controle de algumas habilidades como: rolar, sentar, arrastar, engatinhar, andar, correr e manter o
controle da cabeça (ROBBINS, 1996).
MATERIAL E MÉTODOS
Foram entrevistados 67 pacientes de
clínicas fisioterápicas de Montes Claros
nos dias 08 e 11 de novembro do ano de
2002. A amostra entrevistada foi escolhida aleatoriamente, e o sistema de coleta
de dados consistiu em obter informações
a partir de questões duplas centradas na
temática proposta. O formulário foi aplicado a pacientes de ambos os sexos e
com idades variadas, onde foi destacado
o tipo de deficiência da qual o paciente é
portador.
Todos os pacientes foram submetidos
ao formulário, sendo informados da natureza e do propósito do estudo, e assinaram
um termo de autorização para a realização
das entrevistas.
RESULTADOS
O gráfico 1 demonstra o número de
deficiências no Brasil segundo a Fundação
Institucional Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), onde o maior índice de deficiências encontradas foram do tipo visual
(com 46%), seguida, em segundo lugar, da
deficiência motora (com 22%), em terceiro
lugar da deficiência auditiva (com 16%), e
por fim das deficiências mental e física
(ambas com 8%).
F sica
8% Motora
22%
Visual
46%
Mental
Auditiva 8%
16%
F sica Motora Mental Auditiva Visual
GRÁFICO 1: TIPOS DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS
NO BRASIL SEGUNDO A FUNDAÇÃO INSTITUCIONAL
BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) –
2000.
Na execução da pesquisa feita nas clínicas de Montes Claros no mês de outubro
e início do mês novembro 2002, constatou-se que o maior número de deficientes
se encontrava na categoria das deficiências físicas, acompanhadas de deficiências
motoras. A deficiência do tipo mental
apresentou um baixo índice de ocorrência.
Não foram encontrados casos de deficiência auditiva e visual na amostra coletada.
O gráfico 2 demonstra os resultados
obtidos, comprovando que o maior índice
de deficiências encontradas nas clínicas de
fisioterapia foram do tipo física (com 49
pacientes) e motora (com 28 pacientes).
Ocorr?ncia de Defici?ncias em Rela? o ao Sexo
nas Cl nicas de Montes Claros
30 2425
20
10
0
19
9
11
00
00
Fsica Motora Mental Auditivo Visual
Masculino Feminino
GRÁFICO 2: TIPOS DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS
NAS CLÍNICAS FISIOTERÁPICAS NA CIDADE DE
MONTES CLAROS E SUA DISTRIBUIÇÃO EM SEXO –
2002.
MULTITEXTOS
DISCUSSÃO
Pacientes em Tratamento Fisioter pico Encaminhados pela
Ortopedia
casos
adversos
22%
A proposta desta pesquisa foi catalogar os tipos de deficiências mais freqüentes que acometem pacientes tratados em
clínicas de fisioterapia na cidade de Montes Claros. De acordo com o resultado da
pesquisa, em comparação com os dados
nacionais fornecidos pela Fundação Institucional Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) no censo realizado no ano de
2000, verifica-se uma certa discrepância
em relação aos dados coletados em Montes Claros no ano de 2002. O maior número de deficientes que são submetidos a
tratamentos nas clínicas fisioterápicas de
Montes Claros possuem deficiência física
e motora. Houve um baixo índice de pacientes com deficiência mental realizando
tratamentos fisioterápicos.
casos
ortop dicos
78%
casos ortop dicos
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
casos adversos
GRÁFICO 3: PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO ENCAMINHADOS PELA ORTOPEDIA – 2002.
O gráfico 3 demonstra que, nos resultados obtidos, 78% dos casos são ortopédicos e os outros 22% dos casos não são
relacionados com ortopedia, mostrando
aqui a importância da ação conjunta da
equipe de fisioterapia com a equipe da ortopedia para uma melhor eficácia no
tratamento. No estudo, pôde-se observar
que a maioria dos casos exige uma intervenção tanto fisioterápica quanto ortopédica.
Pode-se observar que a maioria dos
pacientes com deficiência apresenta uma
baixa renda familiar (TABELA 1).
Alguns pacientes apresentam mais de
uma deficiência; dessa maneira o número
de casos ultrapassa o número amostral.
CONCLUSÃO
Através dos dados coletados foi possível concluir que há um maior número
casos de deficiência física e motora
existentes em Montes Claros. Houve
também uma baixa representatividade
da deficiência mental, não sendo observada nenhuma deficiência visual e auditiva na amostra coletada. Os dados obtidos na pesquisa não assemelham com
os dados apresentados pelo IBGE no
censo 2000.
TIPOS DE DEFICIÊNCIAS POR RENDA FAMILIAR
de
17
13
00
00
00
30
10
05
01
00
00
16
08
03
01
00
00
12
05
02
00
00
00
07
77
Aci
ma
10
6a
5
4a
3
2a
1
0a
Físico
Motora
Mental
Auditivo
Visual
Total
Total de Casos
04
01
00
00
00
05
Au
x
ter iliado
cei p
ros or
Nã
od
ecl
ara
nte
FAIXA DE RENDAS
10
TIPO
01
02
00
00
00
03
03
01
00
00
00
04
TABELA 1: TIPOS DE DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS NAS CLÍNICAS FISIOTERÁPICAS EM MONTES CLAROS E
SUA DISTRIBUIÇÃO POR RENDA 2002.
ABBAS AK, Lichtman AH, Pober JS. Imunologia Celular & Molecular. 3a ed. Rio de Janeiro: Revinter;
2000.
ABRAHAMS, V. C. The physiology of neck muscles;
their role in head movement and maintenance of
posture. Can. J. Physiol Pharmacol; 1997.
ANDRÉ C. O Guia prático da neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999.
BOBATH, B. Desenvolvimento motor nos diferentes tipos de paralisia cerebral. São Paulo: Manole; 1989.
BOBATH, K. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. 2a ed. São Paulo: Manole; 1999.
CASTRO, Eliane Mauerberg; Schuller, Juliana P.; Moraes, Renato. Percepção de Distância em Indivíduos
Portadores de Deficiência Mental. Sobama Revista
da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Uberlândia. 1º vol, número 1, p.7-13, dezembro, 1996; Dez 1;1:7-13.
COTRAN RS, Kumar V, Robbins SL, Schoen FJ. Patologia Estrutural e Funcional. 5a ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 1996.
EDWARDS, S. Fisioterapia neurológica: uma abordagem centrada na resolução de problemas. Porto
Alegre: Artes Médicas Sul; 1999.
FARI JL. Patologia Especial. 2a ed. Rio de Janeiro: editora Guanabara; 1999.
FOSS M. Bases Fisiológicas de Exercício e do Esporte.
6a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
GHORAYEB N, BARROS T. O Exercício – Preparação Fisiológica, Avaliação Médica – Aspectos Especiais e
Preventivos. São Paulo: Atheneu; 1999.
GUYTON AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 9a
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
MCARDLE WD. Fisiologia do Exercício: Energia, Nutrição e Desempenho Humano. 4a ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
PAPALIA DE. Desenvolvimento Humano. 7a ed. Porto
Alegre: Artes Médicas; 2000.
PEAKMAN M. Imunologia: básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999.
REDE SARAH. Disponível em: < http://www.sarah.br/2002/Htmls/A-00-Page-02-O_paciente.html.
> Acesso em: 27 de out. 2002
ROTHER ET, Braga MER. Como elaborar sua tese: estrutura e referências. São Paulo; 2001.
ROWLAND LP. Merritt Tratado de Neurologia. 9a ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1997.
SAMPAIO JR (Org.). Qualidade de vida, saúde mental e
psicologia social: estudos contemporâneos. São
Paulo: Casa do psicólogo; 1999.
SOUZA REAC, Ladewig I, TAVARES MC. Atenção,
Aprendizagem e o Portador de Deficiência Mental.
Sobama Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Uberlândia. 1º vol, número 1,
p.20-24, dezembro, 1996.
TAVARES MC, Ferreira AI, Duarte E, Almeida JJG, Rodrigues JL, Araújo PF, Tolocka RE. Uma Proposta de
Avaliação Inicial para a Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiências em um Programa de Atividade
Física Adaptada. Sobama Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Uberlândia.
2º vol, número 2, p.5-9, novembro, 1997.
UMPHRED DA. Fisioterapia Neurológica. 2a ed. São
Paulo: Manole; 1994.
15
MULTITEXTOS
A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS TERAPÊUTICOS QUE
PRODUZEM DIATERMIA NO TRATAMENTO DE
PACIENTES PORTADORES DE LESÕES MENISCAIS EM
CLÍNICAS PARTICULARES DE MONTES CLAROS
Ivanilson SOARES; Kátia Gonçalves MENDES*; Liliane Lacerda SILVA; Silvana Mendes BATISTA; Tanísia Teixeira SILVA; Viviane Costa
FAGUNDES**
RESUMO
A pesquisa foi realizada com fisioterapeutas que trabalham em clínicas privadas
na cidade de Montes Claros (MG), a fim de
verificar se os aparelhos de Ondas Curtas e
Ultra-Som são usados e como estão sendo utilizados no tratamento fisioterápico
das lesões em meniscos.
Os aparelhos de Ondas Curtas e o Ultra-Som produzem calor profundo que desencadeia efeitos fisiológicos satisfatórios
como o alívio de dor, reduzem o espasmo
muscular, além de produzirem efeitos
específicos de acordo com cada indivíduo
e de sua lesão.
Por isso é importante que estes aparelhos sejam regulados criteriosamente para
que seus efeitos sejam eficazes levando à
satisfação do paciente.
A pesquisa foi realizada com a utilização de questionários entregues aos fisioterapeutas que responderam questões relacionadas com idade, sexo, números de pacientes com lesões meniscais e principalmente sobre os aparelhos diatérmicos,
com suas freqüências e intensidades de
acordo com as fases das lesões.
Os resultados dessa pesquisa demonstram que o Ondas Curtas e o Ultra-Som
são os aparelhos diatérmicos mais utilizados pelos fisioterapeutas, porém a utilização feita por eles contradiz as literaturas
abordadas no projeto, onde somente o
tempo utilizado no tratamento obteve
uma melhor coerência.
Confrontando os resultados deste estudo com a literatura, constatamos que os
fisioterapeutas não utilizam os aparelhos
de Ultra-som e de Ondas Curtas adequadamente, ou seja, não regulam a freqüência e a intensidade de acordo com as fases
da lesão, podendo então levar a um tratamento insatisfatório ao paciente.
Palavras-chaves: Ultra som; Ondas Curtas; Lesão Meniscal; Tratamento Fisioterápico.
16
INTRODUÇÃO
Conforme HAMILL & KNUTZEN (1999),
o menisco é uma estrutura elástica (fibrocartilagenosa) com formato de meia lua e
que se situa no joelho, entre a tíbia e o fêmur. Existem dois meniscos na articulação
do joelho – um medial e o outro lateral,
que podem ser acometidos por diversos tipos de lesões: divididas em traumáticas,
degenerativas e congênitas. Lesões dos
meniscos são comuns nos praticantes de
esportes e em idosos.
A diatermia é um dos meios físicos utilizados no tratamento de lesões dos meniscos. Os aparelhos diatérmicos abordados nesse projeto são o Ultra-Som e o Ondas Curtas, pela sua capacidade de agir
profundamente no tecido e causar efeitos
fisiológicos importantes para a recuperação do paciente.
Segundo LATCHEN & BAZIN (1998), o
Ultra-Som, através de suas ondas acústicas, provocará uma aceleração da inflamação fazendo com que a estrutura lesada se
recupere mais rápido.
O Ondas Curtas produz radiações eletromagnéticas capazes de aliviar a dor, remover as substâncias do produto da lesão
(prostaglandina, bradicinina, histamina),
aumentando o fluxo sangüíneo e o metabolismo.
Além do tratamento fisioterápico, há
também o processo cirúrgico, onde muitos cuidados devem ser tomados para
que o paciente não sofra infecção hospitalar.
O fisioterapeuta estará atuando junto
ao paciente no processo de reintegração
ao seu meio social, que pode ter sido comprometido devido ao isolamento do
indivíduo causado pela lesão.
O objetivo do projeto é verificar em
clínicas privadas de Fisioterapia, através
de questionários entregues aos fisioterapeutas, se os aparelhos diatérmicos Ultra-Som e Ondas Curtas são utilizados
na recuperação dos pacientes, como estão sendo utilizados (no que diz respeito
às fases da lesão e a regulagem do aparelho de acordo com elas). e verificar se
há contradição nos métodos abordados
na literatura com os que são praticados
pelos fisioterapeutas nas clínicas privadas de Montes Claros. São amplos os recursos encontrados nas clínicas privadas
e, por isso, podem proporcionar aos pacientes bom atendimento e uma recuperação mais rápida e eficaz. Porém, a
existência dos aparelhos e recursos não
basta; o importante é como esses aparelhos estão sendo utilizados durante sua
aplicação na terapia. A duração, a freqüência e a intensidade de acordo com
LATCHEN & BAZIN (1998) devem ser
aplicadas de maneira correta para que os
resultados no paciente sejam satisfatórios.
A regulagem do aparelho dependerá
da fase em que a lesão se encontra, pois
as ondas terapêuticas produzidas pelos
aparelhos Ondas Curtas e Ultra-Som vão
proporcionar ao organismo efeitos fisiológicos capazes de reverter a inflamação,
livrando o paciente da dor e conseqüentemente levando-o a recuperação da articulação. O paciente poderá, então, voltar à prática de esporte, retomando o seu
papel na sociedade em que vive.
Foi importante verificar se há utilização
de aparelhos diatérmicos no tratamento de
pacientes portadores de lesões meniscais
nas clínicas privadas de Montes Claros para
responder às seguintes hipóteses:
•
O Ondas Curtas e o Ultra-Som são apa-
* Mestre, Sociólogo, Professor das disciplinas de Antropologia, Sociologia e Metodologia da Pesquisa Cientifica da Faculdade Pitágoras de Fisioterapia de Montes Claros.
** Acadêmicas do 3º período do curso de Fisioterapia da Faculdade Pitágoras de Montes Claros.
MULTITEXTOS
relhos mais utilizados no tratamento das
lesões do menisco.
•
Os fisioterapeutas têm consciência da
função do aparelho e regulam de forma
independente de acordo com o paciente
e da lesão. Pode, inclusive, ocorrer uma
contradição entre os mesmos em relação à regulagem do aparelho, de acordo
com a avaliação feita de paciente para
paciente.
•
Os aparelhos de Ondas Curtas e UltraSom podem ser regulados de forma criteriosa, estando de acordo com o que foi
descrito no embasamento teórico, seguindo cuidadosamente as contra-indicações que os pacientes podem apresentar (marcapasso, problemas neurológicos, neuplasias, problemas vasculares
etc.).
REVISÃO DE LITERATURA
De acordo com HAMILL & KNUTZEN
(1999) a articulação do joelho é classificada em condilóide e biaxial, por permitir
movimentos de flexão, extensão e rotações. Ela suporta o peso do corpo e transmite as forças provenientes do solo, ao
mesmo tempo em que permite grande
quantidade de movimento entre o fêmur e
a tíbia.
Segundo CÉZAR (2000) existe entre
eles dois meniscos classificados como lateral e medial. Caracterizam-se por serem
estruturas elásticas (fibrocartilaginosas),
em forma de meia lua e por estarem situadas no espaço existente entre a tíbia e o
fêmur. Os meniscos possuem significativas
funções na articulação do joelho: absorção
de impactos, funcionando como amortecedores para a cartilagem articular e a estrutura óssea subjacente; são estabilizadores onde, juntamente com os demais ligamentos e músculos, manterão a articulação funcionalmente ativa e protegida de
deslocamentos; atuam ainda como lubrificadores da articulação.
GOULD (1993) descreve que os meniscos contribuem para os movimentos realizados no joelho como, por exemplo, na flexão – os meniscos irão se movimentar
posteriormente devido ao cisalhamento
posterior criado por uma força de reação
oblíqua entre o fêmur e o menisco. Além
disso, a contração dos músculos semimembranoso e poplíteo ajuda a distorcer a
porção posterior dos meniscos. Já no
movimento de extensão, os meniscos se
anteriorizam sob a superfície do fêmur e
são assistidos pela contração dos músculos do quadríceps. A rotação dos meniscos
segue a rotação dos côndilos femurais. Na
rotação medial, o menisco medial se anterioriza e o lateral se posterioriza; o contrário acontecendo na rotação lateral. Os ligamentos menisco-patelares também
contribuem na distorção anterior devido à
tensão provocada pela contração do mecanismo de extensão.
A articulação do joelho é considerada
como uma das articulações mais susceptíveis a lesões. As rupturas, em sua grande
maioria, são ocasionadas por traumatismos nos quais os meniscos são tracionados contra uma superfície mais consistente (osso). O mecanismo usual de lesão é o
stress rotatório da perna que suporta a
descarga do peso imposto pelo excesso de
rotação interna durante a flexão do joelho,
ou pela rotação externa, durante a extensão. A força em valgo é considerada também como uma importante causa de lesão
do menisco já que, durante a flexão e rotação externa, abre-se um espaço articular,
que por conseqüência irá comprimir o menisco.
De acordo com LATCHEN & BAZIN
(1998), um recurso selecionado dentre as
práticas terapêuticas abordadas para o reparo de lesões de menisco será o tratamento fisioterápico, especificamente através de aparelhos diatérmicos – onde temos
entre os mais usados: Infravermelho, Parafina, Microondas, Ultra-Som e Ondas Curtas. Dentre eles, foram selecionados o aparelho de Ultra-Som e o aparelho de Ondas
Curtas por produzirem calor profundo nos
tecidos.
Os efeitos terapêuticos produzidos pelos aparelhos de Ondas Curtas e Ultra-Som
têm em comum a produção de calor. O Ondas Curtas gerado por ondas eletromagnéticas e o Ultra-Som, por ondas acústicas,
que desencadeiam efeitos fisiológicos capazes de acelerar o processo inflamatório,
levando à recuperação do tecido lesionado. Ambos os aparelhos provocam um aumento no fluxo sangüíneo devido à alteração da permeabilidade da membrana celular, causando diminuição do tônus vascular, aumentando também a permeabilidade
capilar, elevando a liberação de oxigênio,
diminuindo a hipóxica e reduzindo a atividade dos receptores quimiossensíveis à
dor. De acordo com LOW & REED (2001),
esses aparelhos aliviam a dor pelo efeito
direto que a energia exerce sobre o sistema nervoso periférico. Ela é regulada por
uma “comporta” que pode ser aberta ou
fechada por meio de impulsos provenientes desses nervos ou do sistema nervoso
central; aumenta a atividade intracelular,
influenciando de forma positiva a atividade dos macrófagos e a adesão de leucócitos nas células endoteliais danificadas; reduze o espasmo muscular, sedando os nervos sensoriais e motores; além de produzir
efeitos individuais, respeitando a fase em
que as lesões se encontram.
O Ultra-Som, segundo YOUNG (1998),
é utilizado como um meio de aplicação de
calor profundo, quando aplicado na forma
contínua nos processos inflamatórios crônicos; na forma pulsátil (mais pulsátil) na
fase inflamatória aguda; e pulsátil (menos
pulsátil) na fase subaguda. No caso de lesões profundas como as de menisco, o
aparelho deverá ser regulado em uma freqüência de 1 MHz e uma intensidade que
varia de acordo com a fase da lesão, sendo: 0,1 a 0,5 watts/cm2 na fase aguda e subaguda e 0,5 a 1,0 watt/cm2 para a fase
crônica. O tempo de duração de aplicação
do aparelho dependerá do tamanho da
área a ser tratada. Nesse caso, 5 minutos
são suficientes.
SCOTT (1998) descreve o aparelho de
Ondas Curtas como uma outra forma de
transmissão de calor profundo. Nas lesões
do menisco, deverá ser aplicado com uma
freqüência baixa nas lesões que apresentem um processo inflamatório agudo e
com uma freqüência alta para as lesões
com processos inflamatórios crônicos. A
aplicação terapêutica deverá ser feita de
forma capacitiva com auxílio de eletrodos
metálicos flexíveis ou discos metálicos rígidos (Schliephake) em uma disposição
contraplanar. A intensidade do aparelho
também irá variar de acordo com a fase da
lesão, sendo a forma pulsátil para lesões
agudas, e contínua para lesões na fase crônica. A duração da sessão varia de 20 a 30
minutos. Devemos saber, no entanto, que
existem algumas contra-indicações quanto à utilização, como infecções agudas,
anormalidades vasculares, placas epifisárias, hemofílicos, áreas anestésicas, grandes nervos subcutâneos, lesões pré-cancerosas, dentre outras. Além disso, os aparelhos devem estar em posição adequada,
devendo haver uma distância de três metros entre cada aparelho, pois eles emitem
radiações que podem prejudicar tanto o
funcionamento do aparelho próximo,
17
MULTITEXTOS
como também o fisioterapeuta que o está
manuseando.
Além do tratamento realizado pelo fisioterapeuta, com suas técnicas e aparelhos diatérmicos, de acordo com BARROS
(2002), pode-se observar que o fisioterapeuta desenvolve um trabalho fundamental de inclusão social do paciente.
No caso de atletas que sofrem lesões
no menisco, o afastamento do seu ambiente causa o seu isolamento, desmotivação (física e emocional) e dúvidas sobre o
seu futuro. Com o decorrer do tratamento,
é inevitável a existência de uma relação
paciente-fisioterapeuta, onde é de grande
importância a cooperação entre ambos
para que o tratamento seja rápido e eficaz.
Dessa forma, o paciente aos poucos vai
sendo trazido de volta ao seu ambiente,
recuperado fisicamente e emocionalmente, apto novamente para exercer o seu papel na sociedade.
É a partir dessas reabilitações que a Fisioterapia surge como solução simples
para problemas complexos – problemas
que, muitas vezes, podem ser corrigidos
antes mesmos que surjam, caracterizando
a Fisioterapia como preventiva e curativa,
além do seu principal papel de interagir na
recuperação do paciente.
Por ser grande a freqüência de lesões
de menisco, principalmente entre esportistas, tornou-se um grande desafio descobrir como é feita a sua reabilitação, tendo
como objetivo mostrar como os aparelhos
diatérmicos podem interagir no tratamento, recuperação e retomada do ânimo do
paciente como essa lesão.
MATERIAL E MÉTODOS
Participaram do estudo um total de 17
fisioterapeutas em seis clínicas privadas de
Montes Claros: classificadas, por motivos
éticos, como clínica A (CA), clínica B (CB),
clínica C (CC), clínica D (CD), clínica E (CE)
e clínica F (CF).
O instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado pelos autores desse
projeto e trata-se de um questionário
constituído de oito questões, sendo seis
questões fechadas e duas abertas.
As cinco primeiras questões são referentes ao tipo de paciente encontrado na
clínica (sexo, idade), tipo de lesão do menisco (medial ou lateral) e o número de pacientes encontrados nas clínicas no período de agosto a novembro de 2002 com lesão meniscal.
As três últimas questões referem-se à
18
utilização dos aparelhos diatérmicos Ondas Curtas e Ultra-Som, identificando se
os mesmos estão sendo utilizados e como
estão sendo regulados no tratamento das
lesões meniscais.
Foi aplicado mais de um questionário
em cada clínica, sendo feito posteriormente um sorteio randomizado dos
questionários de forma que cada clínica
fosse representada por um questionário.
Foram utilizados para análise dos resultados seis questionário de seis clínicas
diferentes.
Realizou-se a verificação quanto à
concordância ou discordância na utilização de aparelhos diatérmicos no tratamento de lesões no menisco (questão 6)
através de medida de porcentagem.
Verifiucou-se também se a regulagem
dos aparelhos Ondas Curtas e Ultra-Som
está coerente com a regulagem referida no
embasamento teórico desse projeto (questão 7). Foi utilizado o método de comparação dos valores abordados no referencial
teórico com as respostas encontradas nos
questionários.
A verificação do tempo de duração dos
aparelhos descrito anteriormente (questão
8) também foi feita através da comparação
dos resultados obtidos na pesquisa com os
dados indicados no embasamento teórico
do projeto.
As respostas estarão impressas em forma de porcentagem e seguirá um critério
de avaliação que consta:
• Correto: Quando as respostas dos questionários tiverem coerência com as indicações de regulagem do aparelho encontradas no referencial teórico do projeto.
• Incoerente: Quando a resposta encontrada no questionário estiver além ou muito abaixo do resultado esperado e não
conferire com referencial teórico do projeto.
• Sem resposta: Quando as questões não
estiverem respondidas pelos fisioterapeutas.
17%
83%
Sim
N o
GRÁFICO 1: UTILIZAÇÃO DE APARELHOS DIATÉRMICOS
A questão 7 refere-se à regulagem dos
aparelhos Ondas Curtas e Ultra-Som, representado por dois gráficos (gráfico 2 e
gráfico 3) referentes aos aparelhos. A regulagem do Ondas Curtas obteve 0% de
respostas corretas; 33% incoerentes, referentes às clínicas A e B; e 67% sem respostas, referentes as demais clínicas.
0%
33%
67%
Correto
Incoerente
Sem resposta
GRÁFICO 2: TIPO DA FREQÜÊNCIA USADA DE
ACORDO COM AS FASES DA LESÃO
O Ultra-Som obteve 33% de respostas
corretas referentes às clínicas A e B; 0%
incoerente; e 67% sem resposta, das clínicas C, D, E e F.
33%
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise referente à questão 6 (gráfico 1) mostra que há utilização de aparelhos diatérmicos nas clínicas, onde cinco
clínicas (CA, CB, CC, CD, CE) afirmaram utilizar aparelhos diatérmicos no tratamento
das lesões de menisco, correspondendo a
83% das respostas. A clínica F não utiliza
aparelhos diatérmicos nesse tipo de lesão,
representando 17%.
67%
Correto
0%
Incoerente
Sem resposta
GRÁFICO 3: FASES DA LESÃO E A UTILIZAÇÃO DA
FREQÜÊNCIA E INTENSIDADE
MULTITEXTOS
A questão 8, referente ao tempo em
que o Ondas Curtas e o Ultra-Som foram
utilizados durante o tratamento, está representada pelos gráficos 4 e 5. O Ondas
Curtas obteve 50% das respostas corretas,
representados pelas clínicas B, D e E; 17%
das respostas incoerentes, representados
pela clínica C; e 33% sem resposta, referente às clínicas A e F.
33%
50%
17%
Correto
Incoerente
Sem resposta
GRÁFICO 4: TEMPO DE TRATAMENTO NO ONDAS
CURTAS
No Ultra-Som obtivemos o mesmo
percentual encontrado no Ondas Curtas,
sendo 50% de respostas corretas, referentes às clínicas B, D e E; 17% incoerentes,
representados pela clínica C; e 33% sem
resposta, referentes as clínicas A e F.
33%
50%
17%
Correto
Incoerente
Sem resposta
GRÁFICO 5:TEMPO DE TRATAMENTO DO ULTRA SOM
Analisando quantitativamente as
cinco primeiras questões, verificou-se
que os pacientes mais acometidos por
lesão no menisco são homens, esportistas de fim de semana, com idade entre
26 e 35 anos, sendo mais lesionado o
menisco medial.
O número de pacientes encontrados
em tratamento no período em que foram
entregues os questionários (28/10 a
05/11/2002) foi de 17 pacientes, sendo 3
na clínica A, 2 na clínica B, 11 na clínica
C e 1 na clínica E. As clínicas D e F não
responderam essa questão.
Comparando os resultados encontrados na pesquisa de campo com o que foi
abordado na literatura, constatamos que
os homens são os que mais apresentam
lesão meniscal e o menisco mais acometido é o menisco medial. A idade na literatura varia de 18 a 45 anos; no entanto, na pesquisa, verificou-se que os pacientes têm entre 26 e 35 anos.
Através da abordagem terapêutica
citada na bibliografia, certificamos que a
regulagem indicada no Ultra-Som é uma
freqüência de 1MHz e uma intensidade
que varia com a fase da lesão, sendo 0,1
a 0,5 W/cm2 para a fase aguda e subaguda, e 0,5 a 1 W/cm2 para a fase crônica.
Nos resultados da pesquisa de campo,
67% das respostas não conferem, enquanto que 33% estão de acordo com a
literatura.
No aparelho Ondas Curtas, a regulagem indicada pela literatura para o tratamento varia de acordo com a fase da
lesão, sendo as intensidades 1 e 2 na
fase aguda, 2 e 3 na fase subaguda e
maior ou igual a 3 para lesões na fase
crônica. A freqüência vai variar de acordo com a sensibilidade do paciente. No
resultado da pesquisa, não houve coerência com a literatura, e esta questão
não foi respondida pela maioria dos fisioterapeutas.
A regulagem do tempo nos aparelhos
que teve uma maior coerência com o que
a literatura indicou, foi cinco minutos no
Ultra-Som, 20 a 30 minutos do Ondas
Curtas.
Com a pesquisa observamos que
50% das respostas estão de acordo com
a literatura. Os outros 50% estão divididos entre os que não responderam a
questão e os que responderam de forma
incoerente.
CONCLUSÕES
A partir dos dados coletados, pode-se
concluir que: a hipótese 1 foi confirmada,
uma vez que verificou-se que há a utilização de aparelhos diatérmicos no tratamento de lesões meniscais, sendo os mais
utilizados o Ondas Curtas e o Ultra-Som.
Quanto à hipótese 2, pode-se verificar importantes contradições entre dados obtidos na pesquisa realizada e na literatura
que serviu de parâmetro para análise. Certifica-se pela literatura que a regulagem
terapêutica adequada para o tratamento
não condiz com o trabalho desenvolvido
nas clínicas pesquisadas. Quanto à hipótese 3, verificamos que os fisioterapeutas
não estão usando critérios adequados de
regulagem dos aparelhos, utilizando-os de
forma aleatória e não certificando o processo de cada paciente.
RECOMENDAÇÕES
Devido a falta de dados e da incoerência das respostas encontradas no projeto,
recomenda-se que:
Os fisioterapeutas tenham mais interesse em responder às pesquisas, com o intuito de contribuir para construção de novos conhecimentos;
Os fisioterapeutas façam uma reavaliação dos procedimentos terapêuticos; e
Sejam realizados periodicamente cursos de atualização.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS F B. O fisioterapeuta na saúde da população.
Rio de Janeiro: Fisiobrasil, 2002.
CEZAR E. Os meniscos. Disponível em: http://www.laguna/meniscos.htm. Acesso em: 01 de setembro de
2002.
CHAD S. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. São
Paulo: Manole, 2001.
GOUD J. Fisioterapia na ortopedia e na medicina do
esporte. São Paulo: Manole, 1993.
HAMMIL J, Knutzen K M. Bases biomecânicas do movimento humano. São Paulo: Manole, 1999.
JAWETZ M, E, Adelberg. Microbiologia Médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
LATCHEN S, Bazin S. Eletroterapia de Clayton. 10ª ed.
São Paulo: Manole,1998.
LOW J, Reed A. Eletroterapia Explicada. 3ª ed. São
Paulo: Manole, 2001.
SCOTT S. Diatermia por ondas curtas. In: KITCHEN, S.;
BAZIN, S. Eletroterapia de Clayton. 10ª ed. São Paulo: Manole,1998. p. 150-176.
TRABULSI L R et al. Microbiologia. 3ª ed. Atheneu,
2000.
YOUNG S. Terapia por Ultra-som. In: Kitchen S, Bazin
S. Eletroterapia de Clayton. 10ª ed. São Paulo: Manole, 1998. p. 235-258.
19
MULTITEXTOS
CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DOMÉSTICOS
UMA EXPERIÊNCIA NAS MICRO-ÁREAS 1 E 2 DO BAIRRO
INDEPENDÊNCIA NA CIDADE DE MONTES CLAROS (MG)
Daniele Aparecida Vieira ROCHA; Franciele Aparecida NEVES; Karla Beatriz Ferreira SANTOS;
Mariele Almeida GOMES; Monalise Marques GONÇALVES; Tânia Soares da ROCHA*
RESUMO
Acidentes domésticos são atos
inesperados e independentes da vontade
humana; eles são mais freqüentes na
infância, na adolescência e velhice. O
trabalho foi desenvolvido nas micro-áreas
1 e 2 do bairro Independência da cidade de
Montes Claros, onde foram entrevistadas
31 famílias, com o objetivo de diminuir o
índice de acidentes domésticos através de
campanhas preventivas.
Palavras-chaves: acidentes domésticos,
medidas preventivas, enfermagem,
município de Montes Claros.
Neste sentido, este trabalho teve como
objetivo ampliar o conhecimento dos acadêmicos do 1º período de Enfermagem das
Faculdades Pitágoras de Montes Claros,
bem como ajudar a comunidade a diminuir
o índice de acidentes domésticos através
de campanhas preventivas. Além disso,
procuramos retratar os tipos de acidentes
domésticos mais freqüentes nas microáreas 1 e 2, determinados pelo Programa
Saúde da Família (PSF) do bairro Independência, que possui 13.884 habitantes e
está situado na cidade de Montes Claros (o
município tem uma população de 306.258
habitantes por 3.576,76 km - IBGE-2000).
REVISÃO DE LITERATURA
INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS) (SCHMITZ, 2000), “acidente é
um acontecimento independente da vontade humana, desencadeada pela ação repentina e rápida de uma causa externa,
produtora ou não de lesão corporal e/ou
mental”.
As micro-áreas 1 e 2 do bairro Independência são consideradas áreas dificultadoras de saúde devido à infra-estrutura
precária, à baixa renda da população, à
baixa escolaridade, entre outros fatores, o
que influencia diretamente a ocorrência de
acidentes domésticos em maior número
neste local.
Diante disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre acidentes domésticos e uma pesquisa direta no dia 26 de novembro de 2002, com 31 famílias, totalizando 143 pessoas. Através da atividade,
adquiriu-se conhecimento sobre acidentes
domésticos e a forma como acometem a
população estudada, proporcionando
subsídios para a atuação preventiva da
ocorrência de acidentes neste local.
De acordo com REIS (2002), ao longo
da vida, acidentes podem ocorrer com
qualquer um, mas, em algumas faixas de
idade, como na infância, adolescência e
velhice, eles são especialmente mais freqüentes.
As crianças e adolescentes são mais
propensos a se acidentarem, uma vez que
têm grande curiosidade e uma verdadeira
atração pelas novidades, levando-os a explorar constantemente o seu ambiente. A
estes fatores, aliam-se a inexperiência e a
falta de conhecimentos suficientes para
prever e evitar situações de risco. Por isso,
prevenir os acidentes infantis é uma questão de informação e de atenção de pais,
educadores e de todos aqueles que zelam
pela infância.
De acordo com os especialistas em
saúde na infância, os acidentes mais comuns envolvendo crianças são provocados
por quedas, armas de fogo, afogamentos,
engasgos, queimaduras, envenenamentos,
sufocação e falta de segurança no transporte.
De acordo com a pesquisa de GOMES
(2002), , enfermeira da Unidade Infantil do
* Acadêmicas do 1º período do curso de Enfermagem das Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
20
Hospital e Maternidade São Camilo, o
maior índice de acidentes observados no
Pronto Socorro do Hospital São Camilo
ocorreu na faixa etária de 8 a 12 anos
(31,4%). Na seqüência, a segunda faixa
etária mais atingida corresponde à etapa
de 2 a 4 anos incompletos – 17,8% do universo pesquisado. Nesta idade, a criança
caminha sozinha, sua curiosidade é inata
ao seu desenvolvimento e o ambiente é
propício aos acidentes. Entre 4 e 6 anos incompletos, correspondentes à fase pré-escolar, a criança dispõe-se a realizar tarefas
ainda inadequadas ao seu desenvolvimento físico e intelectual, o que pode levar a
acidentes. A autora concluiu que as outras
faixas etárias são importantes, mas representam índices pouco menores, embora
com o mesmo risco de morbidade.
De acordo com a pesquisa realizada
no Hospital São Camilo, os meninos seriam mais propícios aos acidentes, mas,
como representam apenas 56,7% dos acidentes infantis, GOMES (2002) avalia que
“esta realidade dos meninos serem propícios aos acidentes, em função de suas
brincadeiras serem mais arriscadas, está
mudando, uma vez que cada vez mais as
meninas estão também brincando com
bolas, bicicletas e skates”. Além disso, ela
lembra que meninas se queimam muito,
com mania dos pais deixarem que brinquem na cozinha. Elas se machucam muito, também jogando vôlei e basquete. “As
estatísticas são muito pobres, pois não
existe, nos pronto-socorros, um protocolo obrigatório que identifique a causa dos
acidentes”, informa a enfermeira, na época Chefe de Enfermagem do Hospital. Sua
pesquisa foi exatamente com base em um
protocolo aplicado com a ajuda de toda a
equipe do hospital.
Os acidentes domésticos figuram entre as principais causas de morte na infância, além de serem a origem de invali-
MULTITEXTOS
1
1
3
31
3,2
3,2
9,6
100
TABELA 1: TIPOS DE ACIDENTES DOMÉSTICOS ENCONTRADOS ENTRE OS MORADORES DAS MICROÁREAS 1 E 2 DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA, MONTES
CLAROS – MG.
)
6,4
Por
cen
tag
ens
(%
2
ep
ess
oas
32,2
25,8
19,3
ec
aso
10
8
6
Nú
me
ro
d
Cortes
Quedas
Queimaduras
Ingestão de
corpo estranho
Mordida de
cachorro
Intoxicações
Não houve casos
TOTAL
De acordo com GOMES (2002), o maior
índice de acidentes observados no Hospital
São Camilo ocorreu na faixa etária de 8 a
12 anos (31,4 %).
Na seqüência, a segunda faixa etária
mais atingida corresponde à etapa dos 2
aos 4 anos incompletos – 17,8% do universo pesquisado. Nesta idade, a criança
caminha sozinha, sua curiosidade é inata
ao seu desenvolvimento e o ambiente
pode ser propício aos acidentes, explica a
enfermeira. Entre 4 e 6 anos incompletos,
correspondentes a fase pré-escolar, a
criança dispõe-se a realizar tarefas ainda
inadequadas ao seu desenvolvimento físico e intelectual, o que pode levar à acidentes. A autora concluiu que outras faixas etárias são importantes, mas representam índices pouco menores, embora
com o mesmo risco de morbidade. De
acordo com a pesquisa realizada no Hospital São Camilo, os meninos seriam mais
propícios aos acidentes, mas como representam apenas 56,7 % dos acidentes infantis, a enfermeira Shirley, avalia que
esta realidade é em função de suas brincadeiras serem mais arriscadas.
De acordo com os dados coletados na
área de estudo, o maior índice de acidentes domésticos ocorreu na faixa etária de
1 a 5 anos. A segunda faixa etária mais
atingida corresponde a etapa dos 6 aos
10 anos, o que pode ser justificado pelo
fato das crianças apresentarem grande
curiosidade.
Quanto ao sexo, a população estudada apresentou uma maior ocorrência dos
acidentes no sexo feminino, uma vez que,
das 31 residências visitadas, 68,9% das
mulheres passam a maior parte do tempo
em casa, trabalhando como domésticas
(TABELA 2).
Sex
o
dos
De acordo com especialistas em saúde
na infância, os acidentes mais comuns envolvendo crianças são quedas, armas de
fogo, afogamento, engasgos, queimaduras,
envenenamento, sufocação e falta de segurança no transporte.
Isto pôde ser comprovado através dos
dados coletados nas 31 residências visitadas nas micro-áreas 1 e 2 do bairro Independência. Detectou-se a ocorrência dos
seguintes acidentes domésticos: queimadura, queda, corte, mordida de cachorro,
engasgos e obstruções, intoxicação.
Houve também residências sem registro
de acidentes.
Conforme demonstrados na TABELA 1,
dos acidentes citados, houve 10 casos de
cortes (32,2%), 8 de quedas (25,8%), 6 de
queimaduras (19,3%), 2 de engasgos e
obstruções (6,4%), 1 de intoxicação (3,2%),
1 de mordida de cachorro (3,2%). Em três
residências não foram notificados nenhum
tipo de acidente doméstico (9,6 %) (TABELA 1).
s
Por
cen
tag
ens
(%
)
O desenvolvimento desse trabalho sobre acidentes domésticos foi baseado em
estudo bibliográfico e entrevistas semi-estruturadas. O roteiro das entrevistas foi
elaborado em sala de aula sob orientação
da professora Leila das Graças Siqueira, das
Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
As entrevistas foram realizadas junto
aos moradores das micro-áreas 1 e 2 do
Programa Saúde da Família (PSF) do bairro
Independência, no dia 26 de novembro de
2002, das 8h10 às 10 horas. Os dados coletados foram tabulados manualmente.
RESULTADOS
Nú
me
ro
d
MATERIAL E MÉTODOS
Como forma de retorno à população, no
dia 4 de dezembro de 2002, das 9 às 12
horas, foi feita uma intervenção de enfermagem, com distribuição de cartilhas educativas, esclarecendo à população sobre o
que são acidentes domésticos, o que deve
ser feito para evitá-los e quais medidas
adotar caso eles ocorram.
Tip
domos de
ést acid
ico en
s e tes
nco
ntr
a
dez em inúmeras crianças. Diversas instituições brasileiras começaram, a partir da
década de 80, a computar os atendimentos em prontos-socorros relacionados aos
acidentes domésticos envolvendo a faixa
etária de zero a quatorze anos, e os números alcançados são assustadores –
nem tanto pela quantidade de vidas abreviadas, mas pelo fato de que muitas tragédias poderiam ter sido evitadas com
medidas simples e um tanto mais atenção. Estima-se que, para cada criança que
morre outras 900 podem sofrer seqüelas
de todo tipo, incluindo invalidez permanente.
Segundo informações do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP), a atitude preventiva de acidentes
infantis é um dos compromissos do enfermeiro. De acordo com informações de GOMES (2002), o Pronto Socorro Infantil do
Hospital registrou, no período de novembro de 1996 a maio de 1997, 566 atendimentos de acidentes infantis, representando 3,1% do total de atendimentos realizados (18.200).
De acordo com REIS (2000), os idosos
também apresentam certas características
que os levam a ser vítimas de acidentes caseiros. Muito freqüentes, os sintomas da
velhice, como decréscimo da força física,
falta de atenção e de concentração, a visão
e audição mais fracas, movimentos mais
vagarosos e reações mais lentas, marcam o
início de uma vida mais propensa a quedas
e a outros acidentes e, portanto, mais dependente de terceiros. Para esse autor, as
medidas básicas de segurança doméstica e
de prevenção de acidentes devem ser tomadas por todos os adultos responsáveis,
principalmente aqueles que lidam com
crianças, adolescentes e idosos. Para se começar a agir é bom que se proceda a um
passeio atento por todos os espaços e cantos internos e externos das moradias imaginando que tipo de acidente ali poderia
ocorrer.
Feminino
Masculino
29
2
93,54
6,46
TABELA 2: OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DOMÉSTICOS QUANTO AO SEXO NAS MICRO-ÁREAS 1 E 2 DO
BAIRRO INDEPENDÊNCIA, MONTES CLAROS - MG.
21
MULTITEXTOS
25,8
12,9
9,6
3,2
3,2
3,2
100
(%
)
N
entúmer
rev o d
is e
Pro tados
cen
tag
em
Pro
em vidên
domcaso cias t
ést de a oma
ico cid das
s
ent
es
Já sobre as medidas adotadas após a
ocorrência dos acidentes, 10 pessoas
(32,2%) disseram tomar como medida curativa a utilização de medicamentos existentes na própria residência (TABELA 4).
10
5
32,2
16,1
5
16,1
4
12,9
3
2
9,6
6,4
1
3,2
1
31
3,2
100
TABELA 4: PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELOS MORADORES DAS MICROÁREAS 1 E 2 DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA, MONTES CLAROS – MG, EM CASO DE
ACIDENTES DOMÉSTICOS.
22
itad
a
12
7
6
3
2
1
31
sol
ic
Não procura ajuda
Hospital
Centro de saúde
PSF
Vizinhos e parentes
Clínicas
TOTAL
38,7
22,6
19,3
9,6
6,4
3,2
100
TABELA 5: LOCAIS ONDE OS MORADORES DAS MICRO-ÁREAS 1 E 2 DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA
SOLICITAM AJUDA EM CASO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS.
3,2
TABELA 3: MEDIDAS ADOTADAS PELOS MORADORES DAS MICROÁREAS 1 E 2 DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA, MONTES CLAROS – MG, PARA PREVENÇÃO
DOS ACIDENTES DOMÉSTICOS.
Uso de medicamentos
que possuem em casa
Procuram o hospital
Procuram o centro
de saúde
Não tomam nenhuma
providência
Lavam o ferimento
com água
Dão leite aos intoxicados
Colocam gelo no local
do ferimento
Colocam panos para
estancar o sangue
TOTAL
N
entúmer
rev o d
is e
Pro tados
cen
tag
em
38,7
Aju
da
Nú
m
pes ero d
so
e
Por as
cen
tag
ens
Me
predidas
ven
tiva
s
Tomar mais cuidado
12
Tirar objetos perigosos
do alcance de crianças
8
Informar as crianças
dos perigos
4
Voltar os cabos das
panelas para as laterais
internas do fogão
3
Tirar as pedras do quintal 1
Não aproximar de
cachorros
1
Não deixar casca de
banana no chão
1
Trabalhar devagar
1
TOTAL
31
(%
)
Quanto à ajuda solicitada em caso de
acidente doméstico, 12 dos entrevistados
(38,7%) disseram não procurar ajuda (TABELA 5).
(%
)
Os entrevistados apresentaram várias
medidas para evitar os acidentes domésticos. 12 pessoas (38,7 % dos entrevistados)
responderam que ter mais cuidado seria a
melhor maneira de evitá-los (TABELA 3).
De acordo com os dados coletados,
verificou-se que a população em questão
não está bem orientada sobre os perigos
decorrentes dos acidentes domésticos,
uma vez que a maneira com que as pessoas lidam com esses acontecimentos é
muitas vezes incorreta. Isso pôde ser percebido desde o momento da coleta de dados pela concepção errônea que a comunidade manifestou sobre o que é um acidente doméstico e a forma de agir diante
dele.
Outro fato observado foi a medicalização-social, em que muitos dos entrevistados faziam a auto-medicação mesmo em acidentes mais graves, onde o
ideal seria procurar serviços de saúde e
profissionais especializados – transparecendo, dessa forma, o baixo nível de instrução da população e a necessidade de
um trabalho educativo de prevenção de
acidentes domésticos.
CONCLUSÕES
Montes Claros (MG) é uma cidade que
ocupa área de 3.576,76 km e possui
306.258 habitantes. Nessa cidade está situado o bairro Independência, que possui
uma população de 13.884 habitantes,
onde foram entrevistadas 31 famílias nas
micro-áreas 1 e 2 ditadas pelo Programa
Saúde da família (PSF).
Segundo os dados coletados durante
uma pesquisa de campo sobre acidentes
domésticos, os acidentes mais comuns na
comunidade referida foram cortes
(32,2%), quedas (25,8%), queimaduras
(19,3%), engasgos e obstruções (6,4%),
intoxicação (3,2%), mordida de cachorro
(3,2%). Houve ainda residências em que
não foram encontrados nenhum tipo de
acidente doméstico, correspondendo a
9,6%.
Dentre os acidentes citados, o de
maior ocorrência foi corte (10 casos em
31 famílias). A faixa etária mais afetada
foi de 1 a 5 anos em todos os acidentes
encontrados.
Cabe ao profissional da área de Enfermagem atuar na prevenção dos acidentes
domésticos, para que eles possam diminuir, chegando mesmo a ser eliminados. E
isto pode, perfeitamente, ser feito no diaa-dia. Sendo assim, é essencial que as
pessoas saibam quais os acidentes mais
comuns e como se originam para adotarem medidas capazes de evitá-los.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
THOMPSON, Eleanor Dumond. Uma introdução à enfermagem pediátrica. Porto Alegre: Editora Artes
Médicas, 1996.
SCHIMITZ, Edilza Maria. A enfermagem em pediatria e
puericultura. São Paulo: Editora Atheneu, 2000.
REVISTA ISTO É, n° 1672, 17 de outubro, p. 52 e 53,
2001.
www.fozdoiguacu.pr.gov.br acesso dia 28\11\2002 às
13:30 horas.
www.sabido.com.br acesso dia 29/11/ 2002 às 15:30
horas.
MULTITEXTOS
COMPARAÇÃO ENTRE O ATENDIMENTO
FISIOTERÁPICO PARTICULAR E PÚBLICO
EM MONTES CLAROS (MG)
Ricardo Fernandes de PAULA*; Anna Paula Cursino de MENEZES; Daniel Silveira A. MAIA; Nathália Maria Gomes FERNANDES;
Rejane Grace ALENCAR; Sérgio Augusto M. BASTOS; Vicente JUNIOR**
RESUMO
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Montes Claros (MG) e teve como
objetivo comparar o atendimento realizado pelas clinicas de Fisioterapia públicas e
particulares do município, no que se refere aos aspectos socioeconômicos, tempo
de tratamento e alta fisioterápica dos
clientes.
A metodologia adotada foi a de formulário simples, onde foram apresentadas vinte perguntas fechadas – aplicadas aos pacientes em tratamento, nas clínicas de fisioterapia particulares conveniadas e não conveniadas com o Sistema
Único de Saúde.
A apuração e síntese dos resultados da
pesquisa seguiram o padrão de tabulação
usado na metodologia de análise para projetos de pesquisa.
Os resultados obtidos na pesquisa
comprovaram que tanto os pacientes
atendidos em clínicas particulares, quanto
os atendidos pelo SUS estão relativamente
satisfeitos com os atendimentos, embora a
realidade implícita mostre que a satisfação
da clientela do SUS ocorre em função da
falta de parâmetro de comparação.
Em 75% das clínicas visitadas, foram
observadas as presenças constantes do
técnico auxiliar, contrariando as normas e
leis do CREFITTO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional). Isto pode ocasionar um resultado insatisfatório
no tratamento fisioterápico, devido à ausência de embasamento e conhecimento
científico desse agente curioso do sistema
de clínica de fisioterapia, além de gerar o
distanciamento afetivo e de confiabilidade
entre o paciente e o fisioterapeuta, fatores
que contribuiriam positivamente nos resultados.
Palavras-chaves: Fisioterapia; Sistema
Único de Saúde; Tratamento Fisioterápico.
INTRODUÇÃO
É necessário refletir sobre os caminhos
para a saúde pública. Não é pouca coisa.
Nota-se que o desafio é maior do que possamos imaginar, visto o tamanho do confronto entre estruturas seculares e a necessidade de cada pessoa ter acesso aos
serviços de saúde.
Freqüentemente ocorrem denúncias
em veículos de informação sobre as condições de atendimento à população pelo setor público.
Por outro lado, prevalecem antigas formas de organizações que motivam o sistema de saúde privado.
Segundo o Ministério do Trabalho, o
profissional fisioterapeuta no Brasil, ou
seja, a Fisioterapia, atividade regulamentada pelo Decreto-Lei 938/69, Lei
6.316/75, Resoluções do COFFITO, Decreto 9.640/84, Lei 8.856/94 e Portarias do
Ministério da Saúde, é uma ciência da
Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais, intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas,
por traumas e por doenças adquiridas e
fundamenta suas ações em mecanismos
terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos da Biologia, das ciências
morfológicas, das ciências fisiológicas,
das patologias, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da cinesia e da sinergia funcional de órgãos e de sistemas do
corpo humano. Portanto, a Fisioterapia
faz parte do sistema de atendimento público fisioterapêutico gratuito, integral,
com eqüidade e qualidade a todas as
pessoas que realmente precisam, ou
atendimento via planos de saúde privados. Para sua eficácia, é necessário criarmos mecanismos de controle, avaliação e
auditoria constantes de todo o sistema,
sanando possíveis desvios.
Decerto sabemos que as disfunções
músculo-esqueléticas; as disfunções
neuromusculares; as disfunções cardio-
respiratorias e as disfunções dermatofuncionais são as principais intercorrências clínicas que levam os clientes a procurarem um tratamento fisioterápico.
Para que haja um trabalho benéfico e
eficaz das disfunções acima descritas, é
necessário que o profissional de fisioterapia seja ético e domine os procedimentos fisioterapêuticos, utilizando métodos e técnicas apropriadas a cada seqüela. Para tanto é necessário que atualize constantemente seus conhecimentos científicos e culturais. Sabemos que
o profissional de fisioterapia é parte integrante e fundamental no contexto da
saúde, cabendo a ele exercer atividades
não só restritas à reabilitação, ao tratamento e à abordagem dirigida ao já
doente, mas participar ativamente do
processo administrativo do sistema, desenvolvendo ações relacionadas à organização do SUS local, entre outras atividades, e também no setor privado.
Nossa pesquisa deter-se-á basicamente na investigação de possíveis diferenças
no atendimento fisioterápico em clínicas
particulares e clínicas conveniadas com o
SUS, no tocante à disponibilidade de equipamentos e utilização de técnicas oferecidas à população. A partir daí, comprovaremos se essa diferença existe ou não.
Entre outros fatores, analisaremos a importância da ação do fisioterapeuta como
profissional ético na promoção e mudança
do quadro vigente.
Serão analisados aspectos comportamentais e sociológicos envolvendo os profissionais das clínicas diretamente ligadas
aos pacientes conveniados ao SUS e a clínicas particulares.
A pesquisa constituirá uma importante
coleta de dados, resultando em valioso
instrumento de análise direcionado aos
profissionais da área da saúde e assistentes sociais. Esperamos colocar em discussão a eficácia e qualidade do sistema no
que se refere aos atendimentos fisioterapêuticos.
* Fisioterapeuta. Coordenador do Curso de Fisioterapia das Faculdades Pitágoras de Montes Claros. Professor das Disciplinas de Fundamentos de Fisioterapia e Recursos
Fisioterápicos Aplicados ao Portador de Necessidade Especial. ** Acadêmicos do 1º período do Curso de Fisioterapia das Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
23
MULTITEXTOS
DEFINIÇÕES CONCEITUAIS
O Sistema Único de Saúde é destinado
a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados através de impostos e
contribuições sociais pagos pela população, que compõem os recursos do Governo Federal, Estadual e Municipal.
Desde os anos de 1999 e 2000, um
conjunto de providências vem sendo adotado para que o SUS passe a cumprir sua
missão de diminuir as desigualdades sanitárias, oferecendo serviços de saúde com
qualidade.
O Sistema Único de Saúde (SUS), como
proposta de atendimento à população de
fato, é a própria institucionalização da Reforma Sanitária, onde a descentralização,
pela via da municipalização, torna-se o
principal eixo estratégico para a sua implementação.
A Constituição de 1988 trouxe significativas mudanças na área da saúde, que
vinha se manifestando insuficiente para
resolver os problemas da população.
O artigo 196 da Constituição Federal
deixa claro o direito à saúde de todos os
cidadãos, mediante “acesso universal e
igualitário”. No artigo 197 da Constituição de 1988, discrimina-se a saúde como
de “relevância pública, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle”.
Ainda destaca-se o artigo 198, que
define as diretrizes do SUS, que devem
estar presentes em toda a regulamentação posterior: descentralização, integralidade e participação comunitária. Com
estas diretrizes o desafio foi lançado, e
coube ao poder público, daí por diante, a
iniciativa de aplicá-los na construção de
um sistema. Alterar a forma de trabalho
vigente até então mostra-se um grande
desafio, um processo moroso e cheio de
obstáculos.
Neste momento, começa a ficar claro o
papel importante que o município vai desempenhar na implantação do SUS, ao
contrário do perfil histórico de que as
ações de Saúde cabiam efetivamente ao
Governo Federal, mediante programas de
saúde promovidos pelo Ministério da Saúde, ou assistência à saúde, pelo antigo
INAMPS.
REVISÃO DE LITERATURA
Fisioterapia e o SUS
A Fisioterapia oferece muitas possibilidades e a dúvida muitas vezes persiste em
relação à área de atuação.
Estudantes saem da Universidade para
enfrentar um mercado extremamente
competitivo, com a responsabilidade de
serem éticos, profissionais, inovadores,
além do desafio imposto de ter sucesso e
autonomia financeira. Há muitas alternativas, mas o que decide, em boa parte dos
casos, é a oportunidade de trabalho concreta.
Via de regra a Saúde Pública é uma
das alternativas menos consideradas.
Aliás, cabe aqui diferenciar Saúde Pública
de Saúde Coletiva. Entendemos a primeira como aquela organizada e ofertada
pelo poder público, pela via direta ou
contratada, e que portanto segue as diretrizes inscritas na Constituição Federal de
1988, que descreve o Sistema Único de
Saúde (SUS). Na Saúde Pública podemos
trabalhar tanto na atenção individualizada quanto em Saúde Coletiva, onde, neste caso, o trabalho é dirigido para grupos
de usuários. É preciso defender eminentemente a necessidade do fisioterapeuta –
profissional no Programa de Saúde da Fa-
Fisioterapia e o Sistema Privado
Em Montes Claros, cidade pólo do
Norte de Minas Gerais, foram identificadas vinte e quatro (24) clínicas de Fisioterapia no município; entre elas apenas
cinco clínicas atendem pacientes através
do SUS; ou seja, dezenove (19) pertencem
ao sistema privado. Para o profissional fisioterapeuta, o setor privado oferece
maiores oportunidades, e para a população em geral, maior quantidade de serviços oferecidos.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia adotada foi a de formulário simples, composto por vinte perguntas fechadas, aplicadas aos pacientes em
tratamento, nas clínicas de fisioterapia
particulares conveniadas e não conveniadas com o SUS.
A apuração e síntese dos resultados da
pesquisa seguiram o padrão de tabulação
usado na metodologia de análise para projetos de pesquisa.
RESULTADOS
CLÍNICA/CONVÊNIO
Particular
SUS
Outros
Total
%
ATÉ 10
1
3
4
19,05
ACIMA 10
7
1
9
17
80,95
TOTAL
7
2
12
21
100
PERCENTAGEM
33%
10%
57%
100%
-
ACIMA 30’
6
7
13
59%
TOTAL
7
2
12
22
100
PERCENTAGEM
31,82
9,09
54,55
100%
TABELA 1: DURAÇÃO DAS SESSÕES
CLÍNICA/CONVÊNIO
Particular
SUS
Outros
Total
%
ATÉ 30’
1
2
5
9
41%
TABELA 2: TEMPO DA CONSULTA FISIOTERÁPICA
24
mília (PSF), que tem se constituído numa
estratégia diferenciada de atenção a população.
Este quadro vem mudando, com certeza, mas não com a velocidade que merecia.
MULTITEXTOS
Clínica/Convênio
Particular
SUS
Outros
Total
%
Assíduo
7
2
9
18
85,71
Faltoso
3
3
14,29
Total
7
2
12
21
100
Percentagem
33,33
9,53
57,14
100
Não
-
Total
7
2
12
21
100
Percentagem
33,33
9,53
57,14
100%
Parcial
1
6
7
33,33
Total
7
2
12
21
100
Percentagem
33,33
9,53
57,14
100%
Total
7
2
12
21
100
Percentagem
33,33
9,53
57,14
100%
TABELA 3: FREQÜÊNCIA DO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO
Clínica/Convênio
Particular
SUS
Outro
Total
%
Sim
7
2
12
21
100%
TABELA 4: MELHORA DO QUADRO
Clínica/Convênio
Particular
Sus
Outros
Total
%
Constante
7
1
6
14
66,66
TABELA 5: FREQÜÊNCIA DO FISIOTERAPEUTA NAS SESSÕES
de gerar um distanciamento afetivo e de
confiabilidade entre o paciente e o fisioterapeuta – fatores que contribuiriam positivamente nos resultados dos tratamentos.
Quanto à resposta positiva obtida no
tratamento, pode-se observar que esta
sempre existe, uma vez que o paciente, ao
procurar um atendimento fisioterápico,
encontra-se num estado de debilitação na
mobilização corporal e que logo após a intervenção fisioterápica ocorre algum resultado positivo – o que, por si só, não
garante uma adequação do processo.
A discriminação social em função do
plano de saúde pode ser comprovada através da deficiência de aparelhagem disponibilizada para o tratamento de pacientes
atendidos por clínicas conveniadas ao SUS,
sendo que os pacientes particulares dispõem de espaço físico e aparelhos mais
sofisticados. Uma das causas observadas,
além das falta do profissional Fisioterapeuta, é o fato da demanda do atendimento pelo SUS ser incomparavelmente superior à de particulares.
Quanto à hipótese de pacientes de alta
condição financeira terem acesso ao tratamento via SUS, não foi confirmada.
CONCLUSÕES
Clínica/Convênio
Particular
SUS
Outros
Total
%
Bom
7
11
18
85,71
Ruim
2
1
3
14,29
TABELA 6: APARELHAMENTO DA CLINICA
DISCUSSÃO
Foram identificadas 24 clínicas de Fisioterapia no município de Montes Claros;
entre elas apenas cinco atendem pacientes
através do SUS.
Dessas clínicas identificadas, 50% (12)
foram visitadas, totalizando 55 pessoas
entrevistadas, 10% (5 pessoas) moradoras
de cidades vizinhas.
De acordo com os resultados obtidos
na pesquisa, pôde-se comprovar que,
tanto os pacientes atendidos em clínicas
particulares, quanto os atendidos pelo
SUS estão relativamente satisfeitos com
os respectivos atendimentos, embora a
realidade implícita mostre que a satisfação da clientela do SUS ocorre em função
dela não possuir um parâmetro de comparação.
Em 75% das clínicas visitadas, foi observada a presença constante do técnico
auxiliar, contrariando as normas do CREFITTO (Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional), e podendo ocasionar alguma alteração no resultado do tratamento fisioterápico, devido a ausência
formação científica deste individuo, além
Baseado nos resultados obtidos pela
pesquisa, pôde-se constatar que há necessidade de um aumento do número de clínicas fisioterápicas conveniadas ao SUS,
para viabilizar um atendimento de qualidade aos pacientes que necessitam deste
serviço. Portanto, deve-se ampliar o quadro de profissionais Fisioterapeutas disponíveis nas clínicas já conveniadas, para fazer, assim, prevalecer um atendimento
mais eficaz e humanizado, possibilitando a
eqüidade na saúde publica e privada.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOTOME S P & Rosemburg C P. Contribuição da Psicologia a Saúde Publica. 1984
BRASIL. Decreto-lei nº 938 de 13 de outubro de 1969.
DIARIO OFICIAL,Brasília,16 de outubro de 1969.
CHAVES M. Saúde e Sistemas. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas,1980.
ILLICH I. A expropriação da saúde. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira,1975.
S.U.S Sistema Único de Saúde, Folheto informativo da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, 2002.
25
MULTITEXTOS
ROMPENDO AS BARREIRAS DO SILÊNCIO:
RELAÇÕES DE PRECONCEITO E/OU DISCRIMINAÇÃO RACIAL: OS
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Claudia Denise Alkimim Lopes de LIMA; Flávia Ferreira FRANÇA; Maria da Conceição BATISTA*
RESUMO
Neste estudo pretendemos verificar as
relações dos alunos negros no cotidiano
escolar da Educação Infantil e o caráter
discriminador que permeia tal relação.
Neste universo, buscamos identificar como
os pais, tendo em vista a diferença de sua
origem étnica, lidam com os conflitos gerados nas situações de preconceito. A
relevância está no período de socialização
que tem início na infância, quando começamos a nos situar em relação ao outro, a
formar idéias, princípios e valores, atitudes,
padrões de comportamento e habilidades
adquiridas socialmente.
INTRODUÇÃO
Quando trabalhamos com o conceito
de formação humana como um processo
que envolve várias fontes e formas de processos educativos, estamos entendendo
que é um conjunto de situações e espaços
que formam o ser humano, portanto, sua
identidade e sua capacidade de se mobilizar para uma inserção no mundo – o que
chamamos de Inclusão social.
A questão da identidade, dentro desse
processo, refere-se ao tipo de homem e
mulher que estão sendo formados no plano ideológico (social e político), seus conceitos e aspirações, seus posicionamentos
frente às várias questões que envolvem
sua vida de trabalho, educação e sua vida
social.
Quanto à questão da inclusão social
aliada à formação, refere-se às conseqüências práticas dos processos educativos, ou seja, as influências desse processo
na mobilização dos sujeitos para a ação
como busca de transformação.
Diante desse entendimento do processo de formação humana como processos
que formam a identidade do sujeito e o integram à comunidade, buscaremos fazer
agora uma abordagem teórica do conceito
de exclusão social, que nos proporcionará
uma explicitação mais objetiva das questões aqui colocadas.
HALL (1997) afirma que “um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final
do século XX. Isso está fragmentando as
paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e racionalidade, que
no passado nos tinha fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas
transformações estão também mudando
nossas identidades pessoais, abalando a
idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados”.
É interessante observarmos que essas
mudanças trazem de fato muitas incertezas em relação ao tipo de sujeitos que há
muito foram estereotipadas no cotidiano
escolar. Por isso, nos perguntamos sobre
os processos educativos dos últimos tempos, sobre suas intenções e suas influências na formação inclusão desses sujeitos,
aqui, particularmente, nos referimos aos
alunos negros.
Percebemos que estamos diante de
uma situação bem complexa porque entendemos que os discursos oficiais apregoam a era de uma educação inclusiva,
como fazendo parte do processo educativo de formação dos sujeitos. Entretanto,
não obstante à pedagogia da inclusão, encontramos marcas históricas materializadas nas relações de preconceitos em relação aos alunos negros no processo educativo e, de forma mais pontual, na base da
sua formação, qual seja nas primeiras series iniciais.
Nesta direção, o estudo de CAVALLEIRO
(1988) mostra como o padrão de beleza
branco é o que vigora na escola:
“(...) desde o inicio da trajetória escolar,
a criança (negra) se depara com o determinado tipo de ausência, que acompanhará até o curso superior (isto é,
para aquelas que conseguiram romper
com a estrutura racista da sociedade e
chegar até a universidade): a quase
* Alunas do 3º Período de Normal Superior Infantil das Faculdades Pitágoras de Montes Claros.
26
inexistência de professoras e professores negros. A criança negra se depara
com uma cultura baseada em padrões
brancos. Ela não se vê inserida em livros, nos cartazes espalhados pela escola ou ainda na escolha dos temas e
alunos para encenar números nas festinhas. Onde quer que seja, a referência
da criança e da família feliz e branca.
Os estereótipos os quais ela teve contato no seu círculo de amizades e na vizinhança são mais acentuados na escola, e são muitos mais cruéis”. (CAVALEIRO, 1988).
Cada um de nós passamos por um processo de educação e socialização que se
inicia em nossas famílias, ampliando-se
com diversas contribuições e influências,
tanto da escola quanto da sociedade em
que vivemos.
Na relação com sua família e com seu
meio social, cada criança tem experiências
e oportunidades que vão interferir no seu
processo de aprendizagem e desenvolvimento, contribuindo para definir sua trajetória de vida e a forma como vai inserir-se
na sociedade. As possibilidades de autorealização e interação social, bem como a
qualidade de vida das pessoas, estão diretamente associadas às condições pessoais
e sociais que surgem a partir de influências
políticas, econômicas, socioculturais – todas elas inter-relacionadas.
Nesse sentido, é fundamental situar,
discutir e repensar a relação entre educação, família e sociedade, com vistas a verificar a temática das relações de caráter
discriminador e/ou preconceituoso, quer
seja em forma de discurso ou ações, quer
pelo silêncio da escola em relação à questão racial e outras formas de preconceitos
ou discriminação social. Nosso foco principal será a família, os alunos e a escola.
Cabe ressaltar as diferenças entre discriminação e preconceito. O preconceito
seria mais uma atitude, enquanto a discriminação já se configura como uma ação.
MULTITEXTOS
Mas, de qualquer modo, como lembra HASENBALG (1979), no Brasil, a noção de preconceito tem sido usada para indicar tanto o preconceito como a discriminação
(PINTO, 1993).
Segundo ROSENBERG (1998), a discriminação se manifesta em todos os setores
da escola, seja nos livros didáticos, nos
conteúdos trabalhados ou omitidos, no silêncio dos professores diante de situações
de preconceito e discriminação no cotidiano escolar. Tal compreensão nos autoriza a
fazer alguns questionamentos: até que
ponto os profissionais da educação infantil percebem as relações raciais como algo
de suma importância nos currículos escolares? Em que medida os pais das crianças
que foram vitimas de preconceito e discriminação se manifestam perante a escola?
Quais e quantas são as ações pedagógicas
efetuadas para se compreender as relações
raciais? Os pais estão preparados para a
discussão do assunto? A escola está preparada para trabalhar com diferenças e ser
inclusiva?
A educação escolar pública no Brasil
apresenta a reprodução dos preconceitos e
discriminações no contexto escolar e atingem principalmente os alunos negros
(PINTO, 1993). Por outro lado, o autor indica a importância da educação como elemento de inclusão social no processo de
formação escolar, não obstante o silêncio
que perpassa de forma fria as relações estabelecidas no cotidiano escolar.
A noção de exclusão social, segundo
COSTA (1998), está saturada de sentidos,
de não-sentidos e de contra-sentidos e é
hoje uma expressão de uso generalizado,
unanimidade quanto ao seu entendimento. Já CASTEL (1998) define exclusão social
como a fase extrema do processo de marginalização, entendido este como percurso
“descendente”, ao longo do qual se verificam sucessivas rupturas na relação do indivíduo com a sociedade.
Por sua vez, o oposto de “exclusão social” é corretamente designado por inclusão social, inserção social ou integração
social. No entanto MARTINS afirma que
(...) as políticas econômicas atuais, no
Brasil e em outros países, que seguem o
que está sendo chamado de modelo
neoliberal, implicam a proposital inclusão precária, instável e marginal“
(MARTINS, 1997).
O termo da inclusão social tem sido
utilizado em larga escala pelas instituições
governamentais, que buscam, no campo
da educação, criar condições e oportunidades para determinados grupos margina-
lizados, que se encontram em desvantagem em relação aos demais segmentos sociais no que concerne às condições consideradas mínimas de sobrevivência.
MATERIAL E MÉTODOS
O enfoque que pretendemos dar a este
artigo é verificar as evidências de discriminação através de traços físicos, seja em
forma de apelidos ou xingamentos; verificar as dificuldades com que os pais se deparam, tendo em vista o pertencimento racial de seus filhos, e a socialização de nossas análises sobre o preconceito e/ou discriminação racial nos processos de formação educacional nas primeiras séries iniciais das escolas municipais de Montes
Claros/MG.
5. Seu filho já relatou alguma música cantada para ele como forma de xingamento?
6. Qual foi sua conduta diante da reclamação de seu filho?
7. Caso tenha acontecido algum destes casos, você procurou a escola?
8. Alguma vez procurou a escola para reclamar sobre xingamento ou preconceito
reclamado por seu filho?
9. Você já participou de alguma reunião
onde os problemas de preconceitos raciais foram debatidos?
10. Você acha que a escola trata igualmente brancos e negros?
11. O que poderia ser feito para modificar
esta situação?
12. Que tipo de discriminação é mais difícil
de ser vencida pelos pais, problemas de
raça ou problemas de classe social?
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As relações raciais no campo da educação vêm sendo alvo de pesquisas e estudos
no Brasil, vindo ao encontro de formulações de políticas públicas. No entanto, a
questão não é tão simples assim, principalmente quando reconstruímos a historiografia das relações raciais no nosso país.
As relações raciais no Brasil são marcadas por profundas contradições. Ao mesmo tempo em que parcelas significativas
da população negra se encontram em situação de desvantagem, no quadro de perversa desigualdade social, fruto de histórico processo de discriminação1, o racismo é
negado tanto oficialmente como no senso
comum. Em muitos casos, evoca-se a mestiçagem do povo brasileiro como fator de
unidade e ausência de conflito (SANTANA,
2000).
Certos de que este quadro refletirá
também no sistema educativo, tivemos
como meta avaliar o papel dos pais das
crianças vítimas de preconceito racial e o
da escola frente às reclamações dos preconceitos, bem como, na medida do possível, a leitura feita pelos professores destes
alunos. Apresentaremos o resultado da
pesquisa realizada pelas alunas do Curso
Normal Superior, dando ênfase aos aspectos relativos à conduta dos pais e da escola frente às situações de preconceito racial.
Com base nas entrevistas com pais e
professores de crianças negras, esta pesquisa problematiza as seguintes questões:
1. Para você o que é racismo?
2. Racismo deveria ser mais debatido na
escola de seu filho?
3. Qual sua opinião sobre preconceito racial?
4. Seu filho já recebeu algum apelido na escola? Qual?
Já com os professores as questões foram apresentadas nesta ordem:
1. Qual sua compreensão sobre o que é preconceito e/ou discriminação?
2. Já presenciou alguma atitude de preconceito ou discriminação na sala de aula?
3. Quais os xingamentos ou apelidos verificados na sua sala de aula?
4. Na sala de aula, alguma música é cantada de forma a demonstrar preconceito
e/ou discriminação?
5. Qual sua atitude diante destes acontecimentos?
6. Qual a instância da sociedade mais importante para o combate à discriminação racial: a política, a jurídica ou a educacional?
Foram entrevistados 50 pais e 15 professores da rede escolar municipal de
Montes Claros. Dos 50 pais entrevistados,
96% foram mães, 3% outros parentes (tia,
avô, avó, irmão) e 1% pai. As entrevistas
foram realizadas em cinco escolas privadas
e 45 públicas. No entanto, o limite deste
trabalho não nos permitiu um aprofundamento na correlação do público x privado
nas relações raciais.
Na análise das entrevistas procuramos
observar como os pais lidam com as situações de preconceito e/ou discriminação racial, considerando ainda o fato dos pais
que passaram pela escola carregarem também histórias e depoimentos. Este fato nos
faz refletir sobre o problema investigado
em tempos históricos diferentes. Pois a
discriminação foi algo que se apresentou
de forma marcante na vida dos pais.
•
Nos relatos dos pais e professores, a escola apresenta dificuldades frente à situação e eles preferem, na sua maioria,
27
MULTITEXTOS
não fazer nenhum comentário coletivo.
Em nenhum momento, demonstravam
atitudes que pudessem auxiliá-los na
formação e manutenção da auto-estima,
mostrando que as diferenças estéticas
dos alunos eram normais e que cada um
devia ter orgulho de si próprio. Porém,
observamos que os pais entrevistados
agiam de forma contrária à escola,
apoiando os filhos, aconselhando-os a
enfrentar as discriminações e estimulando-os a não se deixar desvalorizar por esses acontecimentos, enfim, a ter orgulho
de serem negros e aceitar essa condição
como algo normal e positivo.
• Os relatos mostram que o fato de seus fi-
lhos/alunos serem vítimas da discriminação racial é em razão da sua aparência física. Notamos também que um dos motivos que levaram algumas crianças a serem violentamente discriminadas pelos
colegas era o fato de terem traços físicos
de negritude bastante ressaltados. Comentários, piadas e chacotas eram feitos
envolvendo essas crianças e a questão da
negritude.
• No discurso de alguns professores entre-
vistados prevalece a opinião de que a diversificação dos alunos é importante,
pois permite o aprendizado da tolerância
e da compreensão, que só é possível
quando a turma é diversificada racial e
economicamente.
• Como as questões raciais são trabalhadas
em sala de aula? As respostas, infelizmente, são desanimadoras. Nenhum professor entrevistado trabalha especificamente questões raciais em sala de aula.
Pelo menos, não em profundidade.
•
Nos relatos dos entrevistados/as, o preconceito e a discriminação racial, na
maioria dos casos, foram uma constante,
quer em forma de discurso ou de ações,
quer pelo silêncio da escola ou dos pais
em relação à questão racial.
Por fim, na nossa visão, os conflitos
decorrentes da pluralidade são extremamente pedagógicos, já que muitas vezes,
as palavras não são capazes de expressar
uma determinada situação. Desta forma,
só o fato de haver alunos de diversos segmentos sociais e raciais na sala modifica
a dinâmica da aula. Acreditamos que a
heterogeneidade dos alunos é extremamente educativa, principalmente em um
ambiente que evidencia a herança de uma
sociedade elitista, autoritária e escravo28
crata, de composição multi-racial como é
no Brasil.
Neste sentido, entendemos que a
melhoria da educação deve vir acompanhada de mudanças no tratamento da
questão racial, sendo necessário que o
ambiente educacional, em todos os níveis, saiba lidar, combater e transmitir
de forma adequada a multiplicidade
“racial” e todos os temas correlatos. Tais
pontos são imprescindíveis para que a
formação educacional forneça condições e contribua, de forma efetiva, para
a construção de uma verdadeira democracia racial.
A resistência ao tema também é
apontada como um obstáculo à discussão
– argumentos de que ao se falar do preconceito racial contra os negros estamos
criando o preconceito. Inscrevem-se no
plano da invisibilidade da questão para
amplos setores da sociedade, que querem
acreditar que vivemos num paraíso com a
garantia da democracia racial.
O caminho percorrido sinaliza que
não existem fórmulas prontas para desfazer tantas resistências, mas nós como
educadores e pesquisadores buscamos
caminhos para “quebrar o gelo” entre os
entrevistados e até entre os colegas negros na universidade. Estes argumentos
justificam nossas dificuldades frente ao
objeto investigado e denuncia o silêncio
que existe nas escolas e também entre
nós sobre o tema do preconceito racial.
Convém registrar, ainda, que não foi
fácil para nós, como pesquisadores, entrar
num mundo em que predomina no discurso a inclusão racial e na prática, a exclusão. Vale compreender que a escola
tem ainda grandes dificuldades em lidar
com seus preconceitos, e para falar sobre
o assunto com as crianças é necessário
fazer uma reflexão sobre o papel da escola frente ao racismo. Em muitos casos
ainda prevalece a acomodação.
No entanto, não conseguimos fazer
do silêncio nosso aliado, ao questionarmos, como educadoras: é possível conviver numa democracia onde mesclam discursos libertários e práticas que excluem?
É possível educar tendo como elemento
do processo de formação humana o preconceito por “cor”?
Os resultados das análises feitas dos
dados oferecidos pela investigação nos
permitiram ainda concluir que a temática
da discriminação racial está mais presente nas escolas infantis do que podíamos
imaginar. Apesar de todas as polêmicas e
dificuldades para desenvolver o tema, ele
deveria como parte integrante da agenda
curricular das escolas infantis de Montes
Claros.
Esperamos que o silêncio vá sendo
rompido e, no lugar da omissão e do
embaraço, nós professores possamos
desenvolver atividades e projetos que
venham contribuir para alterar o quadro
encontrado nas escolas, como forma de
enfrentar as contradições e conflitos
gerados pela discriminação e preconceitos raciais. Deve ainda ser meta dos projetos pedagógicos, com o objetivo de
enfrentar as dificuldades com que se
deparam famílias, escolas e sociedade,
tendo em vista a diferente origem étnica dos alunos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARCELOS, LC. Educação:um quadro de desigualdades raciais. Estudos Afro Asiáticos, Rio de Janeiro, n.
23, 1992, p. 37-69.
CARDOSO, EL Racismo: o papel do professor, IN: CARDOSO, Edson Lopes. Bruxas, espíritos e outros bichos. Belo-Horizonte: Mazza, 1992.
PINTO, RP. Diferença étnico-raciais e formação do
professor. Cadernos de Pesquisa, São Paulo. N. 86,
1993. p. 25-38.
_________________, Multiculturalidade e educação de negros. Cadernos Cedes, Campinas, n. 32,
1993, p. 35-48.
_________________, Raça e Educação: uma articulação incipiente. Cadernos de Pesquisa, São Paulo,
n. 80, 1992, p. 41-50.
ROSEMBERG, F. Expansão da educação infantil e processos de exclusão. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 107, 1999, p. 7-40.
________________, Raça e desigualdade educacional no Brasil. In: Aquino, Julio Groppa (Org). Diferenças e preconceitos nas escolas, alternativas teóricas e praticas. São Paulo: Summus, 1998, p. 73-92.
CAVALLEIRO, ES. Do silencio do lar ao silêncio escolar.
São Paulo, 1998. Dissertação (Mestrado em educação) - Universidade de São Paulo, Faculdade de
Educação.
RAGO, M. Epistemologia feminista, gênero e história.
In: PEDRO, Joana Maria et al. (ORGS). Masculino, feminismo, plural. São Paulo: Mulheres, 1998, p. 2141.
REGINA, T. O silêncio vai acabar. Nova Escola, São
Paulo, n. 77, maio 1991, p. 25-34.
1
No Brasil, o contexto histórico, tem lugar no
livro de Darcy Ribeiro (O povo brasileiro), que trabalha
bem a sua dimensão conflitante, mas este processo
de integração e miscigenação de certa maneira
camuflou, ou seja, colocou em segundo plano a
questão racial, como se a questão fosse somente
social.
REGRAS EDITORIAIS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA
CIENTÍFICA DAS FACULDADES PITÁGORAS DE MONTES CLAROS
1. INSTRUÇÃO AOS AUTORES
A Revista Científica das Faculdades Pitágoras de
Montes Claros é um periódico especializado, nacional, aberto a contribuições da comunidade científica nacional, arbitrada e distribuída a leitores do
Brasil.
Esta revista tem por finalidade publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes
para as áreas de Fisioterapia, Enfermagem, Direito,
Psicologia, Normal Superior e Turismo e Hotelaria,
nos âmbitos nacional e internacional.
Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente
à Revista Científica das Faculdades Pitágoras, não
sendo sua apresentação simultânea a outro periódico, tanto do texto, quanto de figuras, tabelas,
quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em
anais de reuniões científicas. O(s) autor(es) deverá(ão) assinar e encaminhar declaração de acordo
com o modelo anexo.
Os manuscritos poderão ser encaminhados em português em quatro vias para o Editor Científico (final
do texto).
Os manuscritos publicados são de propriedade da
Revista, vedada tanto a reprodução, mesmo que
parcial em outros periódicos, como a tradução para
outro idioma sem a autorização do Conselho de
Editores. Desta forma, todos os trabalhos, quando
submetidos à publicação, deverão ser acompanhados de documento de transferência de direitos autorais, contendo assinatura de cada um dos autores, cujo modelo está anexo.
2.
CATEGORIAS DE ARTIGOS
Além dos artigos originais, os quais tem prioridade,
a Revista Científica das Faculdades Pitágoras publica Entrevistas, Revisões de Literatura, Atualizações,
Notas e Informações, Cartas ao Editor, Editoriais,
além de outras categorias de artigos.
• Entrevista – PERFIL INTERATIVO
São entrevistas dinâmicas, interativas, realizadas
com pessoas de destaque, pesquisadores, formadores de opinião, em cada curso ou áreas afins relacionadas com a Fisioterapia, Enfermagem, Direito, Psicologia, Normal Superior e Turismo e Hotelaria, nos âmbitos nacional e internacional. A personalidade de cada área contará com a indicação
de membros da própria revista e dos coordenadores dos cursos das Faculdades Pitágoras de Montes Claros, sendo respeitada uma rotatividade para
a escolha dos nomes indicados em cada curso.
• Artigos Originais - MULTITEXTOS
São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original inédita, que possam ser
replicados ou generalizados. Devem ter a objetividade como princípio básico. O autor deve deixar
claro quais as questões que pretende responder.
Devem ter de 2.000 a 4.000 palavras, excetuandose Tabelas, Figuras e as Referências Bibliográficas.
As Tabelas e Figuras devem ser limitadas a 5 no
conjunto, recomendando-se incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito
longas, com dados dispersos e de valor não representativo. Quanto às figuras, não são aceitas
aquelas que repetem dados de tabelas. As Referências Bibliográficas estão limitadas a 20, devendo incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática abordada, havendo, entretanto, flexibilidade. Deve-se evitar a inclusão de número ex-
cessivo de referências numa mesma citação.
A estrutura dos artigos é a convencional: a Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua importância e destacando
as lacunas do conhecimento (“estado da arte”) que
serão abordadas no artigo. Na seção Material e
Métodos, a metodologia empregada, a população
estudada, a fonte de dados e critérios de seleção,
dentre outros, devem ser descritos de forma compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A seção de Resultados deve se limitar a descrever os
resultados encontrados sem incluir interpretações/comparações. O texto deve complementar e
não repetir o que está descrito nas tabelas e nas figuras. Além disso, os resultados devem ser separados das discussões. A Discussão deve começar
apreciando as limitações do estudo, seguidas da
comparação com a literatura científica e da interpretação dos autores, extraindo conclusões e indicando os caminhos para novas pesquisas.
• Artigos de Revisão – NOVA LEITURA
Os artigos de revisão devem apresentar uma revisão crítica sistematizada da literatura científica
sobre determinado assunto, devendo conter conclusões. Devem ser descritos os procedimentos
adotados, esclarecendo a delimitação e limites do
tema. Sua extensão deve ser de até 5.000 palavras.
• Atualizações – UM PONTO À FRENTE
São trabalhos descritivos e interpretativos baseados na literatura científica recente sobre a situação global em que se encontra determinado assunto investigativo. Sua extensão deve ser de até
3.000 palavras.
• Notas e Informações – INTERACÃO
São relatos de casos curtos decorrentes de estudos originais ou avaliativos. Podem incluir também notas preliminares de pesquisa, contendo
dados inéditos e relevantes para os temas referentes aos cursos abordados nessa revista. Devem
ter de 800 a 1.600 palavras (excluindo-se tabelas,
figuras e referências), 1 tabela/figura e cerca de 5
referências bibliográficas.
• Cartas ao Editor - RECIPROCIDADE
Incluem cartas que visam a discutir artigos recentes publicados na Revista Científica das Faculdades Pitágoras ou a relatar pesquisas originais ou
achados científicos significativos. Não devem exceder a 600 palavras e 5 referências bibliográficas.
3.
AUTORIA
O conceito de autoria está baseado na contribuição
substancial de cada uma das pessoas listadas como
autores, no que se refere, sobretudo, à concepção
do projeto de pesquisa, análise e interpretação de
dados, redação e revisão crítica. Manuscritos com
mais de 6 autores devem ser acompanhados por
declaração certificando explicitamente a contribuição de cada um dos autores cuja contribuição não
se enquadre nos critérios acima, podendo, nesse
caso, figurar na seção “Agradecimentos”.
A indicação dos nomes dos autores logo abaixo do
título do artigo é limitada a 12; acima desse número, os autores são listados no rodapé da página.
Cada manuscrito deve indicar o nome de um autor
responsável pela correspondência com a Revista
Científica das Faculdades Pitágoras, e seu respectivo endereço, incluindo telefone, fax e e-mail.
4. PROCESSO
DE JULGAMENTO
DOS MANUSCRITOS
Os manuscritos submetidos à Revista Científica das
Faculdades Pitágoras que atenderam às “instruções
aos autores” e que se coadunem com sua política
editorial são encaminhados aos Editores Associados
que considerarão o mérito científico da contribuição. Aprovados nesta fase, os manuscritos são encaminhados aos relatores previamente selecionados pelos Editores Associados.
Cada manuscrito é enviado para três relatores de
reconhecida competência na temática abordada.
O anonimato é garantido durante todo o processo
de julgamento. A decisão sobre aceitação é tomada
pelo Conselho de Editores. Cópias dos pareceres são
encaminhadas aos autores e relatores, este por sistema de troca entre eles.
• Manuscritos Recusados
Manuscritos não selecionados não serão devolvidos; a menos que sejam solicitados pelos respectivos autores no prazo de até seis meses. Manuscritos recusados, mas com a possibilidade de reformulação, poderão retornar como novo trabalho, iniciando-se outro processo de julgamento.
• Manuscritos Aceitos
Manuscritos aceitos ou aceitos sob condição poderão retornar aos autores para aprovação de
eventuais alterações no processo de editoração e
normalização de acordo com o estilo da Revista
Científica das Faculdades Pitágoras.
5. PREPARO DOS MANUSCRITOS
Os manuscritos devem ser preparados de acordo
com as “Instruções aos Autores” dessa revista.
Os artigos devem ser digitados no programa Word
(Windows), em uma só face, com letra tipo arial,
corpo 12, em folha de papel branco, tamanho ofício, mantendo margens laterais de 3 centímetros,
espaço duplo em todo o texto, incluindo página de
identificação, resumos, agradecimentos, referências
e tabelas.
Cada manuscrito deve ser enviado em 4 vias. Quando aceito para publicação, devem ser encaminhadas uma cópia impressa do manuscrito e uma cópia em disquete em formato 3/2, programa Word a
partir de 1995/1997.
Todas as páginas devem ser numeradas a partir da
página de identificação.
• Página de Identificação
Deve conter:
1. Título do Artigo, que deve ser conciso e completo, evitando palavras supérfluas. Recomenda-se
começar pelo termo que represente o aspecto
mais importante do trabalho, com os demais termos em ordem decrescente de importância. Deve
ser apresentada a versão do título para o idioma
inglês.
2. Indicar no rodapé da página o título abreviado,
com até 40 caracteres, para fins de legenda nas
páginas impressas.
3. Nome e sobrenome de cada autor pelo qual é conhecido pela literatura científica.
4. Instituição a que cada autor está afiliado, acompanhado do respectivo endereço.
5. Nome do Curso, Departamento e da Instituição
no qual o trabalho foi realizado.
6. Nome e endereço do autor responsável pela troca de correspondências, inclusos e-mail, fone e
fax.
7. Se foi subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o
nome da agência financiadora e o respectivo nú-
29
mero do processo.
8. Se foi baseado em tese, indicar o título, ano e instituição onde foi apresentada.
9. Se foi apresentado em reunião científica, indicar
o nome do evento, local e data da realização.
nais pelo Editor não serão publicadas, mas poderão ser colocadas à disposição dos leitores, pelos
respectivos autores, mediante nota explicativa.
Quadros são identificados como Tabelas, seguindo uma única numeração em todo texto.
• Resumos e Descritores
Os manuscritos para as seções Artigos Originais,
Revisões, Atualização e similares devem ser
apresentadas contendo dois resumos, sendo um
em português e outro em inglês. Para os Artigos
Originais os resumos devem ser apresentados
no formato estruturado, com até 250 palavras,
destacando o principal objetivo e os métodos
básicos adotados, informando sinteticamente
local, população e amostragem da pesquisa;
apresentando os resultados mais relevantes,
quantificando-os e destacando sua importância
estatística; apontando as conclusões mais importantes, apoiadas nas evidências relatadas,
recomendando estudos adicionais, quando for o
caso. Para as demais seções, o formato do resumo deve ser o narrativo, com até 150 palavras.
Basicamente deve ser destacados o objetivo, os
métodos usados para o levantamento das fontes de dados, os critérios de seleção dos trabalhos incluídos, os aspectos mais importantes
discutidos e as conclusões mais importantes e
suas implicações. Abreviaturas e siglas devem
ser evitadas; citações bibliográficas não devem
ser incluídas em nenhum dos dois tipos. Descritores devem ser indicados entre 3 e 10, extraídos do vocabulário “Descritores em Ciências da
Saúde” (LILACS), quando acompanharem os
“Abstracts”. Se não forem encontrados descritores disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido.
• Figuras
As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos,
etc.), citadas como Figuras, devem estar desenhadas e fotografadas por profissionais. Devem
ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas
no texto; devem ser identificadas fora do texto,
por número e título abreviado do trabalho; as legendas devem ser apresentadas em folha à parte; as ilustrações devem ser suficientemente claras para permitir as suas reproduções. Não se
permite que as Figuras apresentem os mesmos
dados das Tabelas. As Figuras coloridas não são
publicadas, a não ser que sejam custeadas pelos
autores do manuscrito. Nas legendas das figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros sinais devem ser identificados e seu significado esclarecido. Se houver figuras extraídas de
outros trabalhos, previamente publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito,
para a reprodução das mesmas. Essas autorizações devem acompanhar os manuscritos submetidos à publicação.
• Agradecimentos
Contribuições de pessoas que prestaram alguma
forma de colaboração intelectual ao trabalho
como assessoria científica, revisão crítica da
pesquisa, coleta de dados entre outras, mas que
não preencham os requisitos para participar de
autoria, devem constar dos “Agradecimentos”,
desde que haja permissão expressa dos nomeados. Também podem constar desta parte agradecimentos a instituições pelo apoio econômico,
material ou outros.
• Referências Bibliográficas
As referências devem ser ordenadas alfabeticamente ou numeradas e normalizadas de acordo
com o estilo ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) ou Vancouver (Revista de Saúde
Pública, vol. 33 (1), 1999 ou verificar site:
www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html). Os
títulos de periódicos devem ser referidos de forma abreviada, de acordo com o Index Medicus, e
grifados. Publicações com 2 autores até o limite
de 6 citam-se todos; acima de 6 autores, cita-se
o primeiro seguido pela expressão latina et al. A
exatidão das referências constantes da listagem
e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do manuscrito.
• Tabelas
Devem ser apresentadas em folhas separadas,
numeradas consecutivamente com algarismos
arábicos, na ordem em que foram citadas no
texto. A cada uma deve-se atribuir um título
breve, não se utilizando traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser
colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho do título. Se houver tabelas extraídas de
outros trabalhos, previamente publicados, os autores devem providenciar a permissão, por escrito, para a reprodução das mesmas. Esta autorização deve acompanhar os manuscritos submetidos à publicação. Tabelas consideradas adicio-
30
• Abreviaturas e siglas
Deve ser utilizada a forma padrão. Quando não o
forem, devem ser precedidas do nome completo
quando citadas pela primeira vez; quando aparecerem nas Tabelas e nas Figuras devem ser acompanhadas de explicação quando seu significado
não for conhecido. Não devem ser usadas no título e no resumo e seu uso no texto deve ser limitado.
6. ENVIO DOS MANUSCRITOS
Os manuscritos devem ser endereçados ao Editor
Científico da Revista Científica das Faculdades Pitágoras de Montes Claros, em quatro cópias em papel, sendo uma original e três cópias, para o seguinte endereço:
Prof. Alfredo Maurício Batista de Paula
Editor Científico da Revista Cientifica das Faculdades Pitágoras de Montes Claros
Faculdades Pitágoras de Montes Claros
Rua Monte Pascoal, 284, Bairro Ibituruna – Montes
Claros, MG.
CEP 39.401-347
Fone/Fax: 0xx38 3214-7100
E-mail: [email protected]
Endereço eletrônico: www.fap-moc.com.br
7.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
Todas as pessoas relacionadas como autores devem
reproduzir e assinar os documentos abaixo: (I) Declaração de Responsabilidade e (II) Transferência de
Direitos Autorais.
I - Declaração de Responsabilidade
Primeiro autor: __________________________
Título do manuscrito: _____________________
“Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha responsabilidade
pelo seu conteúdo. Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que nem este ma-
nuscrito, em parte ou na íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de
minha autoria, foi publicado ou está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja
no formato impresso ou no eletrônico, exceto o
descrito em anexo. Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e
fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado para exame dos leitores”.
Assinatura do(s) autor(es) e Data
______________________________________
II - Transferência de Direitos Autorais
Primeiro autor: __________________________
Título do manuscrito: _____________________
“Declaro que em caso de aceitação do artigo por
parte da Revista Científica das Faculdades Pitágoras
de Montes Claros, concordo que os direitos autorais
a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva
das Faculdades Pitágoras de Montes Claros, vedado
qualquer produção, total ou parcial, em qualquer
outra parte ou meio de divulgação, impressa ou
eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, farei constar o competente agradecimento às Faculdades Pitágoras de
Montes Claros e os créditos correspondentes”.
Assinatura do(s) autor(es) e Data
______________________________________
8. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS
Evite o uso de iniciais, nomes ou número de registros dos pacientes/clientes avaliados no estudo. Os
participantes do trabalho não poderão ser identificáveis por fotografias, exceto com consentimento expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original. As Tabelas e/ou figuras publicadas em
outras revistas ou livros devem citar as respectivas
referências e o consentimento, por escrito, do autor ou editores.
Estudos realizados em seres humanos devem estar
de acordo com os padrões éticos e com o devido
consentimento livre e esclarecido dos pacientes
(reporte-se à Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata do código de “Ética para
Pesquisa em Seres Humanos”). Para as pesquisas
em humanos, deve-se incluir a aprovação da mesma pela Comissão de Ética em Pesquisa devidamente registrada no Conselho Nacional de Saúde
Hospitalar ou Universitária mais próxima de sua
região. A Revista Científica das Faculdades Pitágoras de Montes Claros reserva-se o direito de não
publicar trabalhos que não obedeçam a essas normais legais e éticas para pesquisas em seres humanos.
Para os experimentos em animais, considere as diretrizes internacionais, por exemplo, a do Commitee for Research and Ethical Issues of International Association for the Study of Pain, publicada
em PAIN, v. 16, p. 109-110, (1983).
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao enviar o original e as três cópias do trabalho
(na versão inicial), procure acondicioná-los adequadamente, para evitar rasuras e danos. As ilustrações, principalmente as fotografias, devem ser
protegidas com material impermeável antes de serem postadas no correio. Prefira a remessa via Sedex ou carta registrada. Quando o artigo pertencer
a mais de um autor, fica claro que os demais autores estão de acordo com a publicação da matéria, quando do aceite final dos editores.