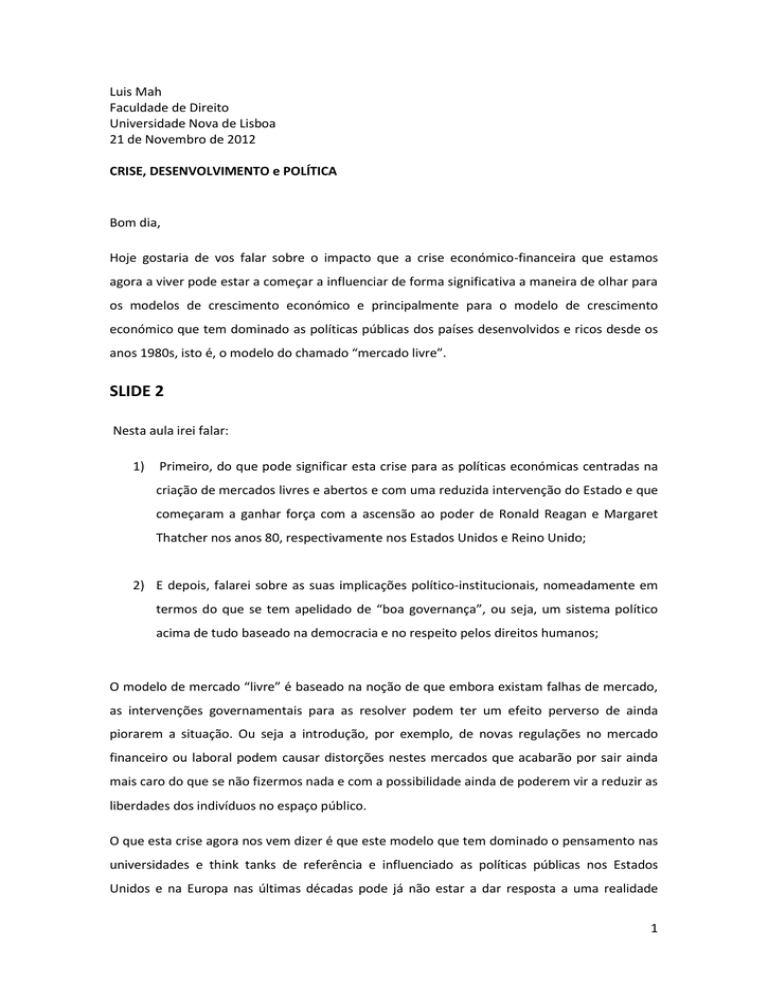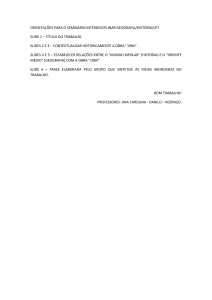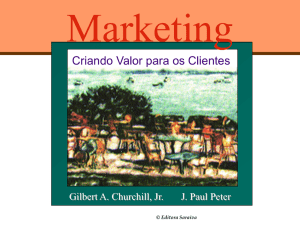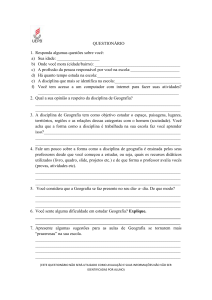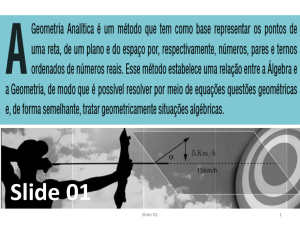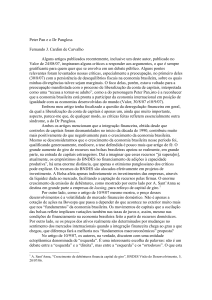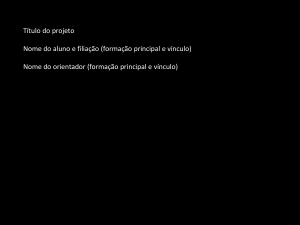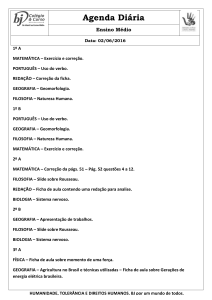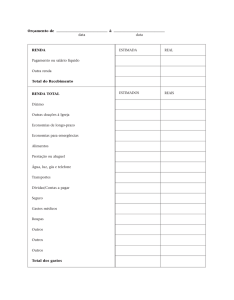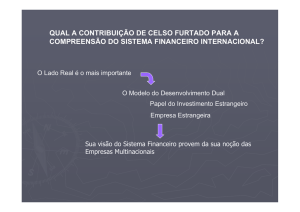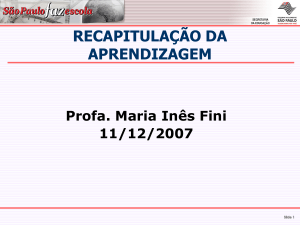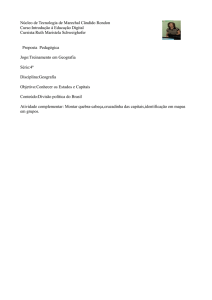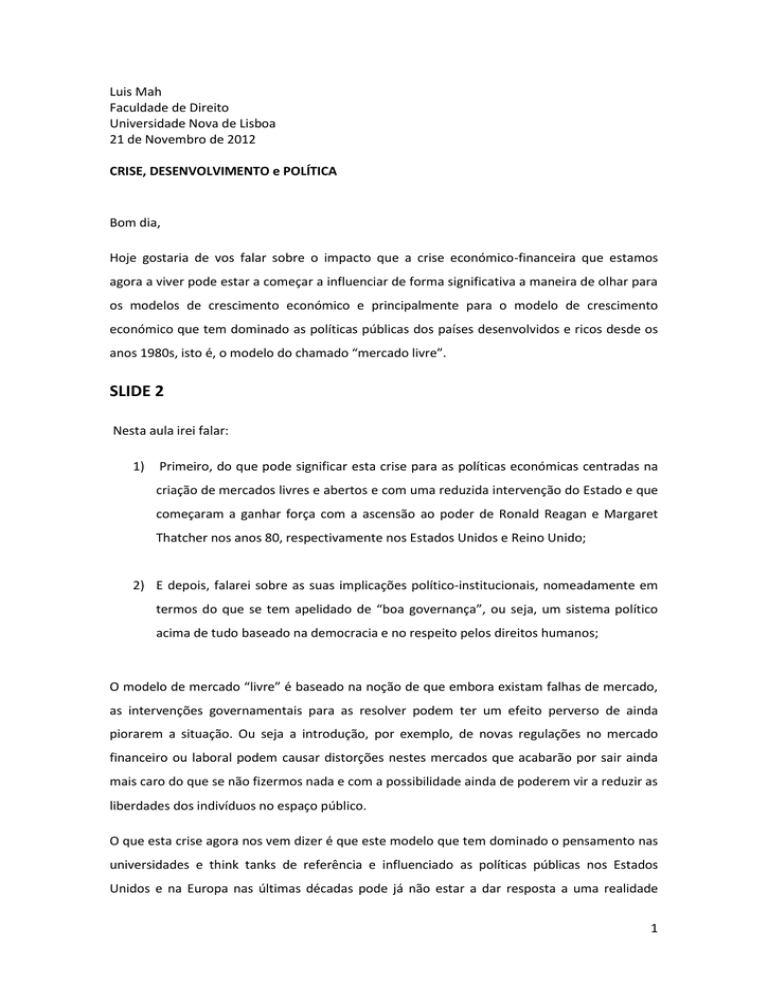
Luis Mah
Faculdade de Direito
Universidade Nova de Lisboa
21 de Novembro de 2012
CRISE, DESENVOLVIMENTO e POLÍTICA
Bom dia,
Hoje gostaria de vos falar sobre o impacto que a crise económico-financeira que estamos
agora a viver pode estar a começar a influenciar de forma significativa a maneira de olhar para
os modelos de crescimento económico e principalmente para o modelo de crescimento
económico que tem dominado as políticas públicas dos países desenvolvidos e ricos desde os
anos 1980s, isto é, o modelo do chamado “mercado livre”.
SLIDE 2
Nesta aula irei falar:
1)
Primeiro, do que pode significar esta crise para as políticas económicas centradas na
criação de mercados livres e abertos e com uma reduzida intervenção do Estado e que
começaram a ganhar força com a ascensão ao poder de Ronald Reagan e Margaret
Thatcher nos anos 80, respectivamente nos Estados Unidos e Reino Unido;
2) E depois, falarei sobre as suas implicações político-institucionais, nomeadamente em
termos do que se tem apelidado de “boa governança”, ou seja, um sistema político
acima de tudo baseado na democracia e no respeito pelos direitos humanos;
O modelo de mercado “livre” é baseado na noção de que embora existam falhas de mercado,
as intervenções governamentais para as resolver podem ter um efeito perverso de ainda
piorarem a situação. Ou seja a introdução, por exemplo, de novas regulações no mercado
financeiro ou laboral podem causar distorções nestes mercados que acabarão por sair ainda
mais caro do que se não fizermos nada e com a possibilidade ainda de poderem vir a reduzir as
liberdades dos indivíduos no espaço público.
O que esta crise agora nos vem dizer é que este modelo que tem dominado o pensamento nas
universidades e think tanks de referência e influenciado as políticas públicas nos Estados
Unidos e na Europa nas últimas décadas pode já não estar a dar resposta a uma realidade
1
económica mais complexa e que isso talvez exija uma mudança de paradigma. Se isso irá ou
não acontecer, principalmente a nível norte-americano e europeu, ainda é cedo para se dizer
embora haja alguns sinais ou tentativas de explorar caminhos fora do paradigma dominante, e
de que falarei mais à frente, sem necessariamente significar a emergência de um novo
paradigma.
SLIDE 3
Um estudo de 2011 de um think tank britânico IPPR-Institute for Public Policy Research
intitulado em inglês “All Change: Will there be a Revolution in Economic Thinking in the Next
Few years?” e que vocês podem consultar facilmente online procurou precisamente perceber
porque razão após o colapso do Lehman Brothers (em 2008 o quarto maior banco de
investimento em Wall Street) e o seu impacto no sistema financeiro e económico global nos
anos seguintes – diga-se recessão- , e apesar de um conjunto de esforços políticos, não se
assistiu à emergência do tal novo paradigma económico como se esperava. A ideia central do
paper é que não houve uma mudança de paradigma em termos macroeconómicos desde o
começo da crise financeira e recessão porque: UM, o número de anomalias em termos
económicos não foi suficientemente grande para questionar o paradigma dominante e DOIS,
não existe ainda uma alternativa clara (mesmo os críticos mais fortes, os chamados neoKeynesianos e que valorizam o papel do Estado no estímulo da economia, tendem a recorrer a
prescrições do passado e menos a receitas de futuro). Isto não significa que a mudança de
paradigma não venha a acontecer, mas será preciso mais tempo para que a alternativa possa
emergir.
Agora em inglês..e o último parágrafo do paper: “..one might be inclined to presume that
change will only come if it is driven from outsider the profession by demands for economics to
provide solutions to problems in the real world, rather than models of hypothetical worlds that
bear little relation to reality. Such demands have, however, not been evident in the last few
years and for the time being at least, continue to elude us” (esta ideia está claramente
relacionada com a crítica que é feita ao facto dos actuais modelos económicos dominantes
cada vez mais matemáticos e que são acusados de não reflectiram, de facto, a realidade por
assumirem uma visão excessivamente racional do homem…uma auto-crítica, por exemplo, do
Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, aquando da sua última visita a Portugal).
Dito isto, o debate é cada vez maior e à medida que a crise se intensifica provavelmente maior
ainda será.
2
Nancy Birdsall, uma reputada economista norte-americana e que preside a um dos mais
influentes think tanks internacionais, o Center for Global Development, tem sido uma das
pensadoras que tem participado activamente neste debate, olhando para a economia em
termos globais em vez de focalizar-se nos casos específicos da Europa ou dos Estados Unidos.
SLIDE 4
Neste paper publicado em Abril por este centro e intitulado “The Global Financial Crisis: The
Beginning of the End of the “Development” Agenda?”, e que é a introdução de um livro
intitulado New Ideas for Development after the Financial Crisis (2011), reflecte sobre o impacto
da crise na forma como se olha para a agenda do desenvolvimento global e fala-nos da
transformação do modelo de mercado “livre” para o que apelida de modelo de mercado
“gerido” (managed market).
SLIDE 5
Neste modelo sugerido por Birdsall, as falhas de mercado justificam intervenções específicas
do Estado mas quando não há falhas de mercado, o mercado é deixado livre com pouca ou
nenhuma intervenção estatal.
E que tipo de intervenções específicas podemos falar aqui?
Intervenções destinadas, face aos acontecimentos actuais, a assegurar uma maior resiliência
da economia doméstica face às pressões competitivas da globalização e aos potenciais
traumas sociais que possam causar como temos vindo a assistir, quer nos EUA e Europa, com a
perda de competitividade de algumas das suas indústrias face às rivais asiáticas e,
principalmente, chinesas.
Isto implicaria, diz Bridsall, necessariamente maior envolvimento do Estado nos mercados
financeiros e laborais, mais despesa pública como forma de assegurar sistemas universais de
educação, saúde e mais segurança social e talvez até uma participação mais forte do Estado na
produção industrial.
Não é ainda claro que o mercado como factor positivo para o desenvolvimento seja per se
questionado, mas sim mais a natureza desse mercado, de livre para gerido (regulado?).
Isto é algo que podemos observar junto dos países emergentes ou em desenvolvimento que
nos últimos anos adoptaram políticas favoráveis à progressiva abertura dos mercados
3
domésticos e à integração na economia global e que perceberam bem que estas políticas têm
benefícios em termos de crescimento e desenvolvimento.
E aqui podemos facilmente utilizar os casos, como vos falei na aula anterior em que aqui
estive, da Coreia do Sul, mas também Taiwan, Malásia, Indonésia, Tailândia, China ou
Vietname.
A questão reside mais em conseguir encontrar e implementar um quadro institucional que
consiga precisamente reduzir os potenciais impactos negativos dessa progressiva liberalização
e globalização económica.
SLIDE 6
Para Birdsall, há claramente 3 questões que devem ter em conta nesse quadro institucional:
1) O fim da chamada ortodoxia financeira
2) A aposta em políticas sociais progressistas e distributivas como fundamentais para
redução das desigualdades e restauração da coesão social
3) A aposta numa “nova” política industrial:
Por detrás destes 3 pontos, está uma visão racional muito clara:
A crise económica e financeira global foi o toque de alarme para a seguinte mensagem:
De que choques periódicos e consequentes e futuras incertezas para cada país em termos
individuais é algo que passa a ser intrínseco à sua participação num mercado global cada vez
mais integrado.
Se isto já é evidente no caso europeu, norte-americano e até chinês (afectado pela queda nos
seus principais mercados de consumo), a vulnerabilidade às más políticas e decisões tomadas
noutros países é uma realidade que os países emergentes e outros em mais lento crescimento
e desenvolvimento já não podem deixar de ter em conta, de agora em diante, nas suas
políticas económicas. Isto tem como consequência, a necessidade de se conceder um papel
cada vez maior ao Estado para gerir o Mercado de modo a mitigar as suas falhas e
consequente impacto negativo junto das populações/sociedades.
SLIDE 7
SOBRE O FIM DA ORTODOXIA FINANCEIRA
4
Embora a crise tenha acentuado esta necessidade, o período prévio à crise era já um período
de crescente crítica, por exemplo, à livre circulação de capitais e ao apelo para um
fortalecimento da regulação do sistema financeiro.
A ortodoxia do mercado livre inclui a livre circulação de capitais e a liberalização do mercado
financeiro doméstico. Antes da crise, com a excepção da Europa Oriental (por força da sua
adesão à União Europeia), a maioria dos países emergentes e com economias crescentemente
de mercado continuavam a resistir em implementar totalmente estas políticas.
O continente asiático, e em particular a região da Ásia-Pacífico passou pela crise financeira de
1997 e aprendeu lições importantes sobre o impacto da livre circulação de capitais e a
liberalização do mercado financeiro doméstico sem a criação das instituições adequadas para
regular esse novo cenário.
Foi neste ano, 1997, que a Ásia passou por uma grave crise financeira e na altura houve várias
vozes na região que pediram a alto e bom som que fosse desafiada a ortodoxia do mercado
livre e insistiram que o mundo precisava de uma nova arquitectura financeira.
Eu disse-vos na aula em que cá estive que os líderes asiáticos não esquecem de como na altura
o papel das agências de notação internacionais foi altamente criticado porque que tinham
ajudado a acelerar o colapso financeiro da região ao terem baixado rapidamente o rating dos
países e empresas da Indonésia, Coreia do Sul e Tailândia. E que isso acabou por ajudar a criar
na região, apesar de todos os conflitos territoriais latentes que ainda existem (como agora
vimos no Mar do Sul da China onde a China, Vietname, Filipinas e Malásia), a necessidade de
se organizarem e pensarem numa via regional de lidar com os seus potenciais e futuros
problemas financeiros sem passar pelo FMI ou países ocidentais.
Vou-vos agora mostrar um pequeno excerto de uma reportagem do programa FRONTLINE da
PBS, TV pública norte-americana, e que produziu em 1999 esta reportagem intitulada CRASH
e que aqui fala da crise asiática em 1997. Este excerto tem cerca de 15 minutos e com o
jornalista William Greider).
E que efeitos teve esta crise de 1997?
Os efeitos da crise na região foram as mais severas desde a grande depressão em 1930. A
economia indonésia, o quarto país mais populoso do mundo (cerca de 250 milhões de pessoas
hoje em dia), contraiu quase 14% em 1998. A economia sul-coreana teve uma queda de quase
7% algo que não acontecia desde a Guerra da Coreia nos anos 1950s.
5
As economias da Tailândia, onde tudo começou, e da Malásia também experimentaram uma
queda abrupta pondo em causa a tendência de crescimento que vinham tendo nas últimas
décadas. Até Hong Kong e Singapura, as mais ricas e sofisticadas economias asiáticas logo após
o Japão, sofreram fortemente com a crise dos seus parceiros comerciais na região. A crise teve
também o efeito de afectar negativamente a já de si fraqueza financeira do Japão com uma
economia ainda em estagnação.
Apenas a China e Taiwan conseguiram escapar à crise embora com taxas de crescimento
menores e foram forçadas a implementar programas arriscados para estimular as suas
economias domésticas e fortalecer os seus sistemas financeiros.
E porque razão conseguiram escapar-se? Precisamente porque a China tinha o mercado
financeiro protegido e fechado ao exterior e Taiwan manteve sempre o seu sistema financeiro
fortemente regulado pelo Banco Central. A crise acabou por contagiar outros mercados fora da
Ásia como a Rússia e o Brasil que sofreram fortes fugas de capital.
SLIDE 8
E como é que se chegou até aqui?
1) Liberalização de movimento de capitais que gerou vastos fluxos de capital estrangeiro;
2) Supervisão pobre do sistema bancário e não-bancário;
3)
Investimentos não produtivos
4)
Taxas de câmbio fixas (indexação ao dólar)
Tudo combinado acabou por dramaticamente tornar vulneráveis as várias economias asiáticas
na primeira metade dos anos 1990s.
SLIDE 9
FLUXOS DE CAPITAIS
A mudança mais forte na maioria das economias da Ásia Pacífico nos últimos anos do século
XX (1990s) foi o aumento dramático de capitais estrangeiros na região. Em 1996, a Ásia atraiu
cerca de 110 mil milhões de dólares, comparado com uma média anual de cerca de 17 mil
milhões de dólares entre 1983-89 (1977-82: 15.8, 1983-89:16.7, 1990-94:40.1, 1995: 95.8,
1996:110.4, 1997:13.9).
6
O que explica este crescimento? Reflecte a combinação de vários factores. Do lado da oferta
inclui-se o crescimento dos fundos de pensão das economias industrializadas do Ocidente com
muito capital para investir e a existência de tecnologia que tornava mais fácil para os
investidores movimentar fundos em termos globais.
A maioria dos novos fluxos financeiros tinha a forma de portfolios (acções, obrigações ou
dinheiro) que podiam facilmente sair do país em vez de investimentos directos. A queda
dramática nos spreads das taxas de juro para os empréstimos a nível internacional nos anos
que antecederam a crise apontava para uma abundância de capital à procura de
oportunidades de investimento.
O crescimento dos fluxos financeiros para a Ásia também reflectia uma combinação de
factores do lado da procura. A rigidez nos mercados financeiros domésticos, muitas vezes por
força das regulações governamentais, limitavam o tipo de instrumentos financeiros disponíveis
para os investidores locais. Ao mesmo tempo, a “repressão” financeira doméstica e uma
grande abundância de capital no estrangeiro tinha como efeito tornar os créditos estrangeiros
mais baratos do que os domésticos (com uma diferença em termos de taxa de juro anual que
podia chegar aos 10%).
O acesso aos fundos estrangeiros foi facilitado por duas razões: 1) a crescente
internacionalização das actividades das empresas asiáticas que lhes permitia não só controlar
fundos estrangeiros no exterior mas também aceder aos mercados de capitais estrangeiros; 2)
a maioria dos governos na região decidiram liberalizar parcialmente os movimentos de capitais
estrangeiros.
SLIDE 10
FRACA SUPERVISÃO
A crise foi claramente gerada por uma liberalização financeira, mesmo que parcial, demasiado
rápida num contexto institucional de fraca capacidade para perceber e regular o
funcionamento de um sistema financeiro mais aberto à entrada de capitais estrangeiros;
A verdade é que raras foram as vezes em que os governos da região colocaram em campo um
quadro regulador para lidar com a entrada de novos e abundantes fluxos de capital
estrangeiro. Em parte o problema foi a falta de experiência. Os governos não tinham o
7
conhecimento nem a capacidade burocrática para lidar com os desafios em termos de
regulação colocados pelo enorme fluxo de capitais. Até economias mais desenvolvidas como o
Japão tinham formado poucos supervisores da banca e pela região os ministérios responsáveis
pelo sector resistiram às tentativas de criar agências reguladoras independentes.
Embora alguns governos tenham abraçado a ideologia da liberalização, acabaram com “uma
casa construída a meio” que muitas vezes criou uma estrutura perversa em termos de
incentivos (por exemplo, encorajava-se empréstimos a curto prazo em detrimento do longo
prazo). O predomínio dos empréstimos a curto prazo colocava um problema de coordenação
para os governos. Para as instituições financeiras domésticas envolvidas, o incentivo era óbvio:
empréstimos de curto prazo tinham taxas de juro mais baixas do que as longo prazo,
aumentando as oportunidade de lucro em termos de arbitragem. Mas o que era racional para
as instituições financeiras não o era para a economia no seu todo.
Em meados de 1997, empréstimos de curto-prazo (dívida de curto prazo) constituía uma
percentagem substancial da dívida total de várias economias da região: 19% nas Filipinas, 24 %
na Indonésia, 39% na Malásia, 46% na Tailândia e 67% na Coreia do Sul. Em pouco tempo, a
dívida a curto prazo excedeu o total de reservas internacionais de três das economias
afectadas pela crise. Na Coreia, o ratio da dívida de curto prazo para as reservas estava acima
dos 300%, Indonésia 160% e Tailândia 110%. Naturalmente que esses ratios colocavam as
economias numa situação vulnerável em caso de ataque especulativo.
O licenciamento de novos bancos, principalmente de investimento, que se seguiu à
liberalização parcial na região também criou os seus problemas. O funcionamento de muitas
destas instituições financeiras era desconhecido dos reguladores habituados a operar num
quadro de “banca relacional”. Ao mesmo tempo, instituições financeiras novas têm o incentivo
poderoso de aumentar quotas de mercado e muitas vezes através da concessão de crédito a
companhias com qualificações financeiras duvidosas. Empréstimos arriscados contribuíram
para outro problema: o investimento de recursos financeiros crescentes em actividades
largamente não-produtivas.
SLIDE 11
INVESTIMENTOS NÃO-PRODUTIVOS
8
As economias da Ásia Pacífico tinham já poupado e investido de forma sem precedentes e em
muitos casos próximo dos 40% do PIB. Mesmo antes do aumento de fluxos de capitais nos
anos 1990s, as taxas de retorno ao investimento de muitas economias parecia baixo (e a
decair). As empresas estavam a criar sobre-capacidade em vários sectores (isto era
particularmente visível no caso sul-coreano). Os novos fluxos aumentaram o desequilíbrio
entre o capital disponível e as oportunidades de investimento produtivo. Eles levaram a que o
crédito bancário e não-bancário nestas economias expandissem mais depressa que o PIB. Uma
parte substancial dos fluxos de capital foram directamente para o sector imobiliário e bolsas,
alimentando bolhas especulativas. Em último caso, muito destes novos empréstimos
contribuiriam para o crédito mal-parado dos bancos locais.
SLIDE 12
INDEXAÇÂO AO DÒLAR
A manutenção da indexação das moedas locais em relação ao dólar norte-americano teve
também o efeito adicional de tornar estas economias ainda mais vulneráveis. Com um sistema
de indexação das suas moedas, a maioria dos governos descobriu que era impossível proteger
as economias locais do impacto do rápido fluxo de capital estrangeiro.
Os fluxos tinham importantes consequências: a entrada de capitais alimentou a circulação de
moeda e que teve como efeito pressionar em alta a inflação. A inflação doméstica, num
contexto de moeda indexada ao dólar, tornou as exportações mais caras e pouco competitivas
no mercado global. Algo que foi acentuado com a valorização do dólar face ao iene e a
depreciação do yuan chinês. Os países da região que indexaram a sua moeda ao dólar
experimentaram quebras nas taxas de exportação em 1996, mais do que em anos anteriores. E
o declínio foi particularmente forte na Tailândia, Malásia e Coreia.
O facto de governos continuarem a se comprometerem com a manutenção de uma moeda
forte, indexada ao dólar, criou um problema de “risco moral”. As instituições financeiras e
outros devedores tinham baixos incentivos para se protegerem contra os riscos cambiais
quando pediam emprestado em moeda estrangeira. Cobrir os seus empréstimos cortaria
substancialmente nas suas margens de lucro. Mas empréstimos não cobertos colocariam todo
o sistema financeiro em risco quando a moeda se desvalorizasse. As instituições financeiras
domésticas foram simplesmente incapazes de pagar os seus empréstimos.
9
As lições deixadas pela crise asiática continuam a estar bem presentes na região. A China,
apesar de já ser a segunda maior economia mundial continua muito relutante em liberalizar o
mercado financeiro doméstico.
SLIDE 13
Ao mesmo tempo que se assiste a esta relutância por parte dos países, principalmente,
emergentes em caminhar rapidamente para a liberalização do seu sistema financeiro
doméstico, estes países começam a levar a sua “batalha” junto de instituições como o Fundo
Monetário Internacional. Num artigo em Abril, o Financial Times reportava que o FMI tem
vindo a ser sujeito a um forte debate interno sobre a sua visão em relação ao controlo de
capitais, incluindo medidas para limitar a saída de capitais.
O jornal indicava o Brasil como sendo o líder neste debate no seio do FMI, mostrando oposição
a qualquer tentativa que imponha uma medida prescritiva em termos de controlo de
capitais,ou seja que a liberalização da circulação de capitais se torne lei. O Financial Times,
ainda que a título privado, cita o representante brasileiro no FMI, Paulo Nogueira Batista.
Batista foi citado a dizer que: “O FMI tem ainda que reconhecer totalmente os danos que
podem ser causados pela livre circulação de capitais e continua também a sobrevalorizar os
benefícios da circulação de capitais nível internacional”. Em 2010 e 2011, a entrada de capitais
no Brasil teve como efeito inflacionar o valor do real em cerca de 40% comparado com os dois
anos anteriores. E embora a moeda já se tenha vindo a desvalorizar, o real continua forte e
está a ameaçar a competitividade de um conjunto de indústrias nacionais como os têxteis,
automóveis ou aço. Desde 2011 que a economia brasileira tem vindo a perder ritmo tendo
crescido apenas 2.7% nesse ano e nos últimos trimestres tem estagnado. A economia parece
depender cada vez mais do consumo doméstico, alimentado pelo crédito, e menos das
exportações.
Os tempos são, pois, outros para o potencial fim da chamada ortodoxia financeira.
Outro “golpe” na ortodoxia financeira parece estar na maior tolerância revelada pelo Banco
Mundial e de outras instituições financeiras multilaterais na criação de Bancos de
Desenvolvimento nacionais depois do sucesso do Banco de Desenvolvimento Nacional do
Brasil ou mesmo do Banco de Desenvolvimento chinês como forma de estimular a criação de
empregos e investimento em indústrias nacionais. Na verdade, poderíamos perguntar o que
distingue as funções destes bancos das intervenções de países desenvolvidos durante a crise e
como a ajuda que concedeu aos seus sectores bancários ou industriais (como a indústria
10
automóvel) privados. O suposto sucesso destes bancos em fomentar principalmente a
indústria e o emprego é já tal que até países como o Reino Unido, França e agora até Portugal
com o debate em torno do banco de fomento destinado às PMEs parece ter abraçado a ideia
de um banco de desenvolvimento nacional
SLIDE 14
Sobre a aposta em políticas sociais progressistas e redistributivas como fundamentais para
reduzir as desigualdades e restaurar a coesão social:
Enquanto a Europa avança para uma reforma das suas políticas sociais e laborais de forma a
reduzir os encargos para o Estado e para as empresas, o oposto parece começar a emergir em
muitos países em desenvolvimento como forma de minorar as crescentes desigualdades.
A verdade é que tem-se vindo a apostar em sistemas universais de saúde em países
emergentes como a China, India, Indonésia e África do Sul, que representam quase 40% da
população mundial. São estes países que lideram o processo e isto foi tornado bastante claro
para o caso da Ásia num artigo da revista The Economist de 8 de Setembro de 2012.
SLIDE 15 (Imagem The Economist)
Na Ásia, com o colapso dos seus principais mercados, europeu e norte-americano, a
necessidade de estimular o consumo doméstico passa precisamente por uma maior aposta dos
governos locais nas políticas sociais e de emprego.
Isto exigirá fortes investimentos públicos na construção de infra-estruturas que poderão
aumentar o emprego a curto prazo e aumentar a produtividade a longo prazo, e através de
fortes investimentos públicos na área da saúde, educação e segurança social. E porquê? Na
Ásia não existe o tal Estado social similar ao europeu. Em consequência, na Ásia, as pessoas
têm que comparticipar significativamente sempre que recorrem a esses serviços. Por isso
poupam como precaução. Se o Estado passar a providenciar esses serviços com custos mais
baixos e de forma controlada em termos orçamentais, então a expectativa é de que as pessoas
poderão ter mais dinheiro no bolso para consumir. A estimativa é de que mais de 800 milhões
de pessoas farão parte da classe média asiática na próxima década. Mas esta tendência para o
aparecimento de um Estado Social (ou Providência)na Ásia não é só por questões económicas
mas também políticas. São as próprias populações que começam a exigir ao Estado que passe
a garantir mais serviços públicos nas áreas da Educação, Saúde e segurança social.
11
Esta aposta num Estado Providência fora do contexto usual da Europa, acontece (porque
relacionada) em simultâneo com uma outra questão que tem vindo a ganhar atenção e
preocupação junto dos governos a nível global: as crescentes desigualdades sócio-económicas
dentro dos países, mais do que entre países, e as suas implicações para o progresso. Hoje em
dia são cada vez mais as publicações académicas e não académicas que discutem e reflectem
sobre a temática e como lidar com ela. Mais uma vez o THe Economist publicou este especial
sobre Desigualdade.
SLIDE 16, 17, 18 e 19
Durante os períodos das vacas gordas, a questão das desigualdades não era importante desde
que todos aumentassem os seus rendimentos, mesmo que os mais ricos enriquecessem mais e
mais depressa. Mas nos últimos tempos, isso já não acontece, com os rendimentos da
chamada classe média a estagnar (principalmente nos países mais desenvolvidos) enquanto os
dos mais ricos continuam a aumentar.
O último relatório do Banco Asiático de Desenvolvimento afirma já que apesar do rápido
crescimento do continente na última década, as desigualdades crescentes ameaçam o
“milagre asiático”. Num artigo de opinião no Financial Times em Maio deste ano, o Economista
Chefe do Banco Asiático para o Desenvolvimento, Changyong Rhee fala da necessidade de se
combater as desigualdades sem pôr em causa o crescimento. Fala da necessidade de políticas
de crescimento que apoiem a criação de emprego, políticas fiscais mais eficazes, melhor
distribuição da riqueza a nível regional, mais investimentos na educação, saúde e segurança
social. Argumenta mesmo que os governos precisam de tornar a protecção social mais
eficiente e focalizada, precisam de reduzir as distorções que favorecem o capital em
detrimento do trabalho e apoiar as pequenas e médias empresas para equilibrar o crescimento
entre indústria, serviços e agricultura.
Em África, o Africa Progress Report 2012 do Africa Progress Panel veio chamar a atenção para
não se cair na ilusão de que os últimos dez anos de forte crescimento em África têm sido bons
para todos no continente e afirmar que as desigualdades continuam fortes. O Africa Progress
Panel é um painel muito respeitado em África, e que reúne um conjunto de 10
individualidades do sector privado e público liderados por Kofi Annan (antigo Secretário Geral
da ONU) e inclui pessoas como Michel Camdessus (ex FMI) , Peter Eigen (TI), Graça Machel,
Olusegun Obasanjo (ex Presidente Nigeria), Tidjane Thiam (Prudential UK).
12
E não esqueçamos a recente campanha presidencial norte-americana onde esta questão
também foi fundamental.
No entanto, temos um caso de sucesso: a América Latina onde a opção tem sido por políticas
públicas destinadas a reduzir as desigualdades (que sempre foi o grande drama sócioeconómico e também político do continente). E isto tem sido feito quer por governos mais
populistas ou de centro-esquerda ou direita. Na Bolívia, Venezuela e Equador (e agora a
Argentina), os governos têm vindo a apostar em fortes políticas sociais destinadas às
populações mais pobres. E é através da reafirmação do papel do Estado na economia e na
defesa do controlo nacional dos seus recursos energéticos, gás e petróleo, que se procura
encontrar os meios financeiros para sustentar essas políticas. No Brasil ou Uruguai, o enfase
está em programas de apoio financeiro de carácter redistributivo e focalizado nas populações
mais pobres (como os programas brasileiros da Fome Zero ou Bolsa Família) para redução da
pobreza e desigualdade de rendimento. No México o programa Progresa e Oportunidades e na
Colombia Familias en Accion.
SLIDE 20
Sobre a aposta numa “nova” política industrial:
A crise abriu também a oportunidade para se reflectir sobre a necessidade de políticas
industriais como forma de melhorar a competitividade do pais e a criação de emprego.
Políticas que pedem precisamente o envolvimento do Estado de forma mais forte, como
facilitador e coordenador.
Uma maior receptividade à criação de bancos de desenvolvimento nacionais, seguindo o
modelo chinês, sul-coreano ou mesmo brasileiro, é uma resposta institucional ao interesse de
muitos países em desenvolvimento em fazerem o upgrade da sua economia e apoiar/garantir
investimentos em sectores ou regiões com maior risco para o sector privado mas com maior
potencialidade de valor-acrescentado para o desenvolvimento sustentável do país a longo
prazo.
A possibilidade do Estado apoiar a industrialização de um país parece estar de volta depois de
quase três décadas em que se hesitou nesta política. Até há pouco tempo, a ortodoxia
dominante era a de que o risco de falhas do governo (incompetência, corrupção) na definição
de políticas industriais acarretaria sempre mais riscos do que as falhas geradas do mercado.
SLIDE 21 (Imagens de Rodrik, Chang e Lin)
13
Mas hoje em dia, economistas como Dani Rodrik (Harvard), Ha-joon Chang (Cambridge) ou
Justin Lin (Banco Mundial) têm vindo a trazer para o debate o papel da política industrial,
falando sobre os benefícios que o Estado pode ter – garantindo, investindo, coordenando,
inovando –de tal forma que até os governos actuais dos Estados Unidos e o Reino Unido já
começam a falar deste tema. Até o PSD em Portugal fala disto.
O que tudo isto nos diz é que talvez agora tenhamos novamente o retorno do Estado à
economia…..
Finalmente o que é que isto tudo tem a ver com a segunda parte da minha apresentação,
sobre a “boa governança”, democracia ou respeito pelos direitos humanos?
SLIDE 22
O FIM Da “Boa Governança”?
Ao mesmo tempo que parecem ser desafiadas as ideias da ortodoxia financeira, do fim do
Estado Social e de que a intervenção do Estado na produção é sempre má, também se começa
a desafiar o que se entende por “boa governança”.
E o que se entende, de forma geral, por “boa governança” e uma questão que tem dominado a
agenda do desenvolvimento nos últimos 20 anos? É uma questão que tem dominado a agenda
que tem dominado principalmente a chamada Ajuda Pública ao Desenvolvimento, ou seja, a
ajuda que vai das instituições multilaterais como o Banco Mundial e de doadores ricos como os
que fazem parte do Comité CAD da OCDE na capacitação organizacional e institucional dos
governos beneficiários. Na base da “boa governança” está claramente uma visão normativa
que passa pela existência de requisitos institucionais que garantam a democracia, a
participação da sociedade no processo de decisão ou parlamentos fortes e pela opção por
determinadas políticas como a abertura dos mercados, a redução da pobreza, respeito pelos
direitos
humanos,
um
quadro
macroeconómico
estável,
combate
à
corrupção,
descentralização, etc.
No entanto, a própria forma como a China conseguiu rapidamente recuperar da crise de 2008
(ou antes dela a Coreia do Sul, Taiwan, Malásia ou Indonésia ou mesmo Chile), ao contrário da
Europa e dos Estados Unidos, ameaça a visão de que o democracia e desenvolvimento têm
uma causalidade directa. A verdade é que não existe essa causalidade. O que uma série de
estudos nos dizem é que com base em estatísticas e análises econométricas não existe um
argumento histórico que permita dizer que a democracia é a melhor via para o
14
desenvolvimento ou pelo contrário que as ditaduras autoritárias são as melhores para
promover o desenvolvimento.
E em África isso é bem visível. Por exemplo nos últimos dez anos, o Gana, Cabo Verde, dois
países considerados totalmente livres pela Freedom House Index têm crescido acima da média
do continente (isto é mais de 5%) e melhorado os seus índices de desenvolvimento humano.
Mas ao seu lado têm países como a Tanzania (parcialmente livre), Uganda (parcialmente livre),
Etiópia (parcialmente livre) ou o Ruanda (não livre).
O que parece ter vindo a faltar no debate é um entendimento maior e melhor sobre os
contextos políticos onde são tomadas as decisões sobre crescimento e desenvolvimento. Ou
seja, como é que as elites políticas, os burocratas, o sector privado, os movimentos sociais de
um determinado país respondem aos incentivos políticos específicos que enfrentam quando
fazem escolhas sobre políticas públicas para o crescimento e desenvolvimento e participam na
sua implementação. No fundo o que faz falta é perceber melhor as especificidades da “black
box” da vontade política de cada país para se perceber como é que podemos encontrar uma
“governança suficientemente boa”.
Obrigado.
15