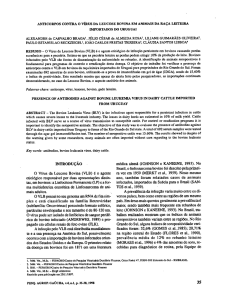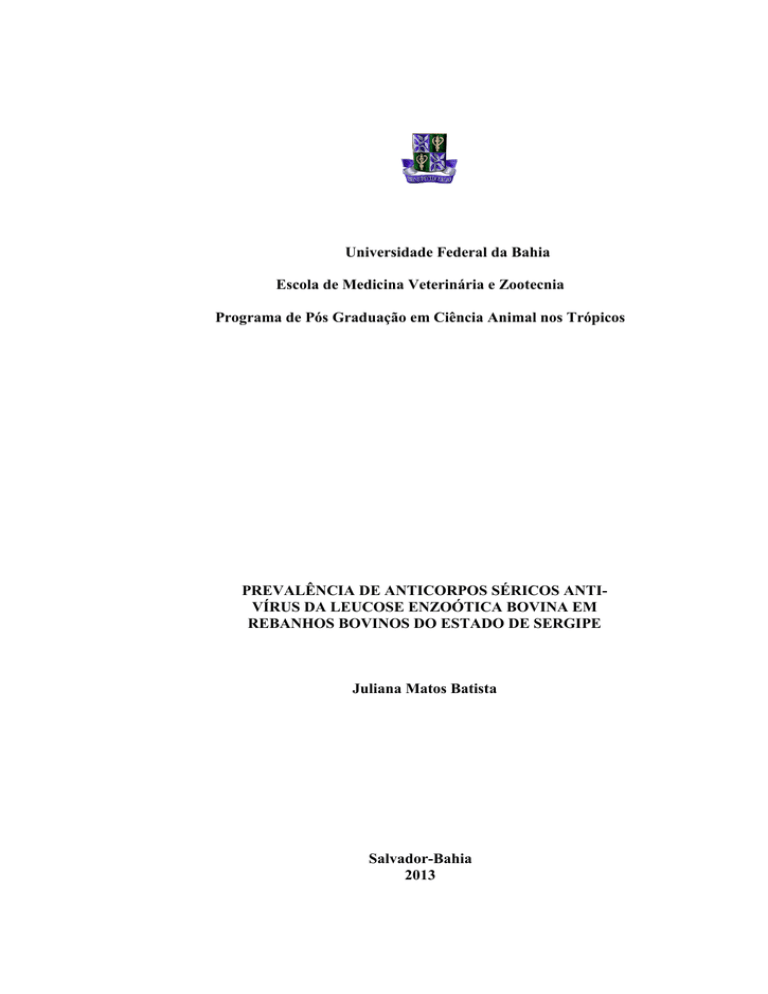
Universidade Federal da Bahia
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia
Programa de Pós Graduação em Ciência Animal nos Trópicos
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTIVÍRUS DA LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA EM
REBANHOS BOVINOS DO ESTADO DE SERGIPE
Juliana Matos Batista
Salvador-Bahia
2013
i
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL NOS TRÓPICOS
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTI-VÍRUS DA LEUCOSE
ENZOÓTICA BOVINA EM REBANHOS BOVINOS DO ESTADO DE SERGIPE
JULIANA MATOS BATISTA
Pós-Graduação em Medicina Veterinária
SALVADOR - BAHIA
FEVEREIRO – 2013
ii
JULIANA MATOS BATISTA
PREVALÊNCIA DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTI-VÍRUS DA
LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA EM REBANHOS BOVINOS DO
ESTADO DE SERGIPE
Dissertação apresentada ao Programa de
Mestrado
em
Ciência
Animal
nos
Trópicos, da Universidade Federal da
Bahia,
como
requisito
parcial
para
obtenção do título de Mestre em Ciência
Animal nos Trópicos.
Orientador: Prof. Dr. Joselito Nunes Costa
SALVADOR - BA
FEVEREIRO - 2013
iii
DADOS CURRICULARES DO AUTOR
JULIANA MATOS BATISTA, filha de Antônio Batista Filho e Maria Amélia de Matos
Batista, nasceu em 21/09/1985, na cidade de Aracaju, estado Sergipe. Iniciou o Curso
de Graduação em Medicina Veterinária, na Faculdade Pio Décimo, no ano de 2003 e
concluiu no ano de 2007/2. No ano de 2009 iniciou o Curso de Especialização sobre a
forma de Residência Médica na área de Clínica e Cirurgia de Ruminantes, na
Universidade Federal da Bahia, e concluiu no ano de 2011/1. Em 2011, ingressou no
Programa de Pós- Graduação em Ciência Animal nos Trópicos, pela Universidade
Federal da Bahia, sob a orientação do Prof. Dr. Joselito Nunes Costa, defendendo a
dissertação em 25/02/2013.
iv
“É muito melhor lançar-se em busca de conquistas
grandiosas, mesmo expondo-se ao fracasso, do que
alinhar-se aos pobres de espírito, que nem gozam
muito e nem sofrem muito, porque vivem numa
penumbra cinzenta, onde não conhecem nem
vitória, nem derrota.” (Theodore Roosevelt)
Este trabalho é dedicado aos meus pais, Antônio e Amélia.
Á minha segunda mãe, Aparecida e a minha irmã, Diana.
Ao meu grande amor, Gabriel e a todos os bovinos que
participaram desta pesquisa.Sem vocês nada disso seria possível.
v
AGRADECIMENTOS
A Deus pela força, coragem e esperança que tanto precisei nesses dois últimos anos,
sem as quais não teria concluído mais uma etapa da minha vida. Obrigado, Senhor, por
me guiar e iluminar o meu caminho em momentos tão difíceis e por ter colocado
presentes tão valiosos em minha vida, sem os quais teria desistido de tudo.
Ao meu pai, Antônio, pelo apoio e confiança em toda a trajetória da minha vida. À
minha mãe, Amélia, pela amizade, pelos conselhos, pelas brincadeiras e por nunca ter
desistido de mim.
Á minha tia-mãe, Aparecida, pelo carinho, amizade, confiança, preocupação na época
das colheitas e por sempre acreditar em mim. Obrigado pela ajuda na separação das
amostras colhidas.
Á minha irmã, Diana, pela amizade, companheirismo, pelas viagens engraçadas e
cansativas na primeira parte das colheitas, mais que valeram a pena, pelos momentos
felizes que já vivemos, pelos atendimentos veterinários que fazemos juntas e pelo
aprendizado diário.
Ao meu amor, Gabriel, por fazer parte da minha vida, pela ajuda nas colheitas das
amostras, por me ajudar a superar os momentos de tristeza, mais também por trazer a
felicidade e a alegria de viver. Foi o seu amor e carinho que não me deixaram desistir.
Obrigado por tudo que fez e ainda faz por mim, mas principalmente pela felicidade que
você me proporciona todos os dias.
Ao meu orientador, Prof. Joselito, pelo apoio durante o curso e por acreditar no meu
trabalho, permitindo a realização desta pesquisa.
Aos meus amigos, Byanca, Carla e Tiago, pela amizade, por estarem sempre
disponíveis a ajudar e sem os quais não teria conseguido realizar o exame de todas as
amostras.
Aos amigos que fiz no CDP, pelos momentos alegres, pelas brincadeiras, pelas comidas
deliciosas que vou sentir falta. Nunca vou esquecer essas boas lembranças.
À CAPES, pela concessão da bolsa de mestrado, a qual foi tão importante para a
realização deste estudo.
Aos bovinos e proprietários que contribuíram para a realização desta pesquisa. Sem
vocês nada disso seria possível. Que Deus abençoe a todos.
vi
RESUMO
A Leucose enzoótica bovina (LEB) é uma doença infecciosa, de evolução
crônica, causada por um agente viral oncogênico, pertencente à família
Retroviridae. Está distribuída mundialmente e acomete especialmente os
bovinos adultos, além de causar grandes prejuízos econômicos na bovinocultura
leiteira relacionados a diminuição da produtividade dos animais. Tem como
características principais a proliferação linfocitária e/ou formação de
linfossarcomas. Com o objetivo de determinar a soroprevalência desta
enfermidade em rebanhos bovinos do Estado de Sergipe, o mesmo foi dividido
em três mesorregiões (Agreste Sergipano, Leste Sergipano e Sertão Sergipano)
compostas cada uma por cinco municípios, onde foram coletadas 780 amostras
sanguíneas,
em
52
propriedades.
Foram
aplicados
questionários
nas
propriedades visitadas com o objetivo de caracterizar o sistema de produção. A
detecção de anticorpos específicos anti-VLB foi obtida através da técnica de
Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) das amostras séricas, utilizando kit
comercial específico para a LEB produzido pelo Instituto Tecnológico do Paraná
(TECPAR). A taxa de prevalência na população examinada foi de 11,92%
(93/780) e foram obtidos animais soro-reagentes em 57,69% (30/52) dos
rebanhos estudados. Apenas dois municípios não apresentaram animais
reagentes (Poço Redondo e Gararu). A maior taxa de prevalência foi observada
nas fêmeas (10,90%) do que nos machos (1,02%). Com relação a faixa etária foi
evidenciada uma maior prevalência em animais com idade superior a sessenta
meses (7,43%). Os manejos intensivo e semi-intensivo obtiveram as maiores
prevalências. De forma geral, a grande maioria dos produtores não possuía
informação sobre a LEB e adquiriam animais sem teste de sanidade para a
doença. Não havia preocupação quanto a reutilização de agulhas e seringas,
apesar das práticas freqüentes de vacinação e vermifugação.
Palavras-Chave: Leucose enzoótica bovina, soroprevalência, Sergipe
vii
ABSTRACT
The Enzootic bovine leukosis (EBL) is an infectious disease, of chronic
evolution, caused by a viral oncogenic agent, belonging to the family
Retroviridae. It is distributed worldwide and especially affects adult cattle,
besides causing huge economic losses in dairy cattle related to the reduction of
productivity of the animals. Its main characteristics are lymphocyte proliferation
and / or formation of lymphoosarcomas. Aiming to determine the seroprevalence
of this disease in cattle herds in the state of Sergipe, the state was divided into
three mesoregions (Agreste, East and Sertão of Sergipe), each consisting of five
counties in which were collected 780 blood samples in 52 properties.
Questionnaires were applied in the properties visited aiming to characterize the
production system. The detection of specific anti-VLB antibodies was obtained
through the technique of Agarose Gel Immunodiffusion (AGID) of serum
samples using a commercial kit specific to the EBL, produced by the
Technological Institute of Paraná (TECPAR). The prevalence rate in the
population studied was 11.92% (93/780) and serum-reactive animals were found
in 57.69% (30/52) of the herds. Only two counties showed no reagent animals
(Poço Redondo and Gararu). The prevalence rate was higher on females
(10.90%) than on males (1.02%). With respect to age it was found higher
prevalence in animals with age over sixty months (7.43%). The intensive and
semi-intensive management obtained the highest prevalence. In general, most of
the producers did not have information about EBL and purchased animals
without sanity test for the disease. There was no concern about the reuse of
needles and syringes, despite the frequent practice of vaccination and worming.
Keywords: Enzootic bovine leukosis, seroprevalence, Sergipe
viii
LISTA DE FIGURAS
Revisão de Literatura
Figura 1. Leucose Bovina Multicêntrica juvenil ............................................................. 9
Figura 2. Linfossarcoma bovino: linfonodo pré-escapular direito bastante aumentado de
tamanho ......................................................................................................................... 10
Quadro 1. Principais sinais clínicos da forma multicêntrica da Leucose Enzoótica Bovina com sua relação anátomo-patológica e suas prováveis causas ................................. 11
Capítulo 1- Inquérito Soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em
Rebanhos Bovinos do Estado de Sergipe
Figura 1. Mapa demonstrativo do Estado de Sergipe identificando as três mesorregiões
utilizadas neste estudo ................................................................................................... 41
Figura 2. Resultado do IDGA demonstrando a formação da linha de precipitação entre o
soro teste e o antígeno ....................................................................................... 44
ix
LISTA DE TABELAS
Revisão de Literatura
Tabela 1. Ocorrência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) no Brasil nas regiões
Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo o estado, a técnica diagnóstica e
o autor ........................................................................................................................... 16
Capítulo 1- Inquérito Soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em
Rebanhos Bovinos do Estado de Sergipe
Tabela 1. Número de amostras séricas a serem testadas para Leucose Enzoótica Bovina
no Estado de Sergipe ......................................................................................... 42
Tabela 2. Número de soros bovinos testados para Leucose enzoótica bovina, através da
imunodifusão em gel de agarose, no Estado de Sergipe ....................................... 45
Tabela 3. Número de propriedades positivas no inquérito sorológico da Leucose
enzoótica bovina, no estado de Sergipe .............................................................. 45
Tabela 4. Frequência de animais soropositivos para Leucose enzoótica bovina, segundo
o fator sexo, no Estado de Sergipe ...................................................................... 47
Tabela 5. Frequência de bovinos soropositivos para Leucose enzoótica bovina, segundo
o fator faixa etária, no Estado de Sergipe ........................................................... 48
Tabela 6. Frequência de animais soropositivos para Leucose enzoótica bovina, segundo
a raça, no Estado de Sergipe ............................................................................. 49
Tabela 7. Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Agreste Sergipano,
com os respectivos valores de freqüência e intervalo de confiança ...................... 49
Tabela 8. Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Sertão Sergipano,
com os respectivos valores de freqüência e intervalo de confiança ...................... 50
Tabela 9. Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Leste Sergipano,
com os respectivos valores de freqüência e intervalo de confiança ...................... 51
Capítulo 2- Caracterização dos Sistemas de Criação de Bovinos no Estado De
Sergipe em Inquérito para Leucose Enzoótica Bovina
Tabela 1. Número de propriedades e amostras coletadas de bovinos por mesorregião do
Estado de Sergipe ......................................................................................................... 64
Tabela 2. Características gerais das propriedades visitadas no Estado de Sergipe,
2011............................................................................................................................... 65
x
Tabela 3. Características dos rebanhos bovinos pertencentes às 52 propriedades
visitadas no Estado de Sergipe, 2011 ........................................................................... 66
Tabela 4. Características do manejo reprodutivo registrado nas 52 propriedades
visitadas no Estado de Sergipe, 2011 .......................................................................... 67
Tabela 5. Características do manejo sanitário empregado nas 52 propriedades visitadas
no Estado de Sergipe, 2011 ......................................................................................... 68
Tabela 6. Principais enfermidades e alterações clínicas mais freqüentes relatadas
em 52 propriedades visitadas no Estado de Sergipe, 2011 .......................................... 69
Tabela 7. Características do manejo sanitário empregado aos bezerros nas 52
propriedades visitadas no Estado de Sergipe, 2011 ..................................................... 70
xi
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
Anti-VLB
anti-Vírus da Leucose Bovina
°C
graus Celsius
CDP
Centro de Desenvolvimento da Pecuária
D
Dálton
DNA
Ácido Desoxiribonucléico
ELISA
Ensaio Imunoenzimático
G
Unidade de força centrífuga relativa
Gp
Glicoproteína
gag
gene viral que codifica as proteínas internas do vírus
IDGA
Imunodifusão em Gel de Agarose
km²
Quilômetro quadrado
LEB
Leucose Enzoótica Bovina
OIE
Organização Internacional de Saúde Animal
Pr
Proteína
PCR
Reação em Cadeia da Polimerase
pol
gene que codifica as enzimas virais
rev
gene de regulação viral
RS
Rio Grande do Sul
RNA
Ácido Ribonucléico
SC
Santa Catarina
TECPAR
Instituto Tecnológico do Paraná
UV
Ultra violeta
VLB ou BLV
Vírus da Leucose Bovina
WB
Western Blotting
xii
SUMÁRIO
Prevalência de anticorpos séricos anti-vírus da Leucose Enzoótica Bovina em rebanhos
bovinos do Estado de Sergipe
Página
Introdução geral
1
Revisão de literatura geral
3
Objetivos
21
Hipótese
21
Capítulo 01
Inquérito Soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em Rebanhos Bovinos do
Estado de Sergipe
36
Resumo
37
Abstract
38
Introdução
39
Material e Métodos
41
Resultados e Discussão
44
Conclusões
52
Agradecimentos
52
Referências Bibliográficas
53
Capítulo 02
Caracterização dos Sistemas de Criação de Bovinos no Estado De Sergipe em Inquérito
para Leucose Enzoótica Bovina
58
Resumo
59
Abstract
60
Introdução
61
Material e Métodos
61
Resultados e Discussão
62
Conclusões
68
Agradecimentos
69
Referências Bibliográficas
69
Considerações Finais e Implicações
72
Anexo
73
1
INTRODUÇÃO
A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma enfermidade infecciosa, de
ocorrência mundial, e acomete bovinos adultos com idades entre 3 a 7 anos. Sua
transmissão ocorre principalmente por via horizontal através de linfócitos B
infectados pelo vírus da leucose bovina (VLB), um oncovírus pertencente à
família Retroviridae (FLORES, 1989).
A enfermidade foi descrita pela primeira vez na Alemanha, em 1871, por
Leisering. Logo após a segunda Guerra Mundial, as migrações intensificaram a
movimentação de bovinos, fato este que favoreceu a disseminação da doença
para as regiões orientais e ocidentais da Europa e em seguida para os demais
continentes (BIRGEL, 1982; GARCIA, 1989).
A introdução do VLB em rebanhos brasileiros ocorreu devido à
importação indiscriminada de bovinos originários do hemisfério norte por
pecuaristas de gado das regiões Sul e Sudeste. E após o estabelecimento da
doença nestas regiões, a doença disseminou-se para as regiões Norte e Nordeste
favorecida pela ausência de políticas sanitárias (GARCIA et al., 1991) e pelo
trânsito intenso de animais (ABREU et al., 1994).
Em 1943, Rangel e Machado realizaram os primeiros relatos da LEB no
Brasil no Estado de Minas Gerais, seguidos por Santos et al.(1959) e Merck et
al.(1959) nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente.
A enfermidade apresenta caráter fatal quando há o desenvolvimento de
linfossarcomas e aproximadamente 5% dos animais infectados com o VLB
desenvolvem a forma tumoral da doença (COCKERELL; REYES, 2000). De 1 a
5% dos bovinos infectados desenvolvem a forma clínica da doença (BARROS,
2007).
De acordo com os aspectos anatomopatológicos, a LEB caracteriza-se
pela proliferação linfocitária em órgãos hematocitopoiéticos (medula óssea,
linfonodos e baço) e em órgãos ricos em tecidos retículohistiocitários (abomaso,
coração, rins, fígado e músculos), desencadeando a formação de massas
tumorais e infiltração de linfócitos. Estas alterações são responsáveis por um
quadro sintomático pleomórfico e alterações hematológicas (leucocitose,
2
linfocitose persistente e aumento de formas linfocitárias atípicas) que ocorrem
durante o curso clínico da doença (BIRGEL, 1982; CAMARGOS et al., 2002).
Alguns autores sugerem que os bovinos leiteiros são mais acometidos
pela LEB do que os bovinos de corte, provavelmente pela predominância de
animais adultos e também pela criação intensiva destes animais, considerada
fator de risco para a transmissão, já que os animais de corte são abatidos
geralmente antes de atingirem a fase adulta (BIRGEL et al.,1994; RADOSTITS
et al., 2002).
É uma enfermidade de grande importância para a indústria leiteira e
setor agropecuário do país por causar prejuízos relacionados à queda na
produção de leite (RAJÃO, 2008; FERNANDES et al., 2009). De acordo com
estudos realizados sobre a prevalência da doença no Brasil, constatou-se que
através dos resultados obtidos, ela está presente em todo o país (CAMARGOS et
al., 2002; LEITE et al., 2001). No Nordeste, foram realizados estudos de
prevalência, nos Estados da Bahia (SARDI et al., 2002, MATOS et al., 2005),
Pernambuco (MELO et al., 1991, MENDES, 2009), Ceará (ABREU et al.,
1994), Maranhão (SANTOS, 2010), Paraíba (SIMÕES, 1998), Piauí (SILVA,
2001), Rio Grande do Norte (SIMÕES, et al., 2001) e em Alagoas (BIRGEL et
al., 1999). No Estado de Sergipe um levantamento preliminar determinou uma
prevalência de 4,07% (11/259) na Mesorregião do Sertão Sergipano.
Portanto, diante do presente exposto e considerando a deficiência de
informações sobre a ocorrência da LEB em Sergipe, este estudo científico teve
como objetivo a realização de um inquérito soroepidemiológico utilizando o
teste de Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) em rebanhos bovinos do
Estado de Sergipe para detectar qual o índice de prevalência do VLB.
3
REVISÃO DE LITERATURA GERAL
1. AGENTE ETIOLÓGICO E SUAS CARACTERÍSTICAS
O agente etiológico da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é um retrovírus
RNA tumoral pertencente ao gênero Deltaretrovírus, família Retroviridae e
subfamília Oncovirinae (REBHUN, 2000).
Os vírus pertencentes à família Retroviridae são compostos de um
envelope medindo de 80 a 100 nm de diâmetro e capsídeo icosaédrico com
aproximadamente 60 nm de diâmetro. O material genético é diplóide, composto
por duas fitas de RNA simples (MURPHY et al., 1999). Um complexo
nucleoprotéico-genômico é encontrado na região interna do capsídio, onde três
genes diferentes podem ser identificados: o gene gag que codifica proteínas do
núcleo, o gene pol que codifica a enzima transcriptase reversa, e o gene env que
codifica as proteínas presentes no envelope viral. Alguns desses genes podem
não estar presentes em retrovírus defeituosos (KUFE et al., 2003).
Na fase de replicação viral só há a transcrição do ácido ribonucléico
(RNA) em ácido desoxirribonucléico (DNA) quando a enzima transcriptase
reversa está presente (MURPHY et al., 1999). Uma cópia completa do DNA
viral (denominada provírus) pode ser inserida dentro do DNA de células
germinativas do hospedeiro. Assim, a replicação viral apenas ocorre no núcleo
da célula hospedada e o provírus fica submetido a mecanismos regulatórios
celulares do hospedeiro (GILLET et al., 2007).
O vírus da LEB é inativado quando em contato com solventes e
detergentes lipídicos (álcool, éter e clorofórmio) e quando exposto a uma
temperatura de 56°C durante 30 minutos. Quando comparado com outros vírus,
o VLB é bastante resistente aos raios UV e radiação X (FERRER et al., 1993).
Os retrovírus denominados exógenos são oncogênicos e têm predileção
por determinadas áreas, ao contrário dos vírus endógenos que dificilmente
desencadeiam doença (GILLET et al., 2007).O VLB infecta preferencialmente
os linfócitos, principalmente, os do tipo B embora já tenha sido encontrado em
células T, monócitos e granulócitos (BRAGA; LAAN, 2001). Nos linfócitos B
4
pode manter-se por longos períodos (AIDA et al., 1989), apesar do processo de
formação de um novo vírion levar cerca de 10 horas (MURPHY et al., 1999).
Sua análise bioquímica demonstrou ser composto por várias proteínas, de
diferentes massas moleculares, sendo a proteína p-24 presente em maior
concentração no capsídeo viral com massa molecular de, aproximadamente,
24.000D (GILDEN et al., 1975).
O envelope do BLV é transcrito a partir de DNA do provírus, sendo esta
mensagem traduzida em uma proteína precursora do envelope (Pr-72). Este
precursor é processado na glicoproteína transmembrana (Gp-30) e uma unidade
de superfície a glicoproteína 51 (Gp-51). A Gp-51 do envelope do BLV é
responsável pela infectividade do vírus, sendo que a ligação da Gp-51 a um
receptor específico na célula é a etapa inicial da infecção (ALTANER et al.,
1993).
2. HOSPEDEIROS
O VLB tem como hospedeiro primário o bovino, além de ser a espécie
mais susceptível. Porém observou-se que, in vitro, o vírus é capaz de infectar
células de outras espécies animais, inclusive as do ser humano (DAHLBER,
1988). O efeito patogênico do vírus também foi observado em ovinos, caprinos e
não-ruminantes submetidos a infecções experimentais (BURNY et al., 1985;
LEITE et al., 2001).
As infecções naturais dos bovinos possuem índices de prevalência e
incidência menores,
principalmente
nos
animais
jovens e aumentam
significativamente entre 16 e 24 meses de idade, de acordo com estudos sobre a
doença (JOHNSON; KANEENE, 1991). Possivelmente, o maior tempo de
contato entre animais saudáveis e contaminados estaria correlacionado com este
aumento e não a uma maior susceptibilidade (BIRGEL JÚNIOR et al., 2006).
Após a introdução do vírus no rebanho, os animais positivos eliminam
continuamente o agente etiológico da doença e, como consequência, disseminam
a infecção para o restante do rebanho (VAN DER MAATEN; MILLER, 1979).
5
No entanto, a tecnificação dos rebanhos parece ser o fator responsável
pela difusão da infecção de forma mais eficiente. As práticas de manejo adotadas
nas propriedades e as que possuem os maiores índices de produção estão
estritamente relacionadas com a contaminação pelo VLB, devido a algumas
técnicas de manejo adotadas como palpação retal, procedimentos cirúrgicos,
transfusão sanguínea e imunização, procedimentos estes que apresentam as
maiores taxas de transferência de linfócitos infectados (BRAGA; LAAN, 2001;
BURNY et al., 1988; FLORES, 1989; JOHNSON; KANEENE, 1992; HUBNER
et al., 1997).
Os sistemas tradicionais de criação apresentam prevalências inferiores,
devido a reduzida ou ausente tecnificação (FLORES, 1989).Assim, a doença
ocorre com maior frequência em bovinos leiteiros (manejo intensivo) do que em
bovinos de corte (manejo extensivo), devido ao tipo de manejo adotado
(BIRGEL et al., 1994). Adicionalmente, a ação mecânica de tabanídeos nos
meses com temperatura elevada e a importação de animais com a finalidade de
melhoramento genético contribuem para a disseminação da doença (BRAGA;
LAAN, 2001; BURNY et al., 1988; JOHNSON; KANEENE, 1992; HUBNER et
al., 1997).
3. TRANSMISSÃO
O VLB fica instalado dentro de linfócitos B, devido ao tropismo que o
mesmo possui por estas células (AIDA et al., 1989). Assim, a transmissão da
LEB seja ativa (transmissão horizontal) ou passiva (transmissão vertical) está
relacionada com a integridade dos linfócitos infectados, já que o vírus da LEB,
em seu estado livre, é detectado em pequenas quantidades in vivo (JOHNSON;
KANEENE, 1991; JOHNSON; KANEENE, 1992).
A transmissão horizontal da LEB é considerada a forma mais importante
para a disseminação da doença do que a transmissão vertical (REBHUN, 2000).
A principal fonte de infecção da LEB é o sangue, porém o vírus pode estar
presente em outras secreções como saliva, secreção nasal e uterina (JOHNSON;
6
KANEENE, 1991). Segundo Birgel Júnior et al. (1995), o VLB pode ser
transmitido através de quantidades de sangue inferiores a 0,0005 ml, quando
inoculado por via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa.
Outra importante forma de transmissão da LEB é a via iatrogênica de
contaminação através de materiais cirúrgicos, seringas, agulhas, tatuadores,
luvas de palpação retal contaminados e reutilizados (JOHNSON; KANEENE,
1992). Procedimentos em que há transferência de sangue podem ser
responsáveis por disseminarem a doença (DIMMOCK et al., 1991).A não
realização de testes para investigar a sanidade dos animais doadores de sangue
objetivando a premunição contra Babesia sp. e Anaplasma sp. exerceu um papel
importante na disseminação do VLB (FLORES et al., 1992).
Nos países tropicais, as elevadas prevalências da LEB podem estar
associadas a fatores como picada de insetos e mordeduras de morcegos
hematófagos e carrapatos (CORDEIRO et al., 1994). Uma significativa via de
infecção para os bovinos são os insetos hematófagos, principalmente naquele
tipo de criação que permite uma maior proximidade entre os animais
(JOHNSON; KANEENE, 1991).
A transmissão pelo sêmen ocorre quando massagem retal das glândulas
anexas é realizada de forma grosseira e incorreta permitindo a contaminação do
sêmen com sangue, quando a colheita é realizada em animais positivos (LUCAS
et al., 1980). A monta natural também é considerada uma via de infecção quando
há a transferência de pequenas quantidades de sangue durante a cópula
(WHITTIER, 1990).
Uma outra forma de infecção seria o contato direto de secreções de
bovinos soropositivos com bovinos soronegativos e a contaminação pode ocorrer
em um prazo tão curto quanto dois meses, porém é necessário um íntimo e
prolongado contato entre os animais (STRAUB, 1978). Na transmissão vertical
(de mãe para filho) a LEB pode ser transferida pela via transplacentária
(FERRER, 1979; VAN DER MAATEN et al., 1981; LASSAUZET et al. ,1991;
HÜBNER et al., 1997) e pelo colostro e/ou leite (MOLNÁR et al., 1998). Uma
importante via de disseminação do VLB é o colostro, através de vacas positivas
para os lactentes (MOLNÁR et al., 1998).
7
4. PATOGENIA E RESPOSTA IMUNE
Uma vez instalado no organismo do hospedeiro, o VLB tem tropismo
pelos linfócitos do tipo B (AIDA et al., 1989). No envelope viral há um
complexo de glicoproteínas (Gp) que desempenham um importante papel na
infecção viral favorecendo a fusão à célula-alvo (ALTANER et al., 1993;
SUZUKI; IKEDA, 1998). A glicoproteína externa, Gp51, une o vírus ao
linfócito, enquanto que a Gp30 ancora o envelope viral na membrana plasmática
da célula infectada (ALTANER et al., 1993; SUZUKI; IKEDA, 1998).
O período de viremia é curto, entre 10 a 12 dias pós-infecção, porém
após este, um longo período de latência pode ser observado antes do início dos
sinais clínicos (PORTETELLE et al., 1978). Durante a infecção inicial, vírions
verdadeiros podem ser produzidos a partir do DNA viral codificado (provírus), e
quando escapam das células hospedeiras podem infectar outras células
(REBHUN, 2000).
A expressão do VLB por um linfócito infectado gera um aumento da
sobrevivência desta célula por estacionar o ciclo celular, desencadeando um
atraso da apoptose fisiológica (STONE et al., 2000). De acordo com Debacq et
al. (2002),um componente fundamental, a modulação da apoptose, parece estar
envolvido na persistência viral e na progressão para a linfocitose induzida pelos
retrovírus.
Apenas uma média de 2 a 5% dos animais infectados podem desenvolver
os linfossarcomas, enquanto que a maioria (30%) desenvolve um quadro de
linfocitose persistente a qual caracteriza-se pelo aumento do número de
linfócitos B circulantes (BUEHRING et al., 1994; DOMENECH et al., 2000).
Em casos pré-tumorais a persistência da linfocitose caracteriza-se pelo
acréscimo de linfócitos B circulantes, ultrapassando os valores normais de
referência, em torno de 40 a 80%, e nem sempre precede a forma tumoral
(BURNY et al., 1985). A sequência de eventos que desencadeia o aumento do
número de linfócitos circulantes ou o desenvolvimento das formas tumorais é
pouco conhecida. Da mesma maneira, não está claro o efeito destas alterações na
função das células envolvidas na resposta imunológica (AZEDO et al., 2008).
8
A forma tumoral da doença se manifesta cerca de 3 a 10 anos de ocorrida
a infecção e tem caráter fatal e caracterizando-se por proliferaçãode linfócitos B
e desenvolvimento de linfomas e/ou linfossarcomas (COCKRELL; REYES,
2000). Estes são descritos como uma infiltração linfocitária exarcebada em
órgãos linfóides e em diversos órgãos que compõem os vários sistemas do
organismo animal (respiratório, circulatório, digestório, genital), colaborando
para a grande variedade de sintomatologia clínica da LEB (BIRGEL, 1982;
CAMARGOS et al., 2002).
Azedo et al. (2008) descreve que a manifestação de linfocitose
persistente nos animais doentes leva a uma menor porcentagem de leucócitos,
devido a uma maior quantidade relativa de linfócitos.
Após o período de viremia tem início a produção de anticorpos contra as
proteínas estruturais da cápsula viral (GARCIA et al., 1995), e o vírus pode ser
neutralizado por anticorpos dirigidos contra a Gp51 do envelope viral
(ALTANER et al., 1993). Porém, depois da produção de anticorpos pelo
organismo infectado, o vírus se protege ficando no limbo linfocitário
(REBHUN, 2000).
Com a persistência da infecção por toda a vida do hospedeiro, o sistema
imune será constantemente estimulado, levando à diminuição da resposta
humoral e celular após longo período de infecção, podendo resultar na
manifestação clínica da doença (GILLET et al., 2007). Assim, a maioria dos
animais infectados pode permanecer assintomática por longos períodos de tempo
até que a doença se manifeste (BUEHRING et al., 1994; DOMENECH et al.,
2000).
5. SINAIS CLÍNICOS
De acordo com os aspectos etiológicos e epidemiológicos, a leucose
bovina é classificada em enzoótica e esporádica (OSHIMA et al., 1980; DIVERS
et al., 1995). A forma enzoótica acomete principalmente os bovinos adultos com
idade entre três e sete anos (FLORES, 1989).
9
Já a forma esporádica da leucose acomete os bovinos mais jovens e
não é transmissível. Três apresentações clínicas podem ocorrer e sua
classificação é feita de acordo com a idade do animal e localização das massas
tumorais: tímica, juvenil (Figura 1) e cutânea (OSHIMA et al., 1980; JONES et
al., 2000).
Figura 1-Leucose bovina multicêntrica juvenil. (A) Linfonodos parotídeo, préescapular e précural aumentados de tamanho (setas). (B) Linfonodos
pré-escapulares aumentados de tamanho, apresentando superfície de
corte de coloração branco amarelada homogênea. (C) Linfonodos anoretais aumentados de tamanho e agrupados com aspecto de uma
massa multinodular nas superfícies lateral e dorsal do segmento distal
do reto. (D) Linfonodo anorretal apresentando superfície de corte de
coloração branco-amarelada com áreas vermelho-escuras.
Fonte: PEIXOTO, et al., 2008.
Nos animais em que está presente o desenvolvimento da forma
tumoral, são observados os sinais clínicos da LEB, os quais são resultantes da
formação de linfossarcomas, bem como da localização desses tumores (Figura 2)
(JOHNSON; KANEENE, 1991; CAMARGOS et al., 2004).
10
Figura 2- Linfossarcoma bovino: linfonodo pré-escapular direito bastante aumentado de tamanho (seta).
Fonte: http://www.fmv.utl.pt
É comum o aumento de linfonodos superficiais, porém esta hiperplasia
pode ocorrer apenas em tecidos linfóides viscerais. Ocorre, com frequência,
invasão do sistema digestório, sendo comum no abomaso, causando obstruções
ou úlceras que podem manifestar-se clinicamente como anorexia, timpanismo
recorrente e perda de peso. As massas tumorais localizadas na medula espinhal
desencadeiam perturbações neurológicas como paralisia dos membros pélvicos,
e casos de falência cardíaca em bovinos são frequentemente associados àquelas
presentes no miocárdio (JOHNSON; KANEENE, 1991).
Também foram descritas formações tumorais no pulmão, baço, útero,
rins e trato urinário. E os sinais clínicos considerados mais frequentes são
inapetência, indigestão, diarréia, perda de peso, partos distócicos, exoftalmia,
paralisia de membros e alterações neurológicas por compressão de nervos
(CAMARGOS et al., 2004).
Há relatos de que a ação direta do VLB na glândula mamária pode
comprometer a produção de leite dos animais infectados, uma vez que este já foi
encontrado tanto em linfócitos (YOSHIKAWA et al., 1997) quanto nas células
epiteliais da glândula mamária (BUEHRING et al., 1994). Estudos realizados in
vitro demostraram a capacidade do VLB em promover a transformação de
células mamárias, desencadeando uma redução na produção de caseína, e,
possivelmente, induzindo modificações na composição do leite (MOTTON;
BUEHRING, 2003).
Alguns estudos sugerem uma maior produção de leite em vacas
infectadas consequente à maior susceptibilidade dos animais de elevado padrão
11
genético à infecção pelo VLB (JACOBS et al., 1991; POLLARI et al., 1992).
Por outro lado, Brenner et al. (1990) não verificaram diferenças na produção de
leite e nem nos teores da gordura do leite, semelhante as pesquisas
desenvolvidas por Huber et al. (1981) e Tiwari et al. (2007).
A seguir é apresentado um quadro com os principais sinais clínicos
observados nos bovinos infectados (Quadro 1).
Quadro 1- Principais sinais clínicos da forma multicêntrica da Leucose Enzoótica
Bovina, com sua relação anatomopatológica e prováveis causas.
SINAIS CLÍNICOS
Perda de peso
Aumento de linfonodos
superficiais
Baixa de produção de leite
Anorexia
Aumento de
(internos)
Paresia
dos
pélvicos
Anemia
PROVOCADO POR
Diarréia, anorexia, outras causas não determinadas
Presença de linfócitos tumorais
Anorexia, diarréia, mastite, outras causas não
determinadas
Causas não determinadas
linfonodos Proliferação de células tumorais
membros Infiltrações tumorais na região epidural da medula
espinhal
Hemorragia com perda de sangue pelo trato
gastrointestinal, principalmente abomaso
Febre
Necrose tissular, infecções concomitantes, outras
causas não determinadas
Exoftalmia
Infiltração de células tumorais nos tecidos
retrobulbares
Dispnéia
Compressão das vias aéreas por linfonodos
aumentados de volume
Constipação
Compressão do tubo gastrointestinal por linfonodos
aumentados
Alterações
cardíacas Infiltração de células tumorais no miocárdio
(insuficiência cardíaca)
Edema subcutâneo ventral
Insuficiência cardíaca congestiva
Pulso venoso positivo
Insuficiência cardíaca congestiva
Parto distócico
Compressão das vias do parto por linfonodos
aumentados de volume
Morte fetal
Infiltração tumoral na parede do útero
Hidronefrose
Compressão dos ureteres por linfonodos aumentados
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2000) apud AGOTTANI et al., 2010.
6. DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da LEB é fundamental para o controle e erradicação da
doença, podendo ser realizado na patologia clínica e sorologicamente, pela
12
identificação
de
alterações
hematológicas
(“chaves
leucométricas”)
e
identificação de anticorpos específicos, respectivamente (EVERMANN, 1992).
Em 1916, Knuth e Volkmann realizaram no continente europeu os
primeiros estudos sobre as formas de diagnóstico e também de controle da
doença. Também foram estudadas as alterações hematológicas causadas pela
LEB, nos quais ficou constatado que tanto os animais portadores de
linfossarcomas quanto os aparentemente sadios, apresentavam uma alteração no
sangue com leucocitose e acentuada linfocitose, além do aparecimento de
linfócitos atípicos no sangue periférico.
Birgel et al. (1974), foram pioneiros na avaliação de leucogramas de
bovinos positivos para o VLB no Brasil. Eles observaram que o comportamento
leucocitário dos animais europeus não era semelhante ao dos animais criados em
condições climáticas subtropicais devido a fatores raciais, nutricionais, tipo de
manejo e adoção de procedimentos utilizados com frequência em nosso país
como a premunição contra a Babesia sp. e Anaplasma sp.
O VLB é capaz de desencadear um desequilíbrio tanto pelo aumento da
proliferação celular (DEBACQ et al., 2002) quanto pela redução da apoptose
dos linfócitos infectados (DEBACQ et al., 2003; TAKAHASHI et al., 2005),
resultando em uma linfocitose persistente. Esta, por sua vez, deveria ser
considerada como o aumento no número de linfócitos circulantes em três ou
mais desvios-padrões acima da média e mantidos por pelo menos 90 dias, de
acordo com padrões raciais e etários dos animais (MODENA, 1984).
No entanto, segundo experimentos realizados por Birgel (1982), foi
ressaltada uma limitação desta técnica, uma vez que ela identificava apenas
61,5% de animais infectados. Outros pesquisadores muitas vezes não
encontravam diferenças significativas entre o número de linfócitos de animais
reagentes e não reagentes, questionando também sobre a fidelidade diagnóstica
do teste (SCARCI, 1980; RIBEIRO, 1987).
Ainda assim, a principal vantagem das investigações hematológicas seria
identificar os animais positivos antes do aparecimento das formações tumorais
da doença em cerca de 50% dos casos (SCHWARTZ; LEVY, 1994), ressaltando
13
também que a LEB foi controlada na Alemanha e Dinamarca através da
utilização das chaves leucométricas (TOLLE, 1965).
Entretanto, com o uso mais acentuado dos exames sorológicos para
detecção de anticorpos para o VLB, o diagnóstico hematológico baseado em
chaves leucocitárias caiu em desuso, visto que existem diversos fatores que
podem interferir nos constituintes sanguíneos dos animais (MODENA, 1984).
Dentre as técnicas sorológicas já existentes, as mais comumente
utilizadas para a identificação da LEB são: a Imunodifusão em gel de ágar –
IDGA (MILLER; OLSON, 1972), a fixação de complemento (MILLER;
VANDER MAATEN, 1976), a soroneutralização (FERRER et al., 1976), o
radioimunoensaio (MACDONALD; FERRER, 1976), o ensaio imunoenzimático
- ELISA (ALTANER et al., 1982) e a reação em cadeia da polimerase - PCR
(AGRESTI et al., 1993).
O teste de imunodifusão em ágar gel (IDGA), o qual utiliza o antígeno
glicoprotéico da cápsula viral- Gp51, possibilitou a realização de pesquisas que
objetivavam estudar a prevalência dessa enfermidade em rebanhos bovinos
(MILLER; VAN DER MAATEN, 1977).Porém, alguns pontos negativos foram
detectados no teste de IDGA utilizado para diagnosticar a LEB: o teste teria uma
baixa sensibilidade de detectar animais com baixos títulos de anticorpos; animais
infectados recentemente; vacas gestantes próximos de três semanas que
antecedem o parto e vaca com duas semanas de puerpério (FERRER, 1979;
BURRIDGE et al., 1982b; HÜBNER et al., 1996; ERVERMAN; JACKSON,
1997).
O teste de IDGA também não teria a capacidade de diferenciar anticorpos
transferidos de forma passiva para os bezerros via colostro de anticorpos de uma
infecção ativa (BURRIDGE et al., 1982a; VAN DER MAATEN; MILLER,
1990).
Entretanto existem algumas vantagens do uso da técnica de IDGA como
a praticidade, os baixos custos e a facilidade de leitura dos resultados associados
a uma boa especificidade, permitindo que ele seja ainda o teste de eleição para o
levantamento epidemiológico da LEB na maioria dos países (EVERMANN;
JACKSON, 1997).
14
A prova de IDGA ainda continua sendo a mais utilizada para o
diagnóstico da LEB, mesmo após o desenvolvimento de outras técnicas
(MILLER; VAN DER MAATEN, 1977), como o ELISA que pode ser utilizado
no leite e possui maior sensibilidade (JOHNSON; KANEENE, 1992). Esta
sensibilidade superior permite a detecção de anticorpos em rebanhos com
prevalência menor que 1%, enquanto que o IDGA detecta apenas 50% de
animais positivos em amostras séricas agrupadas (JOHNSON; KANEENE,
1992).
Um estudo comparativo entre as técnicas de IDGA e ELISA indireto foi
realizado para diagnosticar o VLB, utilizando como teste confirmatório o
Western blotting (WB). Os resultados mostraram a semelhança de especificidade
entre os testes, porém, o ELISA apresentou uma maior sensibilidade quando
comparado ao IDGA (DOLZ; MORENO, 1999). A técnica de ELISA tem como
vantagem a possibilidade de análise de um grande número de amostras de forma
simultânea.
A proteína p24 é o antígeno mais importante para as técnicas de ELISA e
de WB enquanto que as glicoproteínas Gp51 e Gp30 são de extrema importância
para a técnica de IDGA. A técnica de WB é mais útil em estudos de
caracterização antigênica do vírus (DOLZ; MORENO, 1999).
Entretanto, em algumas situações as técnicas sorológicas podem falhar,
como no periparto e infecções recentes, sendo necessária a utilização de técnicas
mais específicas que detectem diretamente o agente, como a PCR, podendo ser
utilizada de forma complementar a análise sorológica (MARTIN et al., 2001).
A PCR apresentou maior sensibilidade fornecendo resultados positivos
em taxas superiores a 10 e 17% aos métodos de ELISA e IDGA,
respectivamente e possibilitou também a distinção entre bezerros infectados
daqueles animais soropositivos devido a ingestão de anticorpos colostrais
(FECHNER et al., 1996).
Apesar das muitas técnicas existentes e citadas é importante ressaltar que
as técnicas aceitas como teste padrão ouro de diagnóstico pelo “Office
International des Epizooties“, são os testes de IDGA utilizado em soro bovino e
ELISA para soro e leite bovino (OIE, 2010b).
15
A realização de exames histopatológicos em bovinos infectados pode ser
útil na caracterização da apresentação tumoral (YAMAMOTO et al.,1982). A
detecção do antígeno viral por isolamento do vírus não é utilizado na rotina
devido à baixa expressão viral e dificuldades de replicação do mesmo
(ERVERMAN; JACKSON, 1997).
7. EPIDEMIOLOGIA E IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
A Leucose Bovina teve como local de origem o continente europeu e a
partir daí difundiu-se para o restante dos continentes (OLSON; MILLER, 1987).
A Alemanha foi o primeiro país no qual a doença foi identificada pela primeira
vez. Em 1983 realizou-se uma investigação epidemiológica onde foi observada
uma prevalência de 0,05% (TIERSEUCHENBERICHT, 1983), porém
atualmente é relatada a erradicação da doença no país (RADOSTITS et al.,
2002).
Na América, indícios revelam que a introdução da infecção neste
continente ocorreu devido à importação de rebanhos bovinos pelos Estados
Unidos logo após a segunda Guerra Mundial (CAMARGOS et al., 2004). No
Brasil, em 1943, Rangel e Machado relataram o primeiro caso da doença quando
realizavam investigações relacionadas a neoplasias dos animais domésticos em
Minas Gerais e descreveram a ocorrência de quatro casos de linfossarcomas em
bovinos (SPONCHIADO, 2008).
Em 1978, Alencar Filho identificou 24 animais reagentes provenientes da
avaliação de 40 amostras séricas bovinas de São Paulo. Desde então, várias
pesquisas foram realizadas e seus resultados demonstram a disseminação da
LEB em todo o país.
As taxas de prevalência da Leucose enzoótica bovina, dependendo do
Estado nos quais pesquisas foram desenvolvidas, variaram de 5,1 a 44,3%, de
acordo com levantamento bibliográfico realizado por Birgel Júnior et al. (2006).
Dos rebanhos examinados verificou-se que 58,9% (656 de um total de 1.113)
destes apresentavam animais infectados pelo VLB e pertenciam a 17 estados do
16
país (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). Também foi descrita a ocorrência de
focos da LEB no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina
(BIRGEL JUNIOR et al., 2006).
Tabela 1 – Ocorrência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) no Brasil nas regiões
Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo o estado, a
técnica diagnóstica e o autor.
(Continua)
Nº. de
amostras
analisadas
Região Nordeste
BA
187
Nº. de
amostras
positivas
Frequência
(%)
Técnica utilizada
14
7,50
ELISA
SARDI et al., 2002
796
326
41,00
IDGA
MATOS et al., 2005
CE
3.430
842
24,50
IDGA
ABREU et al., 1994
MA
920
495
53,80
IDGA
SANTOS, 2010
PB
780
65
8,30
IDGA
SIMÕES, 1998
PE
518
72
15,75
IDGA
MELO et al., 1991
662
213
32,20
IDGA
MENDES, 2009
1.976
333
16,90
IDGA
SILVA, 2001
Região Norte
AC
1.060
103
9,70
IDGA
AM
604
58
9,60
IDGA
PA
668
174
26,00
IDGA
RR
1.060
244
23,00
IDGA
TO
881
326
37,00
IDGA
ABREU et al., 1990
CARNEIRO et al.,
2003
MOLNÁR et al.,
1999
ABREU et al., 1990
FERNANDES et al.,
2009
Região Sudeste
MG
317
90
28,40
IDGA
1.059
308
29,08
IDGA
1.193
618
52,00
ELISA
SANTOS et al., 1985
CAMARGOS et al.,
2002
MEGID et al., 2003
482
20
4,15
IDGA
BIRGEL et al., 1994
1.444
769
53,30
IDGA
746
Região Centro-Oeste
201
26,90
IDGA
GO
239
35,67
IDGA
Estados
PI
SP
RJ
670
Referência
ROMERO e ROWE,
1981
CUNHA et al., 1982
ANDRADE e
ALMEIDA, 1991
17
Tabela 2 – Ocorrência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) no Brasil nas regiões
Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo o estado, a
técnica diagnóstica e o autor.
(Continuação)
Nº. de
amostras
analisadas
Estados
Nº. de
amostras
positivas
Frequência
(%)
Técnica utilizada
Referência
Região Sul
PR
SC
268
151
56,34
IDGA
624
254
40,70
IDGA
1.089
534
49,04
IDGA
34
12
35,00
IDGA
250
19
7,60
IDGA
IDGA = Imunodifusão em gel de ágar; ELISA = Ensaio imunoenzimático
Fonte: Adaptado de SPONCHIADO, 2008.
BARROS FILHO et
al., 2010
LEUZZI JÚNIOR et
al., 2003
SPONCHIADO,
2008
CORDEIRO et al.,
1994
LUDERS, 2001
Segundo dados da Tabela 1, a Região Nordeste possui registros da LEB
em praticamente todos os estados e com freqüências variando de 7,5 a 53,80 %,
indicando uma ampla disseminação da doença nesta região (MELO et al., 1991;
ABREU et al., 1994; SIMÕES, 1998; BIRGEL et al., 1999; SILVA, 2001;
SIMÕES et al., 2001; SARDI et al., 2002; MATOS et al., 2005; MENDES,
2009; SANTOS, 2010).
No Estado da Bahia, Távora e Birgel (1991) foram os primeiros
pesquisadores a investigarem a doença nos rebanhos bovinos leiteiros e
verificaram que das 1.084 amostras de bovinos analisadas na região de Itabuna,
174 (16,1%) foram reagentes. Já Matos et al. (2005) verificaram uma
prevalência mais elevada (41%) em estudos realizados em 5 diferentes
municípios (Salvador, Feira de Santana, Catú, Santo Antônio de Jesus e Entre
Rios).
A frequência mais elevada da LEB na região Nordeste foi no Maranhão
(53,8%), verificada por Santos em 2010, possivelmente pela comercialização
intensa de animais com finalidade de melhoramento genético nas bacias leiteiras
submetidas a pesquisa.
O índice encontrado foi associado a uma
comercialização intensa de animais, objetivando melhoria genética, nas bacias
leiteiras estudadas.
18
Em Pernambuco a prevalência variou de 0 a 53,5%, sendo este resultado
relacionado à criação intensiva e um maior grau de sangue taurino dos animais
amostrados (MENDES, 2009).
Na região Norte, as investigações realizadas por Fernandes et al. (2009) e
por Molnár et al. (1999) na mesorregião Ocidental do Tocantins, utilizando a
técnica de IDGA, identificaram as maiores prevalências da região, 37% e 26%,
respectivamente. Para o primeiro autor, o elevado índice decorreu da expansão
negligenciada da bovinocultura leiteira, com a introdução de animais
provenientes de outros Estados. Já Molnár et al. (1999) percebeu que no Pará a
doença estava bastante disseminada na bovinocultura de corte, com predomínio
da criação extensiva.
Na região Sudeste, Megid et al. (2003) identificaram elevada
soroprevalência (52%) na microrregião da Serra de Botucatu, utilizando o teste
de ELISA em animais mestiços nelore e holandês. Ainda em São Paulo, Birgel
Júnior et al. (2006) verificaram em bovinos da raça simental, uma prevalência
variando de 0 a 19,04% em sete municípios (Avaré, Nantes, Vargem Grande do
Sul, Bragança Paulista, Araçoiaba da Serra, Pindamoiangaba e Jarinu).
A região Sul obteve a prevalência mais elevada para LEB no Brasil
(56,34%), sendo identificada por Barros Filho et al. (2010), na qual foram
avaliados bovinos leiteiros das raças Holandesa Preta e Branca, Jersey, PardoSuíço e mestiços da região Metropolitana de Curitiba (PR). O elevado índice
obtido, possivelmente está relacionado à ausência de programas de controle da
doença e a pouca conscientização por parte de produtores e técnicos sobre os
prejuízos desencadeados pela presença do VLB nos rebanhos bovinos.
No Rio Grande do Sul, a pesquisa mais abrangente foi realizada por
Moraes et al. (1996) na qual foram coletadas amostras de 172 municípios,
distribuídos em 9 regiões geográficas. Das 39.799 amostras coletadas, 3.645
(9,2%) foram positivas. No Paraná, a prevalência obtida foi de 49,04% em
bovinos leiteiros de 25 municípios (SPONCHIADO, 2008). Já Frandoloso et al.
(2008), observaram que a prevalência aumentou para 61,56%, caracterizando
uma disseminação mais ampla do vírus.
19
É também na região Sul onde foi observada a menor prevalência nacional
(7,6%), no município de Mafra, Santa Catarina. Um fator em especial foi
considerado relevante pelos pesquisadores, o fato de propriedades com pequenas
criações (menos de 20 animais) apresentarem em média prevalência superior a
outras com uma quantidade maior de animais (LUDERS, 2001).
A ocorrência da LEB em rebanhos mundiais causa grandes prejuízos à
bovinocultura como o descarte de animais com a presença de linfossarcomas,
barreiras internacionais ao comércio de animais soropositivos, decréscimo da
produção leiteira e da gordura do leite, condenação de carcaças em abatedouros,
despesas com medicamentos e serviços veterinários (OIE, 2010a). Com relação
às perdas produtivas ocasionadas por alterações na quantidade e qualidade do
leite de vacas soropositivas existem discordâncias entre diversos estudos
(HUBER et al., 1981; BRENNER et al., 1990; JACOBS et al., 1991; TIUWARI
et al., 2007).
Embora a coleta de sêmen e transferência de embriões sejam realizadas
de maneira adequada, diversos países impõem barreiras à importação desses
materiais podendo gerar prejuízos não só para as centrais de inseminação, mas
também para as indústrias de leite e carne (MILLER; VAN DER MAATEN,
1982).
8. CONTROLE E PREVENÇÃO
Há a necessidade de sensibilizar as autoridades e instituições de pesquisa
com a finalidade de implantar programas profiláticos e de controle da Leucose
Bovina, pois no Brasil ainda não existem programas específicos para prevenir e
controlar a doença e esta não possui tratamento específico, sendo o prognóstico
desfavorável.
Alguns países já erradicaram a LEB como a Dinamarca, Alemanha
(RADOSTIS et al., 2002) e Finlândia (NUOTION et al., 2003), outros estão em
processo de erradicação, como o Canadá (VANLEEUWEN, 2004) e Estados
Unidos (BRUNNER et al., 1997) e ainda outros que não tem programa de
20
certificação de propriedades livres do VLB, como o Brasil (DEL FAVA;
PITUCO, 2003).
Três medidas são consideradas para erradicação da LEB do rebanho,
sendo elas: i, teste e sacrifício, que só deve ser utilizada em rebanhos com baixa
prevalência, porém o custo é elevado; ii, teste e segregação, que pode ser
utilizada em rebanhos com elevada prevalência, porém requer espaço amplo; iii,
teste e implantação de medidas corretivas, que tem custo reduzido, porém são
necessárias várias mudanças no manejo e requer longo período para gerar
resultados (SUH et al., 2005).
O controle da LEB também é tão difícil quanto a erradicação, e é
comprometido pela grande distribuição, pelo elevado número de animais
assintomáticos e pela lenta evolução da doença, além da ausência de informação
dos produtores (JOHNSON; KANEENE, 1991).
Para o controle da disseminação é fundamental a identificação dos
soropositivos, uma vez que os bovinos infectados permanecem portadores e
eliminam o vírus por toda a vida (FERRER, 1979). Por isso é importante realizar
exames sorológicos periódicos (JOHNSON; KANEENE, 1991). Os animais
positivos devem ser descartados, porém quando o descarte for inviável existe
uma alternativa parar reduzir a difusão da infecção através da segregação dos
soropositivos em grupos, com manejo separado (FLORES et al., 1990;
DIGIACOMO, 1992).
É necessário cuidados ao introduzir novos animais no rebanho e
educar os produtores sobre a doença (JOHNSON; KANEENE, 1991), além de
prevenir a transmissão iatrogênica através de fômites ou vetores animados,
adotando medidas que evitem a transferência de células de um doador infectado
para um animal soronegativo. Outra medida importante é a utilização de colostro
livre do vírus. Este, ao ser submetido ao processo de pasteurização
(BAUMGARTENER et al.,1976) ou de congelamento, é capaz de inativar a
infectividade do vírus (MILLER; VAN DER MAATEN, 1982).
Não há a existência de vacinas disponíveis no mercado contra a LEB,
porém algumas pesquisas continuam avançando para o desenvolvimento de uma
vacina para o controle da LEB.
21
A última avaliação nacional sobre a disseminação da doença no Brasil
(BIRGEL JÚNIOR et al., 2006), foi observada uma prevalência nacional de
27,6%. De acordo com a classificação de Shetigara et al., (1986), esta era
considerada média e nos favorecia no sentido da obtenção de bons resultados
desde que, em curto espaço de tempo, fossem criados programas oficias de
controle e erradicação da doença.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Determinar a prevalência sorológica da Leucose Enzoótica Bovina
(LEB) no rebanho bovino do Estado de Sergipe.
Objetivos Específicos
Determinar a prevalência da LEB nos municípios com o maior efetivo de
bovinos do Estado de Sergipe.
Verificar
a
ocorrência
de
sintomatologia
clínica
nos
animais
soropositivos.
Caracterizar os sistemas de criação de bovinos sergipanos.
Contribuir para a implantação de medidas sanitárias mais rigorosas
voltadas para o controle e prevenção da enfermidade nos rebanhos sergipanos.
HIPÓTESE
A presença da Leucose Enzoótica Bovina no Estado de Sergipe e a
caracterização dos sistemas de criação das propriedades revelaram a necessidade
de implantar medidas básicas de controle e prevenção acerca da enfermidade, a
qual é responsável por causar prejuízos econômicos na bovinocultura.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
22
ABREU, J.M.G.; ARAUJO, W. P.; BIRGEL, E. H. Prevalência de anticorpos
séricos anti- Vírus da Leucose Bovina em animais criados na Bacia Leiteira de
Fortaleza, Estado do Ceará. 1994. Arquivos da Escola de Medicina
Veterinária da Universidade Federal da Bahia, v. 17: 67-89.
AGOTTANI, J.V.B., OLIVEIRA, K.B., FAYSANO, L. WARTH, J.F.G. Leucose
Enzoótica Bovina: diagnóstico, prevenção e controle. Paraná 2010. Disponível
em: <http://www.veterinariapreventiva.com.br/leucose.htm>. Acesso em 20 de out
2010.
AGRESTI, A.; PONTI, W.; ROCCHI, M.; MENEVERI, R.; MAROZZI, A.;
CAVALLERI, D.; PERI, E.; POLI, G.; GINELLI, E. Use of polymerase chain
reaction to diagnose leukemia virus infection calves at birth. American Journal
Veterinary Research, v. 54, n. 3, p. 373-378, 1993.
AIDA, Y.; MIYASAKA, M.; OKADA, K.; ONUMA, M.; KOGURE, S.;
SUZUKY, M.; MINOPRIO, P.; LEVY, D.; IKAWA,Y. Further phenotypic
characterization of target cells for bovine leukemia virus experimental infection
in sheep. American Journal of Veterinary Research, v. 50, p. 1946-1951,
1989.
ALENCAR FILHO, R. A. Imunodifusão como recurso diagnóstico da leucemia
linfática crônica em bovinos. O Biológico, v. 44, p. 27-28, 1978.
ALTANER, C.; ZAJAC, V.; BAN, J.A. A simple and inexpensive metod for
detection of BLB infected cattle based on modified ELISA principal.
Zentralblatt für Vetemärmedizin, v. 29, n. 8, p. 583-590, 1982.
ALTANER, C. et al.Envelope glicoprotein gp51 of bovine leukemia virus is
differently glycosylated in cells of various species organ origin. Veterinary
Immunology and Imunopathology, v. 36, p. 163-177, 1993.
ANATOMIA PATOLÓGICA VETERINÁRIA, Universidade Técnica de
Lisboa. Disponível em:
http://www.fmv.utl.pt/atlas/linfoide/paginas_pt/linfoid_037.htm Acesso em:
06/01/2013.
AZEDO, M. R.; GOMES, C. O. M. S.; BLAGITZ, M. G.; SANCHES, B. G. S.;
SOUZA, F. N.; BATISTA, C. F.; SAKAI, M.; SÁ-ROCHA, V. M.; KFOURY
JUNIOR, J. R.; STRICAGNOLO, C. R.; BENESI, F. J.; DELLA LIBERA, A.
23
M. M. P. Influência da leucose enzoótica bovina na função fagocítica de
leucócitos circulantes em animais manifestando linfocitose persistente.
Brazilian Journal Veterinary Research and Animal Science, v. 45, n. 5, p.
390-397, 2008.
BARROS, C. S. L. Leucose Bovina In: RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L.;
MENDEZ, M. LEMOS, R. A. A. Doenças de ruminantes e equinos. 3. ed.
Santa Maria: Pallotti, 2007. v.1, Cap.2, p.159-168.
BARROS FILHO, I. R.; GUIMARÃES, A. K.; SPONCHIADO, D.; KRÜGER,
E. R.; WAMMES, E. V.; OLLHOFF, R. D.; DORNBUSCH, P. T.; BIONDO, A.
W. soroprevalência de anticorpos para o vírus da leucose enzoótica em bovinos
criados na região metropolitana de Curitiba, Paraná. Arquivos do Instituto
Biológico, v.77, n.3, p.511-515, 2010.
BAUMGARTENER, L.; OLSON C.; ONUMA M. Effect of pasteurization and
heat treatment on bovine leukemia virus. Journal of the American Veterinary
Medical Association, v. 169, n. 11, p. 1189 1191, 1976.
BIRGEL JÚNIOR, E. H.; D’ANGELINO, J. L.; BENESI, F. J.; BIRGEL, E. H..
Prevalência da infecção pelo vírus da Leucose dos Bovinos em animais da raça
Jersey, criados no Estado de São Paulo. Pesquisa Veterinária Brasileira. v. 15,
n. 4, p. 93 – 99, 1995.
BIRGEL JUNIOR, E.H.; DIAS, W.M.C.; SOUZA, R.M.; POGLIANI, F.C.;
BIRGEL, D.B.; BIRGEL, E.H. Prevalência da infecção pelo vírus da leucose
dos bovinos em animais da raça simental, criados no estado de São Paulo. Ars
Veterinária, v.. 22, n.2, 122-129, 2006.
BIRGEL, E. H.; ARAÚJO, L. M.; REICHMANN, C. E.; ARAÚJO, W. P;
D’ANGELINO, J. L.; GARCIA, M. Influência da premunição no quadro
leucocitário de bovinos da raça Holandesa importados do Canadá. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, São
Paulo. Anais... São Paulo: Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, 1974.
p. 161-162.
BIRGEL, E. H. Leucose Enzoótica dos bovinos adultos: aspectos clínicos e
diagnóstico. In BIRGEL, E. H.; BENESI, E. J. Patologia clínica veterinária. 2.
ed. São Paulo: Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, 1982. p. 249-260.
24
BIRGEL, E.H.; BENESI, F.J.; D’ANGELINO, J.L.; AYRES, M.C.C.; COSTA,
J.N.; BARROS FILHO, I.R.; BIRGEL JUNIOR, E.H. Prevalência da Leucose
Enzoótica dos Bovinos em zebuínos da raça Nelore, criados no Estado de São
Paulo. Arquivo da Escola Medicina Veterinária Universidade Federal da Bahia,
Salvador, v.17, n.1, p. 55-56, 1994.
BIRGEL, E. H.; AYRES, M. C. C.; BIRGEL JUNIOR, E. H. Prevalência de
anticorpos séricos antivírus da leucose enzoótica dos bovinos, em animais
criados na bacia leiteira do estado de Alagoas, Brasil. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE BUIATRIA, 3., 1999. São Paulo. Arquivos do Instituto
Biológico, v. 66, supl., p. 129, 1999.
BRAGA, F.M., VAN DER LAAN, C.W., Leucose enzoótica bovina. In: RIETCORREA, F.; SCHILD, A.; MÉNDEZ, M.D.C.; LEMOS, R.A.A. (Ed.).
Doenças de ruminantes e eqüinos. São Paulo: Ed. Varela, 2001. p.126-134.
BRENNER, J.; ROSENTHAL, I.; BERNSTEIN, S.; TRAININ, Z. The fat
content of milk from dairy cattle infected with bovine leukosis virus. Veterinary
Research Communications, v. 14, p. 167-171, 1990.
BRUNNER, M. A.; LEIN, D. H.; DUBOVI, E. J. Experiences with the New
York State Bovine Leukosis Virus eradication and certification
program.Veterinary Clinics North America : Food Animal Practice,
Philadelphia, v. 13, n. 1, p. 143-150, 1997.
BUEHRING, G.C.; KRAMME, P.M.; SCHULTZ, R.D. Evidence for bovine
leukemia virus in mammary epithelial cells of infected cows. Laboratory
Investigation, v. 71, n. 3, p. 359-365, 1994.
BURNY, A.; BRUCK, C.; CLEUTER, Y.; COUEZ, D.; DESCHAMPS, J.;
GREGOIRE, D.; GHYSDAEL, J.; KETTMANN, R.; MAMMERICKX, M.;
MARBAIX, G.; PORTELLE, D. Bovine Leukaemia Virus and Enzootic Bovine
Leukosis. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, v.52, p.133-144,
1985.
BURNY, A.; CLEUTER, Y.; KETTMANN, R.; MAMMERICKX, M.;
MARBAIX, G.; PORTETELLE, D.; van den BROEKE, A.; WILLEMS, L.;
THOMAS, R. Bovine Leukaemia: facts and hypotheses derived from the study
of an infectious cancer. Veterinary Microbiology, v.17, n.3, p.197-218, 1988.
25
BURNY, A. Bovine leukemia: facts and hypotheses derived from the study of an
infectious cancer. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v.17, p. 197-218,
1988.
BURRIDGE, M.J.; THURMOND, M.C.; MILLER, J.M.; CSMERR, M.J.F.;
VANDER MAATEN, M.J. Duration of colostral antibodies to bovine leukemia
virus by serologic tests. American Journal Veterinary Research, Schaumburg,
v.43, n.10, p.1866-1867, 1982 a.
BURRIDGE, M. J.; THURMOND, M. C.; MILLER, J. M.; SCMERR, M. J. F.;
VANDER MAATEN, M.J. Fail in antibody titer to Bovine Leukemia Virus in
the perpai-turient period. Canadian Journal Comparative Medicine, v. 46, n.
3, p. 270- 271,1982b.
CAMARGOS, M.F.; MELO C.B.; LEITE, R.C.; STANCEK, D.; LOBATO,
Z.I.P.; ROCHA, M.A.; SOUZA, G.N.; REIS, J.K.P. Freqüência de
soropositividade para leucose enzoótica bovina em rebanhos de Minas Gerais.
Ciência Veterinária Tropical, v.5, n.1, p.20-26, 2002.
CAMARGOS, M. F.; REIS, J. K. P.; LEITE, R. C. Bovine Leukemia Virus.
Virus Reviews & Research, v. 9, n. 1, p. 44-59, 2004.
COCKERELL, G. L.; REYES, R. A. Bovine Leukemia Virus-Associated
Lymphoproliferative Disorders. In: SCHALM, O. W.; FELDMAM, B. F.;
ZINKL, J. G.; JAIN,N. C. Schalm’s veterinary hematology. 5. ed. Lippincott:
Williams; Willians, 2000. p. 614-619.
CORDEIRO, J. L. F.; DESCHAMPS, F. C.; MARTINS, E.; MARTINS, V. M.
V. Identificação e controle da leucose Enzoótica Bovina (LEB) em um rebanho
leiteiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 29, n. 8, p. 1287-1292, 1994.
DAHLBERG, J. E. An overview of retrovirus replication. Advances Veterinary
Science Compedium Medical, v.32, p.1-35, 1988.
DEBACQ, C.; ASQUITH, B.; KERKHOFS, P.; PORTETELLE, D.; BURNY,
A.; KETTMANN, R.; WILLEMS, L. Increased cell proliferation, but not
reduced cell death, induces lymphocytosis in bovine leukemia virus -infected
sheep. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America, v. 99, n. 15, p. 10048- 10053, 2002.
26
DEBACQ, C.; ASQUITH, B.; REICHERT, M. et al. Reduced Cell Turnover in
Bovine Leukemia Virus-Infected, Persistently Lymphocytotic Cattle. Journal of
Virology, v. 77, n. 24, p. 13073-13083, 2003.
DEL FAVA, C.; PITUCO, E. M. Infecção pelo vírus da Leucemia Bovina
(BLV) no Brasil. O Biológico, São Paulo, v. 65, n. 1, p. 3-10, 2003.
DIGIACOMO, R.F. The epidemiology and control of bovine leukemia virus
infection. Veterinary Medicine, n. 3, p. 248-257, 1992.
DIMMOCK, C.K.; CHUNG Y.S.; MACKENZIE, A.R. Factors affecting the
natural transmission of bovine leukaemia virus infection in Queensland dairy
herds. Australan Veterinary Journal, v. 68, n. 7, p. 230-233, 1991.
DOLZ, G.; MORENO, E. Comparison of agar gel immunodiffusion test,
enzyme-linked immunosorbent assay and western blotting for the detection of
BLV antibodies. Zentralbl. Vetmed. BEIH., v. 46, n. 8, p. 551- 558, 1999.
DOMENECH, A. et al. In vitro infection of cells of the monocytic/macrophage
lineage with bovine leukaemia virus. Journal of General Virology, n. 1, p. 109118, 2000.
EVERMANN, J.F. A look at how bovine leukemia virus infection is diagnosed.
Symposium on bovine leukemia virus infection. Veterinary Medicine, n. 3, p.
272-278, 1992.
EVERMANN, J. F.; JACKSON, M. K. Laboratory diagnostic tests for retroviral
infection in dairy and beef cattle. Veterinary Clinics North America: Food
Animal Practice, Philadelphia, v. 3, n. 1, p. 87-106, 1997.
FECHNER, H. et al. Evaluation of polymerase chain reaction (PCR) application
in diagnosis of bovine leukaemia virus (BLV) infection in naturally infected
cattle. Zentralbl Vetmed BEIH., v. 43, n. 10, p. 621-630, 1996.
FERNANDES, C. H. C.; MELO, L. E. H.; TENÓRIO, T. G. S.; MENDES, E. I.;
FERNANDES, A. C. C.; RAMALHO, T. R. R. MOURA SOBRINHO, P. A.;
MOTA, R. A. Soroprevalência e fatores de risco da infecção pelo vírus da
leucose dos bovinos em rebanhos leiteiros da região norte do Estado do
Tocantins, Brasil. Arquivos do Instituto Biológico, v. 76, n. 3, p. 327-334,
2009.
27
FERRER, J.F.; DIGILO C.A. Development of in vitro infectivity assay for Ctype bovine leukemia virus. Cancer Research, v. 36, p. 1068, 1976.
FERRER, J.F. Bovine leukosis: Natural transmission and principles of control.
Journal of the American Veterinary Medical Association, Schaumburg, v.
175, n. 12, p. 1281-1286, 1979.
FERRER, J.F.; GIBBS, E.R.P.J.; MURPHY, F.A. Veterinary Virology. 2nd ed.
Sandiego: Academia Press, 1993. p. 561-595.
FLORES, E. F. Leucose enzoótica bovina: Estudos soroepidemiológicos,
histológicos e hematológicos em rebanhos leiteiros do município de Santa
Maria. 1989. 103f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária).
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1989.
FLORES, E.F.; WEIBLEN, R.; REBELATO, M.C. Aspectos epidemiológicos
da infecção pelo vírus da Leucose Bovina (VLB) na região central do Rio
Grande do Sul. Hora Veterinária, v. 10, n. 58, p. 35-29, 1990.
FLORES, E. F.; WEIBLEN, R.; OLIVEIRA, C.; KREUTZ, L. C. Anticorpos
contra o vírus da leucose bovina (VLB) em soro de bovinos provenientes da
República Oriental do Uruguai. A Hora Veterinária, v. 12, n. 68, p. 5-8, 1992.
FRANDOLOSO, R.; ANZILIERO, D.; SPAGNOLO, J.; KUSE, N.; FIORI, C.;
SCORTEGAGNA, G. T.; BARCELLOS, L. J. G.; KREUTZ, L. C.. Prevalência
de Leucose Enzoótica Bovina, Diarréia Viral Bovina, Rinotraqueíte Infecciosa
Bovina e Neosporose Bovina em 26 propriedades leiteiras da região nordeste do
Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Animal Brasileira, v. 9, n. 4, p. 1102-1106,
2008.
GARCIA. M. Avaliação de leucograma de fêmeas bovinas da raça
Holandesa Branca e Preta naturalmente infectada pelo vírus da leucose
bovina. 65 p. Dissertação (Mestrado em Patologia Bovina) - Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1989.
GARCIA, M.; D’ANGELINO, J.L.; BIRGEL, E.H. Leucose Bovina no Brasil.
Comunicações Cientificas da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo, v.15, n.1, p.31-9, 1991.
GARCIA, M.; BASTOS, P. A.; BARROS FILHO, I. R.; LIBERA, A. M. M. P.
D.; COUTINHO, S. D. A.; RAMOS, M. C. C.; LOURENÇO, A.; SILVA, M. M.
28
Efeito da infecção pelo vírus da leucose na ocorrência de mastite em bovinos. A
Hora Veterinária, v. 15, n. 88, p. 41-44, 1995.
GILDEN, R.V.; LONG, C. W.; HANSON, M.; TONI, R.; CHARMAN, H. P.;
OROSZIAN, S.; MILLER, J. M.; VAN DER MAATEN, M. J. Characteristics of
the major internal protein and RNA-dependent DNA polymerase of bovine
leukemia virus. Journal of General Virology, v. 29, p. 305, 1975.
GILLET, N.; FLORINS, A.; BOXUS, M.; BURTEAU, C.; NIGRO, A.;
VANDERMEERS, F.; BALON, H.; BOUZAR, A. B.; BEFOICHE, J.; BURNY,
A.; REICHERT, M.; KETTMAN, R.; WILLEMS, L. Mechanisms of
leukemogenesis induced by bovine leukemia virus: prospects for novel antiretroviral therapies in human. Retrovirology, v. 4, n. 18, p. 4-18, 2007.
HUBER, N. L.; DIGIACOMO, R. F.; EVERMANN, J. F.; STUDER, E. Bovine
leukemia virus infection in a large Holstein herd: prospective comparison of
production and reproductive performance in antibody-negative and antibody
positive cows. American Journal of Veterinary Research, v. 42, n. 9, p. 14771481, 1981.
HÜBNER, S. O.; WEIBLEN, R.; TOBIAS, F. L.; CANCIAN, N.; BOTTON, S.
A.; OLIVEIRA, M.; ZANINI, M. Evolução da imunidade passiva contra o vírus
da leucose bovina. Pesquisa Veterinária Brasileira, Brasília, v. 16, n. 2/3, p.
87-90, 1996.
HÜBNER, S. O.; WEIBLEN, R.; MORAES, M. P.; SILVA, A. M.; CARDOSO,
M.J.L.; PEREIRA, N.M.; ZANINI, M. Infecção intra-uterina pelo vírus da
leucose bovina. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.
21, n. 4, p. 8- 11, 1997.
JACOBS, R. M.; HEENEY, J. L.; GODKIN, M.; LESLIE, K. E.; TAYLOR, J.
A.; DAVIES, C.; VALLI, V. E. O.. Production and Related Varables in Bovine
Leukaemia Virus-Infected Cows. Veterinary Research Communication, v. 15,
p. 463-474, 1991.
JOHNSON, R.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus: Part II. Risk factors
of transmission. Compendium of Continuing Education for the Practicing
Veterinarian, v. 13, n. 4, p. 681-691, 1991.
29
JOHNSON, R.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus and Enzootic Bovine
Leukosis. Veterinary Bulletin, Farnham Royal, v. 62, n. 4, p. 287-311, 1992.
JONES, T. C. et al. Patologia veterinária. 6.ed. São Paulo: Manole, 2000.
1415p.
KNUTH, P.; VOLKMAN, O.; Untersuchungen über die limphozymotose des
Rindes. Zeitschrift für Infektionskrankheiten Parasitärekrankenheite und
Hygine Haustiere, v. 17, p. 393-467, 1916.
KUFE, D. W.; POLLOCK, R. E.; WEICHSELBAUM, R. R.; BAST, R. C., Jr.;
GANSLER, T. S.; HOLLAND, J. F.; FREI III, E. Cancer medicine. Hamilton:
BC Decker Inc, 2003.
LASSAUZET, M. L. G.; THURMOND, M. C.; JOHSON, W. O.; HOLMBERG,
C.A. Factors Associated with in utero or periparturient transmission of Bovine
Leukemia virus in calves on a California Dairy. Canadian Journal of
Veterinary Research, v. 55, p. 264-268, 1991.
LEITE, R.C.; LOBATO, Z.I.P.; CAMARGOS, M.F. Leucose enzoótica bovina.
Revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, v.7, n.24, p.20-28,
2001.
LUCAS, M.H.; DAWSON, M.; CHASEY, D.; WIBBERLEY, G.; ROBERTS;
D.H. Enzootic bovine leucosis virus in semen. Veterinary Research, v. 106, n.
6, p. 128, 1980.
LUDERS, M. A. Prevalência de Anticorpos contra o Vírus da Leucose
Enzoótica Bovina em fêmeas com mais de dois anos no Rebanho de Bovinos
Leiteiros no Município de Mafra-SC. Lages, 2001. 30p. Monografia –
Universidade do Estado de Santa Catarina.
MARTIN, D.; ARJONA, A.; SOTO, I. et al. Comparative Study of PCR as a
Direct Assay and ELISA and AGID as Indirect Assays for the detection of
Bovine Leukaemia Virus. Journal of Veterinary Medicine B, v. 48, p. 97-106,
2001.
MATOS, P. F.; BIRGEL JUNIOR, E. H.; BIRGEL, E. H. . Leucose enzoótica
dos bovinos: prevalência de anticorpos séricos em bovinos criados na Bahia e
comparação entre resultados do teste de Elisa e da imunodifusão em gel de ágar.
30
Brazilian Journal of Veterinary Research the Animal Science, v. 42, p. 171180, 2005.
MCDONALD, R.; FERRER, J. F. Detection, quantitation and caracterization of
the major internai virion of the bovine leukemia virus by raio imunoassay.
Journal of the National Cancer Institute, v. 57, n. 4, p. 875-882, 1976.
MEGID, J.; NOZAKI, C. N.; KURODA, R. B. S.; CRUZ, T. F.; LIMA, K. C.
Ocorrência de Leucose Enzoótica Bovina na Microrregião da Serra de Botucatu.
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 55, n.5, p.645646, 2003.
MELO, C. B.; OLIVEIRA, A. M.; FIGUEIREDO, H. C. P. et al. Prevalência de
anticorpos contra Herpesvírus Bovino-1, vírus da Diarréia Bovina a Vírus e
Vírus da Leucose enzoótica Bovina em bovinos do Estado de Sergipe, Brasil.
Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 21, p. 160, 1997.
MELO, L. E. H. Leucose Enzoótica dos Bovinos. Prevalência da infecção em
rebanhos leiteiros criados no Agreste Meridional do Estado de
Pernambuco. São Paulo: 1991. 102p. Dissertação (Mestrado), Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo – Patologia
Bovina.
MENDES, E. I. Avaliação da intercorrência entre leucose enzoótica e
tuberculose bovina em vacas leiteiras do Estado de Pernambuco. Recife,
2009. 54p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.
MERKT, H.; GIUDICE, J. C. O.; MÜLLER, J. A. Leucose Bovina: concepção
moderna e primeira verificação da doença no Rio grande do Sul. Revista de Escola
de Agronomia e Veterinária do Rio Grande do Sul, v. 2, p. 7-19, 1959.
MILLER, L. D.; MILLER, J. M.; OLSON, C. Inoculation of calves with
particles resembling C-type virus from cultures of bovine lymphosarcoma.
Journal of the National Cancer Institute, v.48, n.2, p.423-428, 1972.
MILLER, J. M.; VAN DER MATTEN, M. J. Sorologic detection of Bovine
Leukemia Virus infection. Veterinary Microbiology, v. 31, p.47-55, 1976.
MILLER, J. M., VAN DER MAATEN, M. J. Use of glicoprotein antigen in the
immunodiffusion test for fovine leukemia antibodies. European Journal
Cancer, v.13, p.1369-1375, 1977.
31
MILLER, J. M.; VAN DER MAATEN, M. J. Bovine leukosis – Its Importance
to the Dairy Industry in the United States. Journal Dairy Science, v. 65, n. 11,
1982.
MODENA, C. M. Leucose Enzoótica Bovina: I – comparação entre as técnicas
de diagnóstico de imunodifusão em gel de agar e chave linfocitária 25 de
Bendixen. Arquivos da Faculdade de Veterinária da UFRGS, v. 12, p. 99107, 1984.
MOLNÁR, E., MOLNAR, L., DIAS, H. T., SILVA, A. O. A., VALE, W. G.
Ocorrência da Leucose Enzoótica dos Bovinos no Estado do Pará, Brasil.
Pesquisa Veterinária Brasileira, v.19, p.7-11, 1999.
MOLNÁR, L.; MOLNÁR, E.; SANTOS, A. M.; CORÕA, A. C.; TÚRY, E.
Leucose em bovinos jovens; dados epidemiológicos. Revista Brasileira de
Medicina Veterinária, v. 20, n. 3, 1998.
MORAES, M. P.; WEIBLEN, R.; FLORES, E. F.; OLIVEIRA, J. C. D.;
REBELATTO, M.C.; ZANINI, M.; RABUSKE, M.; HÜBER, S.O.; PEREIRA,
N.M. Levantamento sorológico da infecção pelo vírus da Leucose Bovina nos
rebanhos do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v.26, n.2, p.257-262,
1996
MOTTON, D. D.; BUEHRING, G. C. Bovine Leukemia Virus Alters Growth
Properties and Casein Synthesis in Mammary Epithelial Cells. Journal of Dairy
Science, v. 86, p.2826–2838, 2003.
MURPHY, F.A.; GIBBS, E.P.J.; HORZINECK, M.C.; STUDDERT,M.J.
Veterinary Virology, California: Academic Press, 3rd ed., 1999. 4495p.
NUOTION, L.; RUSANEN, H.; SIHVONEN, L.; NEUVONEN, E. Eradication
of bovine leucosis from Finland. Preventive Veterinary Medicine, v.59, n.1-2,
p.43-49, 2003.
OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES. International Animal
Health Code. Paris: OIE, 2001a. Disponível em:
<http://www.oie.int/Norms/MCode/htm>. Acesso em: 24/07/ 2010a.
OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES. Manual of standards for
diagnostic tests and vaccines. 4.ed. Paris: OIE, 2000. Disponível Em:
<http://www.oie.int/eng/Norms/mmanual/htm>. Acesso em: 24/07/ 2010b.
32
OLIVEIRA, K. B. Relatório de Conclusão de Curso – Leucose Enzoótica
Bovina: revisão bibliográfica. Curitiba: UC-PR, 2000.
OLSON, C.; MILLER, J.M. 1987. History and terminology of enzootic bovine
leukosis. In: Burny, A.; Mammerickx, M. (eds). Enzootic Bovine Leukosis and
Bovine Leukemia Virus. Martinus Nijhoff Publishing. Boston. p. 3-11.
OHSIMA, K.; OKADA, K.; NUMAKUNAI, S. Pathological studies on juvenile
bovine leucosis. The Japanese journal of veterinary science, Tokyo, v. 42, p.659671, 1980.
PEIXOTO, T.C.; MARTINI-SANTOS, B.J.; YAMASAKI, E.M.; GALVÃO,
A.; SALLES, S.P.X. Leucose Juvenil Bovina Multicêntrica em uma bezerra no
Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em:
<http:www.sorvegs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R0618-1.pdf>
Acesso em:04/01/2013.
POLLARI, F. L.; WANGSUPHACHART, V. L.; DI GIACOMO, R. F.;
EVERMANN, J. F. Effect of bovine leukemia vírus infection on production and
reproduction in dairy cattle. Canadian Journal Veterinary Research, v. 56,
p.289-295, 1992.
PORTETELLE, D. et al. Detection of complement dependent lytic antibodies in
sera from bovine leukemia virus-infected animals. Annales de recherches
vétérinaires, v.9, p.667-674, 1978.
RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, C. D.; HINCHCLIFF, K. W.
Clínica Veterinária - Um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos,
caprinos e eqüinos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 9a ed., 2002, p.940-951.
RAJÃO, D.S. Efeito da infecção pelo vírus da leucose enzoótica bovina na
produção de leite e reprodução de rebanhos leiteiros. Minas Gerais, 2008. 26p.
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de
Veterinária.
RANGEL, N. M.; MACHADO, A. V. Contribuição à oncologia comparada em
Minas Gerais. Arquivos da Escola Superior de Veterinária do Estado de
Minas Gerais, v. 1, p. 84-96, 1943.
REBHUN, W.C. Doenças infecciosas variadas. In: Doenças do Gado Leiteiro.
São Paulo: Ed. Roca, 2000. p.577-612.
33
RIBEIRO, A.G.P. Estudos hematológicos sorológicos e citoquímicos em
animais reagentes e não reagentes à Leucose Bovina. Arquivo Fluminense de
Medicina Veterinária, Niterói, v. 2, p. 121-122, 1987.
SANTOS, H. P. Leucose Enzoótica Bovina: estudo epidemiológico na bacia
leiteira no Estado do Maranhão e aperfeiçoamento do diagnóstico. Recife,
2010. 87p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco.
SANTOS, J. A.; PINHEIRO, P. V.; SIVA, L. J. Linfossarcoma com lesão de
língua e câmaras cardíacas em bovinos. Arquivo da Escola Fluminense de
Medicina Veterinária, v.2, p.1-8, 1959.
SARDI, S. I.; CAMPOS, G. S.; BARROS, S. L. B.; EDELWEISS, G. L.;
MARTINS, D. T. Detecção de anticorpos contra o vírus da parainfluenza bovina
tipo 3 (pi-3) e o vírus da leucose bovina (VLB) em bovinos de diferentes
municípios do Estado da Bahia, Brasil. Revista de Ciências Médicas e
Biológicas, v. 1, n. 1, p. 61-65, nov. 2002.
SCARCI, R. M.; BENTO, C.L.; MEDEIROS, E. L.; GUARENTI, P. J.
Avaliação dos testes sorológicos e hematológicos no diagnóstico da Leucose
Bovina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA
VETERINÁRIA, 17. 1980, Fortaleza. Anais. Fortaleza: 1980. p. 137.
SCHWARTZ, I.; LEVY, D. Pathobiology of bovine leukemia virus. Veterinary
Research, v. 25, p. 521- 536, 1994.
SHETTIGARA, P.T.; SAMAGH, B.S.; LOBINOWICH, E.M. 1986. Eradication
of bovine leukemia virus infection in commercial dairy herds using the agar gel
imunodifusion test. Canadian Journal of Veterinary Research, 50 (2): 221-6
SILVA, S. V. Leucose Enzoótica dos Bovinos. Prevalência de anticorpos
séricos anti-vírus da Leucose dos Bovinos em rebanhos cruzados –
holandês/ zebu e em animais da raça Pé-duro, criados no Estado do Piauí.
São Paulo, 2001.176p. Tese (Doutorado), Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo.
SIMÕES, S. V. D. Leucose Enzoótica dos Bovinos. Prevalência de anticorpos
séricos anti-vírus da Leucose dos Bovinos em rebanhos leiteiros criados no
Estado da Paraíba. São Paulo, 1998. 118p. Dissertação (Mestrado), Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo.
34
SIMÕES, S. V. D.; BIRGEL, E. H.; BIRGEL JUNIOR, E. H., AYRES, M. A. C.
Prevalência da leucose bovina em animais criados no estado do Rio Grande do
Norte. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BUIATRIA, 4., Anais. Campo
Grande, 2001.
SPONCHIADO, D. Prevalência de anticorpos séricos anti-Vírus da Leucose
Enzoótica Bovina em rebanhos da raça Holandesa Preta e Branca, criados
no Estado do Paraná. Curitiba: 2008. 101p. Dissertação (Mestrado em Ciências
Veterinárias) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.
STONE, D.M.; NORTON, L.K.; DAVIS, W.C. Spontaneously proliferating
lymphocytes from bovine leukaemia virus infected, lymphocytotic cattle are not
the virus-expressing lymphocytes, as these cells are delayed in G0/G1 of the cell
cycle and are spared from apoptosis. Journal of General Virology, v. 81, p.
971-981, 2000.
STRUAB, O. C. Horizontal transmission studies on enzootic bovine leukosis.
American Journal Veterinary Research, v. 9, n. 4, p. 809-813, 1978.
SUH, G.H.; LEE, J. C.; LEE, C. Y.; HUR, T. Y.; SON, D. S.; AHN, B. S.; KIM,
N. C.; LEE, C. G.. Establishment of a bovine leukemia virus-free dairy herd in
Korea. Journal Veterinary Research, v. 6, n. 3, p. 227–230, 2005.
SUZUKI, T.; IKEDA, K. The mouse homolog of bovine leukemia virus receptor
is closely related to the _ subunit of the adapter-related protein complex AP-3,
not associated with the cell surface. Journal Virology, v.72, p.593-599, 1998.
TAKAHASHI, M.; TAJIMA, S.; OKADA, K.; DAVIS, W. C.; AIDA, Y.
Involvement of bovine leukemia virus in induction and inhibition of apoptosis.
Microbes and Infection, v. 7, p. 19-28, 2005.
TÁVORA, J. P. F.; BIRGEL, E. H. Prevalência da infecção pelo vírus da
leucose bovina em rebanhos leiteiros criados na região de Pólo Itabuna, Estado
da Bahia. Arquivo da Escola de Medicina Veterinária da Universidade
Federal da Bahia, Salvador, v.14, n.1, p.164-83, 1991.
TIERSEUCHENBERICHT. Amtliche Mitteilung des Bundesministers for
Erchrung, Landwirtscharft und Fortsten, Bonn, 1979-1983.
35
TIWARI A.; VANLEEUWEN, J. A.; DOHOO, I. R. et al. Production effects of
pathogens causing bovine leukosis, bovine viral diarrhea, paratuberculosis, and
neosporosis. Journal of Dairy Science, v. 90, p. 659-69, 2007.
TOLLE, A. Zur Beurteilung quantitativer hämatologischer befunde im Rahmen
der Leukose – Diagnostik. Zentralblatt für Veterinärmedizin, Reihe B,
Berlin, v.12, n. 4, p 281-290, 1965.
VAN DER MAATEN, M. J.; MILLER, J. M. Appraid of control measures for
bovine leucosis. Journal of the American Veterinary Medical Association,
v.175, n.12, p1287-1290,1979.
VAN DER MAATEN, J. M.; MILLER, J. M.; SCHIMERR, M. J. F. In útero
transmission of bovine leukemia virus. American Journal Veterinary
Research, v.42, n.6, p.1052-1054, 1981.
VAN DER MAATEN, M.J.; MILLER, J.M. Bovine Leukosis Virus. In:
DINTER, Z.; MOREINI, B. Virus Infectious of Ruminants. Amsterdam:
Elsevier Science Publisher, 1990. p. 419-429.
VANLEEUWEN, J. A. Impacts and Control of Insidious Infectious DiseasesBeat Them Before They Beat Your Clients. Mycobacterium avium subspecies
paratuberculosis, Neospora caninum, Bovine Leukemia Viral and Bovine Viral
Diarrhea Virus. In: Congresso Mundial de Buiatria, 23., Proceedings QuébecCanadá, 2004.
WHITTIER, D. Programs can rid herds of bovine leukosis. Hoard’s Dairyman,
v. 138, n. 8, p. 405, 1990.
YAMAMOTO H.; YOSHINO, T.; MATSUDA, I.; NAKALIMA, H.
Histopathological definition of the adult and calf types of bovine leukosis.
National institute of Animal Health Quarterly, v. 22, n. 3, p. 115-129, 1982.
YOSHIKAWA, H.; XIE, B.; OYAMADA, T.; HIRAGA, A.; YOSHIKAWA, T.
Detection of Bovine Leukemia Viruses (BLV) in Mammary Tissues of BLV
Antibody-Positive Cows Affected by Subclinical Mastitis. The Journal
Veterinary Medical Science, v. 59, n. 4, p. 301-302, 1997.
36
CAPÍTULO 1
Inquérito Soroepidemiológico Da Leucose Enzoótica Bovina Em Rebanhos
Bovinos Do Estado De Sergipe
37
Inquérito Soroepidemiológico Da Leucose Enzoótica Bovina Em Rebanhos
Bovinos Do Estado De Sergipe
RESUMO
O estado de Sergipe, localizado na região Nordeste do Brasil, é o único Estado
desta região com ausência de estudos sobre a soroprevalência da Leucose
Enzoótica Bovina, havendo a necessidade da realização de pesquisas para
verificação da situação atual da enfermidade. O objetivo do presente estudo foi
realizar um inquérito soroepidemiológico da Leucose Enzoótica Bovina em
rebanhos bovinos do Estado de Sergipe o qual foi dividido em três mesorregiões:
Leste sergipano, Agreste sergipano e Sertão sergipano. Em cada mesorregião
foram selecionados os cinco municípios com o maior efetivo bovino, totalizando
780 amostras coletadas, dentre machos e fêmeas, de faixas etárias diversas,
provenientes de 52 propriedades dos municípios visitados. Todas as amostras de
soro foram submetidas ao teste de imunodifusão em gel de ágar (IDGA),
obtendo-se resultados positivos para anticorpos anti-vírus da leucose bovina
(anti-VLB) em 11,92% (93/780) dos animais. Dentre as propriedades, 59,61%
(31/52) apresentaram animais reagentes, sendo que dos 15 municípios visitados,
apenas dois não apresentaram animais sororeagentes. De acordo com os
resultados obtidos ficou confirmada a presença de anticorpos contra o agente
etiológico nos rebanhos bovinos sergipanos, reforçando a necessidade de
instituir medidas de controle e prevenção eficazes contra a Leucose bovina, com
o objetivo de controlar a doença no Estado e conhecer melhor a sua
epidemiologia.
Palavras-chave: bovinos, IDGA, soroprevalência
38
Seroepidemiological Inquiry of Enzootic Bovine Leukosis in Cattle Herds in the
state of Sergipe
ABSTRACT
The state of Sergipe, located in the Northeast of Brazil, is the only state in the
region with absence of studies about the seroprevalence of Enzootic Bovine
Leukosis. Therefore, there is a need of conducting research to verify the current
status of the disease. The aim of this study was to conduct a seroepidemiological
inquiry of enzootic bovine leukosis in cattle herds in the state of Sergipe, which
was divided into three mesoregions: East Sergipe, Agreste Sergipe and Sertão
Sergipe. In each mesoregion we selected the five counties with the largest cattle
herd, totaling 780 samples collected from males and females of all ages, from 52
properties of the counties visited. All serum samples were submitted to the test
of agar gel immunodiffusion (AGID) and positive results was obtained for antivirus antibodies of bovine leukosis (anti-VLB) in 11.92% (93/780) of the
animals. Among the properties, 59.61% (31/52) presented reacting animals, and
from the 15 counties visited, only two did not show reactive serum animals.
According to the results it was confirmed the presence of the etiologic agent in
Sergipeans cattle, reinforcing the need to institute effective measures of control
and prevention against Enzootic bovine, in order to control the disease in the
state and better understand its epidemiology.
Keywords: cattle, AGID, seroprevalence
39
INTRODUÇÃO
No Brasil, a bovinocultura apresentou um crescimento nos últimos anos
contando atualmente com o efetivo bovino de 212.815.311 cabeças, sendo que
na região Nordeste está concentrado 1,39% do rebanho nacional, estando
Sergipe com um total de 1.178.771 cabeças distribuídas em 75 municípios
(IBGE, 2011).
A Leucose enzoótica bovina (LEB) é uma enfermidade infecciosa
causada pelo vírus da leucose bovina (VLB), responsável pela ocorrência de
linfossarcomas multicêntricos no adulto, em diversos sítios do organismo do
animal desencadeando uma grande variedade de sintomas (RADOSTITIS et al.,
2002).
A primeira descrição da LEB foi realizada na Alemanha em 1871.
Somente após a segunda Guerra Mundial foram feitos diversos relatos sobre a
doença em praticamente toda a Europa oriental. A introdução do vírus em
rebanhos bovinos dos Estados Unidos só ocorreu no final do século 19 com a
importação de animais provenientes do continente europeu, e a partir daí
disseminando a enfermidade nos rebanhos canadenses. Com a importação de
bovinos provenientes destes dois países, a doença se disseminou para o restante
do mundo (LEISERING, 1871; FELDMAN, 1928; SCHOTTLER, 1934;
SORENSEN, 1961; JOHNSON; KANEENE, 1992).
No Brasil, a doença foi inicialmente descrita por Rangel e Machado,
em 1943, no estado de Minas Gerais, seguida por relatos nos estados do Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul (SANTOS et al., 1959; MERCKT et al. 1959).
Desde então, diversas pesquisas vêm sendo realizadas em diversos estados do
país.
A transmissão iatrogênica com agulha, luva de palpação, material
cirúrgico ou qualquer outra forma de procedimento que seja capaz de transmitir
linfócitos contaminados de um animal doente para um sadio é considerada a
principal fonte de infecção do VLB para os bovinos, ou seja, pequenos volumes
de sangue transferidos durante alguns destes procedimentos possuem um grande
potencial na transmissão da infecção (DIMMOCK et al., 1991). Os recém-
40
nascidos podem se contaminar através da ingestão de colostro e leite contendo
linfócitos contaminados com o agente etiológico (JACOBSEN, 1983).
O diagnóstico definitivo da LEB através dos achados clínicos de forma
isolada é frequentemente difícil devido a ampla diversidade de sinais clínicos,
necessitando de um diagnóstico diferencial para enfermidades como: doença de
Johne, pericardite traumática, abscesso da medula espinhal, tuberculose e
actinobacilose (RADOSTITIS et al., 2002).
Na patologia clínica, a observação do aumento persistente no número
de linfócitos B e os testes sorológicos para identificar anticorpos específicos
contra os antígenos do VLB são ferramentas de diagnóstico da LEB
(EVERMANN, 1992).
Inúmeras técnicas imunosorológicas surgiram relacionadas com a
produção de anticorpos contra o VLB. Porém as técnicas aceitas como teste
padrão ouro de diagnóstico pelo Office Internacional Des Epizooties são os
testes de IDGA e ELISA que utilizam o soro bovino e o soro e leite bovino,
respectivamente (OIE, 2010).
A imunodifusão em gel de ágar (IDGA) é atualmente a técnica mais
utilizada devido a sua praticidade, baixo custo e especificidade. Esta técnica foi
desenvolvida a partir da gp 51 presente na cápsula viral (MILLER e VAN DER
MAATEN, 1976 e 1977).
O Estado de Sergipe está cercado por Estados nos quais a
soroprevalência da LEB já foi confirmada nos rebanhos bovinos, além de ser
uma rota para o trânsito de animais entre vários Estados. Portanto, devido a
ausência de estudos sobre a ocorrência da LEB no Estado, há a necessidade de
pesquisas, visto que a bovinocultura tem uma importância socioeconômica, além
dos prejuízos econômicos desencadeados pela enfermidade. Diante disso, o
objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo soroepidemiológico da Leucose
Enzoótica Bovina avaliando os fatores de risco em rebanhos bovinos do Estado
de Sergipe.
41
MATERIAIS E MÉTODOS
O Estado de Sergipe é considerado o menor Estado do Brasil,
ocupando uma área total de 21.915 km², e constituído por 75 municípios (IBGE,
2010). A área de atuação deste inquérito incluiu as três mesorregiões em que é
dividido o Estado: Agreste, Leste e Sertão (Figura 1), sendo que em cada uma
destas foram escolhidos os cinco municípios com maior efetivo bovino
totalizando 514.471 cabeças (IBGE, 2008).
Figura 1 – Mapa demonstrativo do Estado de Sergipe identificando as três mesoregiões utilizadas neste estudo.
Fonte:<http:/www.baixarmapas.com.br/>
O número mínimo de amostras a serem colhidas foi calculado segundo
Thrusfield (2004), com nível de confiança de 99% e erro amostral de 5%. Como
a prevalência estimada não é conhecida utilizou-se no cálculo a prevalência
esperada de 50% com o objetivo de maximizar o tamanho da amostra,
totalizando 663 amostras mínimas a serem colhidas. No entanto, em cada
propriedade visitada, foram colhidas amostras a mais como forma preventiva a
ocorrência de hemólise. Dessa maneira, no período de agosto de 2010 a
setembro de 2012, foram colhidas 780 amostras de soro bovino, provenientes de
52 propriedades, selecionadas por método não probabilístico, já que não havia
uma lista completa de propriedades rurais de todos os municípios que
possibilitasse a amostragem aleatória.
42
O tamanho da amostra para cada um dos cinco municípios com o
maior efetivo bovino pertencente a sua respectiva mesorregião foi calculado de
maneira proporcional a sua participação no rebanho total de cada mesorregião
(Tabela 1).
Tabela 1 – Número de amostras séricas a serem testadas para Leucose Enzoótica
Bovina no Estado de Sergipe (2008).
Município
Leste Sergipano
Itabaianinha
Itaporanga d'Ajuda
Estância
Capela
Boquim
Agreste Sergipano
Lagarto
Tobias Barreto
Nossa Srª das Dores
Riachão do Dantas
Aquidabã
Sertão Sergipano
Nossa Srª da Glória
Poço Redondo
Porto da Folha
Carira
Gararu
TOTAL
N. de
animais
Percentual de
participação
N. de amostras
mínimas
N. de
amostras
colhidas
28.030
25.300
24.050
17.570
16.835
5,44
4,92
4,7
3,41
3,27
37
33
32
23
22
45
45
45
30
30
65.808
52.652
41.800
33.363
31.148
12,8
10,2
8,12
6,5
6,05
85
68
54
44
41
90
75
60
45
45
42.250
38.000
36.200
34.665
26.800
514.471
8,21
7,39
7,04
6,74
5,21
100,0
55
49
47
45
35
663
60
60
60
45
45
780
Em cada uma das propriedades visitadas foram aplicados questionários
abordando aspectos gerais (sistemas de criação, tipo de exploração,
acompanhamento técnico, espécies animais, origem dos rebanhos), além de
informações referentes ao manejo nutricional, reprodutivo (origem dos
reprodutores, tipo de reprodução) e sanitário (vacinação, vermifugação, banco de
colostro, realização de quarentena), incluindo as principais enfermidades e
alterações clínicas mais frequentes no rebanho com o objetivo de caracterizar os
sistemas de criação do Estado e correlacionar os fatores de risco na ocorrência
da Leucose enzoótica bovina.
43
As amostras de sangue foram colhidas de bovinos machos e fêmeas,
com idade variando de um mês a quinze anos. Os animais foram avaliados de
acordo com a arcada dentária, na determinação da idade aproximada, quando
não havia registro sobre a data exata de nascimento do animal.
A raça a ser trabalhada nesta pesquisa foi um fator dependente de cada
propriedade visitada. Neste trabalho participaram bovinos da raça Nelore,
Girolando, Gir, Simental, Holandês e Mestiços.
Todos os animais foram avaliados clinicamente em busca de alterações
clínicas características da LEB, como o desenvolvimento da forma tumoral da
doença sendo mais comum nos linfonodos superficiais (JOHNSON; KANEENE,
1991).
Após anti-sepsia adequada com álcool iodado a 2%, amostras de
sangue foram colhidas através de venopunção da jugular, utilizando-se tubos a
vácuo, sem anticoagulante. Em seguida, as amostras ficaram em repouso para
facilitar a retração do coágulo, quando, então, foram centrifugadas a 1600 G por
10 minutos para a obtenção dos soros, que foram acondicionados em tubos tipo
eppendorf, identificados e acondicionados a -20°C até a realização do teste
sorológico.
O método sorológico utilizado para a detecção de anticorpos anti-VLB
foi o IDGA, adaptado de Miller e Van Der Maaten (1976), por meio de kits
produzidos pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), utilizando-se
ágar noble, com metodologia conduzida segundo as recomendações do
fabricante. Os poços foram perfurados com roseta metálica constituída de sete
perfuradores, sendo um poço central que é preenchido com antígeno, e seis
periféricos para alocação dos soros controle e testes.
A interpretação dos testes foi baseada na observação da formação da
linha de precipitação nítida entre o antígeno e o soro teste, classificando as
amostras em positivas ou negativas. A amostra positiva apresentou linha de
precipitação revelando continuidade com a linha formada pelo soro padrão, ao
contrário da amostra negativa em que não houve a formação da linha de
precipitação entre o soro teste e o antígeno.
44
Os testes de IDGA foram realizados no Laboratório de Viroses da
Escola de Medicina Veterinária, Universidade Federal da Bahia.
Uma análise estatística inferencial foi realizada nesse estudo. Para os
dados de freqüência foram calculados intervalos para proporção, com 95% de
confiança baseados na distribuição “t” de probabilidades. Já para as tabelas onde
ocorreram cruzamentos de dados foi realizado o teste do qui-quadrado, sempre
avaliado com 95% de confiança, calculados com o auxílio do programa
estatístico Paleontological Statistics-PAST (HAMMER et al., 2003).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através da técnica de IDGA utilizada na pesquisa
de anticorpos anti-VLB (Figura 2) demonstraram 11,92% (93/780) de animais
soro reagentes (Tabela 2) comprovando que a doença está disseminada por todo
o estado de Sergipe. Das 52 propriedades criadoras de bovinos que foram
visitadas, 57,69% (30/52) apresentaram animais soro positivos. Quanto aos
municípios avaliados, apenas dois (2/15), Poço Redondo e Gararu, não
apresentaram animais reagentes (Tabela 3).
Figura 2 – Resultado do IDGA demonstrando a formação da linha
de precipitação entre o soro
teste e o antígeno.
Fonte: SOUZA, (2008).
45
Tabela 2- Número de soros bovinos testados para Leucose Enzoótica Bovina, através da imunodifusão em gel de agarose, no Estado de Sergipe
(2012).
N° de
Municípios
N° de animais positivos Prevalência (%)
amostras
Leste Sergipano
Itabaianinha
Itaporanga D´Ajuda
Estância
Capela
Boquim
Agreste Sergipano
Lagarto
Tobias Barreto
Nossa Srª das Dores
Riachão do Dantas
Aquidabã
Sertão Sergipano
Nossa Srª da Glória
Poço Redondo
Porto da Folha
Carira
Gararu
TOTAL
45
45
45
30
30
9
1
12
7
6
20,00
2,22
26,67
23,33
20,00
90
75
60
45
45
11
12
8
7
9
12,22
16,00
13,33
15,56
20,00
60
60
60
45
45
780
4
0
6
1
0
93
6,67
0,00
10,00
2,22
0,00
11,92
Tabela 3 – Número de propriedades positivas no inquérito sorológico da Leucose
Enzoótica Bovina, no Estado de Sergipe (2012).
(Continua)
N° de
Nº de
Prevalência
Municípios
propriedades
propriedades
(%)
positivas
Leste Sergipano
Itabaianinha
3
3
100,00
Itaporanga D´Ajuda
3
1
33,33
Estância
3
3
100,00
Capela
2
2
100,00
Boquim
2
2
100,00
Agreste Sergipano
Lagarto
6
3
50,00
Tobias Barreto
5
4
80,00
Nossa Srª das Dores
4
4
100,00
Riachão do Dantas
3
2
66,67
Aquidabã
3
3
100,00
46
Tabela 3- Número de propriedades positivas no inquérito sorológico da Leucose
Enzoótica Bovina no Estado de Sergipe,(2012).
(Continuação)
Municípios
Nº de
propriedades
N° de propriedades
positivas
Prevalência (%)
Nossa Srª da Glória
Poço Redondo
Porto da Folha
Carira
Gararu
TOTAL
4
4
4
3
3
52
1
0
1
1
0
30
25,00
0,00
25,00
33,33
0,00
57,69
A soropositividade observada foi semelhante a descrita por Moraes et
al. (1996) em um grande estudo epidemiológico realizado no Rio Grande do Sul,
onde foram colhidas 39.799 amostras de soro bovino oriundas de 172
municípios, obtendo-se uma prevalência de 12,0% (3.645/39.799).
Pesquisas realizadas em outros Estados do Nordeste já evidenciaram a
ocorrência da LEB, em rebanhos bovinos, por meio das técnicas de ELISA e
IDGA, com frequências que variam de 7,5% a 53,80%, na Bahia (SARDI et al.,
2002) e Maranhão (SANTOS, 2010), respectivamente. A elevada frequência no
Maranhão (53,8%) foi associada a comercialização intensa de animais, com o
objetivo de introduzir indivíduos melhorados geneticamente nos rebanhos das
bacias leiteiras estudadas. Um elevado número de animais era proveniente de
Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas (SANTOS, 2010).
Em estudo realizado por Simões (1998) na Paraíba, com o mesmo
número de amostras utilizadas no presente estudo, a prevalência obtida foi de
8,3% (65/780) de bovinos soropositivos com aptidão leiteira, semelhante ao
presente estudo onde a prevalência foi de 11,92% (93/780).
Pesquisas em Minas Gerais, região norte do Paraná, Rio Grande do
Sul, Bahia e Piauí obtiveram resultados superiores aos obtidos neste trabalho,
com 38,7% (CAMARGOS et al., 2002), 40,7% (LEUZZI JÚNIOR et al., 2003),
23,53% (POLETTO et al., 2004) e 16,9% (SILVA, 2001) de bovinos reagentes
ao teste de IDGA, respectivamente.
Referente ao número de propriedades com animais soropositivos para
a Leucose bovina, um estudo realizado no município de Passo Fundo-RS em
47
bovinos leiteiros constatou que 92,85% (22/28) das propriedades avaliadas
apresentaram pelo menos um animal reagente (POLETTO et al., 2004), sendo
considerado um resultado superior ao obtido neste estudo que foi de 57,69%
(30/52).
Em estudo realizado na microrregião da Serra de Botucatu (MEGID et
al., 2003), apenas um município, Laranjal Paulista, apresentou propriedade
negativa, contrariando o resultado obtido em nosso estudo onde nove dos quinze
municípios do Estado de Sergipe apresentaram propriedades negativas. Em
Sergipe, dois municípios não apresentaram propriedades positivas para a LEB.
Já em estudo soroepidemiológico realizado na bacia leiteira do Estado
do Maranhão (SANTOS, 2010), todos os municípios apresentaram animais
sororeagentes através da técnica de IDGA para detectar anticorpos anti-VLB. Na
maioria dos países é o teste de eleição para levantamentos epidemiológicos da
LEB, por se tratar de um teste prático, de baixo custo e facilidade de leitura,
além de ter boa especificidade (EVERMANN; JACKSON, 1997).
Das 130 amostras coletadas dos machos, 1,02% (8/130) apresentaram
anticorpos específicos anti-VLB. Para as fêmeas, a taxa de positividade foi
superior, com 10,90% (85/650) de soro-reagentes, demonstrando haver
associação entre as características pesquisadas e soropositividade (Tabela 4).
Tabela 4- Frequência de animais soropositivos para Leucose Enzoótica Bovina,
segundo o fator sexo, no Estado de Sergipe (2012).
IDGA
Sexo
Animais Positivos
%
Total de amostras
%
Macho
8
1,02
130
16,67
Fêmea
85
10,90
650
83,33
Total
93
11,92
780
100
χ2 = 4,91; p<0,05.
No presente estudo, os resultados obtidos relacionados ao fator sexo
dos animais demonstraram haver uma diferença significativa entre a prevalência
de machos e fêmeas, contrariando os resultados de trabalhos realizados no
Paraná, Amazonas e Piauí (SPONCHIADO, 2008; CARNEIRO, et al., 2003;
Silva, 2001).
Dentre os bovinos soropositivos para LEB, a taxa de prevalência
aumentou conforme o aumento de idade dos animais, obtendo um percentual de
48
7,44% de animais reagentes acima dos 60 meses de idade (Tabela 5). Os
resultados obtidos neste estudo corroboram com os valores obtidos de pesquisas
realizadas em outros Estados do Brasil (BIRGEL et al., 1994; BIRGEL JÚNIOR
et al., 1995; MOLNAR et al., 1998; TÁVORA; BIRGEL, 1991), demonstrando
haver uma concordância entre a dinâmica dos anticorpos anti-VLB, no que se
refere a influência dos fatores etários.
Tabela 5- Frequência de bovinos soropositivos para Leucose Enzoótica Bovina,
segundo o fator faixa etária, no Estado de Sergipe (2012).
IDGA
Idade (meses)
Animais Positivos
%
Total de amostras
%
≤6
11
1,41
126
16,15
6 ┤12
2
0,26
82
10,51
12 ┤24
8
1,03
68
8,72
24 ┤36
5
0,64
69
8,85
36 ┤60
9
1,15
97
12,44
> 60
58
7,44
332
42,56
Total
93
11,93
780
100
χ2 =19,16; p˂ 0,05.
De acordo com a Tabela 5, apesar da maior prevalência ter sido
determinada nos animais com idade maior que 60 meses, pode ser observado um
resultado expressivo de animais positivos com idade ≤ 6 meses. Segundo
Romero et al. (1983), este resultado pode estar relacionado com a presença de
anticorpos anti-VLB em bezerros recém-nascidos devido a ingestão de colostro
proveniente de vacas infectadas. Outra justificativa seria o aumento de
anticorpos após os 120 dias de vida, podendo estar relacionado a um maior
período de contato com os adultos e possíveis transmissores da enfermidade
(SPONCHIADO, 2008).
Uma queda significativa relacionada aos animais soropositivos pode
ser observada na faixa etária dos seis aos 12 meses de idade, com um percentual
de 0,26%. De acordo com Barros Filho et al. (2010), esse fato ocorre devido a
influência do colostro ser mais elevada no início da vida dos animais, tornando a
prevalência maior nos indivíduos com idade inferior a seis meses.
Análises realizadas por Santos (2010) no Maranhão sobre a
distribuição da frequência de bovinos sororeagentes ao VLB relacionada a idade
dos animais estudados, revelaram uma diferença estatisticamente significativa
49
entre as faixas etárias, com animais de idade adulta apresentando o maior
percentual de positividade, sugerindo que o maior tempo de exposição ao vírus
desencadeie uma elevação na taxa de sororeagentes.
Quanto ao padrão racial houve um maior percentual de animais
soropositivos para a raça Girolando se comparada às demais raças estudadas
(Tabela 6), sugerindo que os bovinos desta raça são bastante utilizados na
exploração leiteira e como consequência estes animais permanecem por um
período prolongado no rebanho, favorecendo, desta forma, a transmissão do
VLB.
Tabela 6- Frequência de animais soropositivos para Leucose Enzoótica Bovina,
segundo a raça, no Estado de Sergipe (2012).
IDGA
Raça
Animais Positivos
%
Total de amostras
%
Nelore
4
0,51
30
3,85
Girolando
79
10,13
570
73,08
Gir
1
0,13
30
3,85
Simental
4
0,51
15
1,92
Mestiço
5
0,64
135
17,31
Total
93
11,92
780
100
χ2 =15,99; p<0,05.
Quanto à presença de sinais clínicos, dentre os animais soropositivos
(11,92%), nenhum apresentou a forma tumoral da LEB a qual é mais comum nos
linfonodos superficiais (JHONSON; KANEENE, 1991).
Quanto aos fatores de risco associados a ocorrência da Leucose
Enzoótica Bovina nos rebanhos criadores de bovinos no Estado de Sergipe,
foram avaliadas características relevantes como a origem do rebanho, sistema de
criação, tipo de exploração, acompanhamento veterinário, além das práticas de
manejo sanitário tais como reutilização de agulhas, seringas e luvas de palpação
em cada mesorregião estudada (Tabelas 7, 8 e 9).
Tabela 7- Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Agreste
Sergipano com os respectivos valores de frequência e intervalo de
confiança (2012).
(Continua)
Fatores
Frequência (%)
IC*
Acompanhamento Técnico
6,67
0,00-20,39
Reutiliza agulhas e seringas
100,00
0,00
Reutiliza luvas de palpação
53,33
25,89-80,77
50
Tabela 7- Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Agreste
Sergipano com os respectivos valores de frequência e intervalo de
confiança (2012).
(Continuação)
Fatores
Origem do rebanho
Próprio Estado
Outro Estado
Exige documentação
Sistema de criação
Extensivo
Intensivo
Semi-intensivo
Tipo Exploração
Corte
Leite
Mista
Frequência (%)
IC*
93,33
6,67
0,00
79,61-0,00
0,00-20,39
0,00
93,33
0,00
6,67
79,61 -0,00
0,00
0,00-20,39
6,25
87,50
6,25
0,00-19,08
69,97-0,00
0,00-19,08
*Intervalo com 95% de confiança
Tabela 8- Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Sertão Sergipano, com os respectivos valores de frequência e intervalo de confiança (2012).
Fatores
Frequência (%)
IC*
Acompanhamento Técnico
22,22
1,64-42,80
Reutiliza agulhas e seringas
88,89
73,33-0,00
Reutiliza luvas de palpação
5,56
0,00-16,90
Origem do rebanho
Próprio Estado
100,00
0,00
Outro Estado
0,00
0,00
Exige documentação
0,00
0,00
Sistema de criação
11,11
0,00-26,67
Extensivo
11,11
0,00-26,67
Intensivo
77,78
57,20-98,36
Semi-intensivo
Tipo Exploração
Corte
0,00
0,00
Leite
94,44
83,10-0,00
Mista
5,56
0,00-16,90
*Intervalo com 95% de confiança
51
Tabela 9- Avaliação dos fatores de risco da LEB, na mesorregião do Leste Sergipano, com os respectivos valores de frequência e intervalo de confiança (2012).
Fatores
Frequência (%)
IC*
Acompanhamento Técnico
22,22
1,64-42,80
Reutiliza agulhas e seringas
100,00
0,00
Reutiliza luvas de palpação
42,11
18,44-65,78
Origem do rebanho
Próprio Estado
84,21
66,73-0,00
Outro Estado
15,79
0,00-33,27
Exige documentação
0,00
0,00
Sistema de criação
57,89
34,22-81,56
Extensivo
0,00
0,00
Intensivo
42,11
18,44-65,78
Semi-intensivo
Tipo Exploração
Corte
15,79
0,00-33,27
Leite
78,95
59,40-98,50
Mista
5,26
0,00-15,97
*Intervalo com 95% de confiança
Neste trabalho, conforme demonstrado nas Tabelas 7, 8 e 9, é
observada uma diferença significativa na avaliação dos fatores de risco
pesquisados nas três mesorregiões do Estado de Sergipe, demonstrando a
necessidade da adoção de medidas sanitárias e de controle básicas na tentativa
de reduzir o índice de infecção e maximizar a produtividade dos rebanhos
bovinos. No entanto, quando uma comparação de cada fator de risco é realizada
entre as mesorregiões, é verificada uma semelhança entre eles.
Em estudo realizado por Sponchiado (2008), no Paraná, foi encontrada
uma prevalência elevada de reagentes ao VLB nas propriedades com manejo
semi-intensivo, diferente do resultado obtido neste trabalho, onde a maior
prevalência foi encontrada no manejo extensivo. Este fato está relacionado à
tecnificação dos rebanhos e também com a aquisição de animais de alto valor
genético que possivelmente estariam infectados com o vírus (CARVALHO et
al., 1996). Em Sergipe, com a predominância da criação extensiva, a
tecnificação dos rebanhos é baixa.
52
A reutilização de agulhas, seringas e luvas de palpação sem prévia
desinfecção são práticas bastante utilizadas nas criações bovinas, favorecendo,
dessa maneira, a disseminação da LEB dentro do rebanho. Os resultados obtidos
nesse estudo, que demonstraram a realização de tais práticas são preocupantes,
pois a reutilização destes materiais em vários animais pode ser responsável por
transmitir o vírus de animais doentes para os sadios (JOHNSON; KANEENE,
1992).
A atividade leiteira foi o tipo de exploração predominante no Estado.
Nas propriedades que adotam essa atividade, os animais permanecem no
rebanho por um período prolongado favorecendo a disseminação do VLB
(BIRGEL et al., 1994).
CONCLUSÃO
O presente estudo evidenciou a presença da Leucose Enzoótica Bovina
no Estado de Sergipe, através da técnica sorológica de IDGA. Diante dos
resultados obtidos neste inquérito soroepidemiológico é importante ressaltar a
necessidade de instituir medidas de controle e prevenção básicas objetivando a
redução de animais portadores do VLB nos rebanhos sergipanos.
AGRADECIMENTOS
Aos criadores do Estado de Sergipe que participaram desta pesquisa e
que gentilmente disponibilizaram seus animais. Ao Laboratório de Doenças
Infecciosas do Hospital Veterinário da UFBA por ceder o espaço para que os
testes de IDGA pudessem ser realizados e também pelo apoio fornecido pelos
técnicos, indispensáveis para a realização desta pesquisa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
53
BARROS FILHO, I.R.; BIRGEL JÚNIOR, E.H. Prevalência da Leucose
Enzoótica dos Bovinos em zebuínos da raça Nelore, criados no Estado de São
Paulo. Arquivo da Escola Medicina Veterinária Universidade Federal da
Bahia, Salvador, v. 17, n. 1, p. 55-56, 1994.
BARROS FILHO, I. R.; GUIMARÃES, A. K.; SPONCHIADO, D.; KRÜGER,
E. R.; WAMMES, E. V.; OLLHOFF, R. D.; DORNBUSCH, P. T.; BIONDO, A.
W. Soroprevalência de anticorpos para o vírus da leucose enzoótica em bovinos
criados na região metropolitana de Curitiba, Paraná. Arquivos do Instituto
Biológico, v.77, n.3, p.511-515, 2010.
BIRGEL, E.H.; BENESI, F.J.;D’ANGELINO, J.L.; AYRES, M.C.C.; COSTA,
J.N.; BARROS FILHO, I.R.; BIRGEL JÚNIOR, E.H. Prevalência da Leucose
Enzoótica dos Bovinos em zebuínos da raça Nelore, criados no Estado de São
Paulo. Arquivo da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal
da Bahia, Salvador, v. 17. N.1, p. 55-66, 1994.
BIRGEL, E.H.; BENESI, F.J.; D’ANGELINO, J.L.; AYRES, M.C.C.; COSTA,
J.N.; BIRGEL JÚNIOR, E. H.; D’ANGELINO, J. L.; BENESI, F. J.; BIRGEL,
E. H.. Prevalência da infecção pelo vírus da Leucose dos Bovinos em animais da
raça Jersey, criados no Estado de São Paulo. Pesquisa Veterinária Brasileira.
v. 15, n. 4, p. 93 – 99, 1995.
CAMARGOS, M.F.; MELO C.B.; LEITE, R.C.; STANCEK, D.; LOBATO,
Z.I.P.; ROCHA, M.A.; SOUZA, G.N.; REIS, J.K.P. Freqüência de
soropositividade para leucose enzoótica bovina em rebanhos de Minas Gerais.
Ciência Veterinária Tropical, v.5, n.1, p.20-26, 2002.
CARNEIRO, P.A.M.; ARAUJO, W.P.; BIRGEL, E.H.; SOUZA, K.W.
Prevalência da Infecção pelo Vírus da Leucose dos Bovinos em rebanhos
leiteiros criados no Estado do Amazonas, Brasil. Acta-Amazonica, Manaus, v.
33, n. 1, p. 111-125, 2003.
CARVALHO, L.; BENESI, F.J.; BURGEL JUNIOR, E.H.; BIRGEL, E.H.
Prevalência de anticorpos séricos de anti-vírus da Leucose dos bovinos em
animais da raça Holandesa preto e branca e zebuínos da nelore, criados no Pólo
54
Regional de Londrina, estado do Paraná. Semina: Ciências Agrárias, Londrina,
v. 17, n. 1, p. 53-57, 1996.
DIMMOCK, C.K.; CHUNG Y.S.; MACKENZIE, A.R. Factors affecting the
natural transmission of bovine leukaemia virus infection in Queensland dairy
herds. Australan Veterinary Journal, v. 68, n. 7, p. 230-233, 1991.
EVERMANN, J.F. A look at how bovine leukemia virus infection is diagnosed.
Symposium on bovine leukemia virus infection. Veterinary Medicine, n. 3, p.
272-278, 1992.
EVERMANN, J. F.; JACKSON, M. K. Laboratory diagnostic tests for retroviral
infection in dairy and beef cattle. Veterinary Clinics North America: Food
Animal Practice, Philadelphia, v. 3, n. 1, p. 87-106, 1997.
FELDMAN, W.H. Lymphosarcoma in the bovine abomasum. J. Am. Vet. Med.
Ass., v. 73, p. 206-215, 1928.
HAMMER, O.; HARPER, D.A.T. & RYAN, P.D. Paleontological StatisticsPAST. Version 1.18. http://folk.uio.no/ohammer/past
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pecuária 2008 - Rebanho
bovino. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 15/09/2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pecuária 2010 – Área
territorial. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 03/01/2013.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pecuária 2011 - Rebanho
bovino. Disponível em:<http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 03/01/2013.
JACOBSEN, K.L. Transmission of bovine leukemia virus: Prevalence of
antibodies in precolostral calves. Preventive Medicine Veterinary, n. 1, p. 265272, 1983.
JOHNSON, R.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus: Part II. Risk factors
of transmission. Compendium of Continuing Education for the Practicing
Veterinarian, v. 13, n. 4, p. 681-691, 1991.
JOHNSON, R.; KANEENE, J. B. Bovine Leukemia Virus and Enzootic Bovine
Leukosis. Veterinary Bulletin, Farnham Royal, v. 62, n. 4, p. 287-311, 1992.
LEISERING, A. Hypertrophy der Malpighischen Körpercen der milz. Berl. Vet.
Wes. Kgr., v.16, p.15-16, 1871.
55
LEUZZI JUNIOR, L.A.; GUIMARAES JUNIOR, J.S.; FREIRE, R.L.;
ALFIERI, A.F.; ALFIERI, A.A. Influência da idade e do tamanho do rebanho na
soroprevalência da Leucose Enzoótica Bovina em rebanhos produtores de leite
tipo B, na região de Londrina do estado do Paraná. Revista Brasileira de
Ciências Veterinárias, Niterói, v.10, n.2, p. 93-98, 2003.
Mapa de Sergipe- Mesorregiões. Disponível em:
http://www.baixarmapas.com.br/ Acesso em: 27/12/2012.
MEGID, J.; NOZAKI, C. N.; KURODA, R. B. S.; CRUZ, T. F.; LIMA, K. C.
Ocorrência de Leucose Enzoótica Bovina na Microrregião da Serra de Botucatu.
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 55, n.5, p.645646, 2003.
MOLNÁR, L.; MOLNÁR, E.; SANTOS, A. M.; CORÕA, A. C.; TÚRY, E.
Leucose em bovinos jovens; dados epidemiológicos. Revista Brasileira de
Medicina Veterinária, v. 20, n. 3, 1998.
MERKT, H.; GIUDICE, J. C. O.; MÜLLER, J. A. Leucose Bovina: concepção
moderna e primeira verificação da doença no Rio grande do Sul. Revista de
Escola de Agronomia e Veterinária do Rio Grande do Sul, v. 2, p. 7-19,
1959.
MILLER, J. M.; VAN DER MATTEN, M. J. Sorologic detection of Bovine
Leukemia Virus infection. Veterinary Microbiology, v. 31, p.47-55, 1976.
MILLER, J. M., VAN DER MAATEN, M. J. Use of glicoprotein antigen in the
immunodiffusion test for fovine leukemia antibodies. European Journal
Cancer, v.13, p.1369-1375, 1977.
MORAES, M. P.; WEIBLEN, R.; FLORES, E. F.; OLIVEIRA, J. C. D.;
REBELATTO, M.C.; ZANINI, M.; RABUSKE, M.; HÜBER, S.O.; PEREIRA,
N.M. Levantamento sorológico da infecção pelo vírus da Leucose Bovina nos
rebanhos do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v.26, n.2, p.257-262,
1996.
OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES. Manual of standards for
diagnostic tests and vaccines. 4.ed. Paris: OIE, 2000. Disponível Em:
<http://www.oie.int/eng/Norms/mmanual/htm>. Acesso em: 24/07/ 2010.
56
POLLETO, R.; KREUTZ, L.C.; GONZALES, J.C.; BARCELLOS, L.J.G.
Prevalência de tuberculose, brucelose e infecções víricas em bovinos leiteiros do
município de Passo Fundo, RS. Ciência Rural, Santa Maria, v.34, n.2, p. 595598, 2004.
RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, C. D.; HINCHCLIFF, K. W.
Clínica Veterinária - Um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos,
caprinos e eqüinos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 9a ed., 2002, p.940-951.
RANGEL, N. M.; MACHADO, A. V. Contribuição à oncologia comparada em
Minas Gerais. Arquivos da Escola Superior de Veterinária do Estado de
Minas Gerais, v. 1, p. 84-96, 1943.
ROMERO, C.H.; CRUZ, G.B.; ROWE,C.A. Transmission of bovine leukemia
vírus in milk. Tropical Animal Health and Production, Dordrech, v.2, p. 215218, 1983.
SANTOS, H. P. Leucose Enzoótica Bovina: estudo epidemiológico na bacia
leiteira no Estado do Maranhão e aperfeiçoamento do diagnóstico. Recife,
2010. 87p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco.
SANTOS, J. A.; PINHEIRO, P. V.; SIVA, L. J. Linfossarcoma com lesão de
língua e câmaras cardíacas em bovinos. Arquivo da Escola Fluminense de
Medicina Veterinária, v.2, p.1-8, 1959.
SARDI, S. I.; CAMPOS, G. S.; BARROS, S. L. B.; EDELWEISS, G. L.;
MARTINS, D. T. Detecção de anticorpos contra o vírus da parainfluenza bovina
tipo 3 (pi-3) e o vírus da leucose bovina (VLB) em bovinos de diferentes
municípios do Estado da Bahia, Brasil. Revista de Ciências Médicas e
Biológicas, v. 1, n. 1, p. 61-65, nov. 2002.
SCHOTTLER, F.; SCHOTTLER, H. Über ätiologie und therapie der
aleukämischen lymphadenose des rindes. Berl. Muench. Tierarztl. Wochenschr.,
v. 50, p. 497-502, 513-517, 1934.
SILVA, S. V. Leucose Enzoótica dos Bovinos. Prevalência de anticorpos
séricos anti-vírus da Leucose dos Bovinos em rebanhos cruzados –
holandês/ zebu e em animais da raça Pé-duro, criados no Estado do Piauí.
São Paulo, 2001.176p. Tese (Doutorado), Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo.
57
SIMÕES, S. V. D. Leucose Enzoótica dos Bovinos. Prevalência de anticorpos
séricos anti-vírus da Leucose dos Bovinos em rebanhos leiteiros criados no
Estado da Paraíba. São Paulo, 1998. 118p. Dissertação (Mestrado), Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo.
SORENSEN, D.K. Bovine lymphotic leukemia. Epidemiologic estudies. WHO
Conference on Comparative Study Leukemias. Philadelphia (USA), rep. 26,
1961.
SPONCHIADO, D. Prevalência de anticorpos séricos anti-Vírus da Leucose
Enzoótica Bovina em rebanhos da raça Holandesa Preta e Branca, criados
no Estado do Paraná. Curitiba: 2008. 101p. Dissertação (Mestrado em Ciências
Veterinárias) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.
TÁVORA, J. P. F.; BIRGEL, E. H. Prevalência da infecção pelo vírus da
leucose bovina em rebanhos leiteiros criados na região de Pólo Itabuna, Estado
da Bahia. Arquivo da Escola de Medicina Veterinária da Universidade
Federal da Bahia, Salvador, v.14, n.1, p.164-83, 1991.
THRUSFIELD, M. V. Epidemiologia Veterinária, São Paulo: Roca, 2ª Ed,
2004, p. 223-247.
58
CAPÍTULO 2
Caracterização Dos Sistemas De Criação De Bovinos No Estado De
Sergipe Em Inquérito Para Leucose Enzoótica Bovina
59
Caracterização Dos Sistemas De Criação De Bovinos No Estado De Sergipe Em
Inquérito Para Leucose Enzoótica Bovina
RESUMO
A caracterização dos sistemas de criação de bovinos do Estado de Sergipe em
pesquisa soroepidemiológica da Leucose Enzoótica Bovina, teve como objetivo
a investigação de características referentes ao manejo sanitário, reprodutivo e
alimentar, através da aplicação de questionários, nas 52 propriedades
pertencentes às três mesorregiões sergipanas. Das propriedades visitadas,
19,23% (10/52) utilizavam os serviços de acompanhamento veterinário, a
exploração de leite predominou em 88,46% (46/52) das criações, além de que os
sistemas de criação extensivo e semi-intensivo predominaram nos rebanhos
sergipanos. Medidas sanitárias básicas como realização de quarentena na
introdução de animais, cura do umbigo com iodo 10% e ingestão de colostro
foram observadas em
0% (0/52), 25% (13/52) e 98,08% (51/52),
respectivamente. Dentre as enfermidades mais observadas pelos criadores, as
mais citadas foram o ectoparasitismo (92,31%), a mastite (44,23%) e o
timpanismo (28,85%). Através dos resultados obtidos nesta pesquisa ficou
evidente a carência por parte dos produtores acerca de orientação sobre medidas
sanitárias básicas, demonstrando a necessidade de assistência técnica adequada,
objetivando a melhora da produtividade e o controle da disseminação de doenças
no Estado.
Palavras-chave: manejo, propriedades, rebanhos
60
Characterization Of The Systems Of Cattle Raising In The State Of Sergipe In
Survey To Enzootic Bovine Leukosis
ABSTRACT
The characterization of the cattle raising systems in the State of Sergipe in
seroepidemiological survey of Enzootic Bovine Leukosis, aimed to investigate
the characteristics related to the sanitary, reproductive and feed management,
through questionnaires at the 52 properties belonging to the three mesoregions of
Sergipe. From the properties visited, only 19.23% (10/52) used the services of
veterinary monitoring, exploitation of milk prevailed in 88.46% (46/52) of the
cattle, besides the fact that extensive and semi-intensive breeding systems
predominated in Sergipe herds. Basic sanitary measures as realization of
quarantine in the introduction of animals, healing of the navel with 10% iodine
and intake of colostrum were observed in 0% (0/52) 25% (13/52) and 98.08%
(51/52), respectively. Among the most common diseases observed by the
creators, the most cited were the ectoparasitism (92.31%), mastitis (44.23%) and
bloating (28.85%). Through the results obtained in this study it was evident the
lack of orientation about basic sanitary measures, demonstrating the need for
adequate technical assistance, aiming to improve productivity and control the
spread of diseases in the State.
Keywords: management, property, cattle raising
61
INTRODUÇÃO
O Estado de Sergipe, localizado na região Nordeste do Brasil, ocupa uma
área territorial de 21.910,3 km², equivalente a 1,4% da região Nordeste. Tem a
pecuária como economia de subsistência predominando em 60% de todo o
território, porém está associada a agricultura. A criação de bovinos é encontrada
nas regiões central e oeste em associação a lavoura de grãos, principalmente o
milho (IBGE, 2011).
Em 2008, a produção de leite do Estado correspondia a 8% do leite
produzido na região Nordeste, o que é considerado um resultado satisfatório
devido a sua reduzida extensão territorial. Um aspecto importante da pecuária
leiteira é que ela se constitui em importante fonte de renda para a agricultura
familiar (LACERDA, 2010).
A intensificação do trânsito de animais (ABREU et al., 1994) e a
ausência de políticas sanitárias favoreceram a disseminação da LEB para as
regiões Norte e Nordeste, através da aquisição de bovinos provenientes das
regiões Sul e Sudeste (GARCIA, et al., 1991). O manejo extensivo das criações
bovinas associado a reduzida tecnificação em Sergipe, parece ter uma relação
com a taxa de prevalência da LEB (11,92%).
Portanto, diante do crescimento da bovinocultura nos últimos anos, a
realização deste trabalho objetivou caracterizar a criação de bovinos presentes
no Estado de Sergipe, em inquérito soroepidemiológico da Leucose Enzoótica
Bovina.
MATERIAL E MÉTODOS
O Estado de Sergipe foi dividido em três mesorregiões (Agreste, Leste e
Sertão), onde foram escolhidos os cinco municípios de cada mesorregião com o
maior efetivo bovino. O número de propriedades visitadas foi resultante do
cálculo amostral segundo Thrusfield (2004), com nível de confiança de 99% e
erro amostral de 5%, o qual foi utilizado no estudo soroepidemiológico da LEB.
62
O número de propriedades e de amostras para cada mesorregião foi
calculado de maneira proporcional a sua participação no rebanho total do
Estado. Dessa forma, foram visitadas 52 propriedades (Tabela 1), no período de
agosto de 2010 a setembro de 2012, selecionadas por método não probabilístico,
pois não havia uma lista completa das propriedades rurais de todos os
municípios que possibilitasse a amostragem aleatória.
Tabela 1- Número de propriedades e amostras coletadas de bovinos por mesorregião do Estado de Sergipe (2012).
N◦ de propriedades
N◦ de amostras
Leste Sergipano
13
195
Agreste Sergipano
21
315
Sertão Sergipano
18
270
TOTAL
52
780
Mesorregião
Nas propriedades, quando a coleta das amostras não era autorizada pelos
proprietários, procurava-se o criador mais próximo que estivesse interessado em
participar do estudo. Em cada propriedade visitada foi aplicado um questionário
com informações sobre os manejos sanitário, reprodutivo e alimentar dos
sistemas de criação, origem do rebanho e principais enfermidades presentes,
objetivando a caracterização dos sistemas de criação em Sergipe (ANEXO 1).
Por ser um estudo observacional, foram calculados intervalos de
confiança para a proporção da população, a partir das informações colhidas nos
questionários (MARTINS, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a avaliação realizada nos questionários aplicados nas
propriedades estudadas, foi observado que 57,69% (30/52) dos proprietários
residem nas fazendas. Os pastos utilizados para soltura e alimentação dos
animais eram divididos na maioria das propriedades, objetivando o pastejo
rotacionado nos piquetes. Além disso, a existência de currais, suplementação
alimentar e fornecimento de sal mineral foram observados em uma diversidade
de estabelecimentos (Tabela 2). A maioria dos criadores suplementava seus
63
animais com farelo de trigo, milho, farelo de soja, mandioca e palma, apenas na
época de escassez de alimentos e para os animais submetidos a ordenha,
enquanto que a mineralização era efetuada de maneira inadequada com sal
comum ou era fornecido de forma inapropriada o sal mineral com indicação para
bovinos.
A alimentação dos rebanhos era baseada nas forragens cultivadas, sendo
que as pastagens observadas nas propriedades foram: Braquiária (Brachiaria
sp.), Buffel (Cenchrus ciliaris), Capim Elefante (Pennisetum purpureum), Coast
Cross (Cynodon dactylon), Pangola (Digitaria decumbens) e Tifton (Cynodon
spp.).
Nesta
pesquisa,
19,23%
(10/52)
das
propriedades
possuíam
acompanhamento veterinário, seja por serviço veterinário particular ou por
órgãos governamentais. Segundo Santos (2010), o mais importante a ser
considerado são as práticas orientadas e realizadas pelos Médicos Veterinários
responsáveis pelos rebanhos do que somente a presença ou ausência de
assistência veterinária (Tabela 2).
No Estado de Sergipe, das 52 propriedades estudadas, 61,54% (32/52)
possuíam apenas criação de bovinos, enquanto que 38,46% (20/52) criavam,
também, outras espécies animais, como ovinos, suínos, caprinos, equinos e aves
(Tabela 2).
Tabela 2- Características gerais das propriedades visitadas no Estado de Sergipe (2012).
(Continua)
Propriedades
Característica
N
%
IC* (%)
Sim
30
57,69
43,30-72,08
Mora na propriedade
Não
22
42,31
27,92-56,70
Sim
47
90,38
83,55-97,21
Divisão de pastagem
Não
5
9,62
2,79-16,45
Sim
39
75,00
64,97-85,03
Suplementação
Não
13
25,00
14,97-35,03
Sim
36
69,23
58,54-79,92
Mineralização
Não
16
30,77
20,08-41,46
Curral
Sim
49
94,23
88,83-99,63
64
Tabela 2- Características gerais das propriedades visitadas no Estado de Sergipe (2012).
(Continuação)
Propriedades
Característica
N
%
IC* (%)
Curral
Não
3
5,77
0,37-11,17
Sim
10
19,23
10,10-28,36
Acompanhamento técnico
Não
42
80,77
71,64-89,90
Sim
32
61,54
50,27-72,81
Animais criados
Não
20
38,46
27,19-49,73
*IC= Intervalo com 95% de confiança para a proporção
A identificação do rebanho não era realizada em apenas sete
propriedades (Tabela 3). A marcação individual de cada animal permitiu a sua
identificação, devido a necessidade de se identificar cada indivíduo no momento
da colheita e após a obtenção da sorologia positiva para LEB, tendo em vista a
indicação de separar os bovinos soropositivos.
Quanto ao regime de criação adotado na maioria das propriedades, não
houve diferença significativa entre os sistemas extensivo (51,92%), cuja
característica é a prática do pastejo durante o dia e retorno ao curral no final da
tarde, e semi-intensivo (44,23%) (Tabela 3). Segundo Birgel et al. (1991), a
incidência da doença é influenciada pelo manejo adotado, visto que os animais
criados de forma intensiva apresentam uma maior prevalência da LEB se
comparado aos indivíduos criados de forma extensiva. Ainda segundo Barros
Filho et al., (2010), as maiores prevalências da enfermidade e facilidade de
transmissão são representadas pelas criações com manejo intensivo.
A introdução de animais nas criações visitadas era realizada sem a
exigência de documentação sanitária no momento da compra, facilitando, dessa
forma, a disseminação de algumas enfermidades como a Leucose Enzoótica
Bovina. Apenas 28,85% (15/52) dos proprietários exigiam atestado sanitário
(Tabela 3).
No presente estudo, a maioria das propriedades amostradas possuíam
92,31% (48/52) de animais adquiridos no próprio Estado de Sergipe (Tabela 3).
65
Tabela 3- Características dos rebanhos bovinos pertencentes às 52 propriedades
visitadas no Estado de Sergipe (2012).
Propriedades
Característica
N◦
%
IC* (%)
Sim
45
86,54
78,64-94,44
Identificação do rebanho
Não
7
13,46
5,56-21,36
Corte
4
7,69
1,52-13,86
Tipo de exploração
Leite
46
88,46
81,06-95,86
Mista
2
3,85
0-8,30
Extensivo
27
51,92
40,35-63,49
Sistema de criação
Intensivo
2
3,85
0-8,30
Semi-intensivo
23
44,23
32,73-55,73
Do Estado
48
92,31
86,14-98,48
Origem dos animais
Outro Estado
4
7,69
1,52-13,86
Sim
1
1,92
0-5,10
Participa de exposições
Não
51
98,08
94,90-0
Atestado sanitário na
compra
Sim
15
28,85
18,36-39,34
de animais
Não
37
71,15
60,66-81,64
*IC= Intervalo com 95% de confiança para a proporção
No manejo reprodutivo dos bovinos, 90,38% (47/52) das propriedades
utilizam reprodutores comprados de diferentes localidades do Estado. Também
foi observado que 90,38% (47/52) das criações utilizam a monta natural na
reprodução de seus animais (Tabela 4), a qual é considerada uma via de
infecção, quando pequenas quantidades de sangue são transferidas durante a
cópula (WITHIER, 1990).
Tabela 4- Características do manejo reprodutivo registrado nas 52 propriedades
visitadas no Estado de Sergipe (2012).
Propriedades
Característica
N◦
%
IC (%)
Comprados
47 90,38 83,55-97,21
Reprodutores
Emprestados
1
1,92
0-5,10
Nascidos
4
7,69 1,52-13,86
Monta natural
47 90,38 83,55-97,21
Tipo de reprodução
Monta controlada
5
9,62 2,79-16,45
Sim
1
1,92
0-5,10
Estação de Monta
Não
51 98,08
94,90-0
*IC= Intervalo com 95% de confiança para a proporção
66
No presente estudo observou-se que nenhuma das propriedades (0%)
realizava quarentena ao adquirir bovinos, além de que 80,77% (42/52) não
realizavam a separação dos bovinos por idade/sexo, mantendo-os em um único
grupo, dentre jovens e adultos, machos e fêmeas.
Quanto ao manejo sanitário, foi observado que 96,15% (50/52)
realizavam a vacinação periódica dos rebanhos, sendo que a maior parte era
realizada contra febre aftosa e raiva. A administração de vermífugos foi
verificada em 88,46% (46/52) das criações bovinas, sendo realizada anual,
semestral ou trimestral (Tabela 5). Entretanto, as agulhas utilizadas para realizar
esses procedimentos eram reutilizadas na maioria dos estabelecimentos
visitados, sendo considerada um dos meios mais importantes da infecção
iatrogênica (ROMERO; ROWE, 1981).
Tabela 5- Características do manejo sanitário empregado nas 52 propriedades
visitadas no Estado de Sergipe (2012).
Propriedades
Característica
N◦
%
IC (%)
Sim
0
0,00
0,00
Realização de quarentena
Não
52 100,00
0,00
Sim
10 19,23
10,10-28,36
Separação dos animais
(idade/sexo)
Não
42 80,77
71,64-89,90
Sim
50 96,15
91,70-0
Vacinação
Não
2
3,85
0-8,30
Sim
46 88,46
81,06-95,86
Vermifugação
Não
6 11,54
4,14-18,94
Anual
20 38,46
27,19-49,73
Frequência de vermifugação
Semestral 18 34,62
23,60-45,64
Trimestral 8 15,38
7,02-23,74
*IC= Intervalo com 95% de confiança para a proporção
Ainda referente ao manejo sanitário, as principais enfermidades mais
relatadas foram o ectoparasitismo, a mastite e a diarréia. Os casos de
abortamento foram relatados em 12 propriedades, porém sua ocorrência não
possuía uma frequência contínua nos rebanhos (Tabela 6).
A infestação por ectoparasitas (carrapatos) foi observada em 92,31% dos
estabelecimentos (Tabela 6). O carrapato é o agente transmissor de uma das mais
67
importantes enfermidades dos bovinos, a tristeza parasitária bovina, a qual é
responsável por significativas perdas econômicas (CARVALHO, et al., 2008).
Além disso, acarreta sérios prejuízos econômicos relacionados às perdas na
produção de leite, carne e couro e atua como vetor de Anaplasma spp e Babesia
spp (CORDOVES, 1997).
A mastite bovina, enfermidade comum nos rebanhos, foi relatada por
44,23% dos proprietários, sendo mais comum nas matrizes com grau sanguíneo
mais próximo da raça Holandesa (Tabela 6). É a enfermidade que apresenta
custos mais elevados em um rebanho leiteiro (DETILLEUX, 2002), além de ser
uma doença de difícil controle e a mais importante devido às perdas econômicas
(PYORALA, 2002). Diante do resultado obtido é importante a implantação de
medidas profiláticas e práticas de higiene nos rebanhos sergipanos, objetivando a
redução desta enfermidade.
Uma outra enfermidade relatada foi a diarréia, mais comum nos bezerros,
com 30,77% de ocorrência nas criações (Tabela 6). Tal doença é considerada
uma síndrome, pois sua ocorrência está associada com a interação entre alguns
fatores como imunidade, nutrição, ambiente e infecção por microrganismos com
potencial patogênico (BENESI, 1999).
Tabela 6- Principais enfermidades e alterações clínicas mais frequentes relatadas em 52 propriedades visitadas no Estado de Sergipe (2012).
Propriedades
Alterações Frequentes
◦
N
%
IC (%)
Mastite
23
44,23 32,73-55,73
Ceratoconjuntivite
1
1,92
0-5,10
Diarréia
16
30,77 20,08-41,46
Aborto
12
23,08 13,32-32,84
Miíase
10
19,23 10,10-28,36
Emagrecimento
1
1,92
0-5,10
Ectoparasitas (carrapatos)
48
92,31 86,14-98,48
Pododermatite
7
13,46
5,56-21,36
Onfalopatias
3
5,77
0,37-11,17
Alterações neurológicas
1
1,92
0-5,10
Timpanismo
15
28,85 18,36-39,34
Papilomatose
1
1,92
0-5,10
*IC= Intervalo com 95% de confiança para a proporção
68
O manejo com os neonatos é uma prática importante pois minimiza os
riscos de infecção pela LEB e por outras enfermidades. Nas propriedades
visitadas, apenas 25% afirmaram realizar a cura do umbigo dos bezerros com a
utilização do iodo a 10%. Além disso, a ingestão do colostro é extremamente
importante para o recém-nascido, pois permite a aquisição de imunoglobulinas
necessárias a sua sobrevivência. Nesse estudo, 98,08% (51/52) afirmaram a
prática no cuidado com a ingestão do colostro e apenas 7,69% (4/52) das
propriedades mantinham um banco de colostro (Tabela 7). De acordo com
Romero et al., (1983), os bezerros que ingerem colostro proveniente de vacas
infectadas podem apresentar anticorpos contra o VLB.
Foi observado que após o nascimento, os bezerros acompanhavam suas
mães e o restante do rebanho ao pastejo, visto que 84,62% (44/52) das
propriedades não possuíam uma área/piquete destinada a essa fase de vida do
animal (Tabela 7).
Tabela 7- Características do manejo sanitário empregado aos bezerros nas 52
propriedades visitadas no Estado de Sergipe (2012).
Propriedades
Característica
N◦
%
IC (%)
Sim
13 25,00
14,97-35,03
Cura do umbigo com iodo a 10%
Não
39 75,00
64,97-85,03
Sim
51 98,08
94,90-0
Ingestão de colostro
Não
1
1,92
0-5,10
Sim
4
7,69
1,52-13,86
Banco de colostro
Não
48 92,31
86,14-98,48
Sim
8
15,38
7,02-23,74
Piquete maternidade
Não
44 84,62
76,26-92,98
*IC= Intervalo com 95% de confiança para a proporção
CONCLUSÃO
Diante dos dados avaliados nesta pesquisa, foi observado que o Estado de
Sergipe apresenta uma diversidade de sistemas produtivos, caracterizados, em
sua maioria, pelas criações extensiva e semi-intensiva dos rebanhos, com
predominância da exploração de leite, pelo manejo sanitário deficiente, quanto a
69
exigência de documentação sanitária na compra de animais e realização de
quarentena, separação dos animais por sexo/idade, assistência técnica, dentre
outras características.
AGRADECIMENTOS
Aos criadores do Estado de Sergipe que gentilmente disponibilizaram
seus animais para a realização desta pesquisa científica e tiveram paciência no
preenchimento dos questionários. Ao Centro de Desenvolvimento da Pecuária
(CDP) pela disponibilidade de alguns materiais e aos colegas que ajudaram
nesse trabalho. A CAPES, pela concessão de bolsa de mestrado, sem a qual a
realização desta pesquisa não seria possível.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, J.M.G.; ARAUJO, W. P.; BIRGEL, E. H. Prevalência de anticorpos
séricos anti- Vírus da Leucose Bovina em animais criados na Bacia Leiteira de
Fortaleza, Estado do Ceará. 1994. Arquivos da Escola de Medicina
Veterinária da Universidade Federal da Bahia, v. 17: 67-89.
BARROS FILHO, I.R.; GUIMARÃES, A.K.; SPONCHIADO, D.; KRUGER,
E.R.; WAMMES, E.V.; OLLHOFF, R.D.; DORNBUSCH, P.T.; BIONDO,
A.W. Soroprevalência de anticorpos para o vírus de Leucose enzoótica em
bovinos criados na região metropolitana de Curitiba, Paraná. Arq. Inst. Biol., São
Paulo, v.77, n.3, p.511-515, jul./set., 2010.
BENESI, F.J. Síndrome diarréia dos bezerros. Revista CRMV-SE, Vitória, 2
(3):10-13, 1999.
CARVALHO, T.D.; BORALLI, I.C.; PICCININ, A. Controle de carrapatos em
bovines. Revista Científica eletrônica de Medicina Veterinária. Ano VI, n.10,
janeiro 2008, periódicos semestral.
70
CORDOVES, C.O. Carrapato: Controle ou erradicação. Porto Alegre. Guaíba
Agropecuária,1997, 197 p.
DETILLEUX, J.C. Genetic factors affecting susceptibility of dairy cows to
udder pathogens. Veterinary Immunology and Immunopathology, Amsterdan,
v.88, n.3-4, p. 103-110, sep. 2002
GARCIA, M.; D’ANGELINO, J.L.; BIRGEL, E.H. Leucose Bovina no Brasil.
Comunicações Cientificas da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo, v.15, n.1, p.31-9, 1991.
LACERDA, R.A. A expansão da pecuária de leite em Sergipe. Jornal da
Cidade. 2010
http://cenariodesenvolvimento.blogspot.com.br/2010/08/expansao-pecuaria-deleite-em.html . Acesso em: 15/01/2013.
MARTINS, G.A. Estatística Geral e Aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
428p.
BIRGEL, E.H.; D`ANGELINO, J.L.; GARCIA, M.; BENESI, F.J.;
ZOGNO, M.A. A ocorrência da infecção causada pelo vírus da Leucose bovina
no Estado de São Paulo. Brazilian Journal Veterinary Research and Animal
Science, São Paulo, v. 28, n.1, p. 67-73, 1991.
MARTINS, V. M. V. Identificação e controle da leucose Enzoótica Bovina
(LEB) em um rebanho leiteiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 29, n. 8,
p. 1287-1292, 1994.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Pecuária 2011 - Rebanho bovino. Disponível
em:<http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 03/01/2013.
PYORALA, S. New strategies to prevent mastitis. Reproduction in Domestic
Animals, Belfast, v.37, n.4, p. 211-216, aug. 2002.
ROMERO, C.H.; CRUZ, G.B.; ROWE, C.A. Transmission of bovine leukemia
vírus in Milk. Tropical Animal Health and Production, Dordrech, v.2, p. 215218, 1983.
ROMERO, C.H.; ROWE, C.A. Enzootic bovine leukosis virus in Brazil.
Tropical Animal Health and Production, Dordrech, v.13, n.2, p. 107-111, 1981.
SANTOS, H. P. Leucose Enzoótica Bovina: estudo epidemiológico na bacia
leiteira no Estado do Maranhão e aperfeiçoamento do diagnóstico. Recife,
2010. 87p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco.
71
THRUSFIELD, M. V. Epidemiologia Veterinária, São Paulo: Roca, 2ª Ed,
2004, p. 223-247.
WHITTIER, D. Programs can rid herds of bovine leukosis. Hoard’s Dairyman,
v. 138, n. 8, p. 405, 1990.
72
CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES
O inquérito soroepidemiológico realizado no Estado de Sergipe revelou
uma baixa prevalência da Leucose Enzoótica Bovina, o que pode facilitar o
processo de controle da doença nos rebanhos sergipanos se algumas medidas de
prevenção forem adotadas de forma imediata pelos órgãos responsáveis.
A falta de conhecimento acerca da enfermidade pelos proprietários é um
dos fatores responsáveis pela disseminação da LEB nos rebanhos bovinos, além
das práticas deficientes no manejo sanitário, como por exemplo, a reutilização de
agulhas e seringas sem prévia desinfecção.
73
ANEXOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA CLÍNICA DE
RUMINANTES – CDP – EMEV - UFBA
Data:
Responsável pelo preenchimento:
Número do Cadastro:
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR:
Nome:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
Tel:
Mora na propriedade: ( ) Sim ( ) Não
Grau de instrução: ( ) Sem instrução ( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º grau Profissão:
DADOS DA PROPRIEDADE:
Nome:
Localidade:
Área total (ha):
Pastagens
cultivadas (ha):
(
)
Não
(
)
Sim. Quais?
___________________________________
OBS:
Faz divisão de pastagens? ( ) Sim ( ) Não
Suplementação:
Mineralização:
Fonte de Água:
Curral: ( ) Não ( ) Sim Tipo: ( ) chão batido ( ) ripado ( ) cimentado ( ) Outro
Cobertura: ( ) Sim ( ) Não
Acompanhamento técnico: ( ) Não ( ) Sim Freqüência:
Animais criados: ( ) ovinos ( ) caprinos ( ) bovinos ( )
74
DADOS DO REBANHO:
Identificação do rebanho: ( ) Não ( ) Sim Tipo:
Total de animais bovinos:
Tipo de Exploração: ( ) Leite ( ) Corte ( ) Pele ( ) Mista
Sistema de Criação: ( ) Intensivo ( ) Extensivo ( ) Semi-intensivo ( ) Outros
Ano de início da criação:
Origem do rebanho: ( ) Importado. País:
( ) Nacional. Estado/Cidade:
OBS:
Reprodutores: ( ) Comprados ( ) Trocados ( ) Emprestados
Tempo de permanência do reprodutor na propriedade:
OBS:
Participa de exposições: ( ) Sim ( ) Não Onde?
Exige documentos sanitários na compra de animal?
Raças:
MANEJO SANITÁRIO:
Alterações mais freqüentes:
( ) ectoparasitas (piolhos, carrapatos, bernes)
( ) artrites
( ) pododermatite (mal do casco)
( ) intolerância a exercícios
( ) diarréias
( ) emagrecimento
( ) miíase (bicheira)
( ) dispnéia
( ) ceratoconjuntivite
( ) baixa taxa de fertilidade
( ) abortamento
( ) baixo ganho de peso dos animais jovens
( ) Outras. Quais?
( ) sintomas nervosos
( ) mastite
( ) timpanismo
Vermifugação: ( ) Não ( ) Sim Freqüência:
Produto:
Alteração do princípio ativo: ( ) Não ( ) Sim
Periodicidade:
Vacinação: ( ) Não ( ) Sim Quais?
Freqüência:
Práticas utilizadas:
( ) troca de pasto após a vermifugação
( ) permanência mínima de 12 h após a vermifugação
( ) descanso das pastagens
( ) vermífuga os animais recém-chegados a propriedade
( ) área de isolamento de animais doentes
( ) casqueamento dos animais
( ) esterqueiras
( ) separa os animais jovens dos adultos
( ) quarentenário
( ) piquete maternidade
( ) reutilização de agulhas e seringas sem prévia desinfecção
( ) reutilização de luvas de palpação
( ) tem informação sobre a doença (Leucose Bovina)
( ) realização de provas de LEB nos animais adquiridos.
Realização de exames: ( ) Não ( ) Sim Quais?
Reprodução:
( ) monta natural ( ) monta controlada ( ) inseminação artificial ( ) transferência de embrião
75
Estação de monta: ( ) Não ( ) Sim Época e duração:
MANEJO DAS CRIAS:
Corte e cura de umbigo: ( ) Não ( ) Sim Produto utilizado:
Mama colostro? ( ) Não ( ) Sim
Banco de colostro? ( ) Não ( ) Sim
Aleitamento: ( ) Natural ( ) Artificial ( ) Leite de cabra ( ) Leite de vaca ( ) Outro:
OBS:
Castração: ( ) Não faz ( ) Cirúrgica ( ) Burdizzo ( ) Elastrador ( ) Outro:
Idade: ( ) 10 a 30 dias ( ) 31 a 60 dias ( ) 61 a 90 dias ( ) Mais de 90 dias
Idade de desmama:
PRODUÇÃO DE CARNE E PELE:
Vende os animais:
( ) no próprio município
( ) em outras cidades
( ) em outros estados
Vende os animais:
( ) em pé
( ) abatidos
Preço médio/Kg:
Destino dos bovinos comercializados para abate:
( ) frigorífico
( ) intermediário
( ) mercado local
Época de maior procura de bovinos para abate:
( ) início do ano
( ) meio do ano
( ) final do ano
Idade ao abate:
Peso médio ao abate:
Beneficia a pele na propriedade: ( ) Não Sim ( ) Salga ( ) Secagem ao sol ( ) Químico
Utilização da carne para consumo familiar: ( ) Não ( ) Sim
PRODUÇÃO DE LEITE:
Vende o leite:
( ) no próprio município
( ) em outras cidades
( ) em outros estados
Destino do leite comercializado:
( ) Laticínio
( ) Intermediário
( ) Mercado local
Preço médio/L:
Idade de descarte das fêmeas:
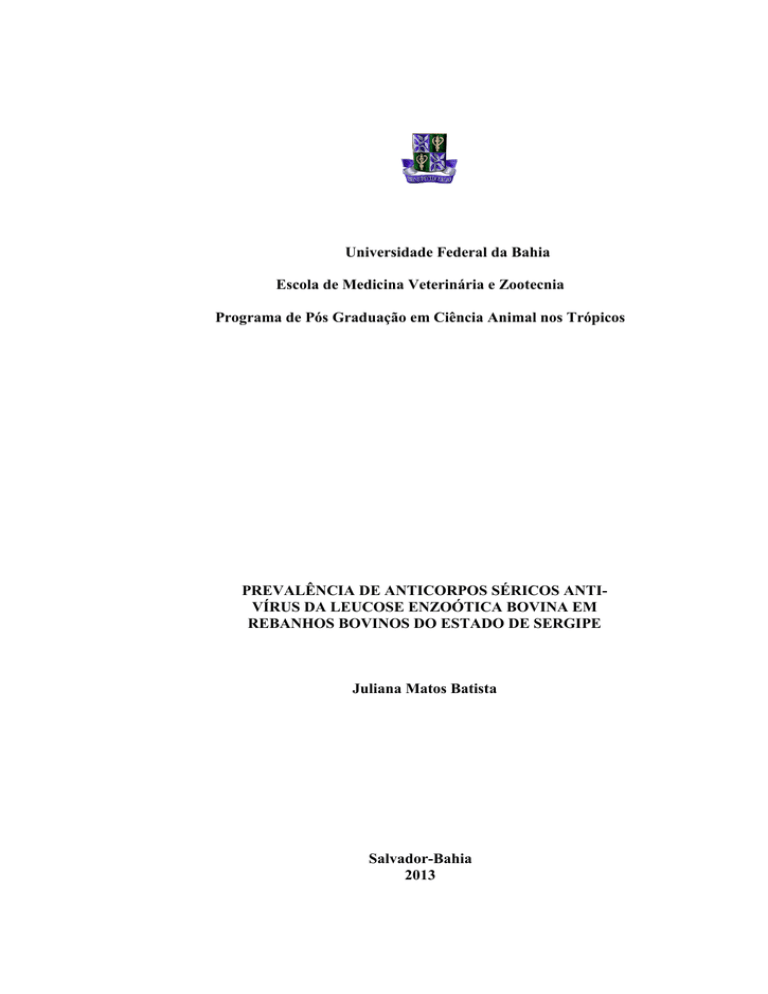
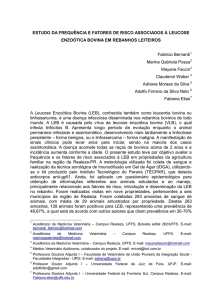
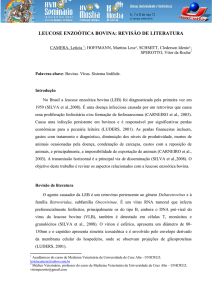

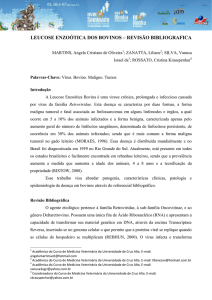
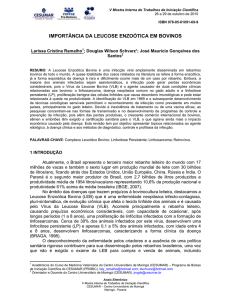
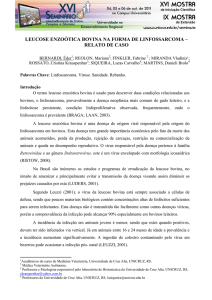
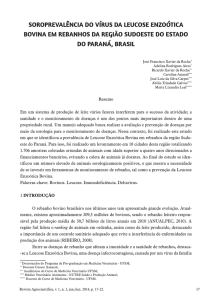
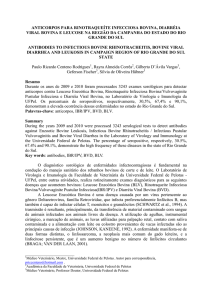
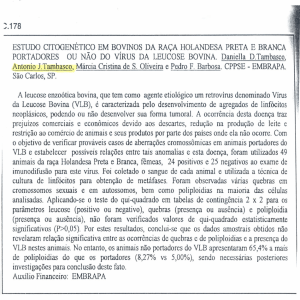

![[Escolha a data] Fábio de Castro Lana Médico Veterinário CRMV](http://s1.studylibpt.com/store/data/000120734_1-56e31963520319f2f8e39f4f3dc74d59-300x300.png)