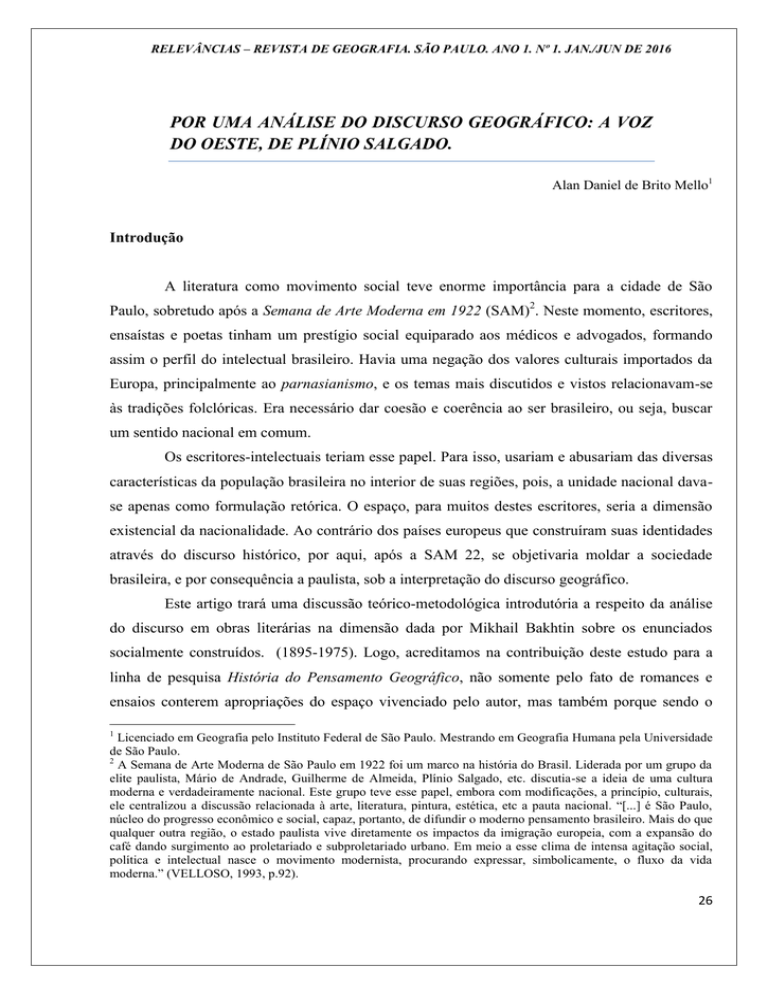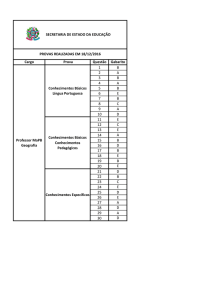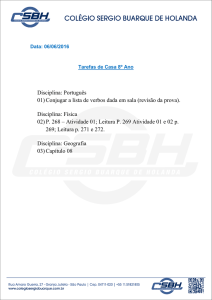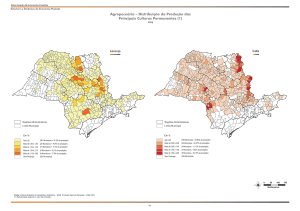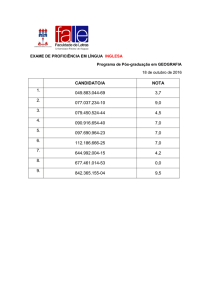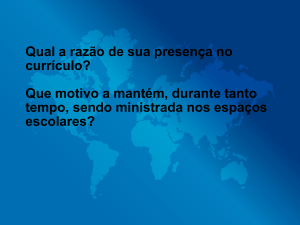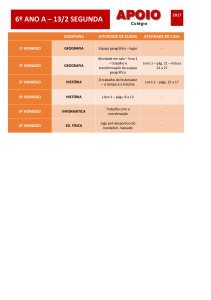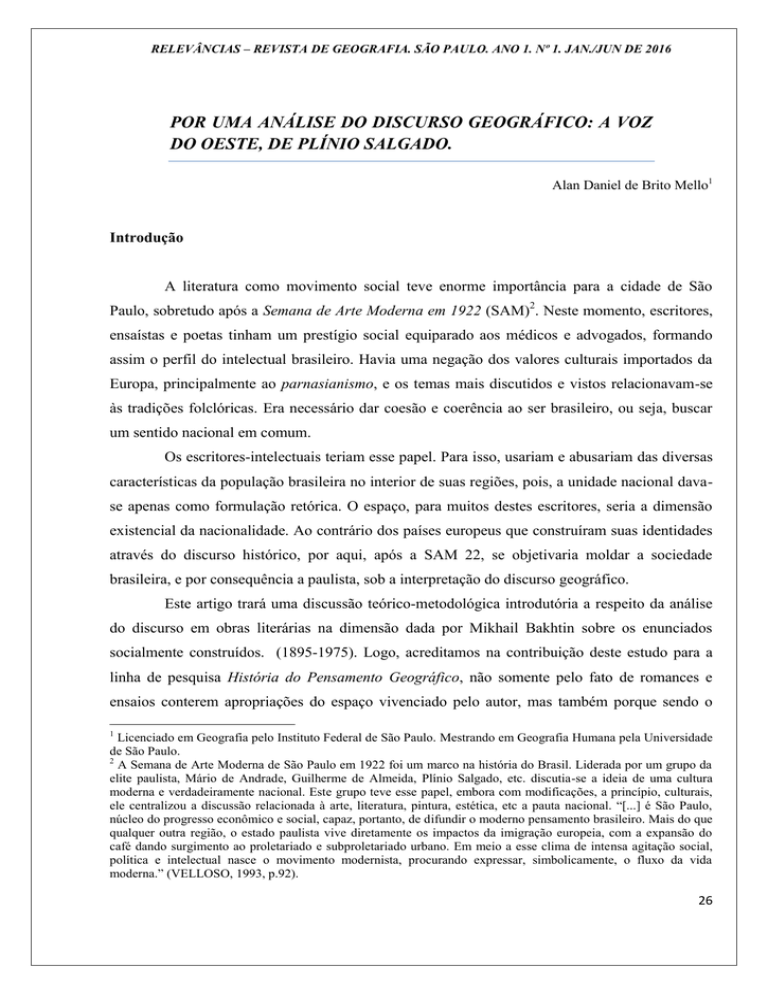
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
POR UMA ANÁLISE DO DISCURSO GEOGRÁFICO: A VOZ
DO OESTE, DE PLÍNIO SALGADO.
Alan Daniel de Brito Mello1
Introdução
A literatura como movimento social teve enorme importância para a cidade de São
Paulo, sobretudo após a Semana de Arte Moderna em 1922 (SAM)2. Neste momento, escritores,
ensaístas e poetas tinham um prestígio social equiparado aos médicos e advogados, formando
assim o perfil do intelectual brasileiro. Havia uma negação dos valores culturais importados da
Europa, principalmente ao parnasianismo, e os temas mais discutidos e vistos relacionavam-se
às tradições folclóricas. Era necessário dar coesão e coerência ao ser brasileiro, ou seja, buscar
um sentido nacional em comum.
Os escritores-intelectuais teriam esse papel. Para isso, usariam e abusariam das diversas
características da população brasileira no interior de suas regiões, pois, a unidade nacional davase apenas como formulação retórica. O espaço, para muitos destes escritores, seria a dimensão
existencial da nacionalidade. Ao contrário dos países europeus que construíram suas identidades
através do discurso histórico, por aqui, após a SAM 22, se objetivaria moldar a sociedade
brasileira, e por consequência a paulista, sob a interpretação do discurso geográfico.
Este artigo trará uma discussão teórico-metodológica introdutória a respeito da análise
do discurso em obras literárias na dimensão dada por Mikhail Bakhtin sobre os enunciados
socialmente construídos. (1895-1975). Logo, acreditamos na contribuição deste estudo para a
linha de pesquisa História do Pensamento Geográfico, não somente pelo fato de romances e
ensaios conterem apropriações do espaço vivenciado pelo autor, mas também porque sendo o
1
Licenciado em Geografia pelo Instituto Federal de São Paulo. Mestrando em Geografia Humana pela Universidade
de São Paulo.
2
A Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922 foi um marco na história do Brasil. Liderada por um grupo da
elite paulista, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Plínio Salgado, etc. discutia-se a ideia de uma cultura
moderna e verdadeiramente nacional. Este grupo teve esse papel, embora com modificações, a princípio, culturais,
ele centralizou a discussão relacionada à arte, literatura, pintura, estética, etc a pauta nacional. “[...] é São Paulo,
núcleo do progresso econômico e social, capaz, portanto, de difundir o moderno pensamento brasileiro. Mais do que
qualquer outra região, o estado paulista vive diretamente os impactos da imigração europeia, com a expansão do
café dando surgimento ao proletariado e subproletariado urbano. Em meio a esse clima de intensa agitação social,
política e intelectual nasce o movimento modernista, procurando expressar, simbolicamente, o fluxo da vida
moderna.” (VELLOSO, 1993, p.92).
26
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
livro um veículo de comunicação – principalmente no início do século XX - ele carrega um
conjunto de ideologias sobre estes espaços, na qual o escritor é sujeito e objeto da mesma ação,
do mesmo discurso.
O espaço aqui representado é o paulista. O tempo, às décadas de 1920-1930 E o grupo
social, por sua vez, é a intelectualidade conservadora paulista, na figura de Plínio Salgado. Dado
este trio metodológico, o trabalho a ser brevemente analisado é o livro A Voz do Oeste, de 1934.
De antemão, a tendência temática da obra estudada– a valorização da cultura brasileira frente aos
paradigmas de pensamento europeu– teria seu locus nos processos de regionalização do
território, mergulhados nos ideias de raça e meio. A identidade nacional, para Salgado,
necessariamente passaria pelo prisma da história de São Paulo e de sua geografia edificante3.
Tentativas de aproximação: Mikhail Bakhtin e História do pensamento geográfico
Certamente se há uma personalidade russa encantadora e enigmática em meados o
século XX, portadora de múltiplas faces e de uma inteligência ímpar, este é Mikhail Bakhtin
(1895-1975). Da filosofia da linguagem à análise aprofundada da poética de Dostoiévski, sua
influência transcendeu as áreas das ciências ditas “duras” e atingiu com forte impacto as
humanidades. Autor dos livros Problemas da poética de Dostoiévski, Estética da Criação
Verbal, Marxismo e filosofia da linguagem, etc., suas obras estão intimamente ligadas a sua vida.
Assim, podemos dividir em quatro períodos a produção intelectual de Bakhtin.
Na primeira fase, 1918, ele é levado a refletir através do neokantismo e a
fenomenologia, momento filosófico de sua obra; na segunda, 1925, concentra-se nos problemas
observados cotidianamente; a terceira caracteriza-se, a partir de 1930, pela busca epistêmica de
3
Para Nicolau Sevcenko, em seu livro Literatura como Missão, as tensões sociais na mudança do Brasil/Império
para o Brasil/República, trouxeram ao país uma necessidade de rever certas concepções sobre a cultura brasileira,
sobretudo após o crescimento exagerado do Rio de Janeiro, então Capital Federal. Seu estudo afirma que a literatura
na época não apenas absolveu parte desta tensão que estava acontecendo, mas também como estas mudanças se
transformaram na própria arte, focando seu estudo nas figuras de Lima Barreto e Euclides da Cunha. Sobre os
motivos desta nova realidade, Sevcenko diz: “A sombra desse jogo imponente de aparências e sortilégios, uma nova
realidade surda e contundente ganhava corpo de forma tumultuária. A abolição e a crise econômica cafeeira que se
lhe seguiu – a qual significou o golpe de misericórdia aplicado a grande lavoura do vale do Paraíba carioca –
desencadeou uma enorme mobilização (85.547 pessoas) da massa humana outrora presa àquela atividade e que em
boa parte iria afluir para o Rio, fundindo-se ali já com o volumoso contingente de escravos recém-libertos, que em
1872 chegaram a constituir 18% (49.939 pessoas) da população total da capital do Império. (1985, p.51). E ainda,
sobre os projetos sociais em curso de Euclides da Cunha e Lima Barreto, esclarece: “Fica igualmente acentuado o
empenho despendido pelos autores no sentido de assimilar a participação nos processos históricos em curso”.
Situação esta que reveste suas produções intelectuais de uma dupla perspectiva documental: como registro judicioso
de uma época e como projetos sociais alternativos para a sua transformação.” (1985, p. 203).
27
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
uma teoria do romance e uma poética histórica. Destaca-se neste período sua tese de doutorado
Cultura popular na idade Média e no Renascimento no contexto de François Rabelais, que foi
recusada; e a quarta e última fase, já nas décadas de 1960 e 1970, volta-se às questões
metafísicas do início da carreira, fechando assim um ciclo de intenso esforço intelectual.
Alguns conceitos criados pelo autor como dialogismo, signo ideológico e ideologia, irão
nos auxiliar na compreensão do discurso geográfico contido na obra A voz do oeste, de Salgado e
como este discurso se relacionava com os debates sobre raça e meio no Brasil.
Neste caso, a História do Pensamento Geográfico ajuda-nos a esclarecer e entender
como havia uma discussão sobre o espaço antes da institucionalização da Geografia nas
universidades do país (Universidade de São Paulo, 1934; Universidade do Distrito Federal,
1935). O espaço era um receptor de discursos pertencentes a um grupo específico da sociedade
brasileira, cuja dimensão compreensiva só era possível a partir do regional e local. Moraes
(1991, p.32) define que o pensamento geográfico,
[...] entende-se um conjunto de discursos a respeito do espaço que substantivam
as concepções que uma dada sociedade, num momento determinado, possui
acerca de seu meio (desde local ao planetário) e das relações com ele
estabelecidas. Trata-se de um acervo histórico e socialmente produzido, uma
fatia da substancia da formação cultural de um povo. Neste entendimento, os
temas geográficos distribuem-se pelos variados quadrantes do universo da
cultura. Eles emergem em diferentes contextos discursivos, na imprensa,
literatura, no pensamento político, na ensaística, na pesquisa científica, etc. Em
meio a estas múltiplas manifestações vão sedimentando-se certas visões,
difundindo-se certos valores. Enfim, vai sendo gestado um senso comum a
respeito do espaço. (itálico nosso)
O pensamento geográfico precede a ciência geográfica, assim como o discurso literário
precede o científico. Em suas múltiplas esferas, a história de nossa disciplina também pode ser
vista em romances, poesias ou ensaios que se seguiram após a SAM 22, especialmente quando
consideramos a temática sociedade e espaço..
A representação espacial no interior da literatura não é novidade. No entanto, as
condições históricas e sociais dentro das quais essa representação é construída, somada aos
conflitos ideológicos e discursivos pertencentes a um grupo social específico, levam-nos às
seguintes perguntas: o que exatamente o livro produzido naquela época quis dizer? Será possível
analisar um produto cultural de forma tão objetiva?
Moraes (1991) explica que o espaço é o resultado da ação humana sobre a superfície
terrestre, localizado dentro de um contexto social e histórico e possui, através de uma
28
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
delimitação normativa, características de representação que transcendem o campo da ciência
geográfica. Logo, buscar alternativas documentais e metodológicas para explicar o
desenvolvimento da Geografia exige certa flexibilidade do pesquisador em caminhar por estradas
desconhecidas.
Entendemos a importância da literatura na reconstrução do pensamento geográfico
devido ao seu poder de síntese, pois, as formas de enunciação de uma obra literária remetem-se a
um conjunto de signos socialmente construídos. Assim, “o signo não pode ser separado da
situação social sem ser alterada sua natureza semiótica” (BAKHTIN, 2014, p.68). Em resumo o
signo é uma contraposição de uma imagem com um conceito. Embora os discursos,
aparentemente, possuam uma ação individual, em que o sujeito toma para si a responsabilidade
de produzi-lo, sua origem é social, porque os signos criam os enunciados, os enunciados criam as
ideologias, as ideologias os discursos e os discursos necessitam de um veículo que os divulguem,
neste caso, a obra literária. Cada discurso deve ser entendido dentro de sua relatividade histórica
e cultural e há a necessidade de não separar o produtor do que foi produzido no contexto de sua
produção (MORAES, 1991, p.21).
No percurso da obra estudada, o espaço será a essência do enredo, mostrando-nos as
diretrizes psíquicas dos personagens. A representação deste espaço se traduz anacronicamente
em signos ideológicos, em que a tendência dominante perpassa no diálogo entre o enunciador
(quem escreve o enunciado) e o enunciatário (a quem o enunciado se dirige), fazendo-nos
mergulhar no discurso intratextual. Se “A enunciação, compreendida como uma réplica do
diálogo social [...], trata-se do discurso interior, (diálogo consigo mesmo) ou exterior”. Ela é de
natureza social, portanto ideológica. (YAGUELLO, 2014, p.15). E Bakhtin (2014, p.101)
completa esta explicação:
Toda a enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a
alguma coisa, e é construída como tal. [...] uma inscrição constitui uma parte
inalienável da ciência ou da literatura ou da vida política. Uma inscrição sendo
toda a enunciação monológica, é produzida para ser compreendida, é orientada
para uma leitura no contexto da vida cientifica ou da realidade literária [...].
O livro é uma construção social e, por isso, sujeito a tendências estéticas e temáticas 4. A
capacidade de pensar estrutura-se no decorrer da existência, mediante contatos intercalados entre
4
“Assim, as formas de uma enunciação literária, de uma obra literária, só podem ser apreendidas na unicidade da
vida literária, em conexão permanente com outras espécies de formas literárias. Se encerrarmos a obra na unicidade
29
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
o mundo exterior e interior do indivíduo. A percepção do mundo tem seu fluxo histórico, no qual
“os conceitos, os significados, a própria linguagem são produtos sociais” (MORAES, 1991,
p.17). Enquanto modo de agir pelo espaço, arquitetam-se formas distintas de reprodução da vida
dos grupos humanos. No entanto, o conhecimento espacial e suas conexões com a cultura
produzida nas relações interpessoais, codificam as reais intenções de quem toma para si a
responsabilidade de interpretar a realidade cotidiana.
A palavra e o pensamento não existem fora da sua orientação social, e tudo que é
ideológico também tem um signo correspondente. Esmiuçar o pensamento geográfico em seu
significado e significante, nos termos saussurianos, cujas projeções científicas sobre sua natureza
conduzem apenas a uma parte do entendimento, provoca-nos ressalvas imensas que não
caberiam explicá-las em apenas um artigo, quiçá uma vida seria o suficiente.
Assim, o material literário é um valioso recurso documental a ser estudado, porque
incorpora não apenas o fato, mas também a possibilidade imaginativa que o autor desse material
quis esboçar a respeito desse fato. Esse autor está dentro de um movimento de mudanças e,
mesmo como consciência individual, ele é um produto socioideológico, ou seja, “a literatura fala
sobre a história que não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, sobre os planos que
não se concretizaram” (SEVCENKO, 1985, p.21).
O gênero literário a ser analisado aqui é um romance quase épico, comumente usado
pela geografia. Para caminhar sobre estradas tão incertas, Bakhtin (2014; 2011; 2015) fornecenos três etapas metodológicas: 1-) não separar a ideologia da realidade material do signo; 2-) não
dissociar o signo das formas concretas da comunicação social; 3-) não dissociar a comunicação
de suas formas materiais [infraestrutura]. Após este direcionamento, tentaremos analisar a obra
de Salgado como materialização discursiva e, frente ao diálogo com o leitor, pescaremos o que
há de geográfico no folhear de suas páginas.
Vida e Obra: Plínio Salgado
Reescrever uma síntese biográfica é um trabalho perigoso. Não apenas pelo fato do
referido autor ser um personagem polêmico e controverso, mas, sobretudo, pelas informações a
seu respeito estarem soltas no ar. Livros, sites, cronologias em romances, inúmeras fontes
da língua como sistema, se a estudarmos como um momento linguístico destruiríamos o acesso as suas formas da
literatura como um todo.” (BAKHTIN, 2014, p.108).
30
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
primárias guardadas em arquivos espalhados pelo Brasil, tornam ainda mais difícil o trabalho do
pesquisador.
Ora, como o objetivo do capítulo não é fazer uma análise aprofundada da vida pessoal
de Plinio Salgado, e sim situá-lo como sujeito dentro de um contexto histórico - produtor e
receptor de discursos-, utilizaremos como material principal os arquivos do Centro de Pesquisa e
Documentação da História Contemporânea do Brasil (CPDOC) 5, vinculado à Escola de Ciências
Sociais da Fundação Getúlio Vargas; um ensaio do próprio autor intitulado O Ritmo da
História6·; e a obra do historiador Alfredo Bosi, História Concisa da Literatura Brasileira7·,
com o propósito de fornecer maior segurança às informações abaixo.
O paulista Plínio Salgado nasceu em 22 de janeiro de 1895 na cidade de São Bento do
Sabucaí, estado de São Paulo, e faleceu em sete de dezembro de 1975 em São Paulo, sendo
enterrado no cemitério do Morumbi. Filho do Farmacêutico Francisco das Chagas Esteves
Salgado e da professora Ana Francisca Rennó Cortez, ouvia do seu pai histórias heroicas em
torno da formação do Brasil, sua primeira influência intelectual. Estudante do Ginásio São José,
em Pouso Alegre (Minas Gerais), em 1911, com 16 anos, retorna à cidade natal para cuidar de
sua mãe e seus quatro irmãos, pois, seu pai tinha acabado de falecer.
Em 1918 cria o Partido Municipalista, cujo conteúdo político, nas palavras do próprio
Salgado, era “combater a ditadura do governo estadual”. Esse partido, que possuía alguns líderes
municipais de pequena expressão do Vale do Paraíba, desenvolve diversas atividades
relacionadas ao contexto cultural e social da cidade de São Bento do Sapucaí, como: criação de
um grupo teatral, apresentação de várias palestras e seminários sobre o quadro político da cidade,
lança o semanário Correio de São Bento, todas essas atividades lideradas por Salgado. Ainda
nessa época, casa-se com Maria Amélia Pereira que, menos de um ano depois, vem a falecer de
maneira súbita, deixando-lhe uma filha com menos de 15 dias de vida. Após esse período,
dedica-se à leitura dos pensadores católicos Raimundo Farias Britto e Jackson de Figueiredo.
Cerca de um ano depois, muda-se para São Paulo e inicia seu trabalho como redator no
Correio Paulistano, órgão oficial do Partido Republicano Paulista (PRP). Conhece o então
redator-chefe Menotti Del Picchia e, rapidamente, constroem uma amizade sólida. Sua teia social
se ampliaria, tendo contato direto com inúmeras personalidades políticas e intelectuais, os quais
se tornariam seus tutores.
5
Disponível em <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/plinio_salgado> Acesso em: 21/11/2015
SALGADO, Plínio. O Ritmo da História. 3ºedição. São Paulo: Voz do Oeste. 1978.
7
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 4ºedição. São Paulo: Cultrix. 2006
6
31
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
São Paulo, no início de 1920, passava por profundas modificações estruturais (política,
cultural e social), momento em que Plínio Salgado dedica-se às atividades literárias, adquirindo
certo renome como escritor, embora tenha participado discretamente da Semana de Arte
Moderna de 1922. Após o discurso nacional criado a partir desse evento histórico, e de suas
leituras de autores estrangeiros como Apollinaire, Max Jacob e Cendrars, ele cria um estilo de
prosa próprio que, nas palavras de Bosi (2006, p.296), “costuma-se distinguir um primeiro
momento de interesse pela nova ficção e pela literatura [ex. o romance O Estrangeiro, de prosa
solta e expressionista], da carreira ideológica e política que se lhe seguiu”.
Após cinco anos, deixa o Correio Paulistano e emprega-se no escritório de advocacia
de Alfredo Egídio de Souza Aranha, com quem manteve vínculos durante grande parte da sua
vida. Em 1926 lança o livro O Estrangeiro que teve boa aceitação nos meios modernistas. No
mesmo ano alinha-se ao movimento Verde-Amarelo, com a participação de Cassiano Ricardo,
Menotti del Picchia e Cândido Mota Filho. No ano seguinte, agora com Picchia e Ricardo, lança
o movimento da Anta, que enaltece o indígena, sobretudo o Tupi, como portador das
características nacionais. A esse último item, destaca-se “[...] a xenofobia do manifesto da Anta
não estava infenso aos ideais que selariam o homem público na década de 30.” (Ibidem, p.296297), portanto, cristaliza-se no pensamento de Salgado uma ideologia fortemente antiliberal e
agrarista, inspirado em Alberto Torres e Oliveira Viana.
Como personalidade em ascensão, Salgado é convidado pelo então presidente Júlio
Prestes a candidatar-se a deputado estadual pelo PRP: é eleito com uma quantidade substancial
de votos. Em 1930 viaja a Europa e parte do Oriente Médio, observando as transformações
política que ocorriam na Turquia, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Regressa ao país em
quatro de outubro daquele mesmo ano, um dia após a revolução que derrubaria Washington Luís,
e escreve dois artigos no Correio Paulistano defendendo o candidato. No entanto, ao perceber o
fortalecimento do governo de Getúlio Vargas (1930-1945), o apoia, a princípio, em seus planos
de modernização do Brasil.
Plínio escreve vários artigos sobre doutrinação política e análise da situação brasileira
frente a outras nações do mundo, especialmente as europeias; artigos estes publicados no recémcriado jornal A Razão em 1931. Em 1932 funda a Sociedade de Estudos Políticos (SEP), cujos
integrantes são simpáticos ao fascismo, e lança o Manifesto de Outubro, no qual formula as
bases ideológicas de uma nova agremiação política: a Ação Integralista Brasileira (AIB). Para
muitos, inspirada no fascismo italiano, esta nova agremiação tinha como símbolo a letra grega
32
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
sigma (∑), a expressão indígena de saudação Anauê e uniformes verdes, características que
expressavam seu direcionamento militar e autoritário. O I Congresso da AIB ocorre em Vitória
(ES) dois anos depois, e Plinio Salgado é titulado “Chefe Nacional” do partido.
Após a Intentona Comunista no quartel da praia vermelha (RJ) no ano de 1935, ocasião
que foram assassinados muitos oficiais do Exército Brasileiro, Salgado decide fortalecer ainda
mais seu partido. Ele se casa novamente em 1936, com Carmela Patti, integrante de uma família
tradicional em Taquaritinga (SP), não havendo filhos dessa união.
Nos anos que se prosseguiram, a AIB fortalece-se significativamente, promovendo
numerosas manifestações em todo o Brasil. Momento propício usado por Plínio, que lança sua
candidatura à presidência da república em 1937, concorrendo com José Américo de Almeida e
Armando de Salles de Oliveira. Ele logo percebe que Getúlio Vargas não irá sair do poder e
apoia os planos do presidente, acreditando que o Integralismo seria a base ideológica desse novo
regime autoritário. No entanto, houve o fechamento de todas as organizações políticas do país,
inclusive a AIB e nesse contexto emerge o Estado Novo.
Assim, afloram-se, algum tempo depois, “revoltas” denominadas integralistas - contra
os planos de Vargas- os quais se destacam os de março e maio do ano de 1937, ambos
fracassados. Finalmente em 1939 ele é preso e mandado para Portugal, onde permanece por mais
de seis anos. Durante esse período, procura restabelecer contato com o governo de Vargas, mas
não tem sucesso.
Em 1945, voltou ao país após a deposição de Getúlio Vargas, reformula as bases do
pensamento integralista e funda o Partido de Representação Popular [PRP] (partido extinto,
juntamente com todos os outros organismos políticos em 1964). Na década procedente, nos anos
de 1952-1953, cria a Confederação de Centros Culturais da Juventude, inicialmente composta
por dezenove entidades de jovens de todo o Brasil e funda o semanário A Marcha em que foi
colaborador até o encerramento de suas atividades.
Candidata-se a presidência da república em 1955, obtendo 714.000 votos (8% do total).
Embora com uma votação expressiva, perde a eleição para o candidato Juscelino Kubitscheck,
apoiando-o de imediato. Em 1958, foi eleito deputado federal pelo estado do Paraná, reelegendose em 1962 por São Paulo.
Por fim, segundo o CPDOC-FGV, em 1964, Plínio Salgado lidera a Marcha da Família
com Deus pela Liberdade, em São Paulo, passeata que demonstrava clara insatisfação com o
presidente João Goulart. Apoia o golpe militar daquele ano e ingressa na Aliança Renovadora
33
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
Nacional (Arena), frente partidária criada para auxiliar na sustentação ao novo regime. Por essa
legenda obtém mais dois mandatos na Câmara Federal, em 1966 e 1970. Morre em São Paulo,
em 1975.
A Voz do Oeste: apenas uma história?
Considerado um romance de ficção histórica da figura do bandeirante paulista, A voz o
oeste, de Plínio Salgado, supostamente se passaria na região do planalto do Piratininga no final
do século XVI. Seu enredo compactua-se em torno dos personagens e nos diálogos assentados na
criação da paisagem na Vila de São Paulo. Conta a história de Martinho (filho de uma índia tupi
com o senhor de engenho Simões Cubas) e Gonçalo Eanes (aventureiro que vai até São Paulo).
Narra que ao chegar a Vila de São Paulo do Piratininga, Gonçalo Eanes se depararia com uma
pequena sociedade paulista conservadora, porém, muito receptiva ao estrangeiro. O paulista, na
visão do personagem, era educado e de semblante viril, chamado de “senhor da terra”.
Na história do livro, São Paulo localiza-se em um pedaço de solo fértil, localizado entre
os alicerces da igreja de São Bento e o pátio do colégio da companhia de Jesus, aos arredores do
Tamanduateí. Eanes apaixona-se por Violante Nunes, que estava cantando em frente a uma casa
de taipa. A tensão entre o casal do romance, onde se discorrerá o núcleo principal, acontece
porque a personagem Violante Nunes já é casada. Ela lhe conta que está apaixonada por
Martinho, de origem mameluca. Outro personagem que se destaca é Antônio, avô de Martinho,
chefe dos bugres e mestiços de ascendência tupi. Segundo o romance, Antônio foi o primeiro a
caminhar em direção ao sertão, casando-se com uma índia. Em construções simbólicas, várias
passagens do livro referem-se a miscigenação como fator de fortalecimento da raça.
Dois personagens entram no diálogo do romance, Ruy Moreira e Nicolau Barreto. O
primeiro é um jovem judeu que toda semana traria da planície mercadorias e alimentos para
negociar; já o segundo, de características militares, é o chefe-comandante da bandeira,
movimento organizado que penetrava a oeste do país. Nicolau Barreto convenceria Gonçalo
Eanes a segui-lo para uma viagem no interior do continente rumo às minas de ouro de Potosí.
Ora, as narrações fantásticas da geografia brasileira durante muito tempo nortearam o
imaginário coletivo dos colonos que se debruçariam em busca de outro e prata (HOLANDA,
1994, p.66). A aura mística e selvagem do Brasil proporcionaria a esses colonos adjetivos de
34
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
região anacrônica, onde o divino e o profano caminham de mãos dadas, perspectivas observadas
neste romance.
Personagem menor, todavia com ponto de vista diferente, despertando uma reflexão
moral, Escudeiro (dono da taverna) é contra a bandeira que está se formando em São Paulo do
Piratininga, pois, “os moços jovens estão desnorteados”.
Outro elemento entra na história de maneira súbita, Manuel Gouveia, foragido político
que esteve no Haiti a procura de pedras preciosas e Ceilão atrás de bons negócios. É enviado a
São Paulo como castigo pelos crimes cometidos em Portugal, como agressão a um policial da
coroa e um caso amoroso com a condessa. Quando chega à vila, apaixona-se por Suzana, esposa
de João Leiró.
Com os personagens citados acima, a trama deflagra-se, sobretudo, pelo desejo pulsante
de riqueza. No entanto, o indígena é usado no encadeamento romanesco como componente
miscigenado ao branco europeu. Será recorrente o uso desta ideia sincrética, porque ela traria
uma condição favorável à criação da nova raça. Na medida em que a bandeira adianta-se a oeste,
um rastro civilizacional ganharia importância. Sob o signo do aventureiro e do herói, os
personagens carregariam funções e idiossincrasias estruturantes. Ruy Moreira, o judeu, é o único
que possuiria uma relação constante com a planície e, sendo o mais ganancioso, é o sabotador da
bandeira.
Plínio Salgado e Geografia Edificante
Interessante notarmos os momentos em que o narrador do romance aproxima-se do
autor, numa clara interferência semiótica na consciência dos personagens. “quando o
personagem e o autor coincidem ou estão lado a lado diante de um valor comum, ou frente a
frente como inimigos, termina o acontecimento estético e inicia a acontecimento ético”
(BAKHTIN, 2011, p.20). Neste caso, a opinião do autor se sobrepõe a da consciência ficcional
do romance, assemelhando-se aos gêneros literários de discurso acusatório, panfletário ou
manifesto. Esta problemática evidencia-se no trecho em que Salgado projeta sua visão de mundo
na voz do narrador.
35
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
[...] a opinião geral dos historiadores é a de que em Piratininga ninguém se
preocupava com os negócios do Reino. Afirmam os estudiosos que a serra
isolava os paulistas do mundo. Os próprios fidalgos portugueses, dizem os
narradores, jamais se incomodaram com os destinos da mãe pátria. Nenhum
sentimento político, mesmo o de apego à pequena terra de Piratininga, animava
o coração dos sertanistas (1937, p.111-112).
A condição geográfica de São Paulo era essencial para a tese de Salgado, pois, o
isolamento proporcionado pela serra do mar, como visto no excerto acima, daria ao paulista uma
aura pura e romantizada. Tal inflexão iria sustentar por muito tempo a dicotomia espacial entre o
litoral corrompido (mundo) e ausente de sentido pátrio em contraposição ao interior idealizado e
substanciado no personagem tipificado do sertanejo.
Enquanto isso, na década de 1930, inúmeros intelectuais baseavam-se em teorias
advindas do continente Europeu. Teorias estas que encontravam aqui no Brasil um solo fértil
para seu desenvolvimento, embora fossem, por necessidade, adaptadas ao nosso meio físico
peculiar. Machado (2012, p.310) explana que,
De modo geral, as ideologias científicas como o darwinismo social, o
positivismo e o neolamarckismo, que se difundiram na Europa, em primeiro
lugar e, a partir dela, as áreas de sua influência, estavam articuladas pela ideia
de mudança ou evolução. No Brasil, os debates também se deram em torno da
ideia de mudança, veiculando, através do argumento pseudo-científico,
julgamentos morais sobre o território[...].
O território como apropriação do espaço, apoiado numa instituição metafísica superior,
o Estado, fornece-nos subsídios para a compreensão da complexidade do período aqui estudado.
Ora, o pensamento geográfico esteve presente nos debates acerca da adaptação do indivíduo
frente às condições físico-naturais e, como sequência lógica, também participou dos temas
raciais e seu corolário na população brasileira. Conquanto discutir-se-ia os regionalismos e o
resgate do folclore na literatura, a ciência ganhava cada vez mais força, mesclando-se como novo
componente no já confuso pensamento social brasileiro.
Em outra parte do romance, Salgado (1937) faz uma crítica e uma definição a respeito
da nação tupi, dizendo “A profunda psicologia do índio brasileiro não foi desvendada pelos que a
estudaram. O indianismo de Gonçalves Dias e Alencar respondeu a um instante político em que
se procuravam formas de expressão nacional [...].” (p.60), e, logo após a crítica, define que:
36
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
O instinto do índio, virginal e puro, interpretava ingenuamente o sentido
cósmico das raças. Hoje criamos toda uma filosofia da história e uma política
racial sobre essas palavras que parecem obscuras por se originarem diretamente
do sub-inconsciente raso do selvagem (p.62)
Logo, Salgado refere-se ao índio de Gonçalves Dias (primeira fase do romantismo
brasileiro) como um selvagem de estrutura rasa. Tal crítica remonta as bases defendidas pelos
modernistas em 22, que negavam o passado e todo seu modelo estético. O índio, para o autor, era
organizado enquanto representação da nação tupi, potencializando-se ao primeiro contato com o
bandeirante paulista. Este, por sua vez, definia-se como “[...] a gente que nascera junto ao Vale
do Anhembi – nome primitivo do tiete – perlustraria para sempre as terras do novo mundo. Seu
destino seria conquistar continentes. Seu destino seria construir uma grande nação” (ibidem,
p.81).
Haveria quase uma função social no quadro desenhado por Plínio. A ideia mais simples
era a de que existiam duas categorias de brasileiros: os do norte e os do sul. Cada subcategoria,
então, possuiria uma função específica na unidade nacional. Enquanto as populações do norte
teriam o papel de defender o litoral das possíveis invasões pelo leste, os do sul (bandeirantes)
ficariam encarregados de ampliar o poder da nação conquistando novos territórios. Esta
concepção pode ser vista na fala do personagem Nicolau Barreto que, ao iniciar uma bandeira,
ruma às minas de ouro de Potosi, discursa: “precisamos de todos na manutenção da unidade
nacional. Os do norte devem proteger nossa planície da invasão dos gananciosos para que nós, os
do sul, conquistemos novos territórios.” (SALGADO, 1937, p.98).
Cristaliza-se uma regionalização fundamentada em aspectos a-históricos, como
supostamente o líder do integralismo defendera. O fator de divisão é o geográfico, norteando as
funções ontológicas pré-definidas dos grupos. Salgado, como se sabe, nega o materialismo
liberal no início do século XX em função da metafísica do espírito, como aponta a tese de
Gonçalves (2012), asseverando-nos a heterogeneidade do pensamento evolutivo de Salgado
frente à interferência da ideologia católica no começo do século XX. O historiador investiga a
trajetória do líder do Integralismo no tocante as suas várias dimensões: matrizes discursivas,
apropriações de elementos religiosos e, sobretudo, os componentes lusitanos conservadores
presentes nas obras do autor.
A construção simbólica era uma arma poderosa para se ideologizar a suposta
superioridade paulista, porque criaria condições discursivas para a manipulação da identidade
nacional (VELLOSO, 1993). O movimento cultural de 22, a princípio, até parecia coeso e
37
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
homogêneo. No entanto, após os primeiros anos de furor, Salgado se deslocaria das propostas
temáticas iniciais do grupo e, em contraposição, por exemplo, a Mario de Andrade e Oswald de
Andrade, mormente após o lançamento do Manifesto Pau-Brasil, criaria junto com Cassiano
Ricardo e Menotti del Picchia, o grupo verde-amarelo (1926), com atributos, segundo Bosi
(2006,p.366), aos apelos míticos do herói envolto na relação orgânica com a “Terra, o Sangue e a
Raça”. É a batalha estética entre o herói bandeirante de Salgado contra o anti-herói macunaímico
de Mário de Andrade.
Para os integrantes do núcleo verde-amarelo8o que estaria em questão eram as tradições
regionais, sempre ameaçadas pelo “estrangeiro”, por isso, amiúde, apregoavam a defesa do
espírito nacional. O ritmo da terra e a historia seriam locais, maneira esta imprescindível para
delimitar as fronteiras e a cultura. O brasileiro não deveria cultuar o universalismo (abstrato),
mas sim o localismo.
Na ponta inversamente proporcional a essa teoria, Mario de Andrade acreditava em um
país homogêneo, no qual as fronteiras não passariam de mera construção intelectual. Logo, notase em seu personagem principal, Macunaíma, adjetivos de rebeldia e nomadismo. Rebelde pela
mutação que sofre ao longo da história, não se adaptando a nenhum lugar, e nômade devido ao
seu espírito andarilho, onde caminharia livremente pelos espaços brasileiros. Para a vertente
política literária mais conservadora de São Paulo, a qual Salgado fazia parte, o fator geográfico
seria uma condição essencial para a construção identitária do paulista.
Plínio Salgado, na qualidade de intelectual atuante, vale-se de construções ideológicas
através do signo refratário da superioridade paulista. A consciência de classe, a partir do diálogo
com outras vertentes, criaria em seu discurso a defesa dos patrões culturais sulistas como
mecanismos estruturantes da sociedade. Só é possível entender esse emaranhado ideológico e
discursivo na consciência de cada época, pois, precisaríamos encontrar seu valor semiótico, “a
história das palavras e dos signos é um indicador precioso dos limites da consciência da época”
(MORAES, 1991, p.18).
8
“Para o grupo verde-amarelo, as demais correntes modernistas cometem um erro fundamental: encaram o
regionalismo como motivo de vergonha e de atraso. Isto acontece, segundo postos de vista, porque esses intelectuais
teimam em ver o Brasil ‘com olhos parisienses’, o que leva, em decorrência, que qualquer manifestação de
brasilidade seja reduzia a regionalismo. [...] o que está em primeiro plano é o culto das nossas tradições, ameaçadas
pelas influências alienígenas, tornando-se, por isso, urgente a criação de uma política de defesa nacional”.
(VELLOSO, 1993, p.97).
38
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
Salgado pertencia a uma organização de indivíduos conscientes, a extrema direita
conservadora paulista e suas variações artísticas, por isso o pensamento transplantado para suas
obras literárias ganharia força nos anos de 1920-1930. As escolhas e as características dos
personagens de seus livros, os gêneros literários preferidos e até a colocação e uso de expressões
linguísticas seriam reflexos, por parte do autor, do grupo a qual pertencia. Sobre essa consciência
de grupo, destaca Bakhtin (2014, p.36) “a consciência adquire forma e existência nos signos
criados por um grupo organizado no curso das relações sociais. Os signos são o alimento da
consciência individual [...].”
No limite compreensivo do inicio do século XX, a estratificação social e as discussões
científicas a respeito das raças, potencializavam-se tanto no campo literário quanto científico.
Machado (2012) destaca a influencia do pensamento evolucionista de Herbert Spencer em alguns
intelectuais brasileiros na virada do século XIX. Spencer argumentava que o Brasil não
progrediria devido ao predomínio étnico de negros, devendo-se, por isso, estimular a emigração
europeia. Defensores da miscigenação (escritores, por exemplo) argumentavam que este fator
proporcionaria a população um fortalecimento dos laços culturais; já outros afirmavam que a
miscigenação brasileira, como os professores da Faculdade de Medicina na Bahia, seria a
responsável pela degradação, a loucura e a degeneração (ADDUCI, 2000, p.57).
Plínio Salgado, próximo deste tema, criaria um personagem central na história do
romance, Martinho, filho de Simão Cubas (português que trabalhava nos portos) com a índia do
Planalto do Piratininga, pertencente à tribo tupi. Filho da miscigenação, Martinho carregaria
atributos positivos das duas etnias, a portuguesa-europeia e a indígena. A primeira lhe traria a
coragem de penetrar nos Sertões, e a segunda o conhecimento necessário da floresta. “A
sociedade miscigenada é uma sociedade nova. A lenda tupi deveria viver sempre, por todos os
séculos, no coração paulista, cada vez que os olhos quisessem fazer da pequena terra natal a
finalidade de um povo.” (SALGADO, 1937, p.82).
Em resumo, se por um lado Salgado angariava uma cultura verdadeiramente nacional e
recusava valores estrangeiros, por outro, no decorrer das tramas dos personagens, ele deixaria
transparecer a contradição do próprio discurso. Isso porque a miscigenação seria um fator
positivo desde que houvesse a absorção por parte do novo indivíduo das melhores qualidades de
cada matriz étnica: o português e o índio.
Questões ainda em aberto, no romance A voz do oeste, podemos concluir que Salgado se
aproxima muitas vezes do narrador do texto onisciente, deixando transluzir sua opinião,
39
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
inclusive na consciência dos personagens. Alimenta a idiossincrasia do bandeirante como herói
nacional e descreve a geografia isolada de São Paulo como edificante do paulista e do brasileiro.
Atua no meio artístico nacional na qualidade de escritor, se envolvendo também na politica.
Escritor e político sustentado pelo grupo da extrema direita paulista que em sua obra e seu
pensamento dialogam, tentando materializar através do discurso literário a construção de uma
ideologia que concretizaria na representação espacial.
Conclusão
Não fecharemos este assunto. Uma vez que quanto mais nos aprofundamos na análise
do discurso, mais complexo o problema fica e, com certeza, seria impossível esgotá-lo neste
artigo. Salgado traduz um pensamento individual. No entanto, individual enquanto grupo que
molda sua maneira de pensar.
Esta aproximação entre a análise do discurso de Bakhtin e a História do Pensamento
Geográfico, é uma tentativa de aprofundamento ontológico na ciência geográfico. Isso porque
sendo a geografia, também, uma matriz discursiva, carregada de ideologias, sua apropriação por
outras áreas do conhecimento é constante, legitimando discursos em torno das representações
espaciais. Representações estas absorvidas pela literatura como construção intelectual em forma
de livro.
E no Brasil, o discurso geográfico validaria a identidade nacional no início do século
XX. Este discurso seria usado por Plínio Salgado como direcionamento dos seus enredos
regionalistas. E para relembrar uma ideia de Moraes (1991), no Brasil, o territorial se confunde
muito com o nacional.
Bibliografia
ADDUCI, C.C. A Pátria Paulista: o separatismo como resposta a crise final do império
brasileiro. São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial, 2000.
CANDIDO, A. Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária. São Paulo: T.A
Queiroz, 2000.
BAKHITIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 16º edição. São Paulo: Hucitec, 2014.
______. Estética da criação verbal. 6º edição. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.
40
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
BOMFIM, P.R de. A. Território e Movimento Integralista: uma contribuição para o estudo das
Ideologias Geográficas no Pensamento Autoritário Brasileiro das décadas de 1920-1930. 183f.
Dissertação (Mestrado). Departamento de Geografia. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2001.
BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. 4ºedição. São Paulo: Cultrix. 2006.
CAMPOS, M. J. Versões modernistas do mito da democracia racial em movimento: estudo sobre
as trajetórias e as obras e Menotti Del Picchia e Cassiano Ricardo até 1945. 2007.371f. Tese
(Doutorado em Antropologia Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo. São Paulo. 2007.
CARVALHO, M.B. Geografia: ciência da complexidade (ou da reconciliação entre natureza e
cultura). Boletim Paulista de Geografia. n 83, p. 139-160. 2005.
CHASIN, J. O integralismo de Plínio Salgado (forma de regressividade no capitalismo hipertardio). São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1978.
ESCOLAR, M. Crítica do Discurso Geográfico. Tradução: Shirley Morales Gonçalves; São
Paulo: Hucitec, 1996.
GONÇALVES, L.P. Entre Brasil e Portugal: trajetória e pensamento de Plínio Salgado e a
influência do conservadorismo português. 669f. Tese (Doutorado em História Social). Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2012.
HOLANDA, S.B. Visão de paraíso: os motivos endêmicos no descobrimento e colonização do
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994.
MACHADO, M. S. A geografia universitária carioca e o campo científico disciplinar da
geografia brasileira. Tese de Doutorado dirigida por André Roberto Martin. São Paulo:
Universidade de São Paulo, 2002.
MACHADO, L. O. Origens no pensamento geográfico no Brasil: meio tropical, espaços vazios e
a ideia de ordem (1870-1930) In: GOMES, CORREA e MACHADO. Geografia: conceitos e
temas – 15ºed – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
MICELI, S. Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920 – 1945). São Paulo – Rio de Janeiro:
DIFEL/ Difusão Cultural S.A., 1979.
MORAES, A.C.R. Geografia: Pequena História Crítica – 21º ed – São Paulo: annblume, 2007.
_______. A Antropogeografia de Ratzel: indicações:. In, MORAES, A.C.R. (org). Ratzel
(Coleção Grandes Cientistas Sociais). São Paulo: 1990.
_______. Ideologias geográficas: espaço, cultura e política no Brasil. São Paulo: HUCITEC,
1991.
RACINE, J.B. Discurso Geográfico y Discurso Ideologico: perspectivas epistemológicas.
Cuadernos Críticos de Geografía Humana: Universidade de Barcelona. Año III, n13, 1978.
41
RELEVÂNCIAS – REVISTA DE GEOGRAFIA. SÃO PAULO. ANO 1. Nº 1. JAN./JUN DE 2016
SALGADO, P. A Voz do Oeste (romance-poema da época das Bandeiras) – 2º ed – Editora Jose
Olympio. Rio de Janeiro: 1937.
SEVCENKO, N. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na primeira
república. 2º edição. São Paulo: Editora Brasiliense S.A, 1985.
VELLOSO, M.P. A brasilidade verde-amarela: nacionalismo e regionalismo paulista. Estudos
históricos: Rio de Janeiro. Vol.6, n.11, 1993, p.89-112.
______. História & Modernismo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.
***
Resumo. A literatura como movimento
social teve enorme importância para a
cidade de São Paulo, sobretudo após a
Semana de Arte Moderna em 1922 (SAM).
Neste momento, escritores, ensaístas e
poetas tinham um prestígio social
equiparado aos médicos e advogados,
formando assim o perfil do intelectual
brasileiro. Este artigo trará uma discussão
teórico-metodológica introdutória a respeito
da análise do discurso em obras literárias
(enunciados socialmente construídos) na
dimensão dada por Mikhail Bakhtin (18951975). O espaço aqui representado é o
paulista; o tempo às décadas de 1920-1930,
e o grupo social a intelectualidade
conservadora paulista, na figura de Plínio
Salgado. Dado este trio metodológico, o
trabalho a ser brevemente analisado é o
livro A Voz do Oeste, de 1934.
Palavra-chave: Análise do discurso, Plínio
Salgado, Representações espaciais, Mikhail
Bakhtin
Resumen. La literatura como movimiento
social tuvo enorme importancia para la
ciudad de São Paulo, sobretodo después de
la Semana de Arte Moderna en 1922
(SAM). En este momento, escritores,
ensayistas y poetas tenían un prestigio
social equiparado a los médicos y
abogados, formando así el perfil del
intelectual brasileño. Este articulo trará una
discusión teórico-metodológica introdutoria
a respeto del análisis del discurso en obras
literarias
(enunciados
socialmente
construídos) en la dimensión dada por
Mikhail Bakhtin (1895-1975). El espacio
aquí representado es el paulista; el tiempo
las décadas de 1920-1930, y el grupo social
la intelectualidad conservadora paulista, en
la figura de Plínio Salgado. Dado este trío
metodológico, el trabajo a ser brevemente
analisado es el libro A Voz do Oeste, de
1934.
Palabras-clave: Análisis del discurso,
Plínio
Salgado,
Representaciones
espaciales, Mikhail Bakhtin
42