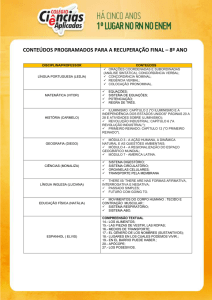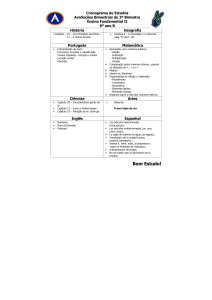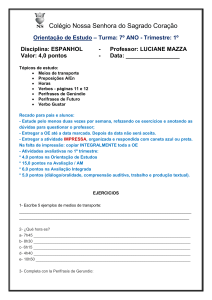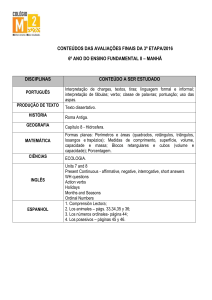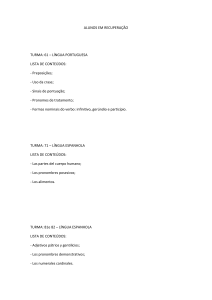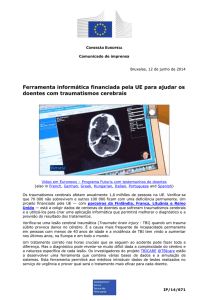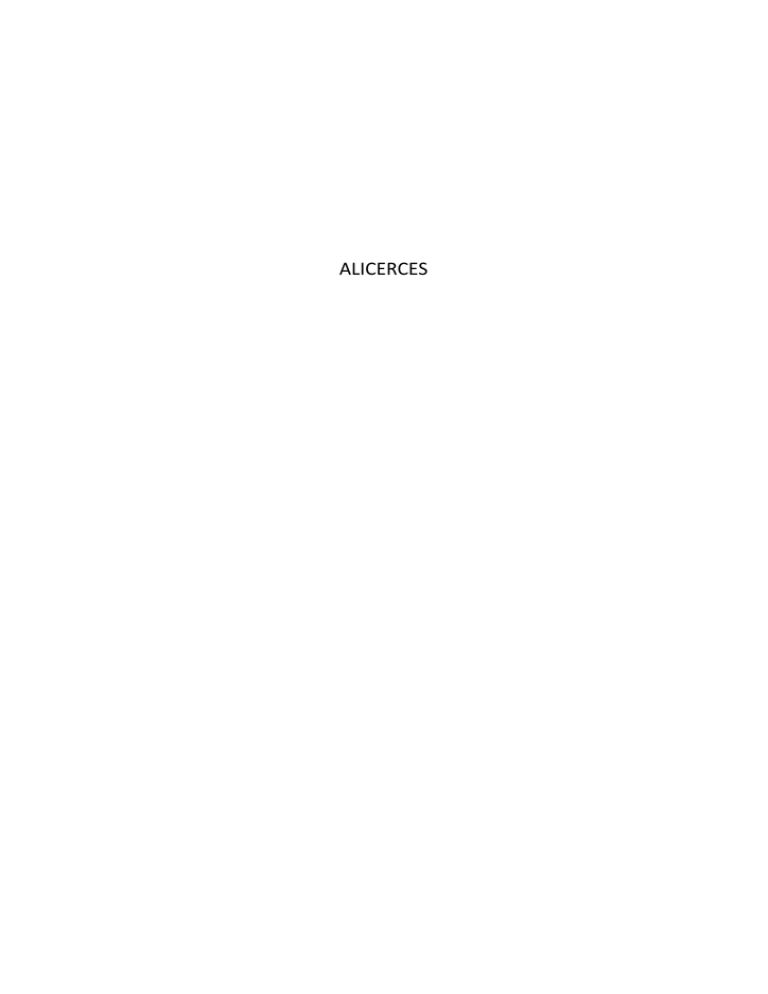
ALICERCES II Jornadas de Ciências Sociais e Humanas em Saúde Saúde: Complexidades e Perplexidades Comissão Organizadora David Tavares (coordenador) Ana Grilo Graça Andrade Hélder Raposo Joana Rita Margarida Santos Nuno Medeiros Paulo Sousa Teresa Denis Teresa Guimarães Comissão Científica David Tavares Graça Andrade Graça Carapinheiro Graça Vinagre João Lobato Luísa Barros Margarida Santos Noémia Lopes Paulo Sousa Rui Canário Teresa Denis Tiago Monteiro ÍNDICE Nota de Apresentação ................................................................................................. 9 Os Autores ................................................................................................................... 11 PARTE I. TECNOLOGIA, SAÚDE E SOCIEDADE Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano: Para um Questionamento do Discurso da Inovação José Luís Garcia ............................................................................................................ 19 A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina, ou o Caminho “Modesto” Para o Prémio Nobel João Arriscado Nunes .................................................................................................. 33 PARTE II. SAÚDE, DESIGUALDADES SOCIAIS E CIDADANIA Equidade, Cidadania e Saúde. Apontamentos para uma Reflexão Sociológica Graça Carapinheiro ...................................................................................................... 57 Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação Luísa Ferreira da Silva .................................................................................................. 65 O Acesso à Saúde e os Factores de Vulnerabilidade na População Imigrante Bárbara Bäckström ...................................................................................................... 79 (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde. Um Avanço Civilizacional João Carlos Leitão ........................................................................................................ 91 O Controlo Social e a Experiência dos Conselhos de Saúde: Inovações Institucionais na Governação em Saúde Ana Raquel Matos, Daniel Neves, João Arriscado Nunes, Marisa Matias ................... 107 Os Novos Actores Colectivos no Campo da Saúde: O Papel das Famílias nas Associações de Doentes Ângela Marques Filipe, João Arriscado Nunes, Marisa Matias .................................... 119 8 Índice PARTE III. A MORTE E O MORRER NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS Rostos da Morte na Era da Técnica Ana Celeste Mendes .................................................................................................... 131 Uma Sombra o Precede. Lei da Morte, Hospitalidade e Cuidados de Suporte Manuel Silvério Marques ............................................................................................. 147 Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção e Modalidades de Constituição do Laço Social entre Médico e Doente: Uma Breve Abordagem Alexandre Cotovio Martins .......................................................................................... 167 O Discurso da Boa Morte nas Vozes de Quem Cuida Ana Patrícia Hilário ...................................................................................................... 183 Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana: Breves Reflexões sobre a Eutanásia Passiva (Um Estudo do Contexto Jurídico Brasileiro) Criziany Machado Felix ................................................................................................ 191 PARTE IV. PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS SOBRE A SAÚDE Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais Luísa Barros ................................................................................................................. 207 Adolescentes e Comportamentos de Saúde Celeste Simões ............................................................................................................. 223 Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol Helena Moreira, Marco Pereira, Maria Cristina Canavarro, Tiago Paredes ................. 243 Rehabilitación Cognitiva María Victoria Perea .................................................................................................... 269 NOTA DE APRESENTAÇÃO Com a edição deste número especial da Alicerces, publicam‐se 17 textos refe‐
rentes a comunicações que foram apresentadas nas II Jornadas de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, sob o lema Saúde: complexidades e perplexidades. Este evento, organizado pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Insti‐
tuto Politécnico de Lisboa, em 4 e 5 de Abril de 2008, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, consubstancia‐se como uma incontornável referência nacional no domínio das ciências sociais e humanas no campo da saúde, antes de mais pelo significado dos contributos cien‐
tíficos das diferentes comunicações mas também pela sua dimensão (434 partici‐
pantes, provenientes de 103 instituições e de 36 grupos sócio‐profissionais dife‐
rentes). Na fase actual em que assistimos à consciencialização crescente da importân‐
cia assumida pela intervenção das ciências sociais e humanas no universo da saúde em Portugal (de que, aliás, a dimensão destas Jornadas constitui apenas mais um indicador a considerar), a publicação deste conjunto de textos, estruturada em torno de quatro temas (Tecnologia, saúde e sociedade; Saúde, desigualdades sociais e cidadania; A morte e o morrer nas sociedades contemporâneas; Perspec‐
tivas psicológicas sobre a saúde), permitirá seguramente aprofundar o conheci‐
mento das problemáticas apresentadas e a complexidade da sua abordagem. Por fim, em nome da Comissão Organizadora, expresso um agradecimento especial a Hélder Raposo e a Nuno Medeiros pelo trabalho de preparação desta publicação. David Tavares (Coordenador da Comissão Organizadora das II Jornadas de Ciências Sociais e Humanas em Saúde) OS AUTORES Alexandre Cotovio Martins é sociólogo, docente da Escola Superior de Educação de Portalegre e investigador do CesNova. Tem trabalhado como investigador e con‐
sultor em diversos domínios, entre os quais os da sociologia urbana e políticas urbanas; organização social do sector industrial; políticas de imigração e integra‐
ção social de populações imigrantes; metodologia das ciências sociais; globaliza‐
ção, competitividade territorial e desenvolvimento económico e social; atitudes, crenças e representações sociais dos estudantes do ensino superior; políticas sociais, nomeadamente na área do emprego; educação; políticas de saúde; socio‐
logia da medicina. Ana Celeste Mendes é licenciada em Comunicação pela Universidade Católica Por‐
tuguesa, mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo ISCTE e doutoranda do programa doutoral em Sociologia nesta mesma instituição. Dedi‐
cando‐se desde 2002 ao estudo das questões relacionadas com a morte, tem tra‐
balhado as dimensões que se relacionam directamente com a morte em universo hospitalar, encontrando‐se presentemente a estudar a relação entre as novas tec‐
nologias da informação e a forma de recordação dos mortos na contemporaneida‐
de. É docente de Sociologia da Saúde na Escola Superior de Saúde da Cruz Verme‐
lha Portuguesa. Ana Patrícia Hilário tem uma licenciatura em Sociologia e Planeamento e o diploma de estudos pós‐graduados em Família e Sociedade. Ambos os graus obtidos no Ins‐
tituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. É colaboradora do CIES‐
‐ISCTE desde 2007, onde tem participado em alguns projectos de investigação, nomeadamente na área da Sociologia da Família e da Sociologia da Saúde. Actual‐
mente encontra‐se a realizar o doutoramento em Sociologia da Saúde na Royal Holloway‐University of London sobre o modo como as transformações corporais provocadas pelo avançar da doença e da proximidade da morte afectam a identi‐
dade pessoal e social do indivíduo. Entre as suas principais publicações destacam‐
‐se as seguintes: Journeys into end of life research: some methodological consid‐
erations, CIES e‐Working Paper n.º 82/2009; “Suffering bodies: an exploration of the missing link between the body and self‐identity in the dying process”, 9th European Sociological Association Conference, Lisboa (2009). Ana Raquel Matos é socióloga, investigadora no Núcleo de Estudos sobre Ciência e Tecnologia em Sociedade do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coim‐
bra, no âmbito do qual se dedica à análise de temáticas como ciência e conheci‐
mentos; participação cidadã, políticas públicas e democracia em torno das quais prepara doutoramento. 12 Os Autores Ângela Marques Filipe é mestre em Sociologia e investigadora do Centro de Estu‐
dos Sociais da Universidade de Coimbra. Os seus interesses de investigação cen‐
tram‐se na governação da saúde, colectivos na saúde (sobretudo associações de doentes), biopoder e biocidadania, e reconfigurações da ciência e sociedade. Tem realizado nesses domínios investigação em projectos europeus (como o MEDUSE e DEEPEN) e é actualmente investigadora do projecto EPOKS – European Patient Organizations in Knowledge Society. Entre as suas publicações destacam‐se: “Acto‐
res colectivos e os seus projectos para a saúde: o caso das associações de doentes em Portugal”, Revista de Humanidades Médicas & Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnologia (2009); “Patient organizations and the economic and industrial world: Towards new types of relationship?” e “Social and political stakes of asso‐
ciative networks, coalitions, and collectives” in M. Akrich, J. Nunes, F. Paterson e V. Rabeharisoa (orgs.), The Dynamics of Patient Organizations in Europe (2008). Bárbara Bäckström é professora auxiliar da Universidade Aberta e investigadora do CEMRI desde 2000. Licenciada em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1993), mestre em Demografia Histórica e Social por esta mesma Faculdade (1997) e doutorada em Saúde Internacional pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (2006), com uma tese sobre a Saúde dos Imigrantes. Tem trabalhado nos domínios da Sociologia da Saúde e da Sociologia das Migrações. Tem ainda formação pós‐
‐graduada em Sociologia da Saúde pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde – Sul e em Saúde Internacional pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Traba‐
lhou como socióloga em diversos projectos de investigação na área da saúde pública no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, no Departamento de Saúde Pública (1995‐2000). É autora do livro Saúde e Imigrantes: As representações e as práticas sobre a saúde e a doença na comunidade cabo‐verdiana em Lisboa. Criziany Machado Felix é advogada. Licenciada em Ciências Jurídicas e Sociais e mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Foi Professora de Direito Penal, Direito Processual Penal, Execução Penal, Trabalho de Conclusão e Monografias no curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Coordenado‐
ra do Departamento de Actividades Complementares e Monografias da mesma faculdade. Foi membro da Comissão de Elaboração do Projecto de Autorização do Curso de Graduação em Direito da Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena. Actualmente prepara doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI na Universidade de Coimbra. Possui bolsa de investigação da Funda‐
ção para a Ciência e a Tecnologia. Daniel Neves é investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mestre em Sociologia e doutorando no programa Governação, Conheci‐
mento e Inovação. Os seus interesses de investigação articulam os estudos sociais de ciência e tecnologia e com a sociologia e filosofia política aprofundando abor‐
dagens performativas na análise de dispositivos de participação em saúde pública. Mais recentemente o seu trabalho está direccionado para as áreas da comunica‐
ção em ciência e comunicação em saúde. Os Autores 13 Graça Carapinheiro é professora catedrática no Departamento de Sociologia do ISCTE‐IUL e investigadora do CIES, do qual foi sócia fundadora. Desde meados dos anos 80 tem desenvolvido investigação na Sociologia da Saúde, sendo a publicação do seu primeiro livro Saberes e Poderes no Hospital. Uma sociologia dos serviços hospitalares, nas Edições Afrontamento, o resultado da primeira investigação rea‐
lizada neste domínio, com base na sua tese de doutoramento. Também inaugurou o ensino da Sociologia da Saúde na universidade portuguesa e, desde 2007, é Coordenadora do Mestrado de Sociologia da Saúde e da Doença no Departamento de Sociologia do ISCTE‐IUL. Também faz parte da Coordenação da Secção de Socio‐
logia da Saúde da Associação Portuguesa de Sociologia, recentemente constituída. Helena Moreira é psicóloga. Doutoranda em Psicologia da Saúde na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e bolseira de dou‐
toramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Colaboradora na Unidade de Intervenção Psicológica da Maternidade Doutor Daniel de Matos, dos Hospitais da Universidade de Coimbra. Investigadora do Instituto de Psicologia e Desenvol‐
vimento Vocacional da Universidade de Coimbra (Unidade de I&D da Fundação para a Ciência e a Tecnologia). João Arriscado Nunes é professor associado com agregação da Faculdade de Eco‐
nomia e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Os seus interesses de investigação incluem os estudos sociais da ciência e da tecnolo‐
gia, especialmente da biomedicina, ciências da vida e saúde pública, a sociologia política e a teoria social e cultural. As suas publicações cobrem temas como a ciên‐
cia e a globalização, os estudos sociais da investigação biomédica, a política da biomedicina, as ciências da vida e da saúde pública na Europa e no Brasil, a partici‐
pação pública relacionada com ciência, tecnologia, saúde e ambiente e a acção colectiva e a democracia. Foi co‐organizador de Enteados de Galileu? (2001), Rein‐
venting Democracy (2004), The Dynamics of Patient Organizations in Europe (2008) e Objectos Impuros: experiências em estudos sobre a ciência (2008). João Carlos Leitão é docente no Instituto Politécnico da Guarda, onde também é investigador na UDI. Mestre em Sociologia das Organizações do Trabalho e do Emprego, licenciou‐se em Sociologia e está a concluir o doutoramento em Sociolo‐
gia. Os seus interesses de investigação situam‐se na Sociologia da Saúde, Sociolo‐
gia da Educação e Sociologia das Organizações, áreas onde tem vindo a desenvol‐
ver projectos de investigação. É co‐autor em diversos livros e artigos destacando‐
‐se os seguintes títulos: Levantamento Prospectivo do Perfil Formativo dos Alunos do Ensino Secundário na Transição para o Ensino Superior (2006) e M. J. Simões, Potencialidades de Desenvolvimento de Concelhos da Zona da Serra da Estrela (2001). José Luís Garcia é doutor em Sociologia pela Universidade de Lisboa, após ter feito estudos doutorais na London School of Economics. Actualmente, é investigador do quadro do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Desde 1997 tem investigado as implicações sociais e políticas da tecnologia, dando particular aten‐
ção às ciências da vida e ao tópico da medicina e da saúde. Lecciona desde 2004 14 Os Autores na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e desde 2007 na licenciatura em Ciências da Saúde da Universidade de Lisboa (Faculdade de Medi‐
cina, Faculdade de Ciências, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina Dentá‐
ria, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação). Entre outras obras, é autor de dezenas de artigos e capítulos de livros publicados em Portugal e no estrangeiro sobre temas como teoria social, comunicação, biotecnociências e medicina. Luísa Barros é doutorada em Psicologia e agregada em Psicologia da Saúde, profes‐
sora catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Univer‐
sidade de Lisboa. Colabora igualmente na Faculdade de Medicina Dentária, na licenciatura em Ciências da Saúde e integra o Conselho Científico do programa de doutoramento em Enfermagem da Universidade de Lisboa. Ensina e investiga nas áreas da Psicologia da Saúde, Psicologia Pediátrica, Aconselhamento Parental, Psi‐
copatologia do Desenvolvimento, Intervenções Cognitivas e Desenvolvimentistas com crianças e adolescentes. Luísa Ferreira da Silva é docente do Departamento de Ciências Sociais e Gestão da Universidade Aberta e investigadora do CEMRI. É agregada em Sociologia da Saúde e doutorada em Ciências Biomédicas – Saúde Comunitária pelo Instituto de Ciên‐
cias Biomédicas Abel Salazar da Universidade Porto (equivalência a doutoramento da École des Hautes Études en Sciences Sociales). Entre as suas várias publicações destacam‐se as seguintes: Modernidade e Desigualdades Sociais, Universidade Aberta (2008); Saber Prático de Saúde. A saúde na vida de todos os dias, Edições Afrontamento (2008); Sócio‐Antropologia da Saúde: sociedade, cultura e saú‐
de/doença, Universidade Aberta (2004). Manuel Silvério Marques é médico, hematologista clínico do IPO aposentado; dou‐
tor em Filosofia da Medicina (FM, UL); investigador do Centro de Filosofia da UL; membro do Centro de Estudos de Filosofia da Medicina do IPO. Foi entre 2003‐
‐2006 professor auxiliar da Faculdade de Medicina, UL; co‐regente do mestrado de Cuidados Paliativos e regente na disciplina de Introdução à Medicina. Chefe da Unidade Autónoma de Apoio Domiciliário do IPO. Assistente graduado de Hemato‐
logia Clínica e tutor do Internato de Hematologia no IPO. Professor auxiliar convi‐
dado da Faculdade de Medicina da UBI até 2006/2007. Professor auxiliar convida‐
do do ISPA (mestrado de Psicossomática). Membro da Comissão Executiva da Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Vogal do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Entre as suas publicações destacam‐se: “Minando as Fundações: três utopias reguladoras da Medicina” (2008); “O Fenómeno Sintomá‐
tico” (2008); O Espelho Declinado. Natureza e legitimação do acto médico (1999). Marco Pereira é psicólogo. Doutorado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Bolseiro de pós‐doutora‐
mento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Investigador do Instituto de Psi‐
cologia Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social da Universidade de Coim‐
bra (Unidade de I&D da Fundação para a Ciência e a Tecnologia) e membro do Centro Português para Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Tem desenvolvido investigação na área da gravidez e transição para a Os Autores 15 maternidade, infecção pelo VIH/SIDA e qualidade de vida. Os interesses mais recentes de investigação centram‐se com no estudo da resiliência e da relação de casal em situações de adversidade. Maria Celeste Simões é professora auxiliar na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa. Licenciada em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade Humana da UTL, mestre em Psicologia, área Psico‐
logia Social, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e doutorada em Educação Especial e Reabilitação na área dos compor‐
tamentos de risco na adolescência. Coordenadora do projecto “Risco e Resiliência em Adolescentes com Necessidades Educativas Especiais”. Co‐coordenadora do projecto Aventura Social, cuja acção se desenvolve nas vertentes de Saúde (Estudo dos comportamentos e estilos de vida dos adolescentes), Risco (Promoção de competências pessoais e interpessoais com jovens de risco) e Comunidade (Pro‐
moção de competências pessoais e interpessoais com jovens na comunidade). As suas publicações abrangem áreas como Educação e Promoção da Saúde; Risco e Resiliência na Adolescência; Promoção de Competências Pessoais e Sociais. Maria Cristina Canavarro é psicóloga. Professora associada com agregação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e responsável pela Unidade de Intervenção Psicológica da Maternidade Doutor Daniel de Matos. É investigadora e coordenadora da linha de investigação “Rela‐
ções, Desenvolvimento & Saúde” do Instituto de Psicologia Cognitiva da Universi‐
dade de Coimbra e coordenadora, conjuntamente com Adriano Vaz Serra, do Cen‐
tro Português para Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Tem participado, como investigadora principal, membro e consultora, em diversos projectos de investigação I&D e outros projectos científicos com finan‐
ciamento externo. Tem cerca de 50 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais com arbitragem científica, 20 capítulos de livros e 3 livros. Tem par‐
ticipado, de forma regular, em congressos nacionais e internacionais, obtendo diversos prémios, menções honrosas e nomeações de mérito científico. María Victoria Perea Bartolomé é licenciada em Medicina y Cirugía e doutora em Medicina y Cirugía (doutoramento homologado pela Universidade do Porto). Espe‐
cialista em neurologia. Professora titular de universidade com acreditação para catedrática. Prémio Especial em Sistema Nervoso Central pela Universidade Com‐
plutense de Madrid (1975‐76). Prémio Juan Huarte de San Juan pelo Colégio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (2004). Docente da Universidade de Salamanca, é directora dos seguintes programas de doutoramento: “Neuropsicología Clínica” (USAL); “Neuropsicologia Clínica” (ISMAI); “Neuropsicologia Clínica” (Universidade Lusófona de Tecnologias e Humanidades); “Neuropsicología Clínica” (UNIBE, Costa Rica). Autora de vários livros, artigos, colaborações em enciclopédias, obras colec‐
tivas e de numerosos trabalhos apresentados em congressos e reuniões científicas de carácter nacional e internacional relacionados com a neuropsicologia. 16 Os Autores Marisa Matias é investigadora do Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. As suas áreas de interesse incluem as relações entre ambiente e saúde pública, ciência e conhecimentos e democracia e cidadania. Escreveu, entre outros textos, “Rumo a uma saúde sustentável: Saúde, ambiente e política”, Saúde e Direitos Humanos, 3, 2006 (com João Arriscado Nunes), e “Don’t treat us like dirt: the fight against the co‐incineration of dangerous industrial waste in the outskirts of Coimbra”, South European Society & Politics, 9, 2004. Desde 2009 é deputada ao Parlamento Europeu, membro do Grupo da Esquerda Unitária/Esquerda Verde Nórdica, onde integra as Comissões de Indústria, Investigação e Energia e Ambien‐
te, Saúde Pública e Segurança Alimentar. Tiago Paredes é psicólogo da Unidade de Psico‐Oncologia da Liga Portuguesa Con‐
tra o Cancro, Núcleo Regional do Centro. Aluno de doutoramento da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e mestre em Ava‐
liação Psicológica pela mesma Faculdade. Investigador do Instituto de Psicologia Cognitiva da Universidade de Coimbra (Unidade de I&D da Fundação para a Ciên‐
cia e a Tecnologia) e membro do Centro Português para Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Na qualidade de orador tem participado em congressos nacionais e internacionais e tem integrado as equipas de investiga‐
ção de projectos científicos com financiamento externo. Tem artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, bem como capítulos de livro, enquanto autor e co‐autor. PARTE I TECNOLOGIA, SAÚDE E SOCIEDADE TECNOLOGIA, MERCADO E BEM‐ESTAR HUMANO: PARA UM QUESTIONAMENTO DO DISCURSO DA INOVAÇÃO José Luís Garcia Desde meados dos anos oitenta do século XX, um conjunto vasto de líderes empresariais e políticos, acompanhados por figuras e grupos oriundos sobretudo dos meios da gestão, da economia e da tecnologia, começou a promover intensa‐
mente à escala mundial uma noção anunciada como motor das sociedades – “ino‐
vação”. Nas declarações desses dirigentes, o termo inovação surge geralmente associado a uma ideia entusiasta das novidades técnicas e impulsionadora do dinamismo económico1. Os promotores da inovação procuram implantar este con‐
ceito justificando‐o com o papel que as conquistas tecnocientíficas joga na mudan‐
ça económica e nos reflexos que esta pode ter no bem‐estar humano2. Nos seus discursos encontram‐se alusões constantes à importância da inovação como agen‐
te da prosperidade económica e impulsionador de inúmeras vantagens para a vida humana e social. Esse discurso é amplamente reproduzido pelas universidades, designadamente nos cursos de gestão, muitas vezes de modo irreflectido quanto às funções e consequências das tecnologias. Na visão dos patrocinadores da inovação ecoam reminiscências das teorias do progresso dos séculos XVIII e XIX, baseadas numa visão panlógica da história em que esta surgia como a realização de um projecto grandioso e benévolo. Sabemos hoje, através da reflexão filosófica, histórica e sociológica desenvolvida ao longo do século XX, que as ideias dos principais representantes do liberalismo, assim como de pensadores como Saint‐Simon ou Comte, apesar das suas discordâncias noutros aspectos, estavam impregnadas por uma concepção providencialista da história. Esta via a mudança técnica como um meio desejável para atingir a meta de prosperidade que seria o culminar da evolução histórica. O mesmo olhar per‐
passava o projecto de Karl Marx, um crítico implacável da forma que as sociedades ocidentais do século XIX estavam a tomar e um inspirador da que se tornou a mais importante filosofia política de contestação a essas sociedades. Na sua visão, cons‐
tata‐se a confiança no pressuposto de que o capitalismo apenas seria bem interpre‐
1 A tais concepções não serão alheias as teses da primeira metade do século XX do economista Joseph Schumpeter, segundo as quais a inovação tecnológica é endógena e fundamental ao desenvolvimento económico, e não um factor externo (Schumpeter, 1996: 125). 2 Sendo possível distinguir inovação de produto, processos e até em termos organizacionais, neste texto debruçamo‐nos sobre a sua dimensão tecnocientífica, isto é, a que se refere aos processos e aos produtos. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 19‐31. 20 José Luís Garcia tado quando inscrito como um estádio de uma lógica histórica em que o desenvol‐
vimento das forças produtivas tinha como corolário expectável a edificação futura de uma sociedade que procederia a uma distribuição equitativa dos bens. Um exame mais atento à perspectiva dos actuais impulsionadores da inova‐
ção revela, porém, uma nuance digna de nota quanto às teorias do progresso dos séculos XVIII e XIX. Mais do que a contribuição para o bem‐estar humano, as noções de inovação e de mudança económica são defendidas, no presente, como valor absoluto e incontroverso. A ideia que sobressai nessa visão é que a inovação e a mudança tecnoeconómica têm que ser celebradas por si mesmas, adoptadas sem hesitações e com celeridade, independentemente de discussões sobre quais são as implicações e benefícios práticos de uma determinada tecnologia, as opções disponíveis nos modos de utilizar certos artefactos ou quais os efeitos de um dado sistema para a vida colectiva. É verdade que a aliança entre ciência e tecnologia em meados do século XIX ajudou a infundir a convicção que o bem‐estar humano se articulava de perto com a mudança tecnológica, expectativa que nunca foi ver‐
dadeiramente posta em causa pelos movimentos socialistas. Havia uma confiança mais ou menos generalizada que os avanços tecnológicos ajudariam a humanidade a superar muitas das suas carências e fragilidades. Todavia, esses projectos modernistas pensavam a tecnologia como um meio ao serviço do ser humano, que lhe cabia guiar de modo racional e subordinado aos valores de bem‐estar e felici‐
dade da humanidade. Nos actuais líderes globais da mudança tecnológica é este tipo de pensamento e maneira de conceber a tecnologia que parece ter chegado ao fim e do modo antigo só restou o eco ténue do providencialismo histórico, ago‐
ra transfigurado num plano em que cabe à inovação tecnocientífica ser guia e des‐
tino da história. Na perspectiva dos decisores do nosso tempo, é supérfluo qual‐
quer debate sobre as relações entre a tecnologia e a estrutura moral das sociedades contemporâneas ou sobre os riscos, incertezas, subprodutos e desfe‐
chos imprevistos da mudança tecnológica. Não se sentem também atraídos pela discussão sobre formas alternativas de organização social e o diferente peso que nelas poderiam ter outros sistemas tecnológicos mais adequados a propiciar o bem‐estar humano. Os limites ao desenvolvimento tecnológico, muitas vezes mais como dispositivo negativo do que como princípio construtivo, esgotam‐se no dis‐
curso ambientalista já institucionalizado. O liberalismo económico defendido por essa camada dirigente mundial tem mostrado uma tendência firme para abraçar, de modo quase irrestrito, o culto da inovação, impelido pelas oportunidades dos ciclos de negócios subsequentes às inovações e pela alegação de que só à lógica de mercado cabe decidir quais opções deverão prevalecer3. Despidas da antiga crença de que havia um movimento para a prosperidade universal, as teorias do progresso foram substituídas, em diversos períodos do século XX, por termos como “riqueza económica”, “crescimento eco‐
nómico” e “inovação”. A produção opulenta e omni‐ampliada de mercadorias, bem como o incitamento ao consumo através da mobilização do desejo e do gos‐
to, tornaram‐se na face desfigurada dos ideais de bem‐estar e felicidade. 3 Por exemplo, a adopção de um Sistema Nacional de Inovação, conceito desenvolvido por Freeman (1995: 5‐24), entre outros, parece ser dominada pelas exigências de mercado, em que o Estado participa com poucas preocupações além dessa e o tecnológico emerge como valor em si. Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano 21 Marx foi quem primeiro percebeu com profundidade que o liberalismo impul‐
sionava o fenómeno que apelidou de “mercadorização” (ou mercantilização), a transformação de uma coisa ou relação em mercadoria. A atenção de Marx con‐
centrou‐se sobretudo na metamorfose do trabalho em mercadoria. Coube ao his‐
toriador da economia Karl Polanyi, em pleno século XX, analisar a transformação geradora do sistema da economia de mercado responsável por trazer para o inte‐
rior desta realidades que não eram sequer produzidas, como a terra, ou, quando eram, não se destinavam à venda, como o caso do trabalho humano, tendo apeli‐
dado essas mercadorias de “fictícias”. Foi sob a lógica do controlo do sistema eco‐
nómico pelo mercado, como argumenta Karl Polanyi no seu muito celebrado livro A Grande Transformação, publicado em 1944, que quantidades crescentes de âmbitos, grande parte deles desbravados pela tecnologia moderna (pela “idade da máquina”, nas suas palavras), se transfiguraram em mercadorias, constituindo‐se deste modo uma esfera económica que se terá demarcado de outras instituições na sociedade e que se tornou determinante para a vida do conjunto social. Segundo Polanyi, na medida em que nenhum conjunto humano pode subsis‐
tir sem um sistema de produção, a sua anexação num domínio institucional delimi‐
tado e diferente da sociedade teve como consequência tornar o resto da socieda‐
de crescentemente heterónima face a essa estrutura. A configuração social que terá resultado desta enorme mudança histórica foi uma sociedade que passou a ser dirigida como se fosse um apêndice do mercado, uma sociedade modelada de forma que o sistema funcione de acordo com as leis do mercado. Como observa Polanyi numa passagem muito referida, “em vez de a economia estar incrustada nas relações sociais, são as relações sociais que estão incrustadas no sistema eco‐
nómico” (2000: 77). A consequência do controlo do sistema económico‐produtivo pela economia de mercado consistiu em que esta passou a exercer controlo sobre os recursos da natureza e sobre os seres humanos nas suas actividades diárias. Polanyi oferece a seguinte ilustração desse controlo do mecanismo de mercado, não lhe escapando a interrelação com a tecnologia moderna e o desenvolvimento de uma economia virada para o aumento da produção, da procura e do consumo: “Enquanto ninguém desprovido de propriedade pudesse satisfazer a sua fome sem primeiro vender o seu trabalho no mercado, e enquanto nenhum proprietário fos‐
se impedido de comprar no mercado mais barato e vender no mais caro, a máquina desenfreada haveria de produzir quantidades crescentes de mercadorias para bene‐
fício da raça humana. O medo da fome entre os trabalhadores e a atracção do lucro entre os patrões manteriam o vasto sistema em funcionamento” (Polanyi, s.d.). Ain‐
da que um grupo de investigadores, conhecido como “nova sociologia económica”, tenha vindo a apresentar o argumento atraente que a história da formação dos mer‐
cados modernos não pode ser vista como totalmente desenleada da vida social e das trocas e vínculos comunitários4, tal como apareceria na perspectiva de Polanyi, são 4 A este respeito, ver especificamente Bruni e Zamagni (2007). A “nova sociologia económica” acolhe uma grande diversidade de abordagens que procuram estudar o cerne das problemáti‐
cas económicas, transpondo as pressuposições que têm guiado a economia convencional. O Handbook of Economic Sociology, organizado por Smelser e Swedberg, editado originalmente em 1994, e outros trabalhos de autores como Granovetter (1990), surgem como exemplos des‐
te empreendimento ainda com uma posição teórica pouco clara. Para um questionamento do estatuto da “nova sociologia económica”, ver na literatura portuguesa, Ferreira et al. (1996) e Graça (2005: 111‐129). 22 José Luís Garcia bem patentes no mundo contemporâneo as consequências devastadoras da cons‐
trução de mercados globais que se regem quase exclusivamente pela ideia de lucro e desvinculado de qualquer ideia ou regulação de ordem cívica. Desde as duas últimas décadas do século XX, a prossecução tenaz da inovação tem‐se traduzido na atribuição ao sistema produtivo e à esfera de mercado de novos domínios que faziam parte da organização biológica dos seres vivos, da estrutura da matéria e dos sistemas de conhecimento. Observou‐se neste período a tendência para as inovações se “agruparem”, para usar um termo de Schumpe‐
ter, abrangendo as áreas das tecnologias da informação (software, internet, tele‐
móveis, novos media), biotecnociências (engenharia genética ou genómica, biolo‐
gia sintética, diversas áreas da biotecnologia e das chamadas ciências da vida e da saúde) e nanotecnologias, entre outros campos. A convicção de que estamos impelidos por uma mudança científica e tecnológica articulada com características estruturais da esfera económica apoia‐se largamente na saliência adquirida por parte do conjunto das novas indústrias referidas. É um dado insofismável que os novos domínios tecnológicos têm estado a estimular alterações e, em muitos casos, a substituir áreas significativas do contexto tecnológico anterior, ao mesmo tempo que procedem à integração de vários outros5. Acresce ainda que o desen‐
volvimento de campos tecnológicos e industriais como o das tecnologias da infor‐
mação e das biotecnociências impulsiona um novo ciclo de negócios e é acompa‐
nhado por uma envolvente de perturbação, tanto em termos de orientação económica e política como ideológica. A importância da emergência do novo contexto sob a directriz da ideia de inovação liga‐se directamente ao tema da transformação do capitalismo de “eco‐
nomia do trabalho” em “economia do conhecimento” enquanto mecanismo fulcral da acumulação do capital numa ordem económica que tem procurado tomar a forma de um sistema de mercado auto‐regulado à escala mundial. Neste particu‐
lar, é importante acentuar que o conhecimento que estamos a aludir não deve ser entendido como restringido apenas ao conhecimento científico. As novas indús‐
trias emergem em campos cognitivos e científico‐tecnológicos em que as noções de informação, comunicação e o modelo informacional/cibernético (abrangendo pensar a vida biológica como organização informacional) têm usualmente uma relevância considerável. A exploração das utilizações tecnológicas da noção de informação constituiu o motor do grupo de indústrias cuja ascensão se apoia nos resultados promissores obtidos em áreas que abrangem tanto as tecnologias da informação, como as biotecnociências baseadas na recombinação do ADN. O recurso à potencialidade dos conceitos de informação e a integração da informa‐
ção no universo das máquinas por parte da cibernética permitiu, por exemplo, inaugurar uma forma completamente nova de pensar o fenómeno biológico, desenvolvida no período inicial de constituição da biologia molecular e para a qual foi determinante a ambiance em redor da mecânica quântica, em particular para a 5 Sobre esta questão parece apropriado lembrar a noção de “paradigma tecnológico” que o eco‐
nomista Dosi (1992: 147‐162) desenvolve, um conceito que designa um conjunto de práticas tecnológicas determinadas por um modelo (o microprocessador, por exemplo) que define o tipo de problemas a resolver e a trajectória tecnológica a seguir. A este respeito, também a noção de “destruição criadora” popularizada por Schumpeter (1976) pode ser evocada, na medida em que designa o modo como o novo substitui o antigo. Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano 23 tendência que se interessou pelo estudo das questões biológicas para clarificar as leis da física6. Se a teoria da informação deu à biologia potencialidades operativas abundantes, a sua adopção também gerou novas e importantes dificuldades, como as que dizem respeito à disseminação da metáfora de “programa genético”e 7
à perspectiva que via nesta noção a fonte do desenvolvimento biológico . Um elemento adicional de mudança nos finais do século XX foi o mercado financeiro, que entrou numa dinâmica turbulenta de inovação cujo vigor durou até à deflagração da crise provocada por esse sistema em Setembro de 20088. Procu‐
rando tornar‐se sempre mais competitivo, tentou atrair todas as poupanças e mul‐
tiplicou os produtos bancários, ao mesmo tempo que se sujeitou a reestruturações dos sistemas de alianças e à redefinição da forma do serviço. O movimento de financiarização da economia conjugou‐se com o declínio das formas de Estado‐
‐providência europeias, tendo como pano de fundo o fim da influência da despesa pública sobre a prosperidade económica e o rompimento do equilíbrio intergera‐
cional, com a queda da fecundidade e a acentuação do envelhecimento. O Estado foi perdendo o seu papel capital no desenvolvimento económico e no bem‐estar social, revelando as dificuldades do keynesianismo no novo quadro. Instalou‐se a tendência para a liberalização das economias nacionais, influenciada por um corpo de doutrinas neo‐liberais que procurou implementar o mercado como uma força de modelação da sociedade no seu conjunto, passando a sua forma específica de organização a ser tendencialmente o padrão para a constituição de múltiplos aspectos da existência humana. A economia ganhou também uma configuração associada a grandes entida‐
des de poder privado à escala multinacional e transnacional. As corporations internacionais tornaram‐se uma das forças motrizes dos processos económicos, concebendo e pondo em acção estratégias com efeitos em diversos cenários nacionais. Neste novo contexto, emergiu paralelamente um conjunto de esferas sociais transnacionais e uma camada de actores que abrangem todo o sistema,
ultrapassando muitas das relações à escala dos Estados‐nação e mesmo entre nações. As autoridades regulamentadoras supranacionais observaram a tendência para colaborar de forma cada vez mais próxima com as corporations, inclinando‐se para reduzir as possibilidades da acção regulamentadora dos governos nacionais e permitindo a auto‐regulamentação dos grandes conglomerados empresariais. 6 O modelo informacional aplicado à biologia funda os seus pressupostos nas obras de Schrödin‐
ger, What is Life (1989 [1944]), de Shannon e Weaver, The Mathematical Theory of Communi‐
cation (1948) e de Norbert Wiener, Cybernetics (1948), que contribuíram consideravelmente para a teorização e aplicação do conceito cibernético de “sistema” regulado pela transmissão de informação. 7 A este respeito, não é destituído de sentido lembrar que não foi sem a resistência manifesta de muitos bioquímicos e biólogos dedicados à investigação estrutural, acompanhados de outros cientistas, que o conceito cibernético se tornou, primeiro, na noção básica de todo aquele novo campo científico e, depois, que teve impacto nas mais diversas áreas, e não só nas enge‐
nharias e nas ciências fisico‐naturais, nomeadamente a partir do desenvolvimento das tecno‐
logias da informação e computação. No que diz respeito a uma literatura reflexiva neste cam‐
po, ver, entre outros importantes trabalhos, Jorge (1995), Lewontin (1998), Oyama (2000), Keller (2000) e Leite (2006). 8 O rebentamento da chamada bolha “ponto com”, em Abril de 2000, terá sido uma crise espe‐
cialmente relacionada com a crença na inovação como geradora de crescimento económico infindável e sem limites – a crença num novo paradigma tecnológico como produtor de riqueza. 24 José Luís Garcia Uma constatação evidente é o papel jogado pela revolução das tecnologias da informação no quadro deste episódio espectacular. O que possibilitou, em termos técnicos, aos actores transnacionais e nacionais movimentarem‐se no mercado global foi a existência de uma base instrumental em evolução constante, a qual garante o aumento da capacidade de colher, reproduzir, tratar, transmitir infor‐
mação de diversos tipos, assim como modificar profundamente as formas de pro‐
dução e distribuição. As novas tecnologias da informação estão ainda na génese de profundas alterações na economia internacional através de um conjunto de inova‐
ções com impactos em diversos aspectos das economias e das sociedades do sécu‐
lo XXI. Esse é o caso do movimento de convergência global entre as tecnologias da informação e as biotecnociências. As infra‐estruturas tecnológicas características deste movimento sustentam o recurso às capacidades de processamento dos computadores e ao uso da Internet para permitir a troca dos dados biológicos à escala mundial. O ciclo de transformação do ADN, desde material biológico num tubo de ensaio até ao sequenciamento do genoma como “bioinformação” compu‐
torizada e patenteada com valor económico, pressupõe a interligação entre âmbi‐
tos da biologia e da informática, bem como a sua operatividade à escala global. Este “capital conhecimento biológico” ou “biocapital”, enquanto entidade globali‐
zada, é expressão de um sistema económico de mercado tendencialmente único e tecnicamente interconectado, embora heterogéneo e desigual9. A emergência e o desenvolvimento do ramo industrial das biotecnociências ilustram um último e importante aspecto do contexto que estamos a descrever em termos de crescimento económico: a sua dependência do conhecimento científico. Há mais de dois séculos que o crescimento sistemático de riqueza tem orientado o rumo das sociedades do ocidente, um crescimento que pode ser considerado “cientificamente sustentado”, para utilizarmos uma ideia certeira de Gellner (1995 [1992]), baseado no impulso constante que a ciência permite dar à inovação tec‐
nológica e à pesquisa industrial, isto é, à criação e desenvolvimento de uma civili‐
zação tecnológica. Esta compreensão do sentido geral das sociedades modernas elucida a diferença entre formações sociais com uma prosperidade económica dentro dos limites de uma tecnologia simples e outras de crescimento não limita‐
do, alicerçando‐se este no automatismo da inovação científico‐tecnológica e na sua aplicação a esferas cada vez mais alargadas da existência humana (e que não se restringem apenas a esta). Mas a ciência, sob cujo apoio floresceu a tecnologia de base científica, também se tornou no factor histórico que permitiu tornar a ino‐
vação largamente desvinculada das relações sociais e abrir a “estrada real para o crescimento económico perpétuo”. Este quadro contrasta com uma modernização apoiada na divisão do trabalho e na tecnologia pré‐científica, que só poderia levar a humanidade até um certo ponto (Gellner, idem). Se a procura do crescimento económico ininterrupto é caracterizada pela cada vez maior intensidade de conhecimento científico e tecnológico (e também de outros factores como o marketing, o conhecimento sobre os mercados e os consumidores, os recursos comunicacionais e imaginativos da força de trabalho) aplicado aos processos produtivos, as mudanças não ocorrem apenas no sector da 9 Para uma discussão relativamente ao conceito de “biocapital”, ver Thacker (2005), Garcia (2006a: 981‐1009) e Sunder Rajan (2006). Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano 25 produção. Para além das implicações na organização do mundo industrial e empresarial, o dinamismo deste processo tem vindo a provocar também altera‐
ções sensíveis no próprio campo científico, em relação ao qual não será despropo‐
sitado falar de uma verdadeira possibilidade de transfiguração. Esta metamorfose tem vindo a ocorrer com alguma nitidez a partir da Segunda Guerra Mundial, mas só se está a afirmar solidamente desde finais do século XX, envolvendo o próprio estatuto da ciência e direccionando‐a para uma perda substancial da sua autono‐
mia relativa face ao mundo industrial, comercial e ao poder político. A ciência moderna organizou‐se como espaço com independência perante outros âmbitos, como a religião, a política e a economia, desde os séculos XVII e XVIII na Inglaterra, edificando papéis científicos delimitados por princípios internos reguladores da actividade científica. O desenvolvimento e expansão da ciência não envolveram apenas a criação de teorias, modos operatórios e a realização de des‐
cobertas, mas um processo social de institucionalização num contexto que lhe foi favorável. A análise histórica das relações entre ciência e sociedade dá a conhecer um campo científico heterogéneo, que não é imune à influência do poder, do comércio, do prestígio e se relaciona com sectores sociais fora da esfera científica. A imbricação entre ciência, tecnologia e indústria é um elemento fulcral da consti‐
tuição das sociedades industriais e, no século XX, a ciência foi adquirindo também uma feição crescentemente industrializada, que se tornou manifesta no período subsequente às Guerras Mundiais. Grandes empresas passaram a integrar labora‐
tórios no seu interior e muitos laboratórios também se transformaram em empre‐
sas ou passaram a trabalhar como empresas. A indústria passou a ser uma entida‐
de com uma componente científica cada vez mais intensa e sectores da ciência foram revestindo uma forma industrial. As teses que defendem a não linearidade da inovação tecnológica, isto é, a interacção entre a investigação científica e outras áreas na cadeia de inovação como o desenvolvimento do produto ou o marketing, confirmam plenamente a integração da ciência nos objectivos mercan‐
tis10. A indústria e vários campos particulares da ciência e da tecnologia estabele‐
ceram vínculos sólidos de carácter transnacional, geralmente com o apoio e incen‐
tivo expresso dos Estados nacionais onde estão integradas. A inscrição de esferas científicas na economia e na competição dos mercados reforçou‐se como tendência ideológica e como realidade concreta no quadro do vigor neoliberal emergente no curso histórico decorrente das crises energéticas dos anos 1970 e das depressões económicas de finais dos anos 1980. Embora ain‐
da não existam suficientes estudos documentados que apontem o sentido das mudanças de reconfiguração do conjunto do campo científico e da sua incorpora‐
ção à esfera industrial e comercial11, em áreas como a das ciências biológicas e médicas existem indicações consideráveis da endogeneização destas na esfera empresarial e na lógica da comercialização, assim como de alterações importantes no estatuto e mandato dos investigadores, muitos vivendo sob a pressão da sua conversão em produtores de mercadorias12. A ciência, de esfera relativamente 10 Ver Kline e Rosenberg (1986: 275‐305). 11 Entre a já relativamente considerável literatura que discute este tópico ver Gibbons et al. (1994), Ziman (1994; 1996), Weingart (1997), Krimsky (2003), Pestre (2003), Nowotny et al. (2001; 2005), Shinn e Ragouet (2008), Garcia e Martins (2008: 397‐417). 12 A este respeito, ver, entre outros, Garcia (2006a; 2006b) e Guespin‐Michel e Jacq (2006). 26 José Luís Garcia autónoma inerente às sociedades liberais e apoiada pelas universidades e labora‐
tórios públicos, tem vindo a estar sujeita a uma orientação que a integra no siste‐
ma económico de mercado e num campo subordinado à capitalização do conhe‐
cimento – isto é, à sua transformação em “capital conhecimento”. Muitos actores do mundo científico, uns entusiastas com a nova missão que a ciência e o ensino superior devem jogar no crescimento económico e outros indiferentes ao que está em causa nas políticas de ciência e tecnologia, estão a abandonar a dimensão moral da sua actividade, a qual se traduzia na ideia de conhecimento como bem público e isento. Deste ponto de vista, faz todo o sentido questionar os problemas associados ao aumento da influência das grandes corporations nas decisões de um sector sensível da própria civilização liberal, o das interrelações entre as ciências, o Estado, o mercado e o espaço público. A pressão exercida pelos governos e pelas corporations está a conduzir à metamorfose em mercadoria de sectores cada vez vastos da universidade e da investigação científica, e ainda a gerar conflitos provo‐
cados pelos próprios avanços científicos e tecnológicos em domínios como os da nossa relação com o fenómeno da vida e com a natureza. Com o vigor que o liberalismo económico foi infundindo, a lógica que passou a predominar nas sociedades industriais de mercado tomou a configuração de um sistema de mercado auto‐regulado em processo incessante de expansão e apro‐
fundamento, cujo veículo reside na capacidade do universo tecnológico integrar os indivíduos nos seus mecanismos de produção, consumo e cultura. As posições que vislumbram a democratização da inovação por via da participação do consumidor nas novas tecnologias, apontando este desenvolvimento tecnológico como uma emanação do cidadão, de que von Hippel (2006) é um exemplo, tendem a negli‐
genciar que o discurso da co‐criação é uma forma de domínio que na verdade utili‐
za o trabalho do consumidor para fins empresariais (Zvick et al., 2008: 163). O estímulo à inovação tecnológica tem como contrapartida a procura de um alto grau de adopção social aos produtos e resultados tecnológicos em geral regulado apenas pelo mercado (ou, no que toca às armas, pela eficácia bélica autorizada pelos Estados) e prescindindo de considerações de origem ética, filosófica ou reli‐
giosa. A engrenagem da inovação tecnológica foi desenvolvendo o determinismo tecnológico como princípio que rege as sociedades industriais, do mesmo modo que o mecanismo de mercado, como assinalou Polanyi13, tornou largamente o determinismo económico num condutor destas sociedades. Sendo verdade que tanto o determinismo tecnológico, como o determinismo económico, não passam de falácias quando são considerados como uma teoria das sociedades humanas, não nos parece menos rigoroso afirmar que, no quadro das sociedades actuais, são esses determinismos que estão a marcar muitas das direcções do nosso rumo social e o tipo de problemas e perigos que temos de enfrentar. As últimas décadas do século XX foram conduzidas pelos líderes mundiais que dirigem a economia e a política de acordo com a orientação que afirma a inovação tecnológica e o mercado como o âmago da vida económica e social, recusando a existência de outro destino que não seja aquele que se subordina a esse primado. Nesta orientação ressoam, como se disse no início deste artigo, ecos ténues – e deformados – da convicção defendida por diversas variantes do modernismo 13 A posição do autor a este respeito encontra‐se bem exposta em Polanyi (s.d.). Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano 27 segundo a qual a ciência e a indústria iriam garantir o bem‐estar humano e que o progresso se articulava necessariamente com o avanço tecnológico e a mudança económica. A experiência que o século XX fez com estas ideias trouxe o conheci‐
mento que muita inovação não está apenas relacionada com benefícios, mas com destruição bélica, ecológica e com desigualdade social, que os avanços tecnológi‐
cos integram poder económico e político e não implicam apenas invenção, condu‐
zindo também ao conflito. A orientação ideológica que tem condicionado o senti‐
do das sociedades desde os alvores do século XXI procura impor a mudança tecnológica e as relações de mercado não tanto por as associar à possibilidade de serem um factor para o bem‐estar humano geral ou o progresso, mas por razões menos nobres e despidas de ideal cívico. Descurando qualquer avaliação das for‐
mas predominantes de envolvimento da ciência e da tecnologia na economia de mercado do século XX, nos desastres ambientais e nas guerras, negligenciando o carácter controverso de muitas ousadias técnicas e não querendo saber dos pro‐
blemas que pode implicar a confiscação da universidade e da ciência por parte da economia liberal, a mentalidade da inovação tem vindo a afirmar o seu poder fren‐
te a qualquer regulação ou ponderação dos seus rumos em termos sociais, ecoló‐
gicos e políticos (descurando‐se até o reconhecido carácter estocástico que a ino‐
vação em si comporta, exigindo por isso maior vigilância)14. As elites dirigentes estão convencidas que somos seres económicos e mercantis por natureza, negan‐
do assim o nosso carácter primacial como seres sociais e simbólicos; não conse‐
guem imaginar outro caminho que não seja o de aumentar a capacidade das máquinas e de prosseguir com o projecto de dominar de forma ilimitada a nature‐
za e de procurar a riqueza económica infinita, e para tal tentam evitar que a cida‐
dania pondere as decisões de orientação para a universidade, de política de inves‐
tigação e de directrizes económicas. A disposição geral do período histórico, que adquiriu contornos cada vez mais nítidos a partir da Segunda Guerra Mundial, assumiu uma feição crescentemente tecnoeconómica, estando em marcha uma tendência firme de fusão ciência‐
‐tecnologia‐mercado que é cega a qualquer pergunta sobre o tipo de mundo que está a estimular. É num contexto de sobredimensionamento da esfera tecnomer‐
cadológica que a vida humana e social agora largamente decorre para a maioria da humanidade, dependente de serviços técnicos – abastecimento de água, luz, meios de transportes, comunicação, alimentação, etc. – que se situam a grande distância das comunidades, dominados por experts e empresas, e cujas falhas podem significar situações de degradação, incerteza e ansiedade. Também as acções humanas, em particular, as que têm consequências sociais mais penetran‐
tes, são preponderantemente desenvolvidas através de sistemas técnicos e cone‐
xões técnicas submetidas à lógica da mercantilização. 14 Deve ser observado que Schumpeter distinguiu invenção de inovação, sendo que a primeira é a criação do produto e a segunda o produto que tem sucesso, aquele que se adapta à socie‐
dade. Este último, central neste artigo, é por si só problemático, porque na actual “sociedade de mercado” sucesso significa consumo, o que não é necessariamente o melhor critério. O ideal seria, entrando no registo político, que o bem‐comum fosse o critério de “sucesso”. Embora carecendo de demonstração, a prática corrente dos programas de incentivo à inova‐
ção parece guiar‐se, por ora, pela omissão relativamente ao bem‐comum que vá para além do ambiente e do emprego. 28 José Luís Garcia Tomar consciência das consequências da esfera tecnoeconómica para a ace‐
leração do caminho em que as sociedades contemporâneas estão embrenhadas não tem que significar a sua aceitação e, pelo contrário, pode ser uma forma de insistir na defesa de uma ideia de homem e de sociedade que concede primazia à esfera das relações sociais, contraditando uma perspectiva baseada no primado da tecnologia e do sistema económico. Admitir em termos descritivos e interpretati‐
vos que nas sociedades contemporâneas a mudança tecnoeconómica opera como um motor que revolve a estrutura social, política, legal, o mundo das artes, as crenças, os costumes e escalas de valores, não implica a defesa, epistemológica ou política, do determinismo económico e tecnológico. Aqueles que negam que é a esfera tecnomercadológica que tem estado extensamente a condicionar tudo o demais, ainda que movidos pela defesa abstractamente intocável da identidade social e política dos seres humanos, não contribuem para que se perceba com cla‐
reza que só actuando politicamente é possível criar um mundo menos injusto socialmente, menos desequilibrado nas suas relações com a natureza e menos irreflectido com o poder dos dispositivos técnicos. A corrente do “construtivismo social da tecnologia” tem como intuito estudar as diversas modalidades como os sistemas e artefactos tecnológicos estão entrelaçados com o contexto social e várias vozes da “nova sociologia económica” procuram mostrar como os mercados estão inseridos na vida social. Constituindo estes empreendimentos perspectivas e agendas de pesquisa completamente legítimas para gerar conhecimento sociológi‐
co, não dispensam, porém, a existência de outros olhares e projectos mais centra‐
dos no questionamento das opções em matéria de investigação, das escolhas sobre os sistemas tecnológicos, bem assim como os âmbitos em que o mercado se deve subordinar à regulação pública15. Nas nossas “sociedades de mercado”, mais do que ser uma teoria equivocada do mundo social, o determinismo tecnoeconó‐
mico é um facto. A constatação de que o determinismo tecnoeconómico está a condicionar poderosamente tudo o resto é a única forma de ter claro que só a consciência ética e a acção política podem ser os meios de alterar a esfera tecnoe‐
conómica e a sua grandeza na vida social. As sociedades têm diante de si a responsabilidade de enfrentar problemas de enorme magnitude gerados pelas tendências descritas, sobressaindo entre eles os que são inerentes a esta civilização tecnológica, como a crise ecológica global, o espectro das guerras nucleares e a possibilidade do controlo biológico do ser humano – e também a mercadorização das formas de vida, das mais simples às mais complexas – através da engenharia genética. Paralelamente, o mundo con‐
temporâneo mantém, pelo menos para a imensa maioria da humanidade, muitos dos graves problemas de escassez e enfermidade que tinha à entrada das socieda‐
des industriais. A indústria, a ciência e a tecnologia, cujos sucessos jogaram inega‐
velmente um papel na melhoria das condições dos seres humanos, converteram‐
‐se numa fonte de dificuldades e incertezas num sistema que se encontra 15 Uma contribuição valiosa para uma ponderação sobre a noção de determinismo tecnológico é a de Bimber (1990: 333‐351), em particular, a distinção que faz entre determinismo tecnológico “nomológico”, “normativo” e das “consequências não intencionais”. Neste artigo, estando em causa a interpretação do sistema, referimo‐nos ao normativo (a crença no determinismo como promessa e necessidade) e ao das consequências não intencionais (envolvido no discurso da incerteza), recusando‐se o nomológico – “leis que regem as sociedades humanas”. Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano 29 actualmente sob o impulso do ultraliberalismo económico e do projecto de cons‐
trução de um mercado mundial autoregulado. O regime de inovação permanente como motor do crescimento económico, da construção de mercados de futuros na área biológica e em outros domínios, da constituição de um biocapital, ou ainda como meio de descobertas ao serviço do poder, da violência e da guerra, coloca a humanidade não só diante de questões morais e políticas completamente desco‐
nhecidas, como sobretudo de um horizonte inédito de ameaças e perigos que é obra dos próprios seres humanos. Acresce que tudo isto ocorre numa circunstân‐
cia em que o elemento político surge com uma imagem de debilidade e irrelevân‐
cia no que diz respeito ao debate e à tomada de posições adequadas sobre os pro‐
blemas levantados pelas novas formas de poder. Moldar a sociedade ao sistema tecnoeconómico vigente, para o conservar sem alterações de maior, tem sido a orientação das oligarquias que comandam o mundo. Intervir de forma consciente e responsável neste sistema, para o abrir à discussão pública e colocar ao serviço do bem comum, tem sido defendido por aqueles que acreditam numa sociedade verdadeiramente democrática. Mas mes‐
mo esta segunda opção, para ser bem sucedida, necessita que seja enformada por uma concepção do ser humano e da sociedade muito distintas da que nos foi lega‐
da pela crença na tecnologia e na economia de mercado como fins últimos da vida humana. Referências bibliográficas Bimber, Bruce (1990), “Karl Marx and the three faces of technological determinism”, Social Studies of Science, 20: 333‐351. Bruni, Luigino; Zamagni, Stefano (2007), Civil Economy Efficiency, Equity, Public Happi‐
ness, Oxford, Peter Lang. Dosi, G. (1992), “Technological paradigms and technological trajectories. A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change”, Research Policy, 11 (3): 147‐162. Fagerberg, Jan et al. (2005), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford, Oxford Uni‐
versity Press. Ferreira, José M. Carvalho; Marques, Rafael; Peixoto, João; Raposo, Rita (orgs.) (1996), Entre a Economia e a Sociologia, Oeiras, Celta. Freeman, C. (1995), “The national system of innovation in historical perspective”, Cambridge Journal of Economics, 19: 5‐24. Garcia, José Luís (2006a), “Biotecnologia e biocapitalismo global”, Análise Social, vol. XLI, 181: 981‐1009. Garcia, José Luís (2006b), “As tecnociências da vida e as ameaças do eugenismo e da pós‐humanidade”, in A. P. Pita, J. L. Garcia, L.A. Costa Dias e P. Granjo, Quatro Olhares sobre a Cultura, Barreiro, Cooperativa Cultural Popular Barreirense. Garcia, José Luís; Martins, Hermínio (2008), “O ethos da ciência e as suas transfor‐
mações contemporâneas, com especial atenção sobre a biotecnologia”, in Manuel Villaverde Cabral et al., Itinerários. A investigação nos 25 anos do ICS, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, pp. 397‐417. Gellner, Ernest (1995 [1992]), Razão e Cultura: papel histórico da racionalidade e do racionalismo, Lisboa, Teorema. Gibbons, Michael et al. (1994), The New Production of Knowledge: the dynamics of sci‐
ence and research in contemporary societies, London, Sage. 30 José Luís Garcia Graça, João Carlos (2005), “Afinal, o que é mesmo a nova sociologia económica?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 73: 111‐129. Granovetter, Mark (1990), “The old and the new economic sociology: a history and an agenda”, in Roger Friedland e A. F. Robertson (orgs.), Beyond the Marketplace: rethinking economy and society, New York, Aldine de Gruyter. Guespin‐Michel, Janine; Jacq, Annick (coord.) (2006), Le Vivant, entre Societé et Mar‐
ché: une démocratie à inventer, Paris, Éditions Syllepse e Espaces Marx. Jorge, Maria Manuel Araújo (1995), Biologia, Informação e Conhecimento, Lisboa, Fun‐
dação Calouste Gulbenkian e Junta Nacional de Investigação Científica. Keller, Evelyn Fox (2000), The Century of the Gene, Cambridge, MA, Harvard University Press. Kline, J.; Rosenberg, N. (1986), “An overview of innovation”, in R. Landau e N. Rosenberg (eds.), The Positive Sum Strategy: harnessing technology for eco‐
nomic growth, Washington DC, National Academy Press, pp. 275‐305. Krimsky, Sheldon (2003), Science in the Private Interest. Has the lure of profits cor‐
rupted biomedical research?, Oxford, Rowman & Littlefield. Leite, Marcelo (2006), Promessas do Genoma, São Paulo, Editora UNESP. Lewontin, Richard (1998), Biologia como Ideologia, Lisboa, Relógio D’Água. Nowotny, Helga; Pestre, Dominique; Schmidt‐Aßmann, Eberhard; Schulze‐Fielitz, Helmuth; Trute, Hans‐Heinrich (2005), The Public Nature of Science under As‐
sault: Politics, markets, science and the law, Springer. Nowotny, Helga et al. (2001), Re‐Thinking Science: knowledge and the public in age of uncertainty, London, Polity Press e Blackwell Publishers. Oyama, Susan (2000), The Ontogeny of Information, Durham, NC, Duke University Press. Pestre, Dominique (2003), Science, Argent et Politique. Un essai d’interpretation, Paris, INRA. Polanyi, Karl (2000 [1944]), A Grande Transformação. As origens na nossa época, São Paulo, Elsevier e Editora Campus. Polanyi, Karl (s.d.), http://www.adelinotorres.com/desenvolvimento/Karl%20Polanyi_ A%20nossa%20obsoleta%20mentalidade%20mercantil.pdf, a partir de uma publicação intitulada “Our obsolete market mentality”, Commentary, vol. 3, Fevereiro de 1947: 109‐117. Schrödinger, Erwin (1989 [1944]), O que é a Vida? Espírito e matéria, Lisboa, Fragmen‐
tos. Shannon, Claude; Weaver, Warren (1949), The Mathematical Theory of Communication, Urbana, Illinois, The University of Illinois Press. Smelser, Neil; Swedberg, Richard (orgs.) (1994), The Handbook of Economic Sociology, Princeton, New Jersey, Russel Sage Foundation. Schumpeter, J. A. (1976), Capitalism, Socialism and Democracy, London, Routledge. Schumpeter, J. A. (1996), Ensaios, Empresários, Inovação, Ciclos de Negócio e Evolução do Capitalismo, Oeiras, Celta Editores. Ségalat, Laurent (2009), La Science à Bout de Soufflé?, Paris, Seuil. Shinn, Terry; Ragouet, Pascal (2008), Controvérsias sobre a Ciência. Por uma sociologia transversalista da atividade Científica, São Paulo, Editora 34. Sunder Rajan, K. (2006), Biocapital: the constitution of postgenomic life, Durham, Duke University Press. Swedberg, Richard. (2003), Principles of Economic Sociology, Princeton, Princeton Uni‐
versity Press. Thacker, E. (2005), The Global Genome: biotechnology, politics, and culture, Cam‐
bridge, MA, MIT Press. Tecnologia, Mercado e Bem‐Estar Humano 31 von Hippel, Eric (2006), Democratizing Innovation, Cambridge, MA, The MIT Press. Weingart, P. (1997), “From ‘Finalization’ to ‘Model 2’: old wine in new bottles?”, Social Science Information, vol. 36, 4: 591‐613. Wiener, Norbert (1948), Cybernetics, Cambridge, MIT Press. Ziman, J. (1996), “Postacademic science: constructing knowledge with networks and norms”, Science Studies, vol. 9, 1: 67‐80. Ziman, J. (1994), Prometheus Bond. Science in a steady state, Cambridge, Cambridge University Press. Zvick, Detlev et al. (2008), “Putting consumers to work: ‘co‐creation’ and new market‐
ing governmentality”, Journal of Consumer Culture, 8. A IMPORTÂNCIA DA “BAIXA” TECNOLOGIA NA INOVAÇÃO EM BIOMEDICI‐
NA, OU O CAMINHO “MODESTO” PARA O PRÉMIO NOBEL1 João Arriscado Nunes Em Julho de 2005, o Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia foi atribuído a dois australianos, o patologista Robin Warren e o médico Barry Marshall, pelo seu trabalho sobre a bactéria Helicobacter pylori e a sua relação com patologias comuns da região gástrica. Para alguns, a distinção não era senão o reconhecimen‐
to, há muito merecido, de uma contribuição de grande relevância para a medicina. Para outros, ela significou o triunfo de um estilo de investigação em medicina com raízes nos trabalhos pioneiros da microbiologia do século XIX. Para outros, ainda, o significado da distinção residia no facto de, dessa vez, o Prémio Nobel consagrar um trabalho com um impacto visível e significativo nas vidas e no bem‐estar de milhões de doentes pelo mundo fora. Não deixou de ser notado que, na ocasião, pouco se falou de genes, de genomas ou de temas ou tecnologias “de ponta”. Warren e Marshall haviam procedido à identificação, isolamento e cultura de um agente infeccioso e demonstrado as relações causais entre este e algumas patolo‐
gias comuns do estômago, como a gastrite crónica ou a úlcera péptica, abrindo assim caminho ao diagnóstico e a terapias eficazes dessas patologias. Os dois aus‐
tralianos mostraram que havia caminhos modestos que também levavam ao Nobel, sem a necessidade de ceder às modas científicas ou de procurar aparecer nas manchetes. Em todo o caso, tratava‐se do coroar de um longo processo, ini‐
ciado em finais da década de 1970, que levou a bactéria Helicobacter pylori a tor‐
nar‐se num ponto de passagem obrigatório (Latour, 1984, 1987, 1999) para os gas‐
troenterologistas e para os que eram afectados por doenças gástricas. Warren e Marshall tornavam‐se, assim, os principais porta‐vozes da bactéria e das associa‐
ções que permitiam que o que outrora fora considerado como uma entidade ine‐
xistente se tornasse uma entidade biomédica real. Nas secções seguintes, é apresentada uma versão desta história, que se apoia, sobretudo, nas narrativas na primeira pessoa do processo de “descoberta” 1 A investigação que serviu de base a este artigo foi realizada no âmbito do projecto “Biografias de Objectos e Narrativas de Descoberta nas Ciências Biomédicas: O caso de Helicobacter pylo‐
ri”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (POCI/HCT/59430/2004), realizado no Centro de Estudos Sociais. Agradeço a Oriana Brás, Marisa Matias e Ana Raquel Matos a ajuda na preparação da versão original deste texto. O relatório final do projecto (Nunes et al., 2008) está disponível em www.ces.uc.pt. Veja‐se ainda Nunes (2004; 2007). Um agradecimen‐
to especial é devido aos Professores Manuel Sobrinho Simões, José Carlos Machado, Céu Figueiredo e Francis Mígraud. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 33‐54. 34 João Arriscado Nunes de Helicobacter pylori por Warren e Marshall e nas publicações que documenta‐
ram as diferentes fases desse processo. O objectivo principal deste texto é o de oferecer uma análise e interpretação do modo como Helicobacter pylori se foi constituindo numa entidade real através do trabalho de criação de associações com actores e entidades heterogéneas, traçando o percurso de uma “ontologia móvel” (Daston, 2000)2 que a levou, sucessivamente, da condição de agente pato‐
génico plausível à de entidade inexistente e, finalmente, à de entidade biomédica estabelecida e reconhecida. A abordagem A abordagem aqui mobilizada é inspirada na chamada Teoria do Actor‐Rede (TAR) e, em particular, na versão proposta por Michel Callon em 1986 (Callon, 1999).3 Mais do que uma teoria, a TAR é um conjunto de abordagens que partilham premissas comuns no plano da ontologia e dos procedimentos. A versão aqui adop‐
tada é especialmente adequada à tarefa de rastrear os processos de constituição de associações fortes entre actores humanos e não‐humanos que permitem “fazer exis‐
tir” entidades como bactérias que causam doenças enquanto entidades que podem ser conhecidas e manipuladas no quadro de práticas clínicas e de investigação, enquanto elementos do que Keating e Cambrosio designam de plataformas biomé‐
dicas (Keating e Cambrosio, 2003). A história de Helicobacter pylori constitui um caso exemplar do tipo de processos que Callon e Latour descreveram e discutiram nos seus trabalhos pioneiros de meados da década de 1980 (Latour, 1984; Callon, 1999). Callon (1999) distingue quatro momentos no processo de forjar associações fortes através do que, no vocabulário da TAR, se designa de “tradução”: problema‐
tização, interessamento, alistamento e mobilização. De facto, como nota Callon, esses quatro momentos tendem a recobrir‐se parcialmente, e qualquer relato do processo de tradução terá de lidar com as contingências que daí decorrem e que caracterizam os processos de tradução. A primeira fase, a problematização, corresponde ao processo através do qual certos actores se tornam indispensáveis para responder a uma dada situação ou problema. Inclui‐se aqui a definição do problema de uma forma que seja capaz de compelir outros actores a juntar‐se aos que problematizam. É possível, assim, identificar dois actores, Robin Warren e Barry Marshall, como o “primum movens da história” (Callon: 1999: 68). Seguindo uma prática comum associada à versão da TAR aqui adoptada, irei organizar o relato que se segue em torno do “seguir” des‐
ses dois actores. Neste caso, e como veremos, os que problematizam não são ape‐
nas Marshall e Warren, mas também as bactérias: estas criam literalmente uma situação problemática à qual Marshall e Warren respondem através de nova pro‐
blematização. São ainda possíveis problematizações alternativas, e por isso são necessários outros passos para que uma delas se afirme como a maneira “certa” ou “única” de lidar com a situação. A problematização envolve a definição de um 2 Sobre este tema, veja‐se ainda Nunes et al. (2008), especialmente os capítulos 1 e 6; Geison e Laubichler (2001); e Rheinberger (1997). 3 Para abordagens mais gerais da TAR e das suas diferentes versões, veja‐se Law e Hassard (1999) e Latour (2005). A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 35 ponto de passagem obrigatório para todos os actores, sem o que estes não serão capazes de responder adequadamente e com sucesso à situação (de acordo com as suas expectativas e objectivos). A segunda fase, o interessamento, exige que aqueles que aderiram à definição do problema proposta na primeira fase sejam “fixados”, tornando elevados os custos de não se aliarem aos “problematizado‐
res”. Para isso, estes recorrem a “dispositivos de interessamento”, que são coloca‐
dos entre os aliados potenciais e outros actores, opositores ou potencialmente hostis. A fase seguinte, o alistamento, implica a atribuição de papéis específicos a todos os “interessados” e a sua coordenação. Em situações como a que é aqui considerada, esse resultado é conseguido através da produção de enunciados que têm a pretensão de ser mais certos ou rigorosos, bem como dos meios de os pôr à prova de maneira a confirmar a capacidade desses enunciados de resistir a críticas ou a problematizações alternativas ou, ao contrário, a tornar visível a sua vulnera‐
bilidade ou fragilidade. Finalmente, o quarto momento, a mobilização, diz respeito ao modo como os “problematizadores” se tornam porta‐vozes dos outros actores que foram “interessados” e “alistados”. Os materiais utilizados incluíram as narrativas de Marshall e de Warren publi‐
cadas num volume organizado por Marshall que reúne um conjunto de ensaios sobre a história das observações e da investigação sobre bactérias no estômago humano (2002a), artigos publicados por Warren e Marshall entre 1983 e 1985, outras publicações e entrevistas realizadas em Outubro de 2007, com vários pro‐
tagonistas deste episódio da história da biomedicina.4 O foco deste texto incidirá, nas secções seguintes, no processo de emergência da entidade que viria ser desig‐
nada Helicobacter pylori, ou seja, até à demonstração bem sucedida da sua relação causal com doenças comuns da região gástrica. Helicobacter antes de Helicobacter, ou a impossível infecção… Em 1979, Robin Warren, então patologista no Royal Perth Hospital, na Austrá‐
lia, encontrou em biopsias da mucosa gástrica de doentes com gastrite o que pareciam ser bactérias em forma de S. Através de um processo de coloração comum, Warren estabeleceu que se tratava, de facto, de bactérias. O que havia de estranho na descoberta de Warren era o facto de ela contradizer o que, na altura, era uma posição consagrada na gastroenterologia que, desde há mais de um sécu‐
lo, mas sobretudo desde os trabalhos de Ed Palmer, publicados em 1954, afirmava que as bactérias não podiam sobreviver no ambiente ácido do estômago, a não ser em estômagos atróficos ou afectados por úlceras.5 Mas, mesmo nesses casos, a 4 A análise foi realizada, sobretudo, a partir de uma leitura rigorosa (close reading) das narrativas de Warren (2002) e Marshall (2002b), que constituem os dois relatos mais completos e pormeno‐
rizados deste episódio que estão disponíveis. A sua riqueza e pormenor tornam‐nos especialmen‐
te adequados ao tipo de análise que aqui é oferecida. Entre as publicações anteriores sobre o mesmo episódio, as mais interessantes são as do filósofo da ciência Paul Thagard (1998a; 1998b; 1999). A abordagem de Thagard, contudo, difere da que aqui é proposta, na medida em que ela procura, sobretudo, ilustrar uma teoria sobre a descoberta e a explicação na actividade científica. Para uma apresentação e discussão mais extensas e detalhadas dos resultados do projecto de investigação em que se baseou este texto, veja‐se Nunes et al. (2008). 5 Sobre a história de como as bactérias no estômago foram convertidas de entidades plausíveis em entidades inexistentes, veja‐se as contribuições incluídas em Marshall (2002a) e Nunes et al. (2008: 71‐73). 36 João Arriscado Nunes posição corrente era a de que a infecção bacteriana parecia ser secundária e de pouca relevância, e de forma nenhuma deveria ser considerada como a causa da doença ou lesão (Warren, 2002: 151‐152; Palmer, 1954). As práticas então correntes na gastroenterologia e na patologia gástrica aju‐
davam a consolidar essa posição. Antes da década de 70, as endoscopias eram menos comuns do que viriam a ser mais tarde, e a maioria dos estômagos que apareciam nos laboratórios de patologia eram enviados de blocos operatórios, mas provinham também de autópsias, chegando ao laboratório já depois de ini‐
ciada a digestão dos tecidos por acção de enzimas e ácidos. Por essas razões, nem as bactérias nem os pormenores da mucosa gástrica estavam disponíveis para exame patológico. A gastrite crónica era, por isso, difícil de diagnosticar, e pensa‐
va‐se que ela tinha uma importância menor do que as úlceras ou o cancro do estômago. Só as patologias mais visíveis recorrendo às tecnologias então utilizadas eram, por isso, identificadas com mais frequência (Warren, 2002: 152). Warren elenca, a esse propósito, um conjunto de crenças, práticas, tecnologias e patologias. Em primeiro lugar, refere‐se a um “estilo” de visualização e interpreta‐
ção de materiais de biopsias e de outros espécimes associado à crença na ausência de bactérias como causa de doenças do estômago humano. Em segundo lugar, essa crença está associada, por sua vez, às características dos materiais acessíveis aos patologistas e às formas então correntes de descrever patologias gástricas. O uso de tecidos animais como ilustração em manuais contribuiu, segundo Warren, para essas descrições (equivocadas, ainda segundo ele). Finalmente, o uso limitado de tecnolo‐
gias como a endoscopia – e as próprias limitações dessa tecnologia, até ao início da década de 70 –, não permitiam a obtenção de biopsias gástricas “bem fixadas”. Estamos, assim, perante o que parece ser uma configuração robusta de factores que se opõem a que as bactérias sejam “visíveis”. Qualquer mudança nessa configuração exigiria, para começar, que a sua con‐
sistência, ou a congruência dos elementos que a constituíam, fosse contestada de forma eficaz, através do enfraquecimento e, a seguir, da dissolução dos vínculos que mantinham as relações entre esses elementos. O trabalho de Warren durante os anos finais da década de 70 irá, precisamente, dar os primeiros passos nessa direcção, passando por três acontecimentos principais. O primeiro, que não é facilmente identificável a partir das cartas e dos artigos publicados, foi a adopção entusiástica de uma nova classificação das gastrites, publicada em 1972 por Whi‐
tehead, Truelove e Gear, que Warren considerou “lógica e fácil de usar”, em con‐
traste com práticas anteriores de descrição e classificação de cortes de biopsias. Essa classificação baseava‐se no uso de características como a localização da biop‐
sia, a sua profundidade, o tipo e severidade da inflamação, o grau de atrofia das glândulas gástricas e a presença de metaplasia intestinal (Warren, 2002). Um aspecto que Warren destacou e que viria a ser particularmente importante para o seu trabalho foi a descrição de uma “alteração histológica específica que [os auto‐
res] referiam como ‘actividade’, e que era uma característica comum que havia antes sido ignorada. Podia ver e medir essas alterações, e os resultados pareciam consistentes” (Warren, 2002: 152). O segundo acontecimento foi o surgimento, pela mesma época, de uma nova tecnologia para a gastroscopia, o endoscópio de fibra óptica, que finalmente veio a permitir a obtenção de biopsias gástricas adequadas. O terceiro acontecimento, A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 37 finalmente, foi o interesse pouco ortodoxo de Warren por diferentes modos de coloração para a visualização de bactérias em cortes histológicos (Warren, 2002). Dado que a maioria das técnicas usadas para esse efeito coloriam também os teci‐
dos e assim tornavam “muito difícil ver micro‐organismos contra esse fundo com‐
plexo”, Warren veio a interessar‐se por duas técnicas que não apresentavam esse problema: a coloração de Gram e a de Warthin‐Starry, especialmente a segunda. Um elemento adicional foi a microscopia electrónica, a que voltaremos mais tarde, que melhorou consideravelmente a capacidade de visualizar os pormenores de cortes de biopsias.6 Em Junho de 1979, Warren tinha à sua disposição biopsias gástricas bem fixa‐
das, que davam a ver, à superfície, grandes quantidades de “bactérias suspeitas” (Warren, 2002: 153). O próprio Warren descreve o acontecimento em termos pró‐
ximos dos da descrição de um actor‐rede, de uma associação de actores humanos, de tecnologias e de materiais biológicos: Eu havia assistido à chegada do endoscópio e à consequente melhoria da qualidade das biopsias gástricas. Tinha lido a descrição, por Whitehead, da histologia e patologia gástricas. Andava a experimentar usos da colo‐
ração de Warthin‐Starry. Assim, pedi a coloração, neste caso, e lá estava, diante dos meus olhos, uma bela coloração de prata, com numerosos bacilos visíveis com clareza, mesmo com ampliação de baixa potência (Warren, 2002: 153). No relatório dessa observação, Warren sugere, pela primeira vez, uma possível associação entre a gastrite e a presença de bactérias, e faz a primeira referência a essas bactérias como apresentando a morfologia de bactérias pertencendo a um género já conhecido, o género Campylobacter. O relatório, de facto, faz convergir, no mesmo texto, a descrição de uma lesão da mucosa gástrica de um doente e a referência à presença de bactérias, e sugere uma possível associação entre os dois, baseada principalmente na localização das bactérias. O papel da microscopia elec‐
trónica nesta observação aparece, pela primeira vez, como um elemento central, cuja importância irá crescer ao longo dos anos seguintes. Warren, contudo, não pro‐
pôs nenhuma explicação e recomendou que a condição do doente continuasse a ser investigada. Mas estava presente, já, a sugestão de que a infecção pela bactéria poderia ser a causa da lesão observada. Estavam aqui reunidos, pela primeira vez, os principais ingredientes daquela que viria a ser a sua primeira publicação sobre o tema, uma carta ao director da revista Lancet, publicada em 1983. Os colegas de Warren consideravam que as bactérias por ele observadas eram indubitavelmente entidades reais, mas sugeriram‐lhe que procurasse mais casos. De facto, a multiplicação de observações permitiria tornar as conclusões de Warren mais robustas, mais resistentes a eventuais críticas ou a tentativas de minimizar a sua importância convertendo‐as em excepções ou em artefactos pro‐
duzidos pelas condições e técnicas de observação. Nessa altura, o que estava em jogo era a própria realidade das bactérias observadas e da sua localização e coinci‐
dência com lesões específicas do estômago, o seu estatuto enquanto “matérias de 6 Para um estudo pormenorizado do modo como a microscopia electrónica influenciou de maneira decisiva a investigação nas ciências da vida e na biomedicina, veja‐se Rasmussen (1997). 38 João Arriscado Nunes facto”, contra as tentativas de desacreditar as observações, denunciando‐as como artefactos. Essa era a condição para um primeiro e decisivo passo na desarticula‐
ção da configuração dominante de crenças e de práticas, ainda que, nessa altura, tal objectivo não fosse ainda explicitamente assumido. Ao longo dos meses seguintes, Warren foi acumulando observações de bacté‐
rias em mais casos, ainda que elas fossem, em geral, em menor número e apresen‐
tassem distribuições menos concentradas. Foi possível, contudo, confirmar algumas características morfológicas comuns aos diferentes casos e, sobretudo, parecia cada vez mais evidente a existência de uma relação entre a presença das bactérias e a ocorrência de gastrite crónica activa. A capacidade de identificar as bactérias em biopsias e de observar as alterações histológicas nos mesmos casos, segundo o pró‐
prio Warren, dependia, em boa medida, da experiência adquirida através da própria prática da observação dos casos (Warren, 2002: 154). Warren estava consciente de que a partilha das suas observações de modo a persuadir os seus colegas de que havia ali algo que merecia atenção e esforços sustentados obrigava a ampliar o número de observadores e, ao mesmo tempo, a definir um modo de registar obser‐
vações que permitisse compará‐las. Ao longo dos anos seguintes, de facto, tanto o número de observações como de observadores viriam a crescer. Chegado a este ponto, Warren conseguira recrutar outros patologistas para a observação e registo da presença de bactérias em biopsias. Além disso, havia con‐
seguido “persuadir” as bactérias a tornar‐se visíveis, através do uso de técnicas de coloração adequadas. Mas ainda não conseguia encontrar aliados entre os clínicos. Os interesses destes, de facto eram diferentes dos interesses dos patologistas. Os clínicos estavam interessados em biopsias de qualquer parte do estômago, que lhes permitissem identificar anomalias ou lesões como tumores ou úlceras. A maioria considerava ridícula a ideia de colher amostras do estômago para fins de cultura microbiológica. Tanto a doxa médica como o ethos clínico pareciam, assim, constituir obstáculos importantes para os projectos de Warren: Cuidar dos doentes era a sua preocupação principal, antes de qualquer projecto de investigação esotérico. De qualquer modo, toda a gente sabia desde há um século que as bactérias não cresciam no estômago. Porque haveria um gastroenterologista equilibrado de colher amostras de partes aparentemente normais do estômago para procurar bactérias? (Warren, 2002: 154). De cada vez que Warren tentava discutir com clínicos, estes costumavam fazer‐lhe duas perguntas. A primeira era: “Se as bactérias estão realmente lá, por‐
que é que elas não são, simplesmente, secundárias em relação à inflamação?” A segunda pergunta era: “Se as bactérias estão realmente lá, porque é que ninguém as descreveu?” A resposta de Warren à primeira pergunta era que, enquanto pato‐
logista, não podia ignorar que as “características, posição e distribuição dos bacilos tinham a aparência de uma infecção primária, com dano secundário da mucosa”. Quanto à segunda pergunta, nessa época, ainda não havia resposta. Embora hou‐
vesse, de facto, registos de observações, eles haviam sido ignorados ou postos de lado, e o já referido artigo de Palmer, de 1954, continuava a ser considerado como a referência com mais autoridade sobre o tema. A falta de respostas convincentes e apoiadas na autoridade de resultados reconhecidos tornava difícil persuadir os A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 39 clínicos a apoiar Warren, e significava também que as respostas obrigariam a um enorme esforço, necessário para desfazer as associações fortes entre a doxa médi‐
ca e a prática clínica (Warren, 2002: 155, 157). Um ano mais tarde, Warren descobriu que o Departamento de Microscopia Electrónica do hospital onde trabalhava possuía um arquivo de cerca de uma cen‐
tena de imagens que mostravam bactérias. Essas imagens haviam sido encontra‐
das por um dos seus colegas, o Professor Papadimitriou, que havia também elabo‐
rado descrições dessas imagens. Warren tentou convencer Papadimitriou a escrever um artigo em co‐autoria, mas este recusou, parecendo atribuir pouca importância ao assunto. Mesmo os que haviam observado bactérias pareciam ter pouco interesse em trabalhar sobre o assunto (Warren, 2002: 157). Warren deci‐
diu, assim, prosseguir sozinho o trabalho, mas adoptando uma estratégia diferen‐
te. Iniciou um estudo baseado no controlo negativo de biopsias gátricas arquiva‐
das, com o objectivo de descobrir em quantos dos casos que haviam sido codificados como “normais” apareciam bactérias. Apesar das dificuldades, Warren conseguiu encontrar 20 casos (dos quais foi excluído um, por erro de codificação). Ao mesmo tempo, nas biopsias com que trabalhava, Warren continuou a encon‐
trar bactérias em cerca de metade dos casos, “geralmente em biopsias com gastri‐
te crónica e apresentando alterações activas”. Inversamente, nos casos “normais” as bactérias não apareciam. (Warren, 2002: 158). Warren começou então a preparar um artigo, e quase o tinha terminado quando conheceu, em 1981, Barry Marshall. Marshall estava então em estágio no Royal Australasian College of Physicians, no departamento de Gastroenterologia, e tinha como uma das suas tarefas a realização de um pequeno projecto de investi‐
gação. Marshall viria a tornar‐se o aliado crucial de que necessitava Warren para encontrar o elo que faltava entre os resultados das análises histológicas e bacterio‐
lógicas e o que acontecia com os doentes. Em 1981, o alinhamento de actores no drama em curso das bactérias no estômago era, pois, o seguinte: – Robin Warren, um patologista com um projecto “excêntrico”; – Robin Warren, um jovem médico; – Bactérias em biopsias da mucosa gástrica, observadas por Warren, e apa‐
rentemente associadas à gastrite crónica activa; – Técnicas de coloração que permitiam às bactérias tornar‐se visíveis; – Microscopia electrónica, aumentando a visibilidade das bactérias e da sua localização; – Especialistas em microbiologia que ajudavam a processar e fazer a cultura das bactérias; – Gastroenterologistas, a maioria dos quais estavam alinhados com a ortodo‐
xia e manifestavam cepticismo em relação aos resultados obtidos e reivin‐
dicados por Warren. Do laboratório ao gabinete de consulta e de volta ao laboratório A chegada de Marshall permitiu forjar uma colaboração baseada numa con‐
vergência parcial de interesses: 40 João Arriscado Nunes Eu estava interessado nas bactérias de Robin porque, como ele e eu sabíamos, supunha‐se que o estômago era estéril. Na altura, eu não sabia, mas ele tinha tentado já desde há algum tempo, mas sem sucesso, recrutar outros para o trabalho… Eu não tinha nenhuma opinião especí‐
fica acerca da patogenicidade dos organismos gástricos, mas sabia da existência de publicações que descreviam Campylobacter jejuni como uma causa comum e recém‐descoberta de gastroenterite e de colite associada a alimentos (Marshall, 2002b: 169‐170). Por essa altura, Warren tinha ainda de convencer Marshall da plausibilidade da patogenicidade das bactérias no estômago. Apesar de o próprio Marshall reco‐
nhecer não ter opinião formada sobre o assunto, estava aberto a uma colaboração com o objectivo de organizar as experiências que permitiriam pôr à prova a possi‐
bilidade avançada por Warren, com base nos resultados que havia obtido. Numa longa conversa com Marshall, Warren “apresentou uma argumentação tão boa a favor das bactérias como agentes patogénicos que eu aceitei o conceito de manei‐
ra quase natural”. Afinal, “uma nova espécie de bactéria daria uma bela publica‐
ção, independentemente de efectivamente causar ou não uma doença” (Marshall, 2002b: 170). A contribuição de Marshall para a colaboração incluiu a tarefa crucial de estabelecer a ligação entre o trabalho em curso e a bibliografia sobre “referências anteriores a bactérias curvas”. Foi assim que Marshall viria a deparar com um con‐
junto de descrições de observações de organismos que apresentavam uma forma idêntica, do Handbook of Physiology de Susumu Ito a Vial e Orrego, Salomon e Biz‐
zozero, Freedberg e Barron e Doenges, sendo os últimos três artigos identificados através de uma citação no influente artigo de Ed Palmer, de 1954.7 A sua primeira reacção foi de decepção, ao verificar que bactérias espiralóides haviam já sido descritas. Ao mesmo tempo, contudo, nessas publicações não se considerava a relação com a gastrite, “porque a maior parte dos estudos eram sobre animais, pós‐mortem ou sobre materiais de gastrectomias” (Marshall, 2002b: 170). Esta observação aponta para um aspecto crucial da construção dos objectos científicos que está no centro de abordagens como a TAR e, de maneira mais geral, das abordagens nos estudos sobre a ciência e na história e filosofia das ciências inspiradas pela filosofia pragmatista: os objectos científicos não são definidos através de propriedades intrínsecas ou essenciais, mas através das suas vincula‐
ções ou dos seus efeitos, isto é, daquilo que eles fazem (Nunes, 2008). Este aspec‐
to foi bem compreendido (ainda que não nos mesmos termos em que aqui é apre‐
sentado) por Warren e Marshall, que não se limitaram a considerar as bactérias e a sua morfologia, mas desde muito cedo se interessaram pelas suas associações com certas patologias. Isto não significa, contudo, que tenham sido abandonados os esforços de identificação das bactérias observadas. A revisão bibliográfica efec‐
tuada por Marshall incluía o volume crescente de publicações sobre o que então se chamava os “Campylobacter‐like organisms” (CLOs) encontrados em seres humanos. Essa revisão mostrava que algumas das espécies de identificação recen‐
te eram comensais, o que suscitava dúvidas, mais uma vez, sobre o possível esta 7 Sobre esses trabalhos, veja‐se as contribuições incluídas em Marshall (2002a). A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 41 tuto de agentes patogénicos das bactérias observadas por Warren (Marshall, 2002b: 170). Outras revisões bibliográficas chamaram a atenção para estudos de biopsias gástricas de pessoas com estômagos “normais”. Esta viria a ser uma orientação decisiva para o trabalho subsequente, dado que Warren e Marshall estavam inte‐
ressados na presença de bactérias espiralóides em pessoas sem diagnóstico de patologias gástricas. Essa orientação, contudo, exigia capacidade para recrutar estômagos “saudáveis” para o estudo, dado que “as séries de biopsias de Robin haviam sido escolhidas para ele pelos gastroenterologistas que investigavam resul‐
tados anómalos de endoscopias” (Marshall, 2002b: 170). Marshall trabalhou sobre os primeiros 25 registos de Warren, codificou‐os e ampliou o estudo de maneira a incluir informação relevante obtida, sempre que possível, dos próprios doentes. Tanto Warren como Marshall estavam convencidos de que seria necessário trabalhar sobre biopsias “frescas” obtidas através de um estudo específico e, a partir dessas biopsias, fazer culturas de bactérias. Warren pediu, assim, a Marshall “biopsias limpas” de áreas do antro gástrico que não tivessem sido afectadas por lesões, em vez de biopsias de rotina, menos adequa‐
das a exames histológicos de gastrites. Marshall recrutou vinte doentes entre os que se apresentavam no hospital para endoscopias, e que tivessem suspeita de gastrite. Foram ainda colhidas biopsias adicionais de áreas do antro gástrico que, durante a endoscopia, parecessem normais. Nos cortes dessas biopsias, tanto as bactérias como a gastrite activa eram frequentes, o que animou Marshall a pros‐
seguir a investigação (Warren, 2002: 159). Marshall não só conseguiu “alistar” doentes, mas também a colaboração do Departamento de Microbiologia do Royal Perth Hospital, onde havia sido estabele‐
cida uma rotina para a cultura de bactérias espiralóides, apoiada na experiência anterior com Campylobacters. Apesar do sucesso na identificação de bactérias, durante seis meses falharam todas as tentativas de efectuar a sua cultura, mesmo com variações de meio e de atmosfera (Marshall, 2002b: 173). Entretanto, em Outubro de 1981, ocorreu um episódio que viria a ser decisi‐
vo: o primeiro tratamento bem‐sucedido com terapia anti‐infecciosa de um doen‐
te que se queixava de fortes dores de estômago e que apresentava, simultanea‐
mente, inflamação do estômago e a presença de bactérias espiralóides. O tratamento foi feito com tetraciclina, dado que era conhecido o facto de os CLOs serem sensíveis a esse composto. Tanto o doente como o médico que o assistia acederam a experimentar o tratamento e a realizar nova endoscopia e biopsia passadas duas semanas. Os sintomas desapareceram, e o paciente ficaria espanta‐
do ao descobrir que tal ocorrera graças a um tratamento com antibiótico (Marshall, 2002b: 173). Para Marshall e Warren, contudo, as coisas estavam longe de ser cla‐
ras. O estômago do doente continuava a mostrar sinais de inflamação, ainda que tivesse havido melhoria na histologia e tivessem desaparecido as bactérias. E com um único caso seria impossível argumentar de maneira sólida a favor da eficácia do tratamento com antibióticos, dado que continuavam a faltar provas de que as bactérias seriam a causa do problema. Este episódio acabaria, contudo, por ter duas consequências importantes. A primeira foi a decisão de realizar um estudo numa escala mais ampla. A segunda tinha a ver com o facto de que o procedimen‐
to seguido por Warren e Marshall os sujeitava a serem acusados de violações éti‐
42 João Arriscado Nunes cas, com o possível resultado de afastar doentes, colegas e a administração do hospital. Um estudo mais amplo teria de ser realizado em condições diferentes: “Fazer uma biopsia desnecessária é uma coisa, mas usar resultados pouco claros desse espécimen para justificar uma terapia com antibióticos era outra” (Marshall, 2002b: 173). Em 1982, foi proposto um estudo‐piloto com 100 doentes, recrutados de maneira sucessiva entre os que compareciam no hospital para realização de gas‐
troscopias, e que poderia constituir a base de um “ensaio mais elaborado com um grupo de controlo, envolvendo endoscopias e biopsias após o tratamento, com um antibiótico apropriado, de doentes afectados” (Marshall, 2002b: 175; Marshall e Warren, 1984). O protocolo do projecto definia assim as perguntas a que este pro‐
curava responder: Está a bactéria observada presente em estômagos normais? Pode‐se cor‐
relacionar a presença da bactéria com o tipo e severidade da patologia gástrica? É possível fazer culturas do organismo? Nos doentes que, inde‐
pendentemente da razão para tal, foram submetidos a gastroscopias e biopsias subsequentes, verifica‐se correlação da persistência ou desapa‐
recimento do organismo com os sintomas apresentados pelo doente? (Marshall, 2002b: 175) Todos os participantes eram voluntários, e era exigido consentimento infor‐
mado. Os procedimentos mobilizados para o estudo incluíam: um questionário incidindo sobre um leque de condições que poderiam estar associadas com a infecção bacteriana; gastroscopia; análise histológica; microscopia electrónica; e, depois de codificados os resultados, análise estatística. O questionário focava tópi‐
cos como “sintomas, uso de medicamentos, alimentação, animais domésticos e viagens”. O interesse nestes temas devia‐se a algumas especulações informadas de Marshall sobre as possíveis origens das bactérias, tais como contaminação por animais, presença do organismo entre os dentes de seres humanos, presença no leite ou em produtos lácteos, redução na protecção do estômago humano contra agentes infecciosos devido ao uso crescente de medicamentos anti‐ácidos, um micro‐organismo trazido da Ásia para a Austrália por turistas, ou mesmo algum acontecimento desconhecido ou não‐explicado. Havia também especulações sobre se o micro‐organismo não seria especificamente australiano.8 Foram feitas culturas das bactérias encontradas, recorrendo às mesmas téc‐
nicas usadas para a cultura de bactérias do género Campylobacter – cuja cultura era efectuada, em geral, a partir de amostras fecais –, dado que Warren sugerira a existência de semelhanças entre essas bactérias e as “suas”. A diferença estava na não utilização dos antibióticos que costumavam ser usados no procedimento‐
‐padrão. As culturas eram deixadas numa câmara de cultura microaeróbica duran‐
te dois dias, como era habitual, e, se após serem examinadas não apresentassem organismos considerados invulgares, eram destruídas (Marshall, 2002b: 177). Tra‐
tava‐se de técnicas laboratoriais de rotina que, por motivo de uma epidemia de um agente infeccioso num dos serviços do hospital, que mobilizara todos os técni‐ 8 Para mais pormenores sobre o estudo, ver Marshall e Warren (1984) e Nunes et al. (2008: 84‐86). A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 43 cos com mais experiência, foram executadas por jovens técnicos, que seguiram a rotina. Num primeiro momento, todas as culturas foram negativas. Devido a uma distracção, porém, uma das culturas foi deixada numa câmara durante um longo feriado de cinco dias. Verificou‐se, depois, que se haviam formado colónias na pla‐
ca, que depois de transferidas para lâminas e efectuada a coloração, mostravam a presença de bactérias. Através de microscopia electrónica, foi possível examinar em pormenor a morfologia dessas bactérias. Estas eram espiralóides, semelhantes a Campylobacter, excepto no que respeitava à presença de quatro flagelos com uma forma invulgar. A reparação de uma avaria no incubador permitiu obter rapi‐
damente mais culturas, o que tornou possível diagnosticar de maneira “muito fiá‐
vel” a presença das bactérias (Warren, 2002: 160). Embora Marshall tivesse de partir para Port Hedland, uma pequena cidade a 200 km a Norte de Perth, antes da conclusão do estudo, conseguiria ainda “termi‐
nar a organização do ensaio, convencer os clínicos a levar os seus doentes a preencher os nossos questionários pormenorizados, e associar todos os resultados clínicos ao meu relatório histológico” (id.). Marshall levou consigo os relatórios das endoscopias e organizou‐os. O resultado foi, para surpresa de ambos, que Warren havia encontrado a bactéria em todos os doentes com úlceras duodenais (13), em 24 dos 28 doentes com úlcera gástrica. “Pudemos assim mostrar que as bactérias estavam relacionadas com o tipo ‘activo’ de gastrite crónica, que delas podiam ser feitas culturas e que eram uma nova variedade de bactéria, e que estavam rela‐
cionadas com úlceras pépticas e, de maneira muito forte, com úlceras duodenais. Este último ponto foi verdadeiramente inesperado” (id.). Essa associação, explicitamente reconhecida como inesperada, entre a bacté‐
ria e dois tipos de úlceras tornar‐se‐ia mais um passo no reforço das associações necessárias à transformação da nova bactéria num agente infeccioso activo. O passo seguinte seria a publicação desses resultados, de preferência numa das revistas médicas de referência. Marshall propôs o envio de uma carta com a des‐
crição dos resultados para a revista Lancet. Warren assumiu essa tarefa, redigindo uma versão resumida de um artigo não publicado que descrevia os primeiros resultados do seu trabalho. Marshall pensava que a carta não continha nada que pudesse ser considerado “novo”, e por isso propôs escrever uma carta comple‐
mentar com uma descrição preliminar do trabalho que havia realizado com War‐
ren. Ambas as cartas foram enviadas para a revista Lancet e publicadas em 1983, após alguma discussão e negociação com o director da revista (Nunes et al., 2008: capítulo 4). Warren e Marshall haviam conseguido, nesta fase, alistar novos e poderosos aliados: os doentes que se submetiam voluntariamente a gastroscopias. Outro importante aliado era constituído pelos especialistas em microbiologia, que haviam aceitado o desafio do processamento e cultura do que se veio a revelar como uma nova espécie de micro‐organismo. Mas um acontecimento contingente contribuiu também para converter o que podia ter sido um falhanço rotundo num sucesso: uma peça de equipamento que funcionara mal e uma distracção que aca‐
bou por resultar numa experiência bem sucedida. Warren e Marshall dispunham agora de todos os recursos necessários ao lan‐
çamento de um primeiro desafio explícito à doxa da gastroenterologia e à demonstração de que os seus resultados eram, no mínimo, plausíveis. Por outras 44 João Arriscado Nunes palavras, haviam conseguido problematizar a explicação dominante de doenças gástricas comuns estabelecendo, em primeiro lugar, que pode haver bactérias na mucosa gástrica; em segundo lugar, a co‐presença dessas bactérias e de caracterís‐
ticas histológicas associadas à gastrite crónica activa; em terceiro lugar, que ambas as descobertas se “aguentavam” quando eram examinadas biopsias do antro de um número estatisticamente significativo de doentes; e, finalmente, que as condi‐
ções associadas à presença das bactérias identificadas através de exame histológi‐
co podiam não ter relação com sintomas referidos pelos doentes. Cada uma destas afirmações desafiava directamente as abordagens dominantes entre os gastroen‐
terologistas. Mas isso não era suficiente para que essas afirmações fossem conver‐
tidas em matérias de facto reconhecidas como tais por aqueles que eram desafia‐
dos, e suficientemente robustas pare que novos aliados se juntassem ao actor‐
‐rede em vias de constituição. Faltava ainda um passo importante: a publicação em revistas com avaliação pelos pares e/ou a apresentação dos resultados a reu‐
niões científicas. A publicação, em particular, confere a enunciados o estatuto de enunciados verdadeiros que conseguiram transpor com sucesso a prova da avalia‐
ção pelos pares. Publicar, porém, era apenas uma de entre várias tarefas que esperavam War‐
ren e Marshall. Estes teriam ainda de mostrar que era do interesse do conjunto dos actores envolvidos aceitar os seus enunciados e seguir o caminho por eles apontado para o diagnóstico e para o tratamento das doenças gástricas comuns. Para os doentes, isso significaria a possibilidade de diagnósticos mais rigorosos e de terapias mais eficazes. Para os clínicos, o que estava em jogo era o acesso a meios mais eficazes de descrição da etiologia das doenças gastroduodenais, do seu diagnóstico e tratamento. Mas seria preciso ainda persuadir as bactérias a mos‐
trar‐se, a revelar a sua existência e a dar a ver as propriedades que lhes eram atri‐
buídas pelos investigadores. Por outras palavras, as bactérias teriam de ser disci‐
plinadas. Mas disciplinar micro‐organismos (ou quaisquer outros objectos de investigação) exige, em primeiro lugar, que eles sejam “autorizados” a responder aos desafios que lhes são colocados pelos procedimentos experimentais. Para con‐
seguir domesticar as bactérias, seria necessário transformar os procedimentos desenvolvidos por Warren e Marshall em pontos de passagem obrigatórios (Latour, 1984) na busca de formas adequadas de diagnóstico e de tratamento. Ao longo de todo esse processo, e apesar dos sucessos indiscutíveis no alistamento de outros actores, Warren e Marshall tinham ainda pela frente a considerável oposi‐
ção dos gastroenterologistas. A “fixação” dos aliados A “fixação” dos aliados de Warren e Marshall nas posições e nos papéis que estes procuravam atribuir‐lhes exigia que as identidades desses aliados fossem estabilizadas. Essa tarefa, contudo, não era de todo fácil. As bactérias resistiam, muitas vezes, a dar a ver as propriedades que lhes haviam sido atribuídas, e a comportar‐se segundo as expectativas dos investigadores. Os doentes, ainda que de início aceitassem os procedimentos diagnósticos e os tratamentos, podiam tomar a decisão de abandonar os ensaios ou recusar‐se a cumprir as orientações terapêuticas, caso não fosse visível o sucesso destas. Os colegas podiam dissociar‐
A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 45 ‐se das proposições de Warren e Marshall, ou mostrar‐se abertamente hostis a estas. Os equipamentos podiam recusar‐se a funcionar de maneira adequada. Diferentes formas de resistência ou de lealdades conflituais podiam levar à rejei‐
ção das proposições de Warren e Marshall. Por isso era crucial, para estes, “a construção de dispositivos que pudessem ser colocados entre [inter esse] [os alia‐
dos prospectivos] e todas as outras entidades que pretendessem definir de outro modo as suas identidades” (Callon, 1999: 72‐3). Warren e Marshall teriam, pois, e em primeiro lugar, de enfraquecer os laços entre os seus colegas e a ortodoxia dominante no meio da gastroenterologia; em segundo lugar, teriam de reduzir a invisibilidade e a falta de resposta das bactérias às formas de experimentação a que eram submetidas. A seguir, teriam de persua‐
dir os seus colegas de que a infecção bacteriana era a causa de doenças comuns do estômago, e persuadir os doentes de que o seu interesse em ter acesso a melhores meios de diagnóstico, a tratamentos eficazes e, eventualmente, à cura para os seus problemas seria salvaguardado através da abordagem que propu‐
nham. Estes dois tipos de operações exigiam que a demonstração da superioridade da abordagem proposta por Warren e Marshall fosse realizada de uma forma que resistisse às críticas, mostrando, em primeiro lugar, que as bactérias que eles afir‐
mavam existir na mucosa gástrica dos doentes existiam de facto, e que não eram artefactos ou consequência de contaminações; em segundo lugar, que essas bac‐
térias não eram comensais, mas a causa da infecção associada às doenças; em ter‐
ceiro lugar, que a resposta eficaz a pelo menos algumas das formas assumidas por essas doenças do estômago, como a gastrite crónica activa ou a úlcera péptica, era uma terapia anti‐infecciosa, não o tratamento com anti‐ácidos. Era necessário ain‐
da outro passo, sem o qual os três aspectos referidos continuariam a ser vulnerá‐
veis às críticas e a associação entre eles poderia ser desfeita ou debilitada: estabe‐
lecer ligações entre os resultados obtidos e a bibliografia relevante, identificando referências de observações de patologias gástricas e descrições de bactérias espi‐
ralóides na mucosa gástrica, estabelecendo uma ligação entre esses dois corpus bibliográficos e propondo uma forma plausível e robusta de os associar através de mecanismos explicativos. É neste ponto que a publicação assume importância estratégica. Entre 1982 e 1984, Warren e Marshall transformaram as inscrições produzidas no decurso do seu trabalho – notas de laboratório, relatórios de patologistas, questionários, pro‐
tocolos, descrições de observações, micrografias, tabelas e gráficos… – em cartas, artigos ou comunicações a enviar a publicações com avaliação pelos pares ou a reuniões científicas (Latour e Woolgar, 1986; Latour, 1987). Os obstáculos, porém, não tardaram a aparecer: Em Outubro de 1982, apresentei os resultados preliminares do nosso estudo ao encontro local do nosso Colégio de Médicos, onde foram recebidos de maneira desdenhosa e, principalmente, negativa. A princi‐
pal objecção por parte dos gastroenterologistas era que o nosso estudo havia encontrado uma forte correlação entre gastrite no estômago e úlcera no duodeno. Esse resultado parecia fora do lugar e incorrecto, dado que “toda a gente sabia” que a gastrite estava associada a úlceras gástricas, mas não especialmente a úlceras duodenais. Eu não tinha res‐
46 João Arriscado Nunes posta a essa crítica, dado que não tinha tido formação específica em gas‐
troenterologia e que as minhas leituras (aparentemente selectivas) me tinham ensinado que era mais provável a associação entre gastrites e úlceras duodenais do que entre gastrites e úlceras gástricas (Marshall, 2002b: 180). Estas críticas levaram Marshall a voltar aos estudos publicados, que mostra‐
vam que, contrariamente às expectativas, “as úlceras duodenais pareciam asso‐
ciar‐se mais fortemente às gastrites do que as úlceras gástricas, um ‘paradoxo’ que a ‘comunidade de investigação das úlceras’ parecia ter ignorado. Este facto não batia certo com a compreensão então existente da etiologia das úlceras pépticas, e por isso havia sido ignorada. Seria a gastroenterologia uma ciência ou uma reli‐
gião? Decidi que era a segunda” (Marshall, 2002b: 180‐181). Já em 1981, tanto Warren como Marshall estavam conscientes da necessida‐
de de publicar os seus resultados antes que alguém os “vencesse”, publicando primeiro. Mas a produção das primeiras publicações esteve longe de ser simples. Após um processo algo atribulado, como foi referido, duas cartas, da autoria, res‐
pectivamente, de Warren e de Marshall, viriam a ser publicadas em Junho de 1983, na revista Lancet, constituindo o primeiro registo publicado do seu trabalho (Warren, 1983; Marshall, 1983).9 A partir da sua nova posição no Fremantle Hospital, Marshall iniciou uma colaboração com o microbiólogo David McGechie e com uma patologista, Ross Glancy, que lhe permitiu prosseguir a recolha de biopsias da mucosa gástrica e a cultura de bactérias, com uma taxa de sucesso desta última da ordem dos 90%. Foi nessa altura também que Marshall começaria a corresponder‐se com gastroente‐
rologistas na Europa e nos Estados Unidos acerca de observações que pareciam ser semelhantes às suas ou, pelo menos convergentes com estas, conduzindo igualmente à identificação e cultura de bactérias espiralóides a partir de biopsias. Contudo, e apesar dessas colaborações internacionais, as relações com o “establishment” da gastroenterologia na Austrália continuavam a ser, no mínimo, difíceis: Em Fevereiro de 1983, Robin Warren e eu escrevemos um resumo a apresentar ao encontro da Gastroenterological Society of Austrália, que teria lugar em Perth […]. Tínhamos a certeza de que o resumo seria acei‐
te e, porque o encontro era local, seriam muito reduzidos os custos de assistir à conferência e apresentá‐lo. Lamentavelmente, porém […], o nosso resumo não foi aceite, com uma carta de condolências do secretá‐
rio que afirmava que “dos 67 resumos apresentados só pudemos aceitar 56”, o que significava que o nosso material havia sido avaliado como estando entre os últimos 10%! (Marshall, 2002b: 184). Os microbiólogos, em contrapartida, pareciam cada vez mais interessados nas bactérias recém‐descobertas. Em 1983, Marshall foi convidado a enviar um resu‐
mo ao Campylobacter Workshop, a realizar em Bruxelas, onde apresentou a pri‐
9 Sobre os pormenores do processo de elaboração e publicação das cartas, ver Nunes et al. (2008: 90‐91), e as versões (não inteiramente coincidentes) de Warren (2002) e de Marshall (2002b). A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 47 meira versão de um artigo em co‐autoria com Warren, que viria a ser publicado no ano seguinte na revista Lancet (Marshall e Warren, 1984). O caminho para a publi‐
cação, mais uma vez, foi tortuoso, devido à dificuldade em encontrar revisores para o artigo que concordassem ser este “importante, suficientemente geral e interessante para ser publicado”. O artigo seria aceite, finalmente, em Maio e publicado em Junho de 1984, acompanhado de um editorial que chamava a aten‐
ção para a sua relevância, e de várias cartas, todas dando conta de resultados que corroboravam os do artigo (Marshall, 2002b: 193‐194).10 Em 1984, Warren, Marshall e os seus colaboradores haviam conseguido alguns sucessos: – Warren mostrara que podiam ser encontradas bactérias espiralóides na mucosa do estômago; – Essas bactérias haviam sido encontradas em doentes com diferentes tipos de doenças gástricas comuns, incluindo gastrite crónica activa e úlcera pép‐
tica; – As bactérias não se encontravam onde essas condições não existiam; – A morfologia das bactérias havia sido descrita, mostrando semelhanças com espécies conhecidas de Campylobacter, mas também algumas diferenças significativas, que sugeriam que poderia tratar‐se de uma nova espécie ou mesmo de um género diferente; – Apesar de serem ainda fracas e isoladas, havia algumas provas de que o tra‐
tamento com antibióticos podia ser eficaz para condições em que a bactéria estava presente. No seu conjunto, o significado desses sucessos era o de finalmente as bacté‐
rias terem obtido o estatuto de organismos reais, de factos estabelecidos através de observações; e de esses organismos poderem ser relacionados com outras bac‐
térias e associados a doenças comuns da região gástrica, ainda que a natureza des‐
sa associação não tivesse sido estabelecida. Todos esses atributos resultavam, de facto, de associações activas específicas (Fleck, 1979) com outras entidades, tanto no laboratório (meios de cultura, atmosfera, microscopia electrónica) como em contextos clínicos (doentes, patologias gástricas, endoscópios). A própria bactéria estava a tornar‐se num ponto de passagem obrigatório para um conjunto hetero‐
géneo de actores humanos, incluindo patologistas, microbiólogos, alguns clínicos, especialistas de microscopia electrónica e doentes sujeitos a endoscopias e biop‐
sias. Faltava ainda, contudo, a associação forte entre bactérias e doenças através da demonstração de uma relação causal que permitisse enfraquecer a doxa e as lealdades da comunidade dos gastroenterologistas e assim abrir caminho à emer‐
gência de uma nova abordagem, em que essa associação constituiria mais um pon‐
to de passagem obrigatório para investigadores e clínicos, para além dos que já estavam “a bordo”. Para que esse passo pudesse ser dado, era necessário trans‐
formar a questão da natureza dessa associação numa série de enunciados caracte‐
rizados por mais “certeza” (Callon, 1999). 10 Veja‐se Marshall e Warren (1984); Burnett et al. (1984); Langenberg et al. (1984); McNulty et al. (1984); Phillips et al. (1984); Shousha et al. (1984); e Thomas et al. (1984). 48 João Arriscado Nunes A produção de enunciados caracterizados por mais “certeza” Não havia ainda sido demonstrado que a associação entre a bactéria e doen‐
ças como a gastrite ou a úlcera péptica era de natureza causal. Para que essa demonstração pudesse ter lugar, seria necessário avançar para um novo desenho, experimental, da investigação. O desenho desse procedimento experimental podia ser baseado numa abordagem bem conhecida na bacteriologia, considerada como uma das principais vitórias da ciência sobre a doença e os agentes patogénicos. Essa abordagem consistia na verificação experimental dos postulados de Koch. Estes haviam sido formulados, na versão que se tornaria consagrada, por Loeffler, um colega de Koch, nos finais do século XIX. Os postulados de Koch definem as quatro exigências que têm de ser satisfeitas para que fique demonstrado que um dado micro‐organismo é a causa de uma patologia específica: I. O organismo encontra‐se sempre em animais doentes (incluindo seres humanos), mas não em animais saudáveis. II. O organismo pode ser isolado e dele podem ser feitas culturas. III. O organismo obtido através de culturas inicia e reproduz a doença quando é inoculado em animais susceptíveis (incluindo seres humanos). IV. O organismo pode de novo ser isolado a partir de animais inoculados (incluindo seres humanos). O primeiro postulado de Koch fora satisfeito através dos estudos realizados por Marshall e Warren em 1982 e 1983, especialmente através do estudo‐piloto em Perth. Havia sido demonstrado que a bactéria estava presente em doentes em quem havia sido diagnosticada gastrite e com uma forma de úlcera péptica, mas não em doentes que não partilhavam esse diagnóstico. Os resultados haviam sido publicados na revista Lancet em Maio de 1984. O segundo postulado fora satisfeito através do isolamento e da cultura das bactérias a partir de biopsias, conforme a descrição de Marshall e Pearman (1984). O terceiro e o quarto postulados de Koch estavam ainda por satisfazer. Falta‐
va confirmar, por um lado, que era possível contrair a doença através da inocula‐
ção dos organismos resultantes das culturas, e curar a pessoa inoculada através da erradicação do organismo. A dificuldade com que deparava o passo que faltava dar era, sobretudo, de ordem ética, pois exigiria a contaminação deliberada de pessoas com a bactéria. Mesmo o recurso a voluntários não eliminava o problema da legitimidade de expor deliberadamente seres humanos à doença. De facto, estas questões pareciam levantar problemas bem mais sérios do que os que havia suscitado a realização de biopsias suplementares ou a experimentação com terapias baseadas em antibióti‐
cos, que eram realizadas em pessoas que já estavam doentes. Sem esse passo, contudo, seria difícil produzir os enunciados “fortes” necessários à transformação da relação causal entre infecção bacteriana e doença em matéria de facto, dotada de “certeza”. O recurso à experimentação com animais não era uma solução satis‐
fatória, dado que os animais mais adequados a servir de organismos‐modelo não pareciam ser afectados pela bactéria, e também devido a problemas práticos rela‐
A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 49 cionados com a inoculação e com a realização de endoscopias em animais.11 Mas mesmo resultados positivos de experimentação com animais seriam ainda dema‐
siado fracos para servir de arma a Warren e Marshall contra a doxa da gastroente‐
rologia. O problema era ampliado dada a óbvia carência da necessária autoridade científica, sobretudo da parte de Marshall, devido à sua ocupação, ao seu lugar de trabalho e ao seu estatuto profissional: Era já visível que não iríamos encontrar um público objectivo. Tudo o que afirmávamos passava ao lado dos dogmas aceites. Estávamos a minar as bases da gastroenterologia, que passava na época por um “boom” de financiamento, com o advento dos bloqueadores do receptor H2, os medi‐
camentos mais usados no mundo. Também não ajudava eu ter 31 anos e viver na cidade mais isolada do mundo, sem um emprego na universidade, nem mesmo na minha cidade natal (Marshall, 2002b: 185). Também não tiveram sucesso as tentativas de obter apoio de empresas farma‐
cêuticas que fabricavam medicamentos para úlceras, de instituições de financiamen‐
to público ou mesmo de uma empresa familiar. Marshall não seria, assim, bem sucedido na tentativa de recrutar um dos mais poderosos aliados que poderia encontrar, a indústria farmacêutica. Para ele, as razões desse insucesso eram claras: Ninguém estava interessado em revolucionar o mundo da gastroentero‐
logia, em parte porque a ideia era tão estranha [esta seria a resposta típica das instituições científicas] e em parte também porque, nessa épo‐
ca, havia muito pouca investigação farmacêutica na Austrália, funcio‐
nando quase todas as empresas farmacêuticas como subsidiárias de entidades controladas a partir da América ou da Europa (Marshall, 2002b: 185). A excepção era uma empresa australiana, Gist‐Brocades Pharmaceutical Company, que enviou informação sobre um produto, DeNol, um composto que continha bismuto, usado com sucesso no tratamento de úlceras duodenais. Como Marshall viria a descobrir, o bismuto era usado, desde há muito tempo, como bac‐
tericida… Marshall chegaria mesmo a iniciar um estudo com doentes tratados com bismuto, mas sem obter resultados claros. Mais tarde, contudo, viria a aperceber‐
‐se de que o uso, em conjunto, de um antibiótico (metrodinazol) e de bismuto parecia ter erradicado bactérias espiralóides de doentes com gastrite e com úlce‐
ras pépticas (Marshall, 2002b: 188‐189). O bismuto viria a tornar‐se um dos com‐
ponentes das terapias‐padrão para a erradicação de Helicobacter pylori. Apesar das dificuldades, em Janeiro de 1984 Marshall conseguiria uma per‐
manência de mais um ano no Fremantle Hospital, a fim de trabalhar a tempo intei‐
ro em investigação sobre a bactéria, ainda que sem financiamento específico. Durante esse tempo, Marshall tratou doentes com gastrite e com gastrite e úlceras pépticas, utilizando com sucesso um tratamento para a erradicação da bactéria, 11 Ver, a este propósito, os comentários de Marshall às tentativas goradas, em colaboração com o seu colega Stuart Goodwin, de realizar experimentação em porcos (Marshall, 2002b: 192‐
‐193; Nunes et al., 2008: 96). 50 João Arriscado Nunes baseado numa combinação de bismuto com um antibiótico (amoxicilina, eritromi‐
cina ou metronidazol). Na Primavera de 1984, Marshall discutiu com dois dos seus colegas a possibi‐
lidade de satisfazer os postulados de Koch através de auto‐experimentação, inge‐
rindo a bactéria. Os colegas não pareceram muito convencidos, inicialmente, e Marshall não insistiu na ideia. Mas tratava‐se, de facto, de uma forma de tornear as dificuldades em encontrar sujeitos para uma experiência, apesar das prováveis objecções da comissão de ética do hospital. Assim, num dia do início de Junho, Marshall chegou cedo ao hospital e pediu a um dos seus colegas que o submetesse a uma endoscopia. O colega não fez perguntas, e a endoscopia revelou que o estômago de Marshall era normal, sem sinais de gastrite ou de infecção. Mais tar‐
de, no mesmo dia, foi feita uma cultura da bactéria a partir de um doente com diagnóstico (confirmado através da histologia) de gastrite activa. O organismo foi submetido a um teste de sensibilidade a metronidazol e o doente foi tratado, com sucesso, com bismuto e metronidazol: um mês depois, não apresentava sinais de infecção. Entretanto, um técnico de laboratório preparara uma solução contendo o organismo. Depois de tomar cimetidina (para reduzir a secreção de ácido), Mar‐
shall ingeriu a solução. Uma semana depois, apresentava sintomas consistentes com gastrite. Ao décimo dia, uma nova endoscopia e uma biopsia realizada nessa ocasião permitiram confirmar a existência de inflamação e a presença de bacté‐
rias. A cultura destas revelou tratar‐se do mesmo tipo de micro‐organismo que havia sido ingerido. Duas semanas após a auto‐inoculação, Marshall automedicou‐
‐se com tinidazol. Nova endoscopia, realizada a seguir, mostrou que as bactérias espiralóides tinham desaparecido. Marshall encontraria, depois, uma descrição de sintomas idênticos aos que tinha manifestado num antigo manual geral de medici‐
na (Osler, 1920), associados ao que os autores designavam de “gastrite com hipo‐
clorídria”, mas sem a relacionar com infecção bacteriana. Em 1985, uma descrição da auto‐experimentação, reivindicando a satisfação do terceiro e quarto postula‐
dos de Koch, era publicada por Marshall, em co‐autoria com os colegas que o haviam auxiliado, no Medical Journal of Austrália.12 Com a publicação desse artigo, a bactéria tornar‐se‐ia, finalmente, um agente patogénico, e fora demonstrado que era possível a sua erradicação através de um tratamento baseado numa combinação de um antibiótico e bismuto. Warren e, sobretudo, Marshall tornaram‐se, assim, os porta‐vozes legítimos da nova bacté‐
ria. Nos anos seguintes, a bactéria seria reconhecida como uma espécie específica pertencente a um género diferente do género Campylobacter. Após ter sido bapti‐
zada com diferentes nomes, viria a ser designada definitivamente, em 1989, Heli‐
cobacter pylori.13 Mas foi em 1985 que a bactéria reforçou a sua “realidade” e “facticidade”. Os seus efeitos haviam lançado luz sobre a sua forte associação com a mucosa gástri‐
ca e com alterações patológicas do estômago. Mas Marshall e os seus colaborado‐
12 Para descrições pormenorizadas deste episódio, veja‐se Marshall et al. (1985); Marshall (2002b: 195‐197); Nunes et al. (2008: 96‐98); Nunes (2007). Sobre um episódio semelhante de auto‐experimentação, veja‐se Morris e Nicholson (1987). 13 Sobre a atribulada história do “baptismo” da bactéria, veja‐se Romaniuc et al. (1987) e Goodwin (1994). A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 51 res mostraram igualmente que essas associações podiam ser desfeitas, dada a sensibilidade da bactéria a antibióticos. Os doentes com gastrites ou úlceras, por sua vez, estavam fortemente ligados à bactéria através da infecção, que só podia ser transformada numa condição susceptível de tratamento através de actividades clínicas e laboratoriais que permitissem desfazer essa ligação. Todos os atributos da bactéria foram sendo dados a ver através da sujeição desta a um conjunto de procedimentos clínicos e laboratoriais, mas também de formas de textualização. De facto, o acesso da bactéria à condição de entidade real deveu‐se, em boa medida, à circulação de inscrições entre a clínica, o laboratório e os textos, sendo que estes últimos tornariam possível a circulação e partilha entre as diferentes comunidades de investigadores e de clínicos envolvidos ou interessados na nova matéria de facto que era o novo agente patogénico. A bactéria não foi sempre uma entidade estável cuja existência era óbvia ou indiscutível. Trazê‐la à existência exigiu transformações sucessivas da sua ontologia, inseparáveis dos modos de “fazer existir” a bactéria enquanto entidade biomédica. Mobilização Durante a década de 90, assistiu‐se à expansão e consolidação do actor‐rede que havia começado a tomar forma na década anterior. Foram publicados vários documentos com orientações sobre o diagnóstico e gestão da infecção por Helico‐
bacter pylori e sobre a descrição e classificação de gastrites, que colocavam a infecção no centro da sua abordagem – NIH Consensus Statement (Yamada, 1994), Maastricht Consensus Statement (1996), Updated Sydney System (Dixon et al., 1996). No final dessa década, a comunidade dos gastroenterologistas havia aderi‐
do à nova posição, passando a infecção por Helicobacter pylori a constituir um ponto de passagem obrigatório para o diagnóstico, gestão e terapia de patologias comuns da região gástrica. As novas terapias baseadas na erradicação da bactéria tornaram‐se, assim, um recurso central para os gastroenterologistas. Entre meados da década de 80 e os finais da década de 90, cresceu de manei‐
ra considerável o número de publicações relacionadas com Helicobacter pylori. Em 1994, Helicobacter pylori foi declarada um carcinogénio de tipo I (o mais agressivo) pela International Agency for Research on Cancer, um organismo da Organização Mundial de Saúde, sendo a primeira bactéria a ser assim classificada, o que repre‐
sentou uma nova transformação na sua ontologia (IARC Working Group, 1994)… Em 1997, foi publicada na revista Nature a primeira sequenciação do genoma de uma estirpe de Helicobacter pylori (Tomb et al., 1997) Alguns países criaram pro‐
gramas de rastreio selectivo e, em alguns casos, de erradicação da bactéria, com sucesso assinalável na redução de doenças gástricas em geral e do cancro do estômago em particular. A fundação de um grupo internacional de investigadores, o European Helicobacter Study Group, que viria a realizar desde 1980 reuniões científicas regulares, e de uma revista, Helicobacter, viriam a reforçar a base orga‐
nizacional da investigação sobre a bactéria. A investigação genética sobre esta permitiu cartografar os genótipos das diferentes estirpes e avaliar a sua relevância clínica e epidemiológica, assim como a sua importância para estudos de genética populacional. A associação de Helicobacter pylori com o cancro do estômago e outras doenças tornou‐se um tema central tanto de diferentes programas de 52 João Arriscado Nunes investigação como de intervenções clínicas. A crescente centralidade da bactéria e dos seus efeitos viria a ser consagrada com a atribuição do Prémio Nobel da Medi‐
cina ou Fisiologia a Warren e Marshall em 2005.14 Ainda que a realidade da bactéria e dos seus efeitos patogénicos já não esteja em causa, surgiram novas discussões em torno do seu possível efeito protector contra certos tipos de patologias da parte superior da região gástrica, ou da eficá‐
cia das terapias de erradicação da bactéria em alguns países. E o próprio Barry Marshall iniciou um projecto que poderá conferir novas propriedades à Helioco‐
bacter pylori: a utilização de versões geneticamente modificadas da bactéria (para atenuação da virulência) como meios de transporte de vacinas. Ao longo de toda esta história, a ontologia de Helicobacter pylori não cessou de se transformar, e as polémicas e controvérsias em torno da bactéria não desa‐
pareceram, fazendo esperar novos episódios da atribulada história de uma bacté‐
ria que, no espaço de pouco mais de duas décadas, passou de objecto inviável a protagonista central de um dos episódios mais dramáticos de inovação na biome‐
dicina. Referências bibliográficas Burnett, R. A. et al. (1984), “Campylobacter‐like organisms in the stomach of patients and healthy individuals”, The Lancet, 16 June: 1349. Callon, M. (1999) [1986], “Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fisherman of St. Brieuc Bay”, in M. Biagioli (org.), The Science Studies Reader, New York and London, Routledge. Daston, L. (2000), “Introduction: the coming into being of scientific objects”, in L. Das‐
ton (org.), Biographies of Scientific Objects, Chicago, University of Chicago Press, pp. 1‐14. Dixon, M. F. et al. (1996), “Classification and grading of gastritis: the updated Sydney System”, The American Journal of Surgical Pathology, 20: 1161‐1181. Fleck, L. (1979/1935), Genesis and Development of a Scientific Fact, Chicago, University of Chicago Press. Geison, G. L.; Laubichler, M. D. (2001), “The varied lives of organisms: variation in the historiography of the biological sciences”, Studies in the History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences, 32: 1‐29. Goodwin, C. S. (1994), “How Helicobacter pylori acquired its name, and how it over‐
comes gastric defense mechanisms”, Journal of Gastroenterology and Hepatol‐
ogy, 9 (Supplement 1): S1‐S3. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans (1994), Schis‐
tosomes, liver flukes and Helicobacter pylori, IARC Monograph on the Evalua‐
tion of Carcinogenic Risks to Humans, 61: 1‐241. Keating, P.; Cambrosio, A. (2003), Biomedical Platforms: realigning the normal and the pathological in late twentieth‐century medicine, Cambridge, Massachusetts, MIT Press. Langenberg, M.‐L. et al. (1984), “Campylobacter‐like organisms in the stomach of pa‐
tients and healthy individuals”, The Lancet, 16 June: 1348. 14 Para uma análise detalhada desta história, veja‐se Nunes et al. (2008), especialmente os capí‐
tulos 5 e 6. A Importância da “Baixa” Tecnologia na Inovação em Biomedicina 53 Latour, B. (1984), Les Microbes: guerre et paix, suivi de Irréductions, Paris, Métaillié. Latour, B. (1987), Science in Action: how to follow scientist and engineers through soci‐
ety, Milton Keynes, Open University Press. Latour, B. (1999), Pandora’s Hope: essays on the reality of science studies, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. Latour, B. (2005), Reassembling the Social. An introduction to actor network theory, Oxford, Oxford University Press. Latour, B.; Woolgar, S. (1986), Laboratory Life: the construction of scientific facts, Princeton, Princeton University Press (2.ª ed. revista e ampliada). Law, J.; Hassard, J. (orgs.) (1999), Actor Network Theory and After, Oxford, Blackwell. McNulty, C. A. M.; Watson, D. M. (1984), “Spiral bacteria of the gastric antrum”, The Lancet, May 12: 1068‐1069. Marshall, B. (org.) (2002a), Helicobacter Pioneers: firsthand accounts from the scien‐
tists who discovered Helicobacters, 1892‐1982, Victoria, Australia, Blackwell Publishing. Marshall, B. (2002b), “The discovery that Helicobacter pylori, a spiral bacterium, caused peptic ulcer disease”, in Marshall (org.), Helicobacter Pioneers: firsthand accounts from the scientists who discovered Helicobacters, 1892‐1982, Victoria, Australia, Blackwell Publishing, pp. 165‐202. Marshall, B. J. (1983), “Letter”, The Lancet, 4 June: 1273‐1275. Marshall, B. J.; McGechie, D. B.; Armstrong, J. A. (1985), “Attempt to fulfill Koch’s pos‐
tulates for Pyloric Campylobacter”, The Medical Journal of Australia, 142: 436‐
‐439. Marshall, B. J.; Warren, J. R. (1984), “Unidentified curved bacilli in the stomach of pa‐
tients with gastritis and peptic ulceration”, The Lancet, 16 June: 1311‐1314. Morris, A.; Nicholson, G. (1987), “Ingestion of Campylobacter pyloridis causes gastritis and raised fasting gastric pH”, American Journal of Gastroenterology, 82: 192‐
‐199. Nunes, J. A. (2004), “Do ‘nome das acções’ ao ‘nome das coisas’: crenças e produção de objectos epistémicos nas ciências da vida e na biomedicina”, in F. Gil, P. Livet e J. P. Cabral (orgs.), O Processo da Crença, Lisboa, Gradiva, pp. 402‐412. Nunes, J. A. (2007), “O sujeito no texto: sobre auto‐experimentação e reconstrução narrativa”, Revista de Comunicação e Linguagens, 38: 113‐127. Nunes, J. A. (2008), “O resgate da epistemologia”, Revista Crítica de Ciências Sociais, 80: 45‐70. Nunes, J. A.; Pereira, T. S.; Brás, O. R.; Matos, A. R. (2008), Biographies of Objects and Narratives of Discovery in the Biomedical Sciences: the case of Helicobacter pylori, Coimbra, Centro de Estudos Sociais (relatório final de projecto de inves‐
tigação). Osler, W.; MacRae, T. (1920), Principles and Practice of Medicine, New York, Appleton. Palmer, E. D. (1954), “Investigation of the gastric mucosa spirochetes of the human”, Gastroenterology, 27 (2): 218‐220. Phillips, A. D. et al. (1984) “Gastric spiral bacteria”, The Lancet, 14 July: 100‐101. Rasmussen, N. (1997), Picture Control: the electron microscope and the transformation of biology in America, 1940‐1960, Stanford, Stanford University Press. Rheinberger, H.‐J. (1997), Toward a History of Epistemic Things: synthesizing proteins in the test tube, Stanford, Stanford University Press. Romaniuc, P. J. et al. (1987), “Campylobacter pylori, the spiral bacterium associated with human gastritis, is not a true Campylobacter sp.”, Journal of Bacteriology: 2137‐2141. Shousha, S. et al. (1984), “Gastric spiral bacteria”, The Lancet, 14 July: 101. 54 João Arriscado Nunes Thagard, P. (1998a), “Ulcers and bacteria I: discovery and acceptance, Studies in His‐
tory and Philosophy of Science, Part C, Studies in History and Philosophy of Biol‐
ogy and Biomedical Sciences, 29: 107‐136. Thagard, P. (1998b), “Ulcers and bacteria II: instruments, experiments, and social in‐
teractions”, Studies in History and Philosophy of Science, Part C, Studies in His‐
tory and Philosophy of Biology and Biomedical Sciences, 29: 317‐342. Thagard, P. (1999), How Scientists Explain Disease, Princeton, New Jersey, Princeton University Press. Thomas, J. M. et al. (1984), “Gastric spiral bacteria”, The Lancet, 14 July: 100. Tomb, J. F. et al. (1997), “The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori”, Nature, 388: 539‐547. Warren, J. R. (1983), “Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis”, The Lancet, 4 June: 1273. Warren, J. R. (2002) “The discovery of Helicobacter pylori in Perth, Western Australia”, in Marshall (org.), Helicobacter Pioneers: firsthand accounts from the scientists who discovered Helicobacters, 1892‐1982, Victoria, Australia, Blackwell Publish‐
ing, pp. 151‐164. Yamada, T. (1994), “NIH consensus conference. Helicobacter pylori in peptic ulcer dis‐
ease”, JAMA – Journal of the American Medical Association, 272: 65‐69. PARTE II SAÚDE, DESIGUALDADES SOCIAIS E CIDADANIA EQUIDADE, CIDADANIA E SAÚDE. APONTAMENTOS PARA UMA REFLEXÃO SOCIOLÓGICA Graça Carapinheiro Algumas precisões conceptuais Quando falamos em equidade, referimo‐nos a um princípio ético intimamen‐
te ligado ao cumprimento dos direitos humanos e subordinado à ideia de justiça social, encarada como um ideal que corresponde à repartição equitativa dos recursos materiais e simbólicos, como o poder, o prestígio e o reconhecimento social. Assim, justiça social e equidade têm sentidos próximos e referem‐se a valo‐
res e a escolhas sociais, o que confere ao conceito de equidade um carácter pre‐
dominantemente moral, moldado pelas condições de relatividade histórica, social e cultural do pensamento dominante sobre a ética e os valores humanos. A este propósito, Bauman refere que moralidade tem a ver com escolha. Se não há escolha, não há moralidade. Quer dizer que sociedade, ordem social e cul‐
tura seriam inconcebíveis se a moralidade não constituísse o principal atributo das relações humanas. E no pensamento deste autor, sociedade representa a confron‐
tação dos seres humanos com esta natureza moral, com a necessidade de fazerem escolhas, mesmo que, ao fim e ao cabo, concluam que a sua natureza está presa a essas mesmas escolhas. Desta reflexão surge a ideia de que a sociedade grava padrões de ética sobre a matéria bruta e plástica da moralidade, ou seja, que a éti‐
ca é um produto social (2001:44‐45). Ser moral é estar submetido à necessidade de fazer escolhas, sob o constrangimento das condições mais ásperas e penosas da incerteza. Ser moral corresponde à capacidade de enfrentar dilemas morais e submeter‐se à condição de viver a vida sob o signo da vacilação. Nesta condição reside em grande parte o valor da liberdade nas sociedades contemporâneas. Nestas sociedades, a igualdade de direitos é atingida quando todos os indiví‐
duos são iguais perante a lei que, em princípio, deve ser igual para todos. Há um consenso social relativamente ao facto de que as desigualdades de direitos são injustas e devem ser suprimidas. Mas a igualdade de direitos não assegura a igual‐
dade de oportunidades. Esta igualdade é conseguida quando a situação atingida pelos indivíduos não fica presa a condições estruturais que potenciam as situações de desfavorecimento social ou mesmo de exclusão social, sejam elas de natureza estritamente económica, ou de carácter étnico, religioso e de classe. A igualdade de oportunidades é um ideal a atingir, mas divergem as formas concebidas para tal. Amartya Sen (2000) considera que uma dimensão fundamen‐
ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 57‐64. 58 Graça Carapinheiro tal da liberdade é a “capacitação”. Neste sentido, para que as sociedades assegu‐
rem aos cidadãos uma efectiva liberdade e uma real igualdade de oportunidades, é necessário que protejam aqueles cuja situação individual e social reduziu essa “capacitação”. Por outro lado, a igualdade de situações designa a supressão de todas as for‐
mas de desigualdade, ou seja, a repartição uniforme dos recursos por todos os cidadãos. Se nas sociedades contemporâneas democráticas existe consenso de que a justiça social exige igualdade de direitos e igualdade de oportunidades, esse consenso desaparece quanto à diminuição das desigualdades de situação, o que equivale a reconhecer que a justiça social não pode ser descrita em termos estáti‐
cos, mas apenas em termos processuais, na perspectiva de que estamos a falar de um horizonte que qualquer sociedade tem em vista atingir, mas que se desloca para diante sempre que a sociedade se move na sua direcção. Quando as socieda‐
des passaram das primeiras formas para as formas modernas de capitalismo, os padrões que permitiam medir a injustiça tornaram‐se claros, bem definidos e bem estruturados, dispondo de maior longevidade de acção. Nas actuais sociedades, tal já não é possível. Estamos numa fase da história do mundo ocidental em que o conceito de injustiça é contestado, relativizado e posto em causa em várias fren‐
tes, revelando a emergência de novas manifestações de injustiça e iniquidade que, de necessárias passaram a ser reclassificadas de excessivas, não existindo padrões estabilizados de consensualização social para a sua regulação e rectificação. Poder‐
‐se‐á dizer que, geralmente, em qualquer sociedade e em qualquer época, há mais humilhação do que se espera existir, mais do que é possível admitir e muito mais do que é possível atenuar ou corrigir e esta é, hoje, também, a condição global da humanidade. A este propósito, Rawls (1997) desenvolve uma concepção de justiça social que rompe com a visão utilitarista das teorias liberais, explicando que certas desi‐
gualdades são aceitáveis. Ou seja, em certas condições, as desigualdades podem ser justas, legítimas, respeitando o princípio da equidade. Para Rawls, as desigual‐
dades são justas e legítimas se não reduzem a liberdade dos indivíduos, nem o igual acesso às posições sociais, e se elas beneficiam os mais desfavorecidos. Tudo isto vem a propósito da relação entre equidade, cidadania e saúde. Pode‐se dizer que, em múltiplos estudos, (de epidemiologia social, de economia da saúde, de ciência política ou de bioética) equidade em saúde tem‐se referido, qua‐
se sistematicamente, à ausência de disparidades sistemáticas na saúde (ou nas suas principais determinantes), em grupos com diferentes níveis de vantagem e desvantagem social, em termos de riqueza, poder e prestígio. Mas tal acepção de equidade será suficiente? A equidade em contexto: algumas reflexões Se pensarmos na história recente da saúde em Portugal, podemos reconhecer várias formas de desigualdade, quer de direitos, quer de oportunidades, quer de situações, o que nos leva a pensar que, hoje, em Portugal, a equidade em saúde continua a ser um princípio sujeito a várias formas de ameaça. Desde logo, no dis‐
curso político oficial, nomeadamente sobre a sustentabilidade do serviço nacional de saúde, equidade continua a estar sistematicamente associado à garantia do Equidade, Cidadania e Saúde 59 direito constitucional da saúde, pese embora a tónica excessivamente financeira com que se estabelecem os parâmetros do cumprimento deste direito. De facto, especial ênfase é dada ao crescimento das despesas de saúde, à redução dos cus‐
tos e à melhoria da eficiência da produção de cuidados de saúde, à melhoria da qualidade dos serviços prestados e à discussão sobre os regimes de financiamento que os viabilizam. Não está em causa a legitimidade da prossecução destes objec‐
tivos de governação. O que se pretende assinalar é a diversidade dos contextos éticos que estão em causa e que dão expressão ao funcionamento do princípio da equidade, ocultos sob a fachada dos “outputs” e dos “outcomes” da saúde, e que mesmo os mais sofisticados instrumentos de avaliação do sistema de saúde não conseguem alcançar. Vejamos a igualdade de direitos. Os princípios constitucionais da universali‐
dade, generalidade e gratuitidade, que consubstanciaram o direito à saúde, têm vindo a ser comprometidos em sucessivas revisões constitucionais iniciadas na década de 80 do século passado. Hoje, o acesso aos cuidados de saúde é cada vez mais caro para o cidadão, mais condicionado por assimetrias geográficas na distri‐
buição dos recursos de saúde, que se vão deslocando entre regiões, de acordo com concepções e orientações políticas contraditórias e que, de forma diferencia‐
da no tempo e no espaço, impulsionam fenómenos de concentração e desconcen‐
tração das tecnologias e dos recursos médicos especializados, a que têm estado associadas a formas variáveis de progressiva promiscuidade entre o sector público e o sector privado. Por outro lado, promove‐se a inequívoca repartição da respon‐
sabilidade da prestação de cuidados entre o Estado e a iniciativa privada, reme‐
tendo para o cidadão a responsabilidade da defesa da promoção da saúde indivi‐
dual e colectiva. Mas de que cidadão e de que condição de cidadania estamos a falar? Partimos da hipótese de um sujeito jurídico abstracto, projectado de forma esbatida num quadro de fundo normativo que emoldura a sua existência individual e colectiva, sem lhe conferir condição de pertença, referência identitária e acção significativa? Que participação pode ser pensada para um sujeito assim concebi‐
do? O que significa, e em que é que se traduz objectivamente, recentrar os servi‐
ços de saúde no cidadão‐cliente? Como estabelecer o sentido contrário na relação unívoca do sistema de saúde para o cidadão? Afinal de contas, como integrar nes‐
te outro sentido contrário, cidadãos inseridos em contextos, culturas e experiên‐
cias plurais? Como estimular a participação do cidadão na concepção e implemen‐
tação das políticas? Como tornar possível esta participação, quando no interior do próprio sector da saúde há grupos profissionais que têm dificuldade em fazer‐se ouvir e em fazer‐se representar nos processos mais estratégicos de decisão políti‐
ca? Então, falar de igualdade de direitos não pode ficar restringido à relação dos cidadãos com a saúde Neste quadro de fundo multiplicam‐se as fontes de produção de riscos sociais, articulados à conflitualidade que atravessa a relação entre culturas organi‐
zacionais, científicas e profissionais, revelando quão vulneráveis são os terrenos da saúde aos vários regimes de poder profissional. Esta conflitualidade gera as condi‐
ções de não cumprimento dos direitos sociais articulados ao exercício dos saberes profissionais nos centros de saúde, por comparação com o exercício desses sabe‐
res nos hospitais: a excessiva concentração de recursos nos hospitais; a maior pro‐
ximidade dos profissionais dos centros de saúde do controlo técnico‐burocrático 60 Graça Carapinheiro do Estado e dos seus mecanismos de regulação político‐administrativa; a destitui‐
ção dos meios de produção da saúde comunitária dos profissionais dos centros de saúde (provocados pelo desinvestimento político na saúde pública), por contraste com o hospital, como lugar de cura, mas também de aconselhamento, de preven‐
ção, de recuperação, de reabilitação, de paliação (Carapinheiro, 2006). Assim, nestas tendências contraditórias de orientação política que acompa‐
nham a emergência de formas de acção de saúde pública, o cumprimento dos direitos sociais dos indivíduos são postos em risco, pois continuam a sucumbir face à hegemonia da cultura hospitalocêntrica. Neste caso, trata‐se não só de riscos epidemiológicos, dadas as especificidades de desenvolvimento da sociedade por‐
tuguesa e da persistência de velhos e novos problemas de saúde pública (tubercu‐
lose, malária, gripe das aves, gripe A), mas também de riscos sociais, centrados na experiência de viver novas formas de desigualdade e exclusão sociais, que decor‐
rem do não cumprimento dos direitos sociais à saúde: a não garantia do acesso de todos os indivíduos a todos os serviços de saúde, a todos os tipos de cuidados e a todas as tecnologias; o acesso mais caro à totalidade dos bens de saúde; a sobre‐
responsabilização individual da saúde colectiva. Os riscos sociais que decorrem destas processualidades visualizam‐se tam‐
bém ao nível das organizações, nas suas disfuncionalidades organizativas, nas ambiguidades dos papeis dos seus profissionais e na desarticulação entre cuidados de saúde; ao nível económico, no aumento das ineficiências, das despesas de saú‐
de do Estado e da comparticipação dos cidadãos; ao nível moral (no sentido do ethos profissional), na dessolidarização profissional e na dessolidarização com a perspectiva do doente. No extremo, qualquer indivíduo que se aproxime de servi‐
ços de saúde pode viver a contingencialidade de experimentar os efeitos da preci‐
pitação destes vários tipos de risco social que, sobrepostos aos riscos epidemioló‐
gicos específicos das suas condições de saúde, põem em risco o princípio da equidade em saúde. No que diz respeito à igualdade de situações, mantêm‐se nas políticas de saúde, contradições estruturais herdadas do passado, reactivadas no presente em várias dimensões, que aprofundam as desigualdades sociais face à resposta a dife‐
rentes situações de saúde. Uma delas é o facto de, apesar de toda a produção legislativa e de toda a acção política do Estado se ter centrado na vertente da saú‐
de pública desde a década de 70, atribuindo um lugar de destaque aos centros de saúde (1.ª, 2.ª e 3.ª gerações), o seu investimento em recursos estratégicos ter vindo a ser preferencialmente canalizado para o hospital. Ou seja, a solução encontrada, cuja lógica continua a ser prevalecente, foi a de comprometer os prin‐
cípios, prejudicar os direitos e adiar a optimização dos recursos públicos de saúde, fazendo reformas de saúde que, paradoxalmente, desinvestem nos cuidados pri‐
mários e dão prioridade aos recursos materiais, técnicos e humanos do hospital, reforçando sempre a sua centralidade no sistema. Ora, tendo sido preconizado que os cuidados primários são o primeiro patamar da relação dos cidadãos com o serviço nacional de saúde, crescem significativamente as desigualdades de situa‐
ção face à resolução de problemas de saúde. Até que ponto é que é dada uma res‐
posta eficaz às necessidades dos doentes nos centros de saúde? É verdade que se têm vindo a criar recentemente as unidades de saúde fami‐
liar e os agrupamentos de centros de saúde, tentando responder ao desiderato Equidade, Cidadania e Saúde 61 político de restituir a confiança dos cidadãos e dos profissionais de saúde, perdida em medidas políticas que se lhes antecederam, e respondendo ao descontenta‐
mento das populações. Mas será que colocar o centro de saúde no centro do sis‐
tema, como proclama o discurso dos responsáveis políticos, elimina totalmente a ancestral posição de dependência e subalternidade dos cuidados primários face aos cuidados hospitalares? É que, se assim não for, subsistem as condições objec‐
tivas do descrédito dos cuidados de saúde aqui fornecidos, a desmotivação dos profissionais que são os seus prestadores e o descontentamento dos utentes. Mas como reunir, renovar e recompor tantos recursos perdidos ao longo do tempo? Outra dimensão desta desigualdade diz respeito às várias modalidades de privatização dos serviços de saúde, que operam ora de maneira autónoma ou sobreposta aos serviços públicos, quando o Estado delega, quando o Estado se faz substituir e quando o Estado pura e simplesmente se demite. A privatização dos serviços, a mercadorização dos cuidados e a ascensão de um clima de gestão na administração das organizações de saúde gera o encarniçamento dos mecanismos de racionalização dos custos de saúde, apontando para demoras médias de inter‐
namento cada vez mais curtas, para a máxima rotatividade dos doentes por cama e para o uso crescentemente selectivo das tecnologias médicas. As potenciais con‐
flitualidades que se abrigam nestas tendências desdobram‐se numa cascata de ris‐
cos que, doravante não se confinam mais ao risco de adoecer. Mas, o que dizer quanto à igualdade de oportunidades? Até que ponto se tem assistido a formas progressivas de capacitação para a saúde dos indivíduos em situações económicas, sociais e culturais desfavoráveis, num tempo histórico em que, segundo demonstram alguns autores, têm entrado em declínio as condições objectivas de funcionamento dos valores comunitários, a emergência de solidarie‐
dades sociais espontâneas e a efectiva participação na esfera pública? A aferição desta capacitação na sociedade portuguesa tem mostrado que a relação dos indivíduos com os profissionais e os serviços de saúde está povoada de processos de desvalorização e desqualificação do estatuto dos saberes leigos dos doentes, de menorização das suas formas de protagonismo e de exclusão das suas formas de participação. Quando a evidência sociológica mostrou que as trajectó‐
rias dos doentes no sistema de saúde estão plenas de invenção social, enquanto estratégias de contorno e de superação dos obstáculos de natureza burocrática, institucional e profissional colocados no acesso aos diferentes recursos de saúde e enquanto escolhas realizadas por diferentes sistemas terapêuticos alternativos, tornou‐se visível que o sistema de saúde aparece como um sistema global de resis‐
tência ao funcionamento dos saberes leigos e à diversidade de estratégias sociais a que estes saberes dão lugar (Carapinheiro, 2002). As possibilidades subjacentes a estas formas de protagonismo leigo ficam submetidas ao julgamento do exercício dos direitos e das liberdades individuais que a posição hegemónica da medicina reivindica para seu uso exclusivo e a opor‐
tunidade transforma‐se em risco, não um risco epidemiológico situado no corpo, mas um risco social centrado na experiência de viver novas formas de desigualda‐
de e exclusão social. A questão que se levanta é esta: estando em risco o princípio da equidade em saúde pela elevada concentração de múltiplos riscos sociais de desigualdade, como equacionar aqui a cidadania? Como determinar as condições de cidadania 62 Graça Carapinheiro na saúde? Que referências sustentam as identidades nacionais, regionais e sociais quando a ascensão do neo‐conservadorismo e a erosão dos consensos pós‐guerra do Estado Providência e os temidos efeitos da expansão económica e tecnológica sobre o ambiente se fazem há tanto tempo sentir? Quando vivemos um tempo de mudanças rápidas e irreversíveis, como a globalização das políticas de saúde e dos modelos de gestão dos serviços de saúde? Quando assistimos ao crescimento dos movimentos transnacionais de trabalhadores, refugiados, migrantes e doentes? O crescente sentimento de crise e de incerteza exprime bem a preocupação com a igualdade de oportunidades e as condições efectivas de cidadania (Carapinheiro e Page, 2001). Saúde e ciência: para uma agenda alternativa Independentemente dos particularismos históricos e civilizacionais de cada sociedade no mundo, a propósito das interrogações atrás colocadas é possível tra‐
çar um enunciado teórico que articula as questões do estado, da regulação, da ciência e da democracia nas sociedades contemporâneas. A proposta que este enunciado encerra é a de resgatar do esquecimento e desinteresse políticos e públicos a que têm estado votados, tanto os sistemas informais de protecção social baseados nas emergências e reemergências de novas articulações entre as solidariedades públicas e privadas, situadas na tríade constituída pelas redes informais, pelas associações da sociedade civil e pelas agências internacionais, como também as formas de vida, os estilos de a viver e de lhe conferir sentido e a inscrição do desejo, que se contorcem sob as malhas da regulação local e global do corpo, da memória, das populações e das consequências da inovação. Estabelece‐se a condição epistemológica de não‐aceitação de uma narrativa estandardizada da ciência, exclusivamente produzida a partir dos cânones do con‐
trolo e da predictabilidade racionais, no exercício das suas possibilidades heurísti‐
cas. Reclama‐se um olhar mais vasto que não dispensa o irracional e que não esconde e oblitera o outro: nas suas vozes, nas suas linguagens, nas suas emoções e nas suas crenças. A ideia que acompanha este pensamento é a da transformação das formas de regulação racional das sociedades, apoiadas nas premissas do saber pericial, do profissionalismo e da racionalidade, num tempo histórico em que a reflexividade cresce com a incerteza, tanto no Estado, como na ciência, e se fragili‐
zam os mecanismos de auto‐sustentação das suas respectivas legitimidades. A este propósito, Shiv Vivasnathan (2008) avança com a ideia de Kitsch para metaforizar a representação interna que a ciência estabelecida faz sobre os seus produtos e artefactos e os consumos ritualísticos que deles são feitos, em socie‐
dades de produção e consumo de massas, numa estratégia de conservação da sua legitimidade, que acaba por converter o vasto espectro da compreensão e aceita‐
ção públicas da ciência em múltiplos lugares Kitsch, que dão origem à ideia Kitsch da ciência popular e ao sentimentalismo Kitsch, imitação Kitsch e romantismo Kitsch de que a ciência seja efectivamente capaz de traduzir o desenvolvimento, a riqueza e o progresso e eliminar o atraso, a pobreza e a exclusão. Em suma, a visão prometeica da ciência acaba por ser uma ideia Kitsch, quando transposta para os imaginários colectivos e para as representações sociais que acreditam na sua efec‐
tividade. Equidade, Cidadania e Saúde 63 Numa tentativa (provavelmente arriscada e controversa) de transposição des‐
ta ideia para a relação que os indivíduos estabelecem com a saúde e a ciência na sociedade portuguesa, pode observar‐se a eventual emergência de lugares Kitsch nas estratégias de aproximação a vários tipos de risco, como é o caso do risco do cancro genético hereditário ou o risco da infertilidade (Mendes, 2007; Augusto, 2004). Ao contrário do que seria de esperar, o cancro hereditário ganha mais visibili‐
dade do que qualquer outro tipo de cancro: porque se faz anunciar e exige a cons‐
ciência individual e social da sua inescapável maldição; porque se traduz em novos modos existenciais de ser que nunca mais o podem expulsar do quadro que orga‐
niza a escolha reflexiva das suas escolhas e opções; porque a experiência do medo ganha aqui modulações diversas e imprime impulsos estratégicos diferenciados. Então, a simbólica do risco associado a este tipo de cancro organiza‐se à volta do tempo, enquanto marcador médico‐científico de prognósticos que se traduzem em destinos individuais e sociais – que se estendem do risco como oportunidade ao risco como fatalidade – subordinando‐se ao reforço da confiança pericial e submetendo‐se à força da crença na visão prometeica da ciência. Assim, as estra‐
tégias de aproximação a este tipo específico de risco correspondem a modos dife‐
renciados de gestão do tempo que foram identificados como: agir a tempo quando o tempo é representado como redenção; agir contra o tempo, quando o tempo é representado como culpa; agir à espera do tempo, quando o tempo é representa‐
do como esperança (Carapinheiro, 2007). Mas redenção, culpa e esperança podem funcionar como epítetos do senti‐
mentalismo Kitsch, logo como a expressão de lugares (alvos) de regulação científi‐
ca do que é ou não aceitável esperar? Ou exprimirão a presença de uma normati‐
vidade médico‐científica que conjuga este risco com uma margem incontrolável de incerteza? Já no caso da analítica do risco da infertilidade, o que se observou é que enquanto para os casais o risco mais elevado reside nos tratamentos de infertili‐
dade e nas técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA), para os médicos o risco mais importante é a infertilidade em si, visto que infringe o valor da mater‐
nidade biológica e ameaça a normalidade reprodutiva das famílias. Assim, a pers‐
pectiva biomédica do risco desloca‐se para uma sociogénese do risco e para a valorização do risco social, enquanto que a perspectiva leiga do risco desloca‐se para o campo contrário, no sentido da ontogénese biomédica do risco e para a valorização do risco epidemiológico. Na perspectiva leiga, a norma da maternidade biológica e a norma médica do risco são dessocializadas das condições subjectivas e objectivas das suas vidas quo‐
tidianas e socializadas às relações sociais específicas, próprias do funcionamento deste campo de práticas médicas. Na perspectiva biomédica, pelo contrário, estas normas são politizadas e inseridas no funcionamento da medicina como instituição social. Quer dizer que a perspectiva leiga submete a racionalidade subjacente ao risco social à racionalidade subjacente do risco epidemiológico (Carapinheiro, 2007). Será que podemos dizer que as deslocações destas perspectivas correspon‐
dem a processos de disembedding, em que os lugares Kitsch operam com uma efi‐
cácia acrescida? Será que estamos perante um balanço pendular entre o desejo e 64 Graça Carapinheiro o risco em que a ciência tenta estender as suas fronteiras reguladoras ao desejo e a sociedade tenta capturar o risco na sua lógica de regulação? Ou estamos apenas perante processos de medicalização da vida que não dispensam movimentos de desmedicalização relativa? Se conjugarmos os processos de formação de riscos com os processos de medicalização das sociedades, apercebemo‐nos da progressiva transferência da gestão das políticas da saúde e da vida, do plano público e colectivo para o plano individual e privado. Mas quem tem acesso à difusão dos saberes periciais? Quem dispõe de recursos para os decifrar, interpretar e colocar ao serviço da sua expe‐
riência? Como inscrever este projecto de gestão da saúde e da vida num tempo histórico em que a reflexividade cresce com a incerteza, tanto na ciência, como no Estado, fragilizando‐se os mecanismos de auto‐sustentação das suas respectivas legitimidades? Referências bibliográficas AUGUSTO, Amélia (2004), Infertilidade e Reprodução Medicamente Assistida. Dos Pro‐
blemas Privados aos Assuntos Públicos (Tese de Doutoramento em Sociologia), Covilhã, Departamento de Sociologia da Universidade da Beira Interior. BAUMAN, Zygmunt e TESTER, Keith (2001), Conversations with Zygmunt Bauman, Cam‐
bridge, Polity Press. CARAPINHEIRO, Graça e PAGE, Paula (2001), “As determinantes globais do sistema de saúde português”, in Hespanha, Pedro e Carapinheiro, Graça (orgs.), Risco Social e Incerteza. Pode o Estado Social recuar mais?, Porto, Afrontamento. CARAPINHEIRO, Graça (2002), “Inventar percursos, reinventar realidades: doentes, tra‐
jectórias sociais e racionalidades formais”, Etnográfica, vol. V (2). CARAPINHEIRO, Graça (2006), Sociologia da Saúde. Estudos e Perspectivas, Coimbra, Pé de Página. CARAPINHEIRO, Graça (2007), “Saúde e Risco na Sociedade Portuguesa. Para uma nova agenda das políticas da vida”, in Viegas; José Manuel Leite, Carreiras, Helena e Malamud, Andrés (orgs.), Portugal no Contexto Europeu, vol. I, Instituições e Políticas, Lisboa, Celta. MENDES, Felismina (2007), Futuros Antecipados. Para uma Sociologia do Risco Genéti‐
co, Porto, Afrontamento. RAWLS John (1997), La Théorie de la Justice, Paris, Seuil. SEN, Amartya (2000), Repenser l’Inégalité, Paris, Seuil. VISVANATHAN, Shiv, “Towards the Great Indian Novel: Regulation, Desire and the Biote‐
chonological Imagination”, comunicação apresentada no Colóquio Internacional Caminhos de Futuro. Novos Mapas para as Ciências Sociais e Humanas, Coim‐
bra, CES, 18‐21 de Julho de 2008. SAÚDE COMUNITÁRIA: RISCOS E POTENCIALIDADES DA PARTICIPAÇÃO Luísa Ferreira da Silva Introdução Nas últimas décadas, o discurso sobre saúde deu ênfase às noções de educa‐
ção, promoção e participação, num objectivo expresso de aproximar da vida quo‐
tidiana das pessoas a instituição social de saúde com vista a melhorar o nível de saúde das populações. Subjacente a este discurso está o reconhecimento da necessidade de provocar mudanças num sistema dominado pelos cuidados clínicos e curativos, com exigências tecnológicas crescentes e envolvendo importantes investimentos financeiros, sem contrapartidas proporcionais nas melhorias ao nível da própria saúde e ao da satisfação dos utentes. É neste contexto que, nas últimas décadas do século XX, as políticas e os sis‐
temas de saúde são instados a focar a promoção da saúde como intervenção comunitária. O papel central da comunidade no desenvolvimento da saúde foi enunciado em 1978 pela Conferência de Alma‐Ata (WHO, 1978) que deu relevo à relação de associação entre as desigualdades em saúde e as desigualdades sócio‐
‐económicas. Os princípios de promoção da saúde foram desenvolvidos pela Con‐
ferência de Otava (WHO, 1986) que definiu com clareza os vários níveis em que a promoção da saúde supõe intervenção: o das políticas públicas, o dos meios de vida socio‐ambientais, o da acção comunitária, o das aptidões individuais e o da reorientação dos serviços de saúde no sentido de uma atitude e organização da promoção que ultrapasse a prestação de cuidados clínicos e curativos e abarque uma política multissectorial interventiva nas mudanças sociais e incentivadora da participação activa dos indivíduos e dos grupos. A década de noventa produziu novos textos internacionais em que o objectivo de promoção da saúde se propõe contribuir para a transformação de uma popula‐
ção objecto de todos os cuidados em habitantes sujeitos do seu próprio destino (OMS, 1994:44). São valorizadas a opinião e a opção dos cidadãos no que respeita ao conteúdo dos cuidados, aos contratos de prestação de serviços, à qualidade da inte‐
racção prestador/paciente, à gestão das listas de espera e ao seguimento das recla‐
mações, pelo que é exigido que os cidadãos disponham de meios importantes, cor‐
rectos e oportunos de informação e de educação (WHO 1996). Este é o enquadramento político da saúde comunitária como estratégia de promoção de saúde. Estratégia que se caracteriza por uma ruptura com o modelo ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 65‐78. 66 Luísa Ferreira da Silva clínico em favor de uma conceptualização de saúde global, implicada no processo de desenvolvimento e associada às dinâmicas do desenvolvimento social. A inter‐
venção dos profissionais da saúde é integrada na coordenação com os outros sec‐
tores sociais que incluem o governo, as autoridades locais, as organizações não governamentais, a indústria e os media. Os serviços de saúde são instados a parti‐
lhar o poder com os outros sectores, as outras disciplinas e, sobretudo, com as pró‐
prias pessoas (WHO 1986: 4). Este texto analisa a estratégia da promoção da saúde do ponto de vista da ideologia que lhe subjaz. No contexto da globalização capitalista e consequen‐
te aumento das desigualdades sociais e na sequência dos movimentos de con‐
testação das décadas de sessenta e setenta, reveladores da crise de legitimi‐
dade das instituições, a promoção da saúde assenta na ciência o exercício de uma intervenção reguladora em que os indivíduos são chamados a participar na gestão do sistema. Faremos o exame das noções de participação e de comunidade relacionando‐os com os objectivos de saúde a que se propõem. Previamente, situaremos a concepção teórica de saúde/doença em que se move a ciência social e faremos referência ao contexto social de afirmação dos saberes leigos da doença. Saúde e doença são construções sociais A saúde e a doença são construções sociais nas quais a sociedade inscreve a sua visão do mundo e impõe a marca da sua organização. Para além da reali‐
dade biológica, o entendimento da saúde e doença é variável com as socieda‐
des e a sua distribuição é desigual. Nas sociedades modernas, o modelo biomédico impôs‐se na resposta à doença cuja experiência está hoje fortemente condicionada à medicalização. É verdade que, ao longo do século XX, a concepção biologista da doença foi substituída pela concepção bio‐psico‐social que integra a psicologia e os com‐
portamentos (Armstrong, 1984). Mas apesar das mudanças no papel social e simbólico da medicina na sociedade moderna e das variações no próprio modelo médico, a sua abordagem predominante na prática clínica continua a ser a procura da evidência física da doença ou disfunção, assim como o uso de tratamentos físicos (tais como drogas, cirurgia, ou radiação) para corrigir essas anormalidades (Helman, 1984: 83). É a esse conjunto complexo que inclui o conhecimento, as práticas, as organizações e os papéis profissionais que se refere a expressão biomedicina. O modelo biomédico impôs‐se no campo social, alargando o seu espaço para domínios de comportamento anteriormente encarados como problemas morais (alcoolismo e suicídio, por exemplo), ou como fenómenos naturais do curso da vida (gravidez, parto, envelhecimento). Nesse sentido, a sociedade actual é uma sociedade medicalizada, que atribui significados de doença a numerosas dimensões da existência (Illich, 1975). A marca da sociedade na saúde e doença está também presente na sua distribuição desigual e mais penalizadora dos grupos sociais menos favorecidos nas hierarquias de papel e de status (Townsend et al., 1982; Bartley et al., 1998; Leclerc et al., 2000). A saúde/doença está, com efeito, muito para além Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação 67 do estado natural do corpo na sua variabilidade individual, sendo reflexo da interpretação dos sinais do corpo como se percebe na constatação de um importante desnível entre a incidência de doença medicamente diagnosticável e as taxas de recurso à medicina (Hannay, 1980). As raízes sociais da saú‐
de/doença aparecem com efeito na distância que separa o mal‐estar (sentir‐se doente) do adoecer (considerar‐se doente) e do assumir‐se como doente (con‐
sultar a medicina ou tornar‐se paciente) (Zempléni, 1985) a qual justifica gran‐
de parte do recurso diferenciado aos cuidados médicos, preventivos e curati‐
vos, consoante o grupo social em que se está inserido (Calnan et al., 1991; Blackburn, 1999). A verdade é que a experiência da saúde e da doença e os comportamentos a ela referidos são condicionados pelas circunstâncias da existência e pelas formas ou estilos de vida que nelas se modelam. Não se vive o corpo nem se fala dele de forma idêntica em todos os grupos sociais (Bol‐
tanski, 1971). O cariz social da doença está, para além disso, presente na prática profissio‐
nal. Descobre‐se a influência das representações sociais do senso comum na ten‐
dência médica para diferencial classificação como doença, atribuição de diagnósti‐
cos e definição de tratamentos, segundo os grupos sociais. Face a quadros semelhantes, pessoas de diferentes classes e estatutos sociais, recebem diagnósti‐
cos mais ou menos estigmatizantes e tratamentos mais ou menos medicamento‐
sos, situação que está sobretudo documentada para a doença mental (Holling‐
shead et al., 1958; Scheff, 1975) e para as diferenças de género (Miles, 1991). A saúde e a doença não são realidades apenas do corpo físico mas da sua relação com o corpo social. Novos actores sociais em saúde/doença Nas relações sociais que estruturam o espaço da saúde/doença, os anos recentes foram marcados pelo aparecimento de outros actores para além dos profissionais. A doença crónica configurou uma nova definição do papel de doente que abandona a atitude tendencialmente passiva e assume a negocia‐
ção como processo de construção de uma nova relação médico‐doente e como afirmação reconstrutiva da identidade para além de, ou em resistência a, a eti‐
queta diminutiva (em alguns casos, estigmatizadora) de doente; de pessoa doente, o/a “doente” torna‐se “pessoa que tem uma doença”, num processo de distanciação que a coloca, face aos profissionais da medicina, num estatuto de maior igualdade (Baszanger, 1986). Paralelamente, em relação a variadas doenças se têm constituído associa‐
ções (de doentes, familiares, amigos e profissionais) com funções de suporte emocional e relacional, de influência no tecido social e na organização de cui‐
dados médicos e assistenciais. A partilha de experiências que promove a auto‐
‐compreensão, encoraja uma atitude de auto‐regulação na forma de lidar com a doença e o tratamento, atitude que, de certa forma, confronta a dominação médica e configura uma avaliação do seu conhecimento centrado nos proces‐
sos do corpo (Kelleher, 1994). As associações ligadas à SIDA, protótipo deste tipo de associativismo, combateram com sucesso a imagem negativa da sero‐
positividade e conseguiram influenciar o poder de decisão no que respeita aos 68 Luísa Ferreira da Silva direitos em matéria de investigação e de prevenção (Herzlich, et al., 1984; Bas‐
tos, 1997; Brown, 1997). Mas não só as pessoas com doença(s) exigem mudança nos termos da relação entre os especialistas (“conhecimento sagrado”) e a população (“conhecimento leigo”). Pessoas e grupos da população em geral assumem‐se como competentes e empenhadas na gestão da sua saúde, numa atitude que contesta a despersonalização do “paciente” e impõe à instituição de saúde a dimensão subjectiva da vivência dos indivíduos. Individualmente e em associa‐
ção, os sujeitos tornam‐se agentes que reivindicam um espaço de controlo e de decisão nas opções que configuram os cuidados e que definem a concepção do que é, afinal, a saúde (Herzlich, et al., 1984; Saks, 1998). Multiplicam‐se as possibilidades de escolha de cuidados de saúde pelo reaparecimento de tera‐
pêuticas alternativas valorizadoras da experiência subjectiva e propondo para a saúde/doença novas conceptualizações “doces” ou globais e integradoras da procura do significado existencial do mal‐estar (Sharma, 1990; Saks, 1998). Esta intervenção multifacetada de vários agentes sociais – indivíduos, grupos e organizações – constitui uma das facetas do processo de reflexividade institucional no que contem quer de individualização, ou auto‐responsabili‐
zação pela própria biografia, quer de subjectivação ou interferência da dimen‐
são privada na dimensão político‐institucional. A reflexividade da vida social moderna consiste no facto de as práticas sociais serem constantemente exa‐
minadas e reformadas à luz da informação adquirida sobre essas mesmas prá‐
ticas, alterando assim constitutivamente o seu carácter (Giddens, 1990). Ulrickh Beck (1994) apelidou de sub‐política esse tipo de actividade caracterís‐
tico das sociedades de modernidade tardia que impele os indivíduos e grupos a tornarem‐se agentes da configuração da sociedade a partir de baixo. A dimensão educativa da saúde comunitária – a hegemonia da ciência A saúde comunitária assenta na promoção da saúde com o significado de: melhorar a capacidade de resposta positiva aos desafios do ambiente físico e social, seja ao nível dos indivíduos, concretizada nos objectivos de preservar o recurso pessoal de saúde e desenvolver as potencialidades de lidar com o stress biológico e psicológico, seja ao nível comunitário de diminuir as desi‐
gualdades, melhorar os indicadores colectivos de mortalidade e morbilidade e diminuir o risco nas condições ambientais. A participação como método para alcançar tais objectivos dirige‐se ao empowerment (conceito que passamos a referir pela tradução portuguesa: empoderamento1) das populações, entendi‐
do como reforço do exercício da autonomia pelo auto‐controlo da própria saú‐
de e do exercício da cidadania pela intervenção colectiva na definição de prio‐
ridades da micro‐política (WHO 1986). Como método, o discurso da promoção da saúde distancia‐a da “tradicio‐
nal” (informativa e pedagógica) educação para a saúde pela ênfase que coloca no empoderamento dos agentes individuais e colectivos com vista ao aumento 1 De acordo com parecer de Malaca Casteleiro à CIDM em 1995. Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação 69 da sua capacidade de escolher e de decidir. No entanto, é na estratégia educa‐
tiva que a promoção da saúde, assenta a racionalidade das escolhas informa‐
das. A promoção da saúde apoia o desenvolvimento pessoal e social mediante a passagem de informação, a educação para a saúde e o desenvolvimento das competências para a vida. Desta forma, aumenta as opções disponíveis para que as pessoas exerçam maior controlo sobre a sua própria saúde e sobre a saúde do ambiente que as rodeia, assim como para que façam opções que conduzem à saúde (WHO 1986: 3). A dimensão capacitadora sobre que o texto fundador da promoção da saúde assenta o empoderamento das pessoas e das comunidades, aparece assim como uma dimensão limitada pela concepção implícita do conhecimento como monopó‐
lio dos peritos a quem compete democratizá‐lo. Nessa perspectiva, a promoção da saúde constituir‐se‐ia em passagem dos conhecimentos científicos sobre saúde, com construção, na população, de atitudes condizentes com tais aprendizagens. Intervenção que se situa no âmago da governabilidade dos corpos, exercida pelo mecanismo do saber‐poder, recorrendo a processos de interiorização que dirigem a vontade e a auto‐disciplinam. Em suma, está‐se perante uma filosofia de acção inovadora (empoderamento e participação) para objectivos convencionais (Davies, et al., 1993) na medida em que a finalidade reside na passagem da mensagem científica sobre a saúde, substituindo por ela o conhecimento popular. Ora, o conhecimento leigo não é apenas um conhecimento feito de “irracio‐
nalidades” que oferecem resistência à adopção da mensagem racional; ele é um outro tipo de conhecimento cuja “racionalidade” é subjectiva, biográfica, feita da interpretação e da procura do sentido da vida (Williams et al., 1994; Silva, 2008). Na sua relação com as pessoas na comunidade, a instituição promotora da saúde deve estar aberta a esta dimensão cultural da saúde/doença e aprender com ela sobre as formas de viver esse domínio da vida de que conhece essencialmente os processos biológicos (Nunes, 1997). Na sociedade da mudança permanente, sociedade contingencial em que as pessoas são obrigadas a fazer opções em termos de compromisso, as opções indi‐
viduais são eivadas de subjectividade o que significa que se integram no fluxo pro‐
cessual permanente em que o actor não “é” mas “faz‐se” e que, a cada momento, avalia não só racional mas também emocional e culturalmente as escolhas entre os riscos potenciais para a saúde e os riscos potenciais para as outras dimensões da sua existência. As escolhas representam o compromisso possível entre o saudá‐
vel e as realidades laborais, económicas e sociais, e não são opções livres de con‐
dicionalismos externos, apenas determinadas pelo desejo do bem‐estar em saúde, hoje e no futuro. Com efeito, o estudo dos problemas de saúde numa perspectiva de identi‐
ficação e medida da importância relativa dos factores de risco, verifica a pre‐
dominância da predisposição social e cultural relativamente ao estilo de vida individual (Frankenberg, 1993). O estilo de vida é uma construção que se deci‐
de no espaço situado entre a socialização, condicionada pelas predisposições estruturais, e as escolhas individuais (Bourdieu, 1979). É assim que as condi‐
ções de vida associadas ao baixo estatuto económico, educacional e ocupacio‐
nal estão na base da incidência diferencial dos comportamentos de risco, da exposição aos perigos ambientais e do recurso aos cuidados preventivos de 70 Luísa Ferreira da Silva saúde numa relação de causa fundamental (Link et al., 1995; Mckinlay, 1975; Blackburn, 1999). No entanto, as estratégias de promoção da saúde têm investido fundamen‐
talmente as mudanças de comportamento (Eyles et al., 2001), num procedimento de individualização da doença que oculta as condições estruturais que em grande parte a determinam e que pode contribuir para a culpabilização das vítimas com efeitos discutíveis sobre a saúde das populações (Crawford, 1977; Minkler, 1999). Vários estudos têm verificado uma falta de coincidência, nos actores, entre o conhecimento das normas relativas ao modo de vida saudável, as atitudes consi‐
deradas desejáveis e os comportamentos realmente efectuados (Calnan, 1987; Blaxter, 1998; Vieira, 2000). Contudo, apesar de as mensagens sobre estilo de vida e comportamentos individuais terem sido adoptadas por uma boa parte da população, e de consequentemente se verificar maior consciência sobre a necessidade de responsabilidade pessoal pela saúde, a capacidade de muitas pessoas para agirem de acordo com esses conhecimentos é, em geral, fortemente limita‐
da pela ausência de um ambiente cultural, social e económico favorável (Ziglio et al., 2000: 144). As potencialidades da promoção da saúde apontam para a conjugação de esforços entre a saúde pública e as disciplinas sociais no sentido de desenvolver uma epidemiologia dos processos sociais (Carballo, 1987) e de por esse meio con‐
tribuir para o alargamento do pensamento político‐social sobre o estado de saúde, integrando os conhecimentos, práticas e significados culturais (Corin, 1975), focando a necessidade de mudanças conceptuais e políticas na via do desenvolvi‐
mento e na administração dos recursos, bem como para o alargamento da capaci‐
dade reflexiva dos indivíduos e dos grupos e da sua capacidade de resistência sub‐
‐política. Paulo Freire (1969) trabalhou esta perspectiva da conscientização como uma relação que promove a consciência crítica sobre os factores (sociais, econó‐
micos e políticos) determinantes da configuração dos problemas e a capacidade para neles intervir. A dimensão participativa da saúde comunitária Como processo de empoderamento, a participação supõe que a análise das necessidades deixe de reflectir prioritariamente as preocupações dos profissionais e passe a integrar o pensamento leigo sobre as questões da saúde (Machado, 1990; Bass, 1994; Sturt, 1998). A participação em saúde é assim configurada como partilha do poder num processo que supõe a dinamização da capacidade organiza‐
tiva da comunidade para intervir de forma consciente e responsável. O empode‐
ramento da população é resultado desse processo que não só promove a demo‐
cratização do conhecimento para além dos grupos e instituições especialistas onde se sedia, como promove, nos especialistas, a capacidade de escuta e consideração pelo conhecimento leigo, num processo de “alimentação” da reflexividade mútua que devolve aos agentes, especialistas e leigos, o sentimento de confiança, o dese‐
jo e a capacidade de intervir na política. Scott Lash refere‐se a esta possibilidade de desenvolver uma noção do ‘self’ consistente com a noção do “nós”, como uma Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação 71 hermenêutica da recuperação da comunidade na sociedade da individualização (1994: 161). Ou seja, definir a promoção da saúde pela via da participação é instalá‐la no campo necessariamente conflitual dos poderes (políticos e de administra‐
ção, profissionais e leigos) e suas fronteiras. Examinemos os níveis concretos de manifestação da ambivalência a que a saúde comunitária está sujeita o que faremos com recurso à distinção das duas direcções em que se orienta a parti‐
cipação em saúde: a participação que traz a população para o espaço da insti‐
tuição e a participação que leva a instituição ao espaço da vida da comunidade. A primeira direcção é a da participação que “senta” a comunidade à mesa das decisões pela via da representatividade dos seus organismos e organiza‐
ções nos órgãos regulares da gestão do sistema de saúde. Este é, no interior da própria instituição, um espaço criador da oportunidade de abertura da visão especializada da saúde. No entanto, ele é, na prática, um espaço liderado pelos especialistas (especialistas da saúde, em posição dominante, mas também outros especialistas representantes de outras instituições) onde facilmente se manifesta a tendência redutora para a mera representatividade formal dos agentes leigos, numa perspectiva que encara a participação mais como uma questão de eficiência do que de democracia. Na prática, os utentes não vêem o seu poder reforçado. Apesar do aumento de informação sobre certos aspectos dos cuidados de saúde, tais como o acesso, ainda se mantém uma assimetria considerável entre utentes e fornecedores (Shabckley e Rugan, 1994; Gabe et al., 2000: 269). A divisão social do saber‐poder, visível na distância entre o discurso cientí‐
fico relativo a conceitos, indicadores e raciocínios técnicos, e a expressão popular das preocupações e problemas vivenciados no quotidiano social, tra‐
duz‐se frequentemente em consensos em torno de objectivos pré‐estabele‐
cidos pelos administradores dos serviços (White, 2000). A participação, para ser activa e consciente, terá de estar habilitada a intro‐
duzir o diálogo sobre temas e racionalidades que estão para além da lógica pericial inscrita nos relatórios e programas, a impor a construção de novos indicadores capazes de medir subjectividades, a opor‐se à construção prévia de decisões, a exigir a transparência da contabilidade e outros elementos avaliadores do funcio‐
namento dos serviços – habilitação que se desenvolve no interior do processo de empoderamento da comunidade que aquelas instâncias pretendem representar. “A capacidade técnica (…) poderia então passar do estatuto de modo de apropria‐
ção do saber reservado a alguns iniciados para o de construção comum, conjunta, de um saber e de um conhecimento úteis, baseado na partilha do saber e do poder” (Pissarro et al., 1994). As potencialidades para intervir ao nível da ordem social que sustenta o nível institucional são compreensivelmente reduzidas no entendimento que faz da participação um objectivo subordinado à liderança da instituição de saúde. A pesquisa sobre as experiências de participação em saúde é reveladora de uma “apatia” por parte dos actores leigos cujo empenhamento decisivo e continuado é função, em grande parte, do suporte político e organizativo (Kennedy, 2001) e da existência de interesses comunitários organizados, inte‐
resses esses que as administrações têm relutância em aceitar (White, 2000). 72 Luísa Ferreira da Silva Segundo alguns autores, o que deve entender‐se na contestação leiga que manifesta insatisfação com o sistema de saúde, não é que as pessoas preten‐
dem ser associadas à sua gestão burocrática, mas que pretendem sobre ele serem informadas e consultadas (Williams, et al., 1994). O acesso à informação e à comunicação é uma condição da integração social nas sociedades de modernidade tardia. É a informação que alimenta a reflexividade dos agentes sociais, fundamenta as escolhas, sustenta a auto‐
‐afirmação no relacionamento com o sistema, enriquece a comunicação com os outros agentes, incentiva a associação colectiva, possibilita a tomada de palavra nos momentos de consulta organizada e cria as condições para a parti‐
cipação representativa não meramente formal. A prática de “consulta infor‐
mada” (preparada mediante distribuição de dossiers, organização de sessões de informação e debate, acessibilidade a documentos, etc.) poderá ser induto‐
ra de mudanças e estabelecer as bases para a organização do exercício do con‐
trolo na instituição e seus sistemas periciais. Vários países (Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, França, nomeadamente, na Europa) têm vindo a organizar o debate aberto à participação do público, sobre as questões de princípio e de funcionamento do sistema de saúde, tais como os direitos dos utentes, a prevenção, a acessibilidade, etc. O objectivo de tal mobilização dos cidadãos é a promoção do esclarecimento colectivo – criar uma ‘cultura de saúde pública’ (Garros, 2000) – e da participação directa, viabi‐
lizando a decisão conciliadora do interesse geral com os interesses particula‐
res. Contrariamente ao que se poderia prever, esses debates concluem que as reivindicações não se dirigem ao acréscimo de serviços e de cuidados mas antes à dimensão humana nos cuidados de saúde e à qualidade da relação com os profissionais: melhor informação, melhor escuta, melhor acompanhamento, mas também mais transparência e mais respeito pela sociedade civil no que respeita à relação com as estruturas de cuidados (Khodoss, 2000). Portugal não se implicou ainda na direcção destas experiências de demo‐
cracia directa que, como referem Letourmy et al. (2000), não só melhoram a informação e a reflexão responsável por parte dos agentes, como contribuem para a mudança da relação médico‐doente e, nessa medida, para a mudança nas práticas médicas. (…) estas experiências foram implementadas no contexto de trabalhos parlamentares ou sob égide governamental. De forma nenhuma preten‐
diam substituir‐se ao funcionamento representativo das instituições, mas tinham como objectivo alimentar o debate e a reflexão dos respon‐
sáveis políticos. Do que se trata é de fazer emergir um ponto de vista suplementar aos já existentes, os dos técnicos (Ghadi et al., 2000: 23). A experiência mostra que este tipo de iniciativas são interessantes, no entanto muito está ainda por conseguir. Para além dos problemas de definição, denominação ou legitimidade dos representantes dos utentes ou da população, o tempo de palavra nestas instâncias é ainda em gran‐
de parte ocupado pelos profissionais (…). A emergência de um verda‐
deiro debate social sobre as prioridades de saúde em que cada pessoa possa e ouse exprimir‐se, necessita de um longo trabalho preparatório de informação e até de formação. (Garros, 2000: 91‐92). Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação 73 A segunda direcção da participação é a da inversão na comunidade. Neste campo, a ambivalência primeira do processo de construção da participação tem também a ver com a liderança do processo, colocada na iniciativa da insti‐
tuição de saúde. As instituições (aqui, como sinónimo de organizações) são, pela sua própria natureza, cristalizações de poderes (profissionais, maiorita‐
riamente) sobre os quais assenta a organização social. Instituidora do poder médico nas hierarquias profissionais e da consequente valorização de priori‐
dades tecnológicas na distribuição dos recursos (dinheiro, tempo e categorias de pessoal), nos objectivos e nos indicadores de avaliação, a instituição de saúde tende a remeter a saúde comunitária para a periferia do sistema. É o equilíbrio da instituição que está em jogo, com a saúde na comunidade a representar a ameaça à estabilidade, assente na especialização dos seus pro‐
fissionais e na barreira que os separa dos seus “utentes”. A saída para o exte‐
rior numa atitude de constituir um desafio à aplicabilidade dos seus conheci‐
mentos, às certezas assentes em conceitos abstractos e técnicos que pouco têm em conta a experiência da vida e a procura de significados para a doença, e à capacidade de relacionamento “desprotegido” no sentido de imersão no “mundo da vida” com as suas regras interaccionais tão diferentes das que vigo‐
ram no espaço institucional. A saúde comunitária aparece, na generalidade dos países europeus, aliada a políticas mais ou menos consistentes de saúde pública a nível da administração local (Fassin, 1998). Ela é transposta para a prática principalmente através de pro‐
jectos, alguns com características de maior continuidade, designadamente, em alguns países, do ponto de vista do retorno para os objectivos dos serviços (Den‐
mark Ministry of Health, 1994; Bass, 1994; Haglund et al., 1997; Green, 1999). Portugal é particularmente inactivo, no contexto mundial, no que respeita a implementação da saúde comunitária. Apesar das declarações programáticas do Plano Nacional de Saúde e da existência de uma estrutura de saúde pública no interior das ARS, responsável pela saúde comunitária, a falta de regulamentação adequada e de recursos, nomeadamente humanos, leva a que a saúde comunitária seja abordada na perspectiva de programas definidos em função da prevenção da doença individual e se corporize em projectos locais de trabalho directo com “comunidades” (zonas de habitação) desfavorecidas e onde se acumulam os pro‐
blemas sociais relacionados com a exclusão social. São, genericamente, iniciativas que estão na base da criação de programas de informação ou de acções dirigidas à mudança de hábitos. São raras as intervenções de saúde comunitária que se direc‐
cionam para o objectivo de participação continuada das pessoas da população‐
‐alvo, mediante a dinamização da organização de grupos locais e da formação de líderes. Na saúde comunitária, a definição da “comunidade” é usualmente feita pelos profissionais (um bairro degradado; uma comunidade étnica; etc.), de acordo com os seus próprios objectivos e com base numa convicção de homo‐
geneidade que, à partida, não cria espaço ao equacionamento da diferenciação social, da conflitualidade interna, ou da auto‐organização da população; a “comunidade” é muitas vezes sinónimo de grupos, “administrativamente” criados (a associação de pais, o lar de idosos, os professores, etc.) a quem as acções são dirigidas (Jewkes et al., 1990). De uma forma geral, o objectivo que 74 Luísa Ferreira da Silva subjaz à promoção da participação directa das pessoas e grupos ou organiza‐
ções da comunidade está informado pela visão biomédica da saúde e utiliza a participação para validar, legitimar ou tornar menos ineficazes as acções dos/as profissionais (Bass, 1994). Apesar dessas limitações, reconhece‐se nestas práticas de iniciativa volun‐
tarista e empenhada, o germe da pesquisa‐acção emancipatória no que têm de associação de pessoas com competências diversas que se inter‐apoiam e esti‐
mulam no desenvolvimento da acção crítica e na assunção de responsabilida‐
des mútuas, determinadas a aprendizagens mútuas e a deixarem‐se corrigir pela prática (Gomes, 1992). Instauram um espaço novo de interacções entre profissionais de saúde, agentes da comunidade e profissionais de outras orga‐
nizações sociais cujas potencialidades de celebração da diferença presente na pluralidade de discursos as situa no espírito da pesquisa nomádica baseada na convicção de que não há uma verdade única sobre o mundo, mas todos os conhecimentos são contingentes e processuais (Fox, 1999). No entanto, o seu carácter periférico no interior da instituição reduz estas experiências a uma dimensão voluntarista e pontual que lhes minimiza a capacidade de interferir com a ordem instituída em que se movem os poderes da saúde. Ficam consideravelmente inalteradas, na cultura da instituição, as suas relações hierárqui‐
cas subordinadas ao poder‐saber médico como verdade fundacional, a falta de diá‐
logo com as visões leigas da saúde, a exclusão da subjectividade na experiência do ser doente, a não consideração da causalidade social no risco de adoecer, a rigidez da burocracia, a visão dos direitos dos utentes numa perspectiva individual e não colectiva, a atribuição de recursos que privilegia os cuidados curativos e a passivida‐
de face aos mecanismos do poder político‐económico nas suas responsabilidades de controlo das condições ambientais. A promoção da participação comunitária em saúde descobre‐se assim enredada nas relações de força construtivas da sua produção como mecanis‐
mo de regulação que pretende disputar, no terreno, um espaço potenciador do vector da emancipação. Na prática, ela tem funcionado como ponto de resistência no interior do sistema, mas não tem tido capacidade para instaurar a reorientação dos serviços de saúde2. Síntese final A saúde comunitária tem como objectivo a promoção da saúde numa abrangência que, implicando todos os aspectos da vida individual e colectiva, representa uma nova configuração da bio‐política de regulação social. Nela, os agentes sociais são chamados a tomar parte activa e responsável, integrando de forma consciente a sua qualidade de sujeitos políticos. A estratégia de intervenção na comunidade conjuga a vertente participativa dirigida ao reforço do poder das populações, com a vertente educativa que a ela contribui pela divulgação do conhecimento especializado. Esta dimensão educativa comporta 2 Fica excluída deste texto a participação como mecanismo político (na sociedade brasileira) rea‐
lidade diferente da europeia no que tem de intervenção legalizada de representantes de toda a sociedade na definição de políticas e sua execução. Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação 75 riscos e potencialidades, do ponto de vista da emancipação e empoderamento das pessoas e comunidades, riscos e potencialidades compreendidos na dialéc‐
tica que se joga entre uma prática tradicional de “medicalização” da experiên‐
cia da saúde/doença (educação baseada numa estratégia dominantemente informativa) e uma prática colaborante, aberta à pluralidade de discursos, capaz de aceitar a visão leiga com a mesma seriedade com que encara a visão científica, reconhecendo a cada uma o seu valor específico. A promoção da saúde joga‐se também no campo das condições estrutu‐
rais que influenciam a saúde, em relação aos quais a tensão se situa entre uma orientação que privilegia a actuação médica nos efeitos ou a intervenção polí‐
tica nas causas. Esta última exige uma conjugação de esforços capazes de reverter directamente para a política governativa os conhecimentos capazes de influenciar as decisões no sentido da saúde, assim como de alimentar a reflexividade dos agentes sociais, individualmente ou em grupo, contribuindo à sua capacidade de decisão crítica e de exercício de contestação relativamente às medidas de política que, por intervenção ou por omissão, prejudicam a saú‐
de. É neste contexto de desenvolvimento da capacidade de reflexão informada que faz sentido apelar à participação, seja ao nível da organização e funciona‐
mento da instituição de saúde, seja ao nível da construção do sentimento comunitário em torno da procura de verdades plurais capazes de instituir o diálogo entre a ciência e a vida prática. Promover a saúde pode então significar uma mudança cultural em que a atenção que se dá ao corpo deixe de reverter para a procura de cuidados médicos, em favor de um modo de vida em que o desporto deixar de ser uma distracção, as férias deixam de ser um privilégio, a alimentação variada e feita de alimentos frescos deixa de ser um luxo, etc. para passarem a ser factores de saúde. Referências bibliográficas ARMSTRONG, D. (1986), “The invention of infant mortality”, Sociology of Health and Ill‐
ness, 8 (3): 211‐231. BARTLEY, M.; BLANE, D.; SMITH, G. D. (1998), The Sociology of Health Inequalities, USA, Blackwell Publishers/Editorial Board. BASS, M. D. (1994), Promouvoir la Santé, Paris, L’Harmattan. BASTOS, C. (1997), “A pesquisa médica, a SIDA e as clivagens da ordem mundial: uma proposta de antropologia da ciência”, Análise Social, XXXII, 140: 75‐111. BASZANGER, I. (1986), “Les Maladies chroniques et leur ordre négocié”, Revue Française de Sociologie, XXVI: 3‐26. BECK, U. (2000), “A reinvenção da política. Rumo a uma teoria da modernização reflexi‐
va”, in U. Beck et al., Modernização Reflexiva. Política, tradição e estética no mundo moderno, Oeiras, Celta, pp. 1‐51 e 165‐174 (1994, ed. ingl.). BLACKBURN, C. (1999), “Poor health, poor health care – the experiences of low‐income households with children”, in M. Purdy e D. Banks, Health and Exclusion: policy and practice in health provision, London, Routledge, pp. 26‐44. BLAXTER, M. (1998), Health and Lifestyles, London, Routledge (1990, 1.ª ed.). BOLTANSKI, L. 1971, “Les usages sociaux du corps”, Annales Economies‐Sociétés‐
‐Civilisations: 205‐231. 76 Luísa Ferreira da Silva BOURDIEU, P. (1979), La Distinction: critique sociale du jugement, Paris, Minuit. BROWN, M. P. (1997), Replacing Citizenship. AIDS activism and radical democracy, New York and London, The Guilford Press. CALNAN, M. (1987), Health and Illness: the lay perspective, London and New York, Ta‐
vistock. CALNAN, M.; WILLIAMS, S. (1991), “Style of life and the salience of health: an explora‐
tory study of health related practices in households from differing socio‐
‐economic circumstances”, Sociology of Health and Illness, 13 (4): 506‐529. CARBALLO, M. (1987), “Address to 10th Social Science and Medicine Conference”, Sit‐
ges, Barcelona, cit por FRANKENBERG, R. (1993), “Anthropological and epide‐
miological narratives of prevention”, in S. Lindenbaum e M. Lock, Knowledge, Power and Practice: the anthropology of medicine and everyday life, Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, pp: 219‐242. CORIN, E. (1995), “The cultural frame: context and meaning in the construction of health”, in B. C. Amick et al., Society and Health, Oxford University Press. CRAWFORD, R. (1977), “You are dangerous to your health: the ideology and politics of victim blaming”, International Journal of Health Services, 7 (4): 663‐681. DAVIES, J. K.; KELLY, M. P. (1993), Health Cities: research and practice, London, Routledge. DENMARK MINISTRY OF HEALTH (1994), Lifetime in Denmark, Denmark. EYLES, J. et al. (2001), “What determines health? To where should we shift resources? Attitudes towards the determinants of health among multiple stakeholder groups in Prince Edward Island, Canada”, Social Science and Medicine, 53 (12): 1611‐1619. FASSIN, D. (1998), “Politique des corps et gouvernement des villes. la production locale de la santé publique”, in D. Fassin (dir.), Les Figures Urbaines de la Santé Publi‐
que/enquête sur des expériences locales, Paris, La Découverte, pp. 7‐46. FOX, N. J. (1999), Beyond Health. Postmodernism and embodiment, London: Free Asso‐
ciation Books. FRANKENBERG, R. (1993), “Anthropological and epidemiological narratives of preven‐
tion”, in S. Lindenbaum e M. Lock, Knowledge, Power and Practice: the anthro‐
pology of medicine and everyday life, Berkeley, Los Angeles and London, Uni‐
versity of California Press, pp: 219‐242. FREIRE, P. (1969), Educação como Prática da Liberdade, Rio de Janeiro, Paz e Terra. GABE, J.; CALNAN, M. (2000), “Health care and consumption”, in S. J. Williams et al., Health, Medicine and Society. Key theories, future agendas, London and New York, Routledge. GARROS, B. (2000), “Démocratie sanitaire et priorités en santé publique: ‘aujourd’hui plus qu’hier et moins que demain!’. Quelques réflexions”, Revue Française des Affaires Sociales, 2, Avril‐Juin: 89‐95. GHADI V.; POLTON D. (2000), “Le marché ou le débat comme instruments de la démoc‐
ratie”, Revue Française des Affaires Sociales, 2, Avril‐Juin, 15‐32. GIDDENS, A. (1992), As Consequências da Modernidade, Oeiras, Celta (1990, ed. ingl.). GREEN, L. W. (1999), “Health education’s contributions to public health in the twenti‐
eth century: a glimpse through health promotion’s rear‐view mirror”, Amm. Re‐
view Public Health, 88: 20‐67. HAGLUND B. J. A.; PETTERSSON, D. F.; TILLGREN, P. (1997), Créer des Environnements Fa‐
vorables à la Santé – Exemples donnés à la Troisième Conférence Internationale sur la Promotion de la Santé, Sundsvall, Suéde, Genève, Organisation Mondiale de la Santé, col. La Santé Publique en Action, 225. Saúde Comunitária: Riscos e Potencialidades da Participação 77 HANNAY, D. R. (1980), “The ‘iceberg’ of illness and ‘trivial’ consultations”, Journal of the Royal College of General Practitioners: 551‐554 HELMAN, C. G. (2000), Culture, Health and Illness, Oxford, Butterworth Heinemann (1984, 1.ª ed.). HERZLICH, C. (1984), Malades d’Hier, Malades d’Aujourd’Hui, Paris, Payot. HOLLINGSHEAD, A. B.; REDLICH, F. C. (1970) (1958, 1.ª ed. New York), “Classe sociale et traitement psychiatrique”, in C. Herzlich, Médecine, Maladie et Société, Paris, Mouton. JEWKES, R.; MURCOTT, A. (1990), “Meanings of community”, Social Science and Medi‐
cine, vol. 43, 4: 555‐563. KELLEHER, D. (1994), “Self‐help groups and their relation ship to medicine”, in J. Gabe et al., Challenging Medicine, London and New York, Routledge. KENNEDY, L. A. (2001), “Community involvement at what cost? Local appraisal of a pan‐
‐European nutrition promotion programme in low‐income neighbourhoods”, Health Promotion International, 16(1): 35‐45. KHODOSS, H. (2000), “Démocratie sanitaire et droits des usagers”, Revue Française des Affaires Sociales, 2, Avril‐Juin: 111‐126. LASH, S. (2000), “A reflexividade e os seus duplos. Estrutura, estética, comunidade”, in U. Beck et al., Modernização Reflexiva. Política, tradição e estética no mundo moderno, Oeiras, Celta, pp. 105‐164 e 187‐204 (1994, ed. ingl.). LECLERC, A. et al. (2000), Les Inégalités Sociales de Santé, Paris, La Découverte. LETOURMY A.; NAIDITCH M. (2000), “L’information des usagers sur le système de soins: rhétorique et enjeux”, Revue Française des Affaires Sociales, 2, Avril‐Juin: 45‐60. LINK, B. G.; PHELAN, J. (1995), “Social conditions as fundamental causes of disease”, Journal of Health and Social Behavior, extra issue: 80‐94. MACHADO V. L. (1990), “Conscientisation”, in Groupe de Travail coordonné par le Cen‐
tre International de l’Enfance, La Santé Communautaire. Concepts, actions, for‐
mation, Paris, Centre International de l’Enfance: 115‐118. MCKINLAY, J. B. (1975), “The help‐seeking behavior of the poor”, in J. Kosa e I. K. Zola, Poverty and Health. A Sociological analysis, UK, Harvard University Press, pp. 224‐273. MILES A. (1991), Women, Health and Medicine, Milton Keynes and Philadelphia, Open University Press. MINKLER, M. (1999), “Personal responsibility for health? A review of the arguments and the evidence at century’s end”, Health Education and Behavior, 26 (1): 121‐140. OMS, Bureau Regional da Europa; Portugal, Ministério da Saúde – DEPS (1985), As Metas da Saúde para Todos, Lisboa, Ministério da Saúde, DEPS. OMS (1996), Rapport sur la Santé dans le Monde – combattre la maladie, promouvoir le développement, Genève, OMS. PISSARRO, B. et al. (1994), “Développement social et santé”, Revue Française de Santé Publique, col. Santé et Société, nº 2: 42. SAKS, M. (1998), “Medicine and complementary medicine – challenge and change”, in G. Scambler e P. Higgs, Modernity, Medicine and Health – debate on postmod‐
ernism, London and New York, Routledge, pp.198‐215. SCHEFF, T. (1975), Labelling Madness, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, cit. por MORGAN, M. et al. (1985), Sociological Approaches to Health and Medicine, London, Croom Helm. SHARMA, U. M. (1990), “Using alternative therapies: marginal medicine and central concerns”, in P. Abbot e G. Payne, New Directions in the Sociology of Health, London, New York and Philadelphia, The Falmer Press, pp. 127‐139. 78 Luísa Ferreira da Silva SILVA, L. F. (2008), Saber Prático de Saúde, As lógicas do saudável no quotidiano, Porto, Afrontamento. STURT, J. (1998), “Implementing theory into primary health care practice: an empower‐
ing approach”, in S. Kendall, Health and Empowerment. Research and practice, London, Sydney and Auckland, Arnold, pp: 39‐56. TOWNSEND, P.; DAVIDSON, N. (1983), Inequalities in Health – the Black Report, GB, Penguin (1982, 1.ª ed.). VIEIRA, C. (2000), Práticas Quotidianas de Alimentação, Dissertação de Mestrado em Relações Interculturais, Porto, Universidade Aberta – CEMRI. WHITE, D. (2000), “Consumer and community participation: a reassessment of process, impact and value”, in G. L. Albrecht et al., The Handbook of Social Studies in Health and Medicine, London, Sage, pp: 463‐480. WHO (1978), Declaration of Alma‐Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma‐Ata, USSR, 6‐12 Setembro. WHO (1986), Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion, Ottawa, Canada, 17‐21 Novembro. WILLIAMS, G. et al. (1994), “Lay knowledge and the privilege of experience”, in J. Gabe et al., Challenging Medicine, London and New York, Routledge, pp: 118‐139. ZEMPLÉNI, A. (1985), “La maladie et ses causes”, L’Ethnographie, 2: 13‐44. ZIGLIO, J.; HAGARD; S.; GRIFFITHS, J (2000), “Health promotion development in Europe: achievements and challenges”, Health Promotion International, vol. 15 (2): 143‐
‐154. O ACESSO À SAÚDE E OS FACTORES DE VULNERABILIDADE NA POPULAÇÃO IMIGRANTE Bárbara Bäckström Segundo os dados do Relatório Anual do Observatório de Acesso à Saúde nos Imigrantes, da Rede Internacional Médicos do Mundo de 2007 (Chauvin e Parizot, 2007) apenas um terço das pessoas inquiridas, imigrantes irregulares, que sofrem de um problema de saúde crónico beneficia de um tratamento em curso e perto de metade das pessoas que declararam pelo menos um problema de saúde sofreu um atraso ao recorrer aos cuidados de saúde. O mesmo relatório afirma ainda que os obstáculos mais frequentes ao acesso e continuidade dos cuidados de saúde, expressos pelas próprias pessoas, dizem principalmente respeito ao desconhecimento dos seus direitos, dos locais onde se devem dirigir para receber esses cuidados, ao custo dos tratamentos, às dificulda‐
des administrativas, ao medo de uma denúncia, à discriminação e às barreiras lin‐
guísticas e culturais. Tendo como referência a nossa experiência no terreno, (Bäckström, 2006 e 2008) é de destacar, em primeiro lugar, entre os principais obstáculos, aqueles que podemos associar às condições de vida e que contribuem directamente para a deterioração do estado de saúde, nomeadamente, as precá‐
rias condições de habitabilidade, alimentação deficiente, baixos rendimentos e as difíceis e incertas condições de contratação e de segurança no trabalho. Determinantes da saúde e imigração Uma das áreas em que nos debruçamos para compreender a saúde e a imi‐
gração, numa perspectiva sociológica, é a dos determinantes de saúde. A saúde é resultado de uma rede complexa de determinantes que envolvem factores biológi‐
cos e genéticos, psicológicos e sociais, estilos de vida e comportamentos, o meio ambiente físico, socioeconómico e cultural, aspectos relacionados com os sistemas de saúde e as políticas de saúde (Reijneveld, 1998a). Segundo Gravel (2000) é reconhecido que a saúde é influenciada pelos factores associados à etnicidade. Estes factores reflectem os aspectos culturais, os valores, as crenças, as práticas e as particularidades biológicas e genéticas. Podem ser considerados como determi‐
nantes da saúde, ligados à saúde e ao bem‐estar, ao contexto social, cultural e físi‐
co, aos hábitos de vida, à utilização formal e informal da saúde, à forma de enten‐
der a doença e os valores educativos. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 79‐90. 80 Bárbara Bäckström Os determinantes da saúde podem ser de dois tipos: os determinantes da saúde, aqueles que estão associados ao estilo de vida, onde se incluem os compor‐
tamentos tais como: o consumo de tabaco e álcool, a alimentação e a actividade física, enquanto o outro tipo de determinantes está ligado aos factores externos e nele se incluem determinantes socioeconómicos da saúde sendo estes a educação, o emprego e as condições de trabalho, o rendimento, as condições de habitação, o ambiente e a cultura. Também podemos considerar as redes de suporte sociais e comunitárias enquanto importantes determinantes da saúde, assim como os fac‐
tores genéticos e as condições de acesso a serviços de saúde. No estudo sobre a saúde dos imigrantes (Bäckström, 2006) a evidência empí‐
rica demonstrou que a condição socioeconómica das pessoas revela as maiores diferenças e marca a posição de variável explicativa na saúde e bem‐estar, bem como no acesso e tipo de utilização dos serviços de saúde. Conclusão esta, que foi ao encontro de Nettleton (1995), que refere existirem diversas explicações para padronizar a saúde e a doença pela etnicidade, através dos factores genéticos, cul‐
turais e socioeconómicos. Sem excluir a influência dos primeiros, as circunstâncias sociais nas quais as pessoas vivem e a natureza das relações sociais que os indiví‐
duos experimentam são as considerações mais importantes para a saúde e a doença. Também como indica Germov (1998) a construção social da saúde e da doença, e a etnicidade, não podem ser isoladas dos efeitos da classe social, do género e da idade. Pelo contrário, a etnicidade interage com cada um destes facto‐
res. Venema (1995) acrescenta que os determinantes da relação entre grupos de imigrantes, grupos étnicos e a saúde são geralmente compostos por factores de pertença a um grupo, factores socioculturais e factores socioeconómicos. O factor sociocultural evidencia as diferenças de cultura e o socioeconómico inclui a posi‐
ção social, o acesso ao consumo de bens, a participação no mercado de trabalho, valores e normas e o acesso à informação. Os determinantes socioeconómicos têm ganho especial relevo no esforço de compreensão da relação entre migração e vulnerabilidade no que diz respeito à saúde (WHO, 2003). As desigualdades socioeconómicas que estão associadas a contextos de pobreza, exclusão social e a situações laborais precárias podem traduzir‐se em reduzidas oportunidades de acesso à educação, informação e utilização dos serviços sociais e de saúde. De acordo com Smaje (1995) uma comunidade migrante encontra‐se tão estratificada quanto a sociedade de acolhimento. A relação dos imigrantes com os serviços de saúde e as políticas específicas de saúde para os imigrantes têm de ter em conta as diversidades de origem e dos grupos sociais, sendo necessário estar atento às especificidades que daí resultam, o que exige um ajustamento e adaptação a essa realidade. Muitas vezes, os padrões étnicos na saúde e na doença são resultado de outras categorias produzidas socialmente e que reproduzem as desigualdades sociais. A etnicidade, usada como variável explicativa, sobretudo nos estudos anglo‐saxónicos, esconde as condições sociais, económicas e culturais que estão na base das desi‐
gualdades e que são os factores determinantes da saúde e da doença das pessoas. A diferença cultural e étnica também pode influenciar a saúde e as desigualdades sociais na saúde. Estas diferenças são explicadas pela posição socioeconómica e a atenção deve ser dada, desde o início, à relação entre a posição socioeconómica e a saúde, e não à pertença a um grupo étnico minoritário. O Acesso à Saúde e os Factores de Vulnerabilidade na População Imigrante 81 Em contexto migratório importam também as condições de legalização e de integração, o exercício da cidadania, o direito à protecção social, o racismo, a estrutura familiar e redes informais de suporte e o acesso ao emprego, à educação e aos serviços de saúde. Identificámos na literatura sobre etnicidade, migrações e saúde a existência de uma relação entre a saúde e as características socioeconómicas e culturais da área de residência onde vivem os imigrantes (Macintyre et al., 1993; Reijneveld, 1998b). A residência numa área pobre pode ser um determinante ainda mais poderoso do que o rendimento, a educação ou outro indicador socioeconómico. Os imigrantes apresentam, em geral, piores condições de vida do que as popula‐
ções dos países de acolhimento. Frequentemente, residem em zonas degradadas com reduzidos serviços de âmbito social e de saúde, em condições habitacionais deficientes e sem infra‐estruturas básicas. Outro factor muito importante de alteração da saúde dos imigrantes é o tem‐
po de residência no país de acolhimento. O tempo de residência mais longo está associado ao total de sintomas relatados pelos indivíduos de ambos os sexos em conjunto e em separado. A duração da estadia tem a ver com o ano de chegada ao país de acolhimento e uma maior duração significa uma pior saúde (Williams, 1993). O tempo de permanência influencia a avaliação que os indivíduos fazem da sua situação. Quanto maior a “integração”, maiores são as necessidades percebi‐
das e mais os valores se assemelham aos padrões dominantes da sociedade de acolhimento e maior a sensação de exclusão. Outros estudos chegam à mesma conclusão, afirmando que a saúde dos imigrantes recém‐chegados é melhor do que a dos indivíduos “locais”. Os níveis de morbilidade para os imigrantes tende a ser mais baixo do que para a população de origem. Ao imigrarem, as pessoas são “seleccionadas” com base no seu estado de saúde. No entanto, uma vez chegados aos países de acolhimento estes grupos podem tornar‐se mais vulneráveis e mais expostos a factores de risco, ao se confrontarem com um novo contexto onde se deparam com enormes diferenças que vão desde o meio ambiente, o clima, a lín‐
gua, a cultura, ao funcionamento dos serviços. À medida que o tempo de residên‐
cia vai aumentando verifica‐se que crescem também as taxas de morbilidade e de mortalidade dos imigrantes, como consequência dos estilos de vida, particular‐
mente do regime alimentar. Há tendência para um aumento da necessidade per‐
cebida de aceder aos serviços por parte dos imigrantes que já estão há mais tempo no país e que têm um maior grau de alfabetização. Outro determinante importante da saúde dos imigrantes é a própria expe‐
riência da imigração que poderá ter inúmeros efeitos positivos, pois os recém‐
‐chegados, de culturas diferentes, possuem muitas vezes mecanismos eficazes de adaptação às perturbações e ao stress. Os sólidos valores familiares e comunitá‐
rios poderão também contribuir para que o país de acolhimento seja um lugar mais saudável para se viver. Existe, por enquanto, uma pesquisa insuficiente sobre os pontos fortes dos imigrantes e o lado positivo da imigração na saúde. Podemos agrupar em três grandes categorias os factores que influenciam a saúde dos imi‐
grantes que estão em processo migratório: as características sociodemográficas e culturais do imigrante, as experiências pré‐migratórias, incluindo as condições de partida e as experiências e condições pós‐migratórias (Massé, 1995). A distância cultural do país de origem e as dificuldades de adaptação no local de acolhimento podem ser factores sociais determinantes de saúde. O processo de 82 Bárbara Bäckström adaptação na sociedade de acolhimento pode constituir uma experiência particu‐
larmente difícil para alguns grupos etnoculturais, mais precisamente, para certos subgrupos sociais no interior de um dado grupo etnocultural. O acesso aos cuidados de saúde das pessoas em situação irregular – resultados do Inquérito Europeu Os Médicos do Mundo criaram um Observatório Europeu do Acesso aos Cui‐
dados de Saúde que permite testemunhar sobre as dificuldades de acesso aos cui‐
dados de saúde no território europeu por parte das pessoas que vivem em situa‐
ção precária. Este testemunho apoia‐se em constatações e inquéritos face a face, no terreno, junto das pessoas mais vulneráveis com o objectivo de convencer não só os diferentes governos, mas também as instituições europeias, da necessidade de melhorar o acesso à prevenção e aos cuidados de saúde. Para tal, realizaram em 2006 o estudo europeu sobre o acesso aos cuidados de saúde das pessoas em situação irregular (Chauvin e Parizot, 2007). No total, 835 pessoas, estrangeiros em situação irregular, foram interrogadas em sete países: Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal e Reino Unido. Os questionários foram administrados por intervenientes das missões de Médicos do Mundo ou, em casos mais raros, por intervenientes das associações parceiras de Médicos do Mundo. Quando participámos como comentadores na apresentação dos resulta‐
dos contidos neste relatório, tecemos algumas considerações, que gostaríamos de aqui evocar. Em primeiro lugar chamou‐nos a atenção a referência no estudo de que o Médicos do Mundo não tem vocação de organismo de pesquisa e que isso impõe uma dupla restrição ao inquérito. Por um lado, cada questão colocada ao paciente deve apresentar‐lhe directamente uma mais‐valia em matéria de acesso a uma cobertura de saúde e aos cuidados médicos; por outro, as questões coloca‐
das também devem contribuir para construir um conhecimento sobre as dificulda‐
des encontradas pelos pacientes, tal como sobre o seu estado de saúde. Pergun‐
tamos se se trata de uma restrição ou de uma forma de pesquisa orientada para a população, com uma vertente de investigação‐acção. Pensamos que o que os Médicos do Mundo denominam de restrição pode ser considerado uma vantagem à luz das metodologias participativas com grupos em que a acção tem o objectivo de induzir uma mudança numa comunidade e a investigação contribui para a com‐
preensão do fenómeno em estudo. De uma forma simplificada, podemos afirmar que a investigação‐acção é uma metodologia de investigação orientada para a melhoria da prática nos diversos campos da acção. Um inquérito europeu que tem como objectivo ser comparativo de realidades encontradas em contextos tão diversos como são os sete países estudados (Bélgi‐
ca, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal e Reino Unido) depara‐se com dificul‐
dades metodológicas ligadas à diversidade das situações encontradas e com a falta de representatividade. Esta última é, evidentemente, muito difícil, ou mesmo impossível de conseguir, nomeadamente, por falta de estatísticas fiáveis sobre esta população. Para além disso, o público‐alvo que recorre nesses países aos cen‐
tros dos Missões dos Médicos do Mundo não é representativo da totalidade dos imigrantes em situação irregular, e esta amostra, não sendo aleatória, pode estar de certo modo enviesada porque estamos apenas perante uma população de O Acesso à Saúde e os Factores de Vulnerabilidade na População Imigrante 83 utentes que recorreram aos centros dos Médicos do Mundo e que se declararam em situação irregular. Sabe‐se que, por medo, não há muita gente a declarar‐se em situação irregular. A comparação por países torna‐se muito difícil. A União Europeia agrupa actualmente 27 países e os sistemas de saúde dos diferentes países da UE são ain‐
da muito díspares, o que reflecte situações muito diversas e difíceis de comparar. Da mesma forma, a história e tipo de fluxos migratórios em cada país europeu dá origem a diferenças importantes e contextos particulares. Encontram‐se grandes variações no seio da Europa no que respeita a imigração e também à saúde. Assim, podem‐se identificar inúmeras diferenças de um país para o outro, ao nível das populações encontradas, da sua diversidade geográfica e tipologias distintas, das suas problemáticas, das práticas das equipas no terreno, dos contextos, dos meios de intervenção, da definição dos conceitos, do vocabulário utilizado, da língua, das leis, o que pode implicar uma compreensão e uma representação diferentes das situações. De país para país utilizam‐se diferentes termos para caracterizar o facto de aceder aos cuidados de saúde através de uma “cobertura de saúde”: cartão de saú‐
de, cartão de utente, cartão da segurança social, cartão do sistema de saúde, certi‐
dão, ajuda médica. No relatório referido utiliza‐se o termo cobertura de saúde. As legislações dos diferentes países europeus relativamente ao acesso a uma cobertura de saúde para os estrangeiros em situação irregular são muito diversas. A legislação Portuguesa que rege o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde é bastante favorável a uma proximidade dos imigrantes com o Sistema Nacional de Saúde. Segundo o relatório dos Médicos do Mundo (Chauvin e Parizot, 2007) os direitos teóricos abrangem a quase totalidade dos indivíduos em Portugal e na prática uma proporção considerável beneficia deles, comparativamente com outros países da União Europeia. Direitos teóricos e acesso efectivo a uma cobertura de saúde Países Bélgica e França Itália, Espanha e Portugal Direitos teóricos Teoria Quase totalidade dos indivíduos Quase totalidade dos indivíduos Reino Unido Acesso às consultas de medicina geral Grécia Mais restritivos Acesso Efectivo Prática Uma ínfima minoria beneficia des‐
ses direitos Proporção considerável beneficia deles Só têm acesso às consultas de medicina geral; os outros cuidados de saúde não são geralmente cobertos Menos acessíveis Fonte: Relatório dos Médicos do Mundo, 2007. Nestes países, quase 80% dos inquiridos podem, em teoria, beneficiar de cui‐
dados de saúde, mas apenas 24% beneficiam realmente deles. A análise de dife‐
rentes indicadores do Index de Políticas de Integração de Migrantes (Niessen, 2007) mostra, no entanto, que a maioria dos imigrantes e seus descendentes são afectados por situações de desvantagem relativamente à população dos países de 84 Bárbara Bäckström acolhimento. No caso português, vários indicadores põem em evidência essa desi‐
gualdade no domínio do emprego, das condições de habitação, no acesso à educa‐
ção, saúde e outros aspectos da vida social. Os cidadãos de países terceiros regis‐
tam uma taxa de desemprego mais elevada do que a dos portugueses, apresentam uma estrutura profissional em que predominam as actividades de baixa qualifica‐
ção e menores salários; têm piores condições de habitação, e, consequentemente, apresentam maior risco de pobreza e exclusão social (Baganha et al., 2002; Fonse‐
ca et al., 2002; Malheiros et al., 2007). Imigrantes irregulares Apenas um terço dos imigrantes em situação irregular na União Europeia afectados por um problema de saúde crónico beneficia de tratamento; e um em cada dez destes imigrantes viu recusado um tratamento durante um episódio de doença, revelou este estudo. A falta de informação é responsável pelo afastamen‐
to destas pessoas dos cuidados médicos, já que mais de metade dos imigrantes dizem que não sabem onde se dirigir. Mas cerca de 25% confessam que têm medo de ser denunciados, e preferem enfrentar a doença a ter de sair do país. Aos imigrantes irregulares também são associadas nestes diferentes países, diversas designações como “sem papéis”, “ilegais”, “indocumentados” e “sem autorização”. Os imigrantes irregulares são um grupo da população que está sujei‐
to a níveis elevados de vulnerabilidade, numa situação de quase exclusão social e de pobreza. São populações mais vulneráveis, em situações de crise e de exclusão, com dificuldades de acesso à prevenção e aos cuidados de saúde. Essa vulnerabili‐
dade é causadora de uma pior saúde e um pior acesso aos cuidados de saúde, cujos factores de risco conduzem a uma maior exposição a doenças e epidemias. Consideramos que a condição de imigrante à chegada ao país de acolhimento já reflecte alguma vulnerabilidade, apesar de termos visto que para emigrar é preciso reunir as poupanças e a coragem necessárias a um projecto desta envergadura. Após a chegada, mais vulneráveis se tornam os que não possuem documentos e que ficam expostos a uma dupla vulnerabilidade. Urge nesses casos assegurar‐lhes e garantir‐lhes a condição de regulares, ou seja, “com papéis”, “legais”, “documen‐
tados” ou “com autorização”. Determinantes enquanto obstáculos e “não facilitadores” da integração no aces‐
so à saúde Os principais determinantes da saúde dos imigrantes prendem‐se com aque‐
les que já foram referidos. Estes podem transformar‐se em obstáculos ou barreiras considerando que a maioria dos imigrantes enfrenta inúmeras dificuldades e pro‐
blemas em inúmeros aspectos, que poderão ter a ver nomeadamente com o aces‐
so à habitação, o emprego, a falta de informação, o desconhecimento dos direitos e dos deveres, assim como a ignorância dos locais onde se devem dirigir e serviços existentes, a falta de cobertura de cuidados de saúde, custos das consultas e dos tratamentos, a necessidade de apoio social e dificuldades financeiras, a falta de documentos (estatuto irregular), uma protecção social limitada, a falta de confian‐
O Acesso à Saúde e os Factores de Vulnerabilidade na População Imigrante 85 ça nos médicos e dificuldade de comunicação ou barreira da língua e barreiras administrativas e burocráticas. Os imigrantes com estatuto irregular em Portugal, apesar de a lei portuguesa enquadrar os irregulares garantindo‐lhes o acesso ao SNS, efectivamente depa‐
ram‐se com dificuldades quando se dirigem aos serviços públicos de saúde, no acesso a cuidados de saúde, na obtenção do cartão de utente e no pagamento das taxas moderadoras. No mesmo relatório refere‐se ainda a recusa de cuidados pelos profissionais, se bem que em Portugal esta recusa ocorra por vezes ao nível do pessoal administrativo que faz o atendimento ao público. Por norma, os médi‐
cos e pessoal de saúde não se recusa a tratar ninguém. O comportamento dos administrativos e profissionais de saúde é, na verdade, outro dos factores que pode ser determinante no uso dos serviços. Frequentemente, os profissionais apresentam um limitado conhecimento da legislação ou da sua aplicabilidade, o que se traduz na exclusão das comunidades imigrantes do sistema de saúde. (Wolffers et al., 2003). Temos vindo a constatar que em Portugal registam‐se inú‐
meros casos de obstáculos administrativos em que as equipas de funcionários administrativos se recusam a aceitar imigrantes indocumentados sob falsos pre‐
textos de desconhecimento da lei. No entanto, existem diferenças significativas de um centro de saúde para outro, no que respeita ao conhecimento sobre o direito de acesso ao SNS por parte dos imigrantes irregulares. Alguns centros de saúde parecem desconhecer que os cuidados básicos de enfermagem e a vacinação são gratuitos, enquanto noutros estes direitos são respeitados na prática diária. Além disso, o acesso aos serviços de saúde depende, até certo ponto, da boa vontade dos administrativos e das equipas médicas (Bäckström et al., 2008). Um outro factor determinante no acesso dos imigrantes aos serviços de saú‐
de, que se pode tornar num obstáculo para os irregulares é ainda o medo da denúncia, de ser preso ou de ser expulso, o qual impede alguns imigrantes de utili‐
zarem adequadamente os serviços. Também sabemos que a discriminação e a estigmatização são barreiras socialmente produzidas e associadas à situação de imigrante, sobretudo a de irregular, podendo condicionar o acesso à informação e à utilização dos serviços de saúde. Como vimos na identificação dos determinantes da saúde, o tempo de resi‐
dência e a duração da estadia no país de acolhimento determinam o acesso efecti‐
vo e não meramente teórico a uma cobertura de saúde. A antiguidade de residên‐
cia no país de acolhimento está relacionada com o tipo de obstáculos referidos. Os principais obstáculos no acesso aos cuidados de saúde evoluem com o passar dos anos sem autorização de estadia no país de acolhimento. No estudo referido (Chauvin e Parizot, 2007) revelam‐se as diferenças dos obstáculos com o passar dos anos. No caso dos recém‐chegados e dos que estão há pouco tempo no país de acolhimento referem‐se o medo da denúncia, as barreiras administrativas, a falta de informação (como o desconhecimento dos direitos e dos locais onde ir para serem tratados), problemas de habitação, horários inadaptados aos dos ser‐
viços de saúde, de insuficiência ou mesmo falta de cobertura de cuidados de saú‐
de. Com mais tempo de residência no país de acolhimento realçam‐se as barreiras culturais, o medo da discriminação e perduram os obstáculos financeiros. Relati‐
vamente às barreiras culturais, ao contrário do que muitos estudos na área da etnicidade, migrações e saúde referem, estas não são referidas como obstáculos 86 Bárbara Bäckström nos primeiros meses da emigração. A barreira cultural, bem como as dificuldades de adaptação linguística, são vividas enquanto obstáculos no acesso aos cuidados de saúde somente alguns anos após a chegada e é sentida ao nível do processo de integração em geral. Como também é referido no relatório dos resultados do estudo, a percepção do estado de saúde e do risco de estar infectado pode ser diferente, particularmente em função dos grupos migratórios maioritários. Os problemas de saúde mental são relatados a propósito dos requerentes de asilo, das pessoas refugiadas ou dos migrantes sem documentos. Os diversos factores socioeconómicos tais como um baixo rendimento, as condições de vida e de habitação, expõem‐nos efectivamente a riscos sanitários importantes. A estes factores juntam‐se muitas vezes a situação laboral e a exposição a riscos e doenças profissionais. No contexto da migração e saúde, é cada vez mais consensual que a migração, em si, não representa um factor de risco. No entanto, o tipo de migração, o trânsito e acolhimento, as políticas de imigração e de integração do país de acolhimento e o estatuto legal, sobretudo no caso dos irregulares, podem ser considerados factores de risco ou até de exclusão social, tornando os imigrantes parte de uma população vulnerável com uma limitada capacidade para exercer os seus direitos. Um outro factor de vulnerabilidade asso‐
ciado ao processo migratório é a própria experiência de afastamento do país de ori‐
gem e a ruptura das relações familiares e sociais (Unaids/IOM, 2001). Essas pessoas, para além de terem sofrido muitas vezes choques e traumatismos consideráveis, vivem em condições muito frágeis e de enorme vulnerabilidade, devido sobretudo ao isolamento social, à ruptura com a família e a perda de redes sociais, o que pode fragilizar ainda mais o seu estado de saúde psicológico. Desenham‐se actualmente políticas europeias de saúde para imigrantes estando Portugal fortemente motivado no sentido de construir uma política a favor da integração dos imigrantes, oferecendo‐lhes os mesmos cuidados de saúde e serviços de saúde “universais”. Nesta perspectiva, os responsáveis pela produção de cuidados de saúde, assim como os seus profissionais, deveriam actualizar os seus conhecimentos e documentar‐se a fim de poderem interpretar os aspectos ligados às culturas e aumentar a eficácia dos serviços que produzem e que são dis‐
ponibilizados, aconselhando‐se a formação dos profissionais de saúde na área da “saúde e multiculturalidade” para a adopção de práticas de saúde integradoras e culturalmente sensíveis. Como refere o relatório, a falta de informação é um dos principais obstáculos no acesso a uma cobertura da saúde. As pessoas não estão informadas acerca dos seus direitos. Recomendam‐se medidas de veiculação da informação, junto dos imigrantes, relativamente aos seus direitos e deveres com base no “Acesso à saú‐
de por parte dos imigrantes/despacho n.º 25.360/2001”. A par do obstáculo da informação, no acesso a uma cobertura de saúde, encontram‐se os obstáculos administrativos. Deve‐se igualmente investir na educação, na formação e na divul‐
gação de informação destinados a imigrantes através de medidas e políticas de integração dos que já residem em Portugal. Devem‐se desenhar projectos de edu‐
cação e promoção da saúde, para a população imigrante, tendo em conta as suas particularidades culturais e simbólicas. Deve‐se também apostar na criação do Programa de cuidados de saúde a imigrantes do Plano Nacional de Saúde – Pro‐
grama Nacional de Luta contra as desigualdades em saúde. O Acesso à Saúde e os Factores de Vulnerabilidade na População Imigrante 87 Recomendações Desde 2001 que a lei portuguesa reconhece a estes cidadãos, ao contrário de outros Estados‐membros, o direito ao acesso aos cuidados de saúde. O principal problema é que este direito nem sempre é aplicado na prática e a maioria dos imi‐
grantes irregulares não é aceite nos serviços de saúde, que não sabem como os enquadrar no sistema. Torna‐se imprescindível a promoção de políticas de legalização dos imigran‐
tes em situação irregular de forma a eliminar esta barreira da situação irregular que só por si, já constitui um obstáculo para a plena integração na sociedade. Os principais obstáculos no acesso aos cuidados de saúde evoluem com o passar dos anos decorridos sem autorização de estadia no país de acolhimento. A situação irregular reflecte‐se em todos os domínios da vida de um imigrante: emprego, habitação, serviços sociais, saúde, educação, justiça, tornando‐se num ciclo vicioso que vai aumentando as situações de vulnerabilidade, pobreza e de exclusão social. O medo da denúncia, de ser detido e deportado, obriga‐o a viver numa situação de clandestinidade e silêncio. Muitas vezes os “irregulares” não utilizam os serviços públicos por receio e não têm o mesmo nível de acesso aos serviços disponíveis para os restantes imigrantes com estatuto legal regularizado e outros cidadãos. O estatuto de “irregular” funciona por si só enquanto um factor de risco e este estatuto deveria ser o mais curto possível. Como refere MacPherson (2004) a exposição a doenças infecto contagiosas pode ocorrer durante essa fase da migra‐
ção irregular. Daqui resulta uma maior utilização de outros serviços prestados pelas ONG, instituições religiosas e associações por parte dos cidadãos em situação irregular. Para se conseguir uma melhoria significativa da saúde dos migrantes é neces‐
sário primeiramente, melhorar as condições de vida, laborais e económicas. Torna‐
‐se necessário investir em políticas fora da saúde, ou seja, tomar as medidas necessárias para se atingir uma integração efectiva e plena, começando pela melhoria das condições de vida e de acesso aos cuidados de saúde, proporcionan‐
do uma gestão mais eficaz da saúde pública. No Plano Para a Integração dos Imi‐
grantes (PII) (Acidi/Presidência do Conselho de Ministros, 2007) as medidas pro‐
postas no plano vão ao encontro das nossas recomendações. Recomendamos que se faça chegar junto dos imigrantes a informação sobre os seus direitos e deveres bem como as condições de acesso aos serviços de saúde tal como as medidas 22 e 23 do PII: “promover a realização de acções de formação, educação e de comuni‐
cação para combater a falta de informação dos imigrantes relativamente aos ser‐
viços de saúde, incentivando‐os a utilizar o Sistema Nacional de Saúde; promover o acesso dos imigrantes aos serviços de saúde”. No caso particular dos imigrantes em situação irregular recomenda‐se que se divulgue o despacho 25.360 de 2001, tal como na medida 24 do PII “Garantir o acesso à saúde por parte dos cidadãos estrangeiros em situação irregular, nos termos previstos na Lei, através da possibilidade da sua integração no SNS com a apresentação de credencial a emitir pelo ACIDI, I. P., em alternativa ao atestado de residência emitido pelas Juntas de Freguesia, de forma a agilizar a aplicação do Despacho n.º 25 360/2001 do Ministério da Saúde”. 88 Bárbara Bäckström É necessário promover e desenvolver sistemas de informação eficientes, uni‐
formes e possíveis de comparar nos diferentes países da União Europeia bem como desenvolver investigação específica e dirigida sobre a saúde e a migração. A limitação da informação e as questões éticas que a produção de dados levanta constituem um dos problemas da pesquisa neste domínio do conhecimento. Devem‐se utilizar populações de referência e amostragens idênticas nos diferentes contextos de forma a comparar resultados ao nível europeu. Deve‐se investir na formação dos profissionais de saúde e no planeamento adequado dos serviços de saúde. A presença de profissionais que dominem as lín‐
guas dos imigrantes permite facilitar o acesso das minorias ao sector. O esforço passa pela preparação dos profissionais de saúde para que saibam como lidar com os migrantes não só no que se refere ao trato, à linguagem, à compreensão dos seus valores, das suas atitudes, da sua cultura, mas também em termos técnicos. As medidas 26 e 28 do PII contemplam esta vertente com um plano de Formação para a interculturalidade dos profissionais do Sistema Nacional de Saúde e o desenvolvimento de um Programa de Mediação sociocultural na rede de hospitais e de centros de saúde em territórios com elevada presença de imigrantes, respec‐
tivamente. O Plano para a Integração dos Imigrantes, na área da saúde, considera também útil a implementação, na rede hospitalar portuguesa, de referenciais de boas práticas, como por exemplo, o referencial dos “Hospitais Amigos dos Migran‐
tes”, desenvolvido em 12 países europeus. Este referencial visa criar um atendi‐
mento mais adequado às necessidades específicas dos imigrantes, através da melhoria da gestão da diversidade e do desenvolvimento de algumas iniciativas para promover conhecimentos nas áreas da interpretação, da formação em com‐
petências culturais para o pessoal hospitalar e na delegação de responsabilidades nos cuidados materno‐infantis. O acesso aos serviços de saúde por parte dos imigrantes é influenciado por todos os factores enumerados, tais como as barreiras linguísticas e a iliteracia, mas também em grande parte, pela falta de estatuto legal, o que torna essencial ultra‐
passar estes obstáculos e garantir uma melhor integração social a fim de se alcan‐
çar uma melhoria ao nível da sua saúde. As questões como o desenraizamento, deslocação, inserção social e integração influenciam a saúde. Deve‐se procurar melhorar a saúde dos imigrantes através da integração na sociedade e do empo‐
werment, em colaboração com os vários sectores: governo, ONG e a sociedade civil. Deve‐se, como recomenda o PII, desenvolver parcerias entre Organizações Não Governamentais, o Sistema Nacional de Saúde e outras entidades para a pro‐
moção do acesso dos imigrantes e minorias étnicas à saúde1. Em suma, só ultrapassando efectivamente todos estes obstáculos se poderá conseguir uma melhoria significativa ao nível do acesso e à continuidade dos cui‐
dados de saúde para a população imigrante regular e irregular. Ao reflectirmos, por um lado, acerca dos determinantes da saúde e, por outro lado, sobre os obstáculos e/ou barreiras que os imigrantes encontram na sua rela‐
ção com a saúde, consideramos que estamos a contribuir para uma melhor com‐
preensão desta problemática, assim como para a melhoria das políticas de saúde centradas na população migrante. Para um bom acolhimento e integração dos 1 Medida 29. O Acesso à Saúde e os Factores de Vulnerabilidade na População Imigrante 89 imigrantes, deve‐se pensar numa política de integração dos imigrantes, indepen‐
dentemente do seu estatuto jurídico, que seja ampla e multidimensional. Reco‐
menda‐se a implementação de práticas culturalmente sensíveis, de iniciativas na área da formação/informação e de acções que envolvam a comunidade e que, em conjunto, contribuam para a plena integração e exercício da cidadania dos imi‐
grantes. Referências bibliográficas Acidi/Presidência do Conselho de Ministros, (2007), Plano para a Integração dos Imi‐
grantes. Resolução do Conselho de Ministros n.º 63‐A/2007, de 3 de Maio. Acidi/Presidência do Conselho de Ministros (2008), Plano para a Integração dos Imi‐
grantes. Relatório Anual de Execução, Maio 2007‐Maio 2008, Resolução do Conselho de Ministros n.º 63‐A/2007, de 3 de Maio, Lisboa, Julho 2008. Bäckström, B.; Carvalho, A.; Inglês, U. (2008), A Nova Imigração e os Problemas de Saúde em Portugal – O Gabinete de Saúde do Cnai enquanto um observatório para o estudo da saúde dos migrantes em Portugal, Lisboa. Bäckström, B. (2006), Saúde e Imigrantes. Representações e práticas de saúde e de doença na comunidade cabo‐verdiana em Lisboa, Tese de Doutoramento, Uni‐
versidade Nova de Lisboa, IHMT. Chauvin, P.; Parizot., I. (2007), Inquérito Europeu Sobre o Acesso aos Cuidados de Saú‐
de das Pessoas em Situação Irregular, Paris, Médicos do Mundo. Observatório Europeu de acesso à Saúde de Médicos do Mundo. Germov, J. (1998), Second Opinion: an introduction to health sociology, Melbourne, New York, Oxford University Press. Gravel, S.; Legault, G. (1996), “Adéquation des services de santé aux jeunes familles immigrantes”, Revue Canadienne de Santé Publique, vol. 87, n.º 3: 152‐157. Gravel, S. et al. (2000), “Culture, santé et ethnicité. Direction de la santé publique”, Régie Régionale de la Santé et Services Sociaux de Montréal‐Centre, vol. 4, n.º 3, Mai. Unaids/IOM (2001), Migrants’ Right to Health, Geneva. Macintyre, S.; Maciver, S.; Sooman (1993), “Area, class and health: should we be focus‐
ing on places or people?”, Journal of Social Policy; 22, 2: 213‐234. MacPherson, D. W.; Gushulak, B. D. (2004), “Irregular migration and health”, Global Migration Perspectives, n.º 7, Geneva, Global Comission on International Migra‐
tion. Massé, R. (1995), Culture et Santé Publique, Montréal, Gaëtan Morin Éditeur. Nettleton, S. (1995), The Sociology of Health and Illness, Oxford, Cambridge, Polity Press. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) (2007), Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe, Brussels. Reijneveld, S. A. (1998a), “Reported health, lifestyles, and use of health care of first generation immigrants in the Netherlands: do socioeconomic factors explain their adverse position?”, Journal of Epidemiology and Community Health, 52: 298‐304. Reijneveld, S. A. (1998b), “The impact of individual and area characteristics on urban socioeconomic differences in health and smoking”, International Journal of Epi‐
demiology, 27: 33‐40. 90 Bárbara Bäckström Smaje, C. (1995), Health, “Race” and Ethnicity: making sense of the evidence, London: Kings Fund Institute. Sousa, J. E. F. de (2006), Os Imigrantes Ucranianos em Portugal e os Cuidados de Saú‐
de, Colecção Teses, n.º 4, Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), Março. Venema et al. (1995), “Health of migrants and migrant health policy, the Netherlands as an example”, Social Science and Medicine, 41: 809‐18. WHO (2003), “International migration, health & human rights”, Health & Human Rights, Publication Series, n.º 4, December. Williams, R. (1993), “Health and length of residence among south Asians in Glasgow: a study controlling for age”, Journal of Public Health Medicine, 15: 52‐60. (DES)IGUALDADES, ENVELHECIMENTO E SAÚDE. UM AVANÇO CIVILIZACIONAL João Carlos Leitão A organização social tal como a conhecemos hoje nos países desenvolvidos, vai buscar os seus alicerces à ideia de Estado de Bem‐Estar, partindo da premissa da redistribuição da riqueza de um país pelos seus concidadãos, ou seja, a ideia de que parte PNB1 deve servir para minorar as diferenças sociais existentes entre os diversos estratos sociais, sobretudo no que diz respeito às condições básicas para sobrevivência dos indivíduos, como seja: Sistema de Saúde, Educação, Segurança Social e Justiça. Este conceito de sociedade de Bem‐Estar, funda‐se na ideia de uma sociedade que tem como valor central o trabalho, pressupondo que grande parte dos indiví‐
duos em vida activa que pertencem a uma determinada sociedade trabalha, sus‐
tentando, deste modo, através das suas contribuições, os pilares desta sociedade. O estado de Bem‐Estar é fruto das sociedades subjacentes à Segunda Guerra Mundial, tendo os parceiros sociais, como os sindicatos um papel fundamental na organização do estado e na supressão das discrepâncias sociais, ou seja, o “Estado de Bem‐estar foi criado no período do pós‐guerra como solução política para as contradições sociais” (Offe, 1990). Em suma longe de ser um sistema perfeito o estado de Bem‐Estar, na socie‐
dade pós‐moderna deverá responder a grandes alterações na sociedade, desde o envelhecimento destas populações sobretudo na Europa e no Japão, mas também respondendo a uma nova sociedade que considerava o ócio, como sendo o valor central em substituição do valor do trabalho. A sociedade do pós‐guerra, visou garantir condições de vida incomparavel‐
mente melhores aos seus concidadãos. Como grande imagem deste período, ficam as consequências sociais deste desenvolvimento, que é o envelhecimento da estrutura demográfica das popula‐
ções dos países desenvolvidos, assistindo‐se nos últimos cinquenta anos, ao sur‐
gimento de um novo “grupo social que atrai o interesse individual e colectivo de forma crescente, devido às suas implicações a nível familiar, social, económico, político etc.” (Requejo Osorio e Pinto, 2007), os velhos. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 91‐106. 92 João Carlos Leitão Figura 1: Pirâmides demográficas 1991‐2001 Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001. Resultados Definitivos Analisando o caso português através das pirâmides etárias, verificamos que de 1991 a 2001, há um crescimento das classes etárias dos mais idosos, sobretudo no topo da pirâmide, que aliás é bem visível nas últimas duas classes etárias (>=85 e 80‐84). Por oposição a estas duas classes etárias, encontramos nas pirâmides um estreitamento da sua base, sobretudo nas classes etárias dos 0‐4 anos e dos 5‐9 anos, que comparando a base das pirâmides de 1991 para 2001 verifica‐se, que esse estreitamento é muito mais severo. Para além da análise das pirâmides, o que se pode ainda afirmar, tendo em conta outros indicadores demográficos (ver quadro infra), é que a diminuição dos grupos etários dos mais novos é cada vez mais uma realidade demográfica. De tal modo, que acaba por pôr em causa a “sociedade de bem‐estar” a longo prazo, dada a diferença futura entre a população em idade activa e por isso contributiva no esforço social para esta sociedade e aqueles que já tendo ultrapassado a idade activa, gozam no seu pleno direito a reforma. Figura 2: Taxa de fertilidade total na União Europeia Fonte: Europe in Figures, Eurostat Yearbook, 2005 Para esta nova realidade social, muito concorreram os seguintes factores: o aumento da esperança de vida, a diminuição da taxa de mortalidade em todas as (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 93 idades, mas em particular nas classes etárias dos mais idosos, devido ao avanço dos cuidados sócio‐sanitários e a uma diminuição sem precedentes da fecundida‐
de nos últimos anos, como de resto bem se comprova no gráfico anterior, sendo que Portugal segue exactamente a tendência europeia. Por outro lado, este novo fenómeno do envelhecimento das sociedades desenvolvidas, tem vindo a ser abordado partindo de diversos olhares, subsidiários de diversas áreas do conhecimento. A perspectiva biológica considera a “velhice humana uma redução da capacidade funcional devido ao curso do tempo” (Reque‐
jo Osorio e Pinto, 2007). Na perspectiva psicológica do envelhecimento, considera‐
‐se que durante o ciclo vital existem momentos de crescimento e de declínio, sen‐
do que na velhice o declínio ocorre mais acentuadamente. Esta perspectiva tem ainda em conta, que associada à velhice, está a ideia de desocupação, por oposi‐
ção à ideia de ocupação, porém o conceito base subjacente a todo este processo é a procura incessante da ideia de bem‐estar. Noutra perspectiva, considera‐se que o envelhecimento é também um pro‐
cesso cultural e social, sendo aqui visto sobretudo como uma alteração de atitudes e mentalidades, que vem mudando o papel dos velhos na nossa sociedade, per‐
dendo estes um espaço de respeito e profunda estima pelo que representam em substituição da ideia de juvenilização da sociedade. Assim, segundo Osório, a velhice define‐se por ser um estado de envelheci‐
mento que começa precocemente e que ao longo da vida adulta se combina com processos de amadurecimento e desenvolvimento. Do ponto de vista sociológico, considera‐se estar perante um grupo socioeco‐
nómico, que se distingue em duas categorias: a) pessoas reformadas, com plena capacidade física e mental, que estão na economia como consumidores e como parte da economia informal; b) pessoas biologicamente velhas, com autonomia funcional reduzida e dependentes de recursos externos, que lhes permitam man‐
ter boas condições de vida. (pessoas entre os 80 e 90 ou mais anos) Para a sociologia, a ideia de trabalho ou se quisermos o seu conceito, é um valor central, um conceito de referência em especial porque demarca o papel do homem na estrutura social, a sua capacidade de produzir e consumir e sobretudo serve de referência, ou elo de ligação, entre os indivíduos e a sua participação activa na economia de uma sociedade, contribuindo através do seu trabalho para o bem comum. Ou seja, no dizer de Solow o valor do trabalho transforma‐se numa instituição social, uma vez que é o garante desta sociedade. Solow, considera que o trabalho, não pode ser visto como qualquer outro produto que está no mercado, uma vez que não se rege somente pela lei da oferta e da procura “o trabalho como bem económico tem algo de especial” (Solow, 1992). Nesta perspectiva estes pilares, são o garante da funcionalidade do próprio sistema, não permitindo grandes desregulações, que teriam um impacto social e económico extremamente negativo. A reforma é vista como uma conquista social, inserida num conceito mais lar‐
go de justiça social, “libertando as pessoas de trabalhar até à incapacidade” (Requejo Osorio e Pinto, 2007). Contudo por oposição à ideia de trabalho, a refor‐
ma carrega implicitamente conotações sociais opostas, ou seja, os indivíduos vêem cerceado o seu estatuto social e económico. Seja como for, devemos considerar do ponto de vista histórico um avanço social profundo nas nossas sociedades, sobretudo por que foi possível atingir uma 94 João Carlos Leitão disponibilidade económica e financeira que se traduziu num bem‐estar social e económico sem precedentes com implicações profundas na cidadania. Ser reformado significa então do ponto de vista social, “estar livre do trabalho, dispor de mais tempo livre e assume menos responsabilidades sociais, por outro lado, perde oportunidades de emprego, limita os seus contactos sociais e tem menor relevância e poder social. Do ponto de vista económico, beneficia da segurança da pensão vitalícia, de assistência sanitária gratuita, bem como de vantagens fiscais e serviços em espécie gratuitos. No entanto tem de assumir as limitações da revisão da pensão, as maiores necessidades de assistência sanitária, impostos crescentes e a perda de poder de compra” (Requejo Osorio e Pinto, 2007). No caso concreto de Portugal, o sistema de pensões tem características muito particulares, dado o seu atraso relativo na implementação de um sistema global pensões, que no contexto actual significa que nem toda a população se encontra coberta ainda hoje por um sistema de pensões, por outro lado, a ideia de um sis‐
tema de bem‐estar como vemos noutras sociedades europeias parece estar defini‐
tivamente fora do nosso alcance, uma vez que a partir de 1980 o comportamento demográfico português, ao acompanhar a tendência de outras sociedades euro‐
peias e, mais que isso, plasmar em muito pouco tempo o mesmo saldo fisiológico, põe em causa a sustentabilidade do sistema de pensões, sendo que a relação hoje entre os que estão na vida activa e os reformados tende para um maior desequilí‐
brio, por cada cidadão reformado existem 1,9 cidadãos em idade activa. Figura 3: Divisão da população da União Europeia por classes etárias Fonte: Europe in Figures, Eurostat Yearbook, 2005 O que, aliás, se comprova na análise do ratio idosos/jovens, que de 1940 a 2005, passou de vinte idosos por cada cem jovens, para no ano 2000, passar a haver mais idosos do que jovens, e em 2005 atingir uma relação de cento e sete idosos por cada cem jovens, deixando bem claro a futura tendência demográfica de envelhecimento da população portuguesa e o risco da clara insustentabilidade do sistema de segurança social a curto e médio prazo, caso não haja medidas que respondam de forma efectiva a um novo reequilíbrio do sistema. (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 95 Gráfico 1: Ratio idosos por cada 100 jovens Fonte: INE, 2005 Estamos assim perante um caso inacabado de uma sociedade de bem‐estar, de uma sociedade que dado o seu envelhecimento no topo e na base da pirâmide demográfica evidencia alguns sinais de regressão demográfica, impossibilitando por um lado, a cobertura universal de todos os cidadãos e por outro lado, assegu‐
rar aos seus cidadãos rendimentos provenientes das pensões que permitam uma vida condigna. Ainda que este seja um problema comum a todas as sociedades europeias e não só (ex. Japão), a verdade é que no caso português, este problema reveste‐se de contornos culturais, sociais e económicos diferentes das restantes sociedades. Do ponto de vista cultural, existe da parte dos cidadãos um forte sentimento de resistência e de sentimento de injustiça nas contribuições destes, para as prestações sociais que visam aperfeiçoar, manter ou garantir o estado de bem‐estar, sejam quais forem e independentemente das suas características. Em parte fica a dever‐se a uma profunda incapacidade dos sistemas educacional, político e dos mass media, em explicar ao cidadão comum a importância destas prestações sociais, dado que a ideia de Estado que passa de geração em geração é a ideia de uma realidade contrá‐
ria aos interesses do cidadão e que em nada contribui para o seu bem‐estar. A fraca taxa de educação formal dos portugueses é em diversos sentidos o maior aliado deste sentir acima descrito. Esta perspectiva cultural em muito fica a dever‐se à fraca literacia e qualificação dos portugueses, que dificulta a compreen‐
são da ideia de Cidadania e de Estado. Em termos económicos, sendo a estrutura produtiva baseada em mão‐de‐
‐obra pouco escolarizada e qualificada, promove uma fraca produtividade e pouco valor acrescentado, assentando num paradigma de desenvolvimento já por si frá‐
gil. Dadas as condicionantes acima descritas a sustentabilidade do sistema, seja por via dos incrementos percentuais das prestações, seja pelo alongamento da vida activa dos cidadãos. Uma grande percentagem dos trabalhadores ainda exer‐
ce ou exerceu trabalhos fisicamente muito exigentes e penosos (na agricultu‐
ra/pesca e na indústria), criando grandes resistências ao prolongamento da vida activa pelo esgotamento físico destes, ou pelo aumento percentual das suas con‐
tribuições, dado que este tipo de trabalho de baixa qualificação é mal remunerado. 96 João Carlos Leitão A imagem seguinte pretende retratar de forma mais nítida possível, o pro‐
blema de sustentabilidade da Segurança Social portuguesa. O envelhecimento humano – uma etapa multifacetada da vida Considerar o envelhecimento humano como um processo, em que o desgaste sofrido pelo indivíduo o esgota, que acumula erros atrás de erros, é ter uma pers‐
pectiva muito reducionista do processo de envelhecimento humano. De igual forma, considerar este processo como um declínio mental ou intelec‐
tual que o entende “como um processo de deterioração celular e evolução orgâni‐
ca” (Requejo Osorio e Pinto, 2007) numa perspectiva organicista é também olhar o fenómeno partindo da exclusão da interacção do indivíduo e o meio. É precisamente esta última perspectiva, que entende o envelhecimento como a interacção entre o indivíduo e o meio, considerando que aquilo que determina o envelhecimento humano é precisamente este percurso dialéctico de adaptação entre o homem e o meio. O modelo considera que para além da interacção já descrita entre o indivíduo e o meio, este acaba por se modificar em função das alterações produzidas por si próprias. O ambiente e a realidade cultural acabam por ser modeladoras da con‐
duta humana, que adquirem uma característica especial uma vez que não são determinadas geneticamente, sendo por isso o envelhecimento um processo úni‐
co, vivido diferentemente por cada indivíduo. Considera‐se que o indivíduo estabelece uma relação única entre ele próprio e a cultura, gerando um universo biocultural, que torna diferente o seu envelhe‐
cimento, abrindo uma perspectiva unidimensional desse processo. Como fica claro, todas estas profundas transformações sociais, assentes no prolongamento da vida dos indivíduos, demonstram um grande avanço do ponto de vista social. A qualidade de vida na Europa, na América do Norte e Japão atingiu um patamar nunca antes alcançado. Contudo como desde já se vê, há um “mundo” ou uma parte deste, que ficou de fora de todo este desenvolvimento desejável. Parte desse mundo coexiste no hemisfério sul do nosso planeta, mas também no hemisfério norte encontramos “ilhas de pobreza” ou de subdesenvolvimento guetos sociais, culturais e económi‐
cos, que contrastam profundamente com ambientes de prosperidade, paredes‐
‐meias com a pobreza profunda. Alguns desses guetos estão no coração envelhecido das nossas cidades, nas partes velhas das nossas urbes que tardam em conhecer uma verdadeira política de integração social e de rejuvenescimento dos centros da cidade. Quando existem alterações nas zonas velhas da cidade, na sua grande maio‐
ria, são intervenções de especulação imobiliária, algumas de engenharia, muito menos de arquitectura e praticamente nenhumas de intervenção social junto das populações, na sua maioria idosas, com condições de saúde precárias, em condi‐
ções de isolamento familiar, social, económico e de segurança. Dando exemplos e falando da cidade de Lisboa, assim se encontra toda a zona velha da cidade, Graça, Penha de França, Anjos, Arroios, Alcântara, Mouraria, Bair‐
ro Alto e agora também as Avenidas Novas (Av. de Roma e Alvalade). Todas estas áreas e outras carecem obviamente de requalificação social, arquitectónica, de (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 97 serviços que respondam às reais necessidades dos seus habitantes e muito menos de especulação imobiliária, sem uma política de reorganização do espaço social, cultural e demográfico da cidade. Este retrato não é muito diferente das outras cidades, mudarão os nomes dos bairros a escala a que as coisas acontecem, mas a degradação será em tudo semelhante. Poder‐se‐á falar de uma cidade de velhos, onde o espaço dos serviços ganha cada vez mais terreno, numa cidade viva durante o dia, mas morta durante a noi‐
te, com movimentos pendulares diários de uma população que chega à cidade pela manhã e parte ao final do dia, deixando‐a despovoada até ao outro dia de manhã, onde os velhos solitariamente esperam por novo dia. Mas ao mesmo tempo que se vê um envelhecimento no centro urbano das cidades, encontramos mais uma linha divisória entre novos e velhos no nosso País, a tão marcada diferença entre litoral e interior. Temos assim um litoral densamente povoado e um interior com menor densidade populacional e sobretudo envelhecido. Figura 5: Índice de envelhecimento/ /estimativas da população residente por concelhos em 2003 Fonte: I120 NE, O País em Números, 2004 Se a Norte do Tejo encontramos agregados populacionais mais concentrados, a Sul do Tejo encontramos uma população mais dispersa no território por isso iso‐
lada. Estas características de povoamento, limitam em muito a vida dos velhos, sendo no Alentejo que encontramos as taxas de suicídio mais altas do país. Tam‐
bém será aqui, que mais difícil será prestar apoio social a estas populações enve‐
lhecidas não só pela distância, mas também pela eficácia em muito determinada pelos custos de uma intervenção de proximidade da assistência social e de cuida‐
dos de saúde. 98 João Carlos Leitão Grande parte das diferenças entre o litoral e o interior estão tipificadas, em torno dos indicadores de qualidade de vida como seja os descritos no quadro infra. Quadro 1: Variação teórica associada aos indicadores de tipologia urbano/rural Dimensões Dinâmica demográfica Actividades económicas Indicadores Var. % da população residen‐
te 1991‐2001 Urbano Dinâmicas demográficas mais positivas (ou menos negativas, tendo em conta o comportamento, tanto dos natural, como % de população saldos com menos de 15 efectivo, a nível nacional, entre os dois censos) e um anos maior índice de juventude SAU por exploração Uso do solo para fins (hectares) agrícolas com um significado % de activos na muito residual, a par de agricultura idêntico comportamento do % de activos na in‐ emprego na agricultura. dústria Relativa importância do Rural Dinâmicas demográficas mais negativas, com re‐
flexos directos na dos acentuação processos de enve‐
lhecimento. A importância das actividades agrícolas é medida, tanto pelo volume de emprego na agricultura, como pela maior intensidade de utilização agrícola do solo. Em contrapartida, é de esperar um peso diminuto das actividades industriais e baixos níveis de qualificação da mão‐
sector secundário, num contexto de forte % de activos mais predominância do emprego qualificados nos serviços. Níveis de qualificação mais elevados dos activos residentes
População servida com estações de tratamento de Relativamente ao acesso a serviços públicos avançados, águas residuais (%) é de esperar uma posição mais favorável dos concelhos com características mais urbanas, o mesmo se passando Recolha e recicla‐
no que respeita aos níveis de cobertura por algumas gem de resíduos só‐
redes de saneamento básico. No entanto, e dado o lidos em 2001 (%) Infraestruturas esforço, de âmbito nacional, de investimento neste tipo % de freguesias e equipamentos
de infraestruturas, equipamentos e serviços, ao longo com TV por cabo das últimas décadas, a par de processos de regressão % de freguesias demográfica que tendem a subverter os limiares de com 3 redes de rendibilidade em áreas rurais, pode também esperar‐se telemóvel a detecção de baixas taxas de cobertura em áreas % de escolas urbanas, em especial nos concelhos suburbanos. básicas com acesso à internet Fonte: Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental, Área de Investigação e Conhecimento e da Rede Social, ISS, IP Com a colaboração da Geoideia para o tratamento esta‐
tístico, Janeiro 2005 Verifica‐se também, que a proporção dos que deixaram a vida activa, vivem tam‐
bém no interior do país, sendo por essa razão que a dicotomia litoral/interior mais uma vez fica bem vincada, mostrando bem a diferença entre aqueles que dependem de uma pensão ou reforma para a sua sobrevivência e aqueles que trabalham e uma larga fatia da população do interior, que se aproxima da idade da reforma. Se por um lado todos os movimentos migratórios internos ou externos se caracterizam, pela saída dos novos para outros territórios e a permanência dos velhos no território de origem, não se estranhará que os velhos ocupem a parte do (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 99 território menos atractiva, quer do ponto de vista dos empregos, quer por conse‐
quência das infraestruturasou da ausência delas. Por outro lado, no caso do nosso território é também notório que a parte menos atractiva é aquela que tem como actividade principal a agricultura, ou seja, o interior onde existe uma depreciação do valor do trabalho realizado nessa actividade e onde, por essa razão, conjunta‐
mente com a pouca qualificação e idade de quem fica, a inovação, no sentido mais amplo é de difícil realização, sendo por isso territórios com baixo índice de atracti‐
vidade de populações mais novas e mais escolarizadas. Figura 6: Proporção de população residente cujo principal meio de sobrevivência são as pensões/reformas Fonte: INE, O País em Números, 2004 Na nossa sociedade é também muito comum que uma vez chegada o fim da vida activa os indivíduos abandonem o litoral e as grandes cidades, voltando para os seus lugares de origem, reforçando assim com população, mas, mais velha as regiões que já por si estão envelhecidas, o que acaba por reforçar ainda mais este quadro do envelhecimento do interior. Mas nem tudo é negativo, também transportam novas ideias e novas formas de fazer as coisas, encontrando‐se aqui e ali exemplos de inovação social, para tornar estes territórios mais atractivos. De resto, nesta imagem fica bem visível na comparação dos valores médios das pensões entre regiões, ainda que as médias não deixem ver as realidades mais expres‐
sivas do ponto de vista das diferenças entre sujeitos. A oposição é clara, entre ter‐
ritórios mais atractivos de qualificações, emprego, sectores de actividade mais inova‐
dores, melhores salários e melhores pensões em detrimento dos menos atractivos. Sendo os valores médios das pensões muito exíguos, a média mais alta do valor das pensões é 235,10€ em Portugal e verifica‐se no litoral maioritariamente, a imagem do território nacional deixa bem claro, mais uma vez, a divisão entre litoral e interior, consequência de todos os indicadores já identificados e que resul‐
ta na diferença entre o sector de actividade baseado na indústria e serviços mais radicados no litoral, exigindo mais qualificações e por isso maiores salários e con‐
sequentemente melhores pensões. 100 João Carlos Leitão Figura 7: Valor médio mensal das pensões/reformas Fonte: INE, 2004 Em contraponto, encontramos um interior em que o sector de actividade principal é a agricultura e alguma indústria extractiva, onde predominam os salá‐
rios baixos e agricultura de subsistência e por isso valores médios de pensão muito baixos (192,18€), Esta situação fica a dever‐se em grande parte ao quadro qualifi‐
cacional dos recursos humanos que desempenham estas profissões, que em con‐
sequência da fraca qualificação têm salários muito baixos, sendo as suas pensões também muito baixas. Parte deste problema, radica numa ausência de política regional, que se preocupe em reduzir assimetrias entre regiões. Como consequência, as regiões do interior são menos atractivas, com condições de atracção deficitárias da população com novo quadro qualificacional e das empresas, o que se manifesta no desinte‐
resse empresarial, para investir nestas regiões e reequilibrar o território, quer em termos de desenvolvimento, quer em termos populacionais, acelerando‐se o pro‐
cesso de desertificação humana do interior. Os valores médios das pensões são tanto mais preocupantes, quanto tenha‐
mos em conta os limiares de sobrevivência, aceites para Portugal. Embora Portugal tenha o Limiar de Sobrevivência mais baixo da União Europeia, 387€ (77.587$), facilmente se verifica que o valor médio das pensões é insuficiente (235,10€), mui‐
to abaixo do Limiar de Pobreza. O problema é tanto maior quanto considerarmos que Portugal é dos países da União Europeia que tem uma taxa de distribuição da riqueza mais deficitária da Europa, tendo em conta os países que disponibilizaram os dados ao Eurostat. Como de resto se vê no gráfico infra. (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 101 Figura 8: Desigualdade na distribuição da riqueza em 2001 Fonte: Eurostat, 2005 Existe assim uma profunda incapacidade de uma grande fatia da nossa popu‐
lação ter uma vida condigna no nosso País, ou seja, corresponder como seria natu‐
ral às necessidades diárias de alimentação, saúde, sempre mais exigente com o avanço da idade, habitação e justiça e eventualmente de educação. Digo eventual‐
mente porque apesar de ser uma população com uma profunda insuficiência de educação formal, também sabemos que quanto menor é o seu grau de escola‐
ridade, menos sentem essa necessidade e no caso da população reformada, como é o nosso, consideram que o processo de educação formal, “já não vem a tempo, era bom quando era novo, se pudesse ter estudado”. Apesar de tudo, são cada vez mais os idosos que procuram formação quer para aprender a ler, quer no Ensino Superior Sénior. As implicações do envelhecimento demográfico das sociedades desenvol‐
vidas, são sobretudo abordadas do ponto de vista económico e de sustentação da Segurança Social. Muito pelo contrário, o envelhecimento humano afecta as nos‐
sas sociedades de forma multidimensional na forma como trabalhamos, repar‐
timos o tempo social no nosso percurso de vida, nos riscos sociais (que enfren‐
tamos), nas identidades sociais inerentes a cada idade, nas relações entre gerações. “O alargamento da vida, põe em causa todo o modelo cultural de organiza‐
ção social desde as idades aos tempos sociais, ou seja, a necessidade de redefinir o papel das diversas gerações e o seu papel na produção de rique‐
za” (Guillemard, 2005: 377). 102 João Carlos Leitão Figura 9: Comparação entre limiares de pobreza e salários médios Um outro aspecto fundamental a ter em conta, é o emprego nas diferentes gerações, bem como a posição dos indivíduos no sistema de protecção social. Mas muito mais está para definir, como seja, o papel das diferentes gerações na nossa sociedade no que diz respeito “ao seu lugar na produção da riqueza, como será a transferência de recursos, como se estruturará as novas formas de solidariedade entre gerações” (Guillemard, 2005: 317). Uma abordagem multidisciplinar das implicações do envelhecimento da população Deste modo para se compreender os efeitos do envelhecimento da nossa sociedade, sobre ela própria torna‐se necessário a utilização de uma perspectiva teórica que abranja as evoluções interdependentes entre três dimensões centrais que são: o mercado de trabalho, o sistema de protecção social e a organização das temporalidades no ciclo de vida. Contudo será que se deve olhar para o envelhecimento nos países desen‐
volvidos como uma fatalidade, ou devemos olhar este acontecimento como uma determinante somente demográfica, ou antes pelo contrário como já se disse, como um conjunto multidimensional, com respostas políticas diferentes nos diver‐
sos países mostrando as diversas formas de compreender e entender este fenó‐
meno? Na sua grande maioria os países europeus encorajaram as pré‐reformas, de tal modo, que as taxas de emprego entre activos dos 55 aos 64 anos caíram para metade entre 1975 e 1995. Contrariamente os países escandinavos encorajavam, através de políticas activas de emprego dirigidas aos maiores de 45 anos a sua (Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 103 permanência no mercado de trabalho, em vez de se antecipar a sua saída do mer‐
cado de trabalho. Quando analisamos as taxas de empregabilidade, no Japão, Suécia e Dina‐
marca no grupo etário dos 55 aos 64 anos, verificamos que estas taxas são muito altas por comparação com a dos restantes países. Nestes últimos casos demons‐
tram carreiras em declínio com dificuldades de promoção e salários mais baixos e mais dificuldades para aceder à formação. Acima dos 50 anos verifica‐se, também, uma vulnerabilidade crescente perante o desemprego, sendo mesmo de longa duração em muitos casos. Apesar de tudo, o esforço começa a ser feito e segundo Vieira da Silva “no limite, pretende‐se prolongar com alguma dimensão a sua carreira poderá até manter aquela prestação que estava prevista, se não houvesse esta reforma. Obviamente, que vai depender da evolução da esperança de vida. São factores que se vão desenvolver num espaço muito longo” (Silva, 2007). Também em Portugal e apesar do relatório da OCDE, o esforço começa a ser feito, embora a sensação para os trabalhadores seja de profunda injustiça, contu‐
do estas medidas têm obviamente consequências sociais, como de resto se vê nos países que já as aplicaram. Nestes países também se verifica, que quer os jovens, quer os velhos estão cada vez mais tempo fora do mercado de trabalho, por razões obviamente dife‐
rentes. Por um lado, os mais novos têm mais dificuldade em arranjar emprego e a encontrar a estabilidade no emprego, necessária para constituir família que, surge cada vez mais tarde. Por outro, os mais velhos, quase sempre, passam por prolon‐
gados e cada vez maiores processos de desemprego de longa duração. Ou seja, parece que do ponto de vista económico, na nossa sociedade será mais barato manter um jovem desempregado, do que um velho reformado, por outro lado, a tendência será para os jovens entrarem mais tarde no mercado de trabalho e consequentemente saírem mais tarde desse mercado de trabalho, pro‐
longando a sua vida activa, como sendo mais uma forma de reequilibrar o sistema de segurança social. Temos assim várias hipóteses de reequilíbrio da segurança social, ou formas conjugadas para o seu reequilíbrio: – Saídas mais tardias do mercado de trabalho ou vida activa; – Entrada mais tardia no mercado de trabalho, percursos mais curtos de vida contributiva, aumentada unicamente pela dilatação da vida activa na recta final da vida; – Aumento das prestações sociais, para a segurança social, o que no nosso país dada a política salarial de baixos salários, dificultaria muito este pro‐
cesso e a forma como culturalmente se vê este tipo de contribuições; – Diminuição das prestações sociais do estado para os reformados e pensio‐
nistas, o que é uma quebra sem precedentes na solidariedade entre gera‐
ções e com profundas consequências sociais de ainda maior exclusão social; – Ou numa perspectiva neoliberal, permitir‐se uma privatização desta área e responsabilizar os indivíduos pela sua futura performance no final da vida activa, como de resto se pode ver no exemplo dos EUA. 104 João Carlos Leitão De algum modo o que se tem concretizado é a configuração de políticas de protecção social e de emprego diferentes nas diversas culturas, devemos conside‐
rar assim que “a forma como esta questão é analisada depende sempre do contex‐
to social. Assim resultará das interdependências entre os normativos, políticas de protecção social e emprego e sistemas de relações profissionais” (Guillemard, 2005: 322). Compreender hoje o envelhecimento, significa entender a velhice como um processo, um processo que tem características biológicas, sociais e psicológicas, sendo que cada uma destas características é condicionada pelo meio envolvente, seja ele físico, social, cultural e genético de cada um dos indivíduos. Mas o indivíduo também é visto como parte activa neste processo, na medida em que toma decisões na sua vida que influenciam e condicionam o processo de envelhecimento. O Homem torna‐se assim, como um meio que do ponto de vista psicológico tem mecanismos de “auto‐regulação do indivíduo no campo de forças, pelo tomar de decisões e opções, adaptando‐se ao processo de senescência e envelhecimento” (Paúl, 2005: 275). Em todo este processo, considera‐se também que é um processo biológico, chamando à atenção dos estudiosos que os processos de envelhecimento também são processos biológicos considerando‐se que a vulnerabilidade dos indivíduos é crescente e de maior probabilidade de morrer, a que se chama senescência. Por último considera‐se que os processos sociais, também têm o seu peso na forma como se envelhece, é através dos papéis sociais que cada um desenvolve durante a sua vida, que se pode apropriar mais ou menos às expectativas da sociedade, para o seu nível etário. “A perspectiva multidisciplinar do envelhecimento abriu caminho à geronto‐
logia, ainda que com raízes anteriores, emerge de forma clara a partir da segunda metade do século XX e ganha na visibilidade na década de oitenta.” (Paúl, 2005: 275). Este ganho de notoriedade da gerontologia em muito se fica a dever à primei‐
ra Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento. Foi sem dúvida a primeira mani‐
festação global por parte dos Estados, onde se manifestou a preocupação sobre os riscos para o bem‐estar da humanidade que podem resultar do alongamento da longevidade. Esta assembleia teve como primeiros objectivos elaborar princípios orientadores de uma política mundial para o envelhecimento e formular recomen‐
dações, sobre medidas a serem tomadas. Esta assembleia centrou‐se sobretudo na identificação das necessidades cres‐
centes e constrangimentos de um mundo que envelhece. Assim considerou‐se que seria primordial estabelecer mais apoio médico e mais apoio social, contudo as condições de escassez financeira da segurança social, dificultam em muito que se faça frente às necessidades sociais reconhecidas. Contudo a crise não se estabelece unicamente por pressupostos económicos, mas também por pressupostos socais. As famílias tradicionais também se encon‐
tram em crise, enfrentado extremas dificuldades para assegurar os cuidados dos seus velhos. A família ou a ideia dela tem vindo ao longo dos tempos gradualmente a ser alterada. Para Saraceno (1997), na Roma Antiga predominava uma estrutura fami‐
(Des)Igualdades, Envelhecimento e Saúde 105 liar patriarcal em que o vasto leque de pessoas se encontrava sob a autoridade de um mesmo chefe, durante a Idade Média, as pessoas começaram a estar ligadas por vínculos matrimoniais, formando novas famílias. Dessas novas famílias fazia também parte a descendência gerada que, assim, tinha duas famílias, a paterna e a materna. Com a Revolução Francesa surgiram os casamentos laicos no Ocidente e com a Revolução Industrial, tornaram‐se frequentes os movimentos migratórios para as cidades maiores, construídas em redor de complexos industriais. Estas mudanças demográficas originaram o estreitamento dos laços familiares e as pequenas famílias, num cenário similar ao que existe hoje em dia. As mulheres saem de casa, integrando a população activa, e a educação dos filhos é partilhada com as escolas. É a evidência que “a família vem‐se transformando através dos tempos, acompanhando as mudanças religiosas, económicas e sócio‐culturais do contexto em que se encontram inseridas” (Saraceno, 1997). Esta é um espaço sócio‐cultural que deve ser continuamente renovado e reconstruído. De acordo com o que foi descrito anteriormente, pode‐se caracterizar quanto à estrutura de família nuclear ou conjugal, ou seja, a que consiste num homem, numa mulher e nos seus filhos, biológicos ou adoptados, habitando num ambiente familiar comum (Giddens, 2000). Mas para além de todas estas mudanças na nossa sociedade, é necessário olhar para o envelhecimento da nossa sociedade, estando conscientes de que as suas nuances também marcam pesadas diferenças sociais, sobretudo aquelas que resultam de diferenciação social sejam elas quais forem. Podemos assim sistemati‐
zar algumas delas que têm bastante peso no processo de envelhecimento indivi‐
dual e colectivo, na forma de expressão concreta da qualidade de vida de cada indivíduo, antes da sua vida activa, durante a sua vida activa e finalmente depois da sua vida activa. – Género; – Cultura (etnia); – Características físicas e psicológicas do indivíduo; – Variáveis comportamentais (exemplo: profissões de risco psicológico, como controladores de tráfego aéreo, ou físico, como mineiros); – Variáveis económicas; – Meio físico onde desenvolve as suas actividades (vive e trabalha); – Meio social (conjunto de oportunidades potenciadas pelo seu grupo de per‐
tença); – Serviços sociais e acesso prestados pelas entidades competentes. Todos estes factores, desde as mudanças históricas referidas às questões sociais e por isso transversais a qualquer época histórica, alteram profundamente a forma como a velhice é percepcionada sentida e vivida por cada um dos sujeitos no seu processo individual de envelhecimento. É urgente a redefinição do papel de velho nas nossas sociedades, onde os velhos mais parecem ser uma entidade esta‐
tística e eleitoral. Fica de algum modo por definir “qual o papel das diferentes gerações na nos‐
sa sociedade, o seu lugar na produção da riqueza, como será a transferência de 106 João Carlos Leitão recursos, como se estruturará novas formas de solidariedade entre gerações” (Guillemard, 2005: 317). A sociedade deverá olhar para esta nova dinâmica social como um desafio que urge responder, fruto de um dos maiores avanços civilizacionais e que necessi‐
ta de equilíbrio entre um marco de desenvolvimento e a necessidade de se recon‐
figurarem os papéis sociais nas nossas sociedades. Referências bibliográficas Eurostat (2005), Europe in Figures, Eurostat. Giddens, A. (2000), Sociologia, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian (2.ª ed.). Guillemard, A.‐M. (2005), “Une nouvelle gestion des âges en réponse au vieillissement de la population”, Sociologia, pp. 317‐355. Instituto Nacional de Estatística (2004), O País em Números, Lisboa, INE. OECD (2007), Pensions at a Glance. Public policies across OECD Countries, OECD. Offe, C. (1990), Algunas Contradicciones del Moderno Estado del Bienestar, Madrid, Alianza. Paúl, C. (2005), Envelhecimento Activo e Redes de Suporte Social, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Requejo Osorio, Augustín; Pinto, Fernando Cabral (2007), As Pessoas Idosas. Contexto social e intervenção educativa, Lisboa, Instituto Piaget. Saraceno, C. (1997), Sociologia da Família, Lisboa, Estampa. Silva, V. (8 de Junho de 2007), “Governo discorda de estudo sobre reformas” (TSF, Entrevista). Solow, R. M. (1992), El Mercado de Trabajo Como Institución Social, Madrid, Allianza. www.socialwatch.org. O CONTROLO SOCIAL E A EXPERIÊNCIA DOS CONSELHOS DE SAÚDE: INOVAÇÕES INSTITUCIONAIS NA GOVERNAÇÃO EM SAÚDE1 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos Introdução Os Conselhos de Saúde, criados no Brasil no âmbito do processo de reforma sanitária e de construção do Sistema Único de Saúde (SUS), constituem uma das inovações mais interessantes no campo da saúde e do envolvimento dos cidadãos na definição das políticas de saúde. Estes surgem como instituições híbridas que associam mecanismos de democracia directa com os da democracia represen‐
tativa (van Stralen, 2005). A sua compreensão enquanto espaços institucionais de participação cidadã será tanto mais abrangente e eficaz se forem tomados em consideração 3 pilares distintos que enformam a sua existência: um pilar político, que tomou forma com o movimento sanitarista brasileiro; um pilar de conhecimento e de produção de saberes, que corresponde à emergência de um novo paradigma no domínio da saúde pública e que dá pelo nome de Saúde Colectiva; e, finalmente, um pilar ins‐
titucional, ligado à própria criação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. É, aliás, ao SUS que os conselhos de saúde se encontram vinculados. O movimento sanitarista brasileiro O movimento sanitarista brasileiro nasceu na década de 70 do século XX no interior das Universidades Brasileiras, mais precisamente nos recém‐criados Departamentos de Medicina Preventiva, num contexto político de crescente oposi‐
ção ao regime autoritário. O movimento fez coincidir com o projecto sanitarista de melhoria das condições de saúde da população brasileira um projecto político de democratização do Estado e uma nova concepção de saúde, que esteve na base da emergência de um novo paradigma de saúde pública. Nele foi produzida uma críti‐
ca ao regime autoritário e à sua actuação no campo da saúde, colocando em causa a centralização das decisões nas mãos de técnicos, burocratas e políticos, vulnerá‐
veis às pressões e interesses dos sectores privados. Os efeitos perversos das políti‐
cas de saúde então existentes foram realçados, como a excessiva dependência em 1 A investigação que serviu de base a este artigo foi realizada no âmbito do projecto “Resear‐
ching Inequality through Science and Technology” (ResIST), financiado pela Comissão Europeia (CITS‐CT‐2005‐020952), realizado no Centro de Estudos Sociais. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 107‐118. 108 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos relação aos actores privados e a endémica exclusão da maioria da população no acesso a cuidados primários de saúde. A frase “Saúde é Democracia” é reveladora da percepção pelos sanitaristas de que não seria possível uma efectiva melhoria das condições de acesso à saúde pela maioria da população brasileira sem um decisivo passo para a conquista da democracia (Arouca, 1986). O movimento Sanitarista teve o seu apogeu em 1986, com a VIII Conferência Nacional de Saúde, onde as suas propostas foram transformadas num programa que viria a ser inscrito na Constituição Federal de 1988 e nas leis orgânicas de cria‐
ção do SUS. A definição de saúde que encontramos no relatório final da Conferên‐
cia é decisiva para a compreensão do movimento da reforma sanitária. Esta cor‐
responde ainda a uma ampliação do conceito de saúde, que propõe uma ruptura com o domínio do paradigma biomédico: 1) Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social de produção, as quais podem gerar grandes desigual‐
dades nos níveis de vida. 2) A saúde não é um conceito abstracto. Define‐se no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimen‐
to, devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. 3) Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promo‐
ção, protecção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade. 4) Esse direito não se materializa, simplesmente pela sua formalização no texto constitucional. Há, simultaneamente, necessidade do Estado assumir explicitamente uma política de saúde consequente e integrada às demais políticas econômicas e sociais, assegurando os meios que per‐
mitam efectivá‐las. Entre outras condições, isso será garantido mediante o controle do processo de formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela população. (Arouca, 1986) Saúde Colectiva Naquele que veio a ser designado de paradigma da Saúde Colectiva, o estudo dos processos de saúde‐doença passou a dar enfoque não aos indivíduos, ou ao seu simples somatório, mas às determinantes sociais dos processos de saúde‐
‐doença e ao colectivo social, com as suas classes sociais e as suas dinâmicas rela‐
cionais, assim como à distribuição social da doença e da saúde. Assumiu‐se tam‐
bém que os problemas de produção de saúde e doença verificados numa popu‐
lação são indissociáveis das condições sociais, económicas e políticas em que esta vive. O trabalho de identificação e caracterização destas determinantes sociais, que esteve no centro da reflexão do projecto sanitarista, conduziu à necessária articulação de múltiplos saberes disciplinares como a sociologia, a antropologia, a economia, mas também com os saberes locais daqueles que, por estarem próxi‐
mos dos contextos locais, melhor conseguem identificar as determinantes sociais implicadas nos processos de saúde‐doença das comunidades. O Controlo Social e a Experiência dos Conselhos de Saúde 109 Esta intenção de incluir as experiências, saberes e práticas vindas da socie‐
dade civil na construção democrática de um novo modelo de saúde foi realçada por uma das figuras emblemáticas do movimento sanitarista, Sérgio Arouca, no seu discurso de abertura da VIII Conferência: Porque o problema aqui não é o de buscar um modelo de saúde que seja adequado à nossa cultura de brasileiros, tirado do bolso de uma hora para a outra, mas sim o de se buscar um sistema de saúde cuja experiên‐
cia tenha sido gerada nas vivências do trabalho comunitário de bairros, nas práticas dos sindicatos, da Igreja, das secretarias de saúde, estaduais e municipais, que tanta coisa têm enfrentado no sentido de transformar esse sistema, baseados no conhecimento, inclusive, de pessoas que, por assumirem mais a convivência com esse sistema perverso, foram para algum lugar do país e começaram alguma experiência concreta, na tenta‐
tiva de modificá‐lo. (Arouca, 39: 1986) Nesta perspectiva, a materialização do direito à saúde não é dada por adquirida pela via da sua inscrição na Constituição e pela sua formulação legal, surgindo, antes, como um processo de construção permanente de exercício da democracia. Apesar de configurada como uma responsabilidade do Estado, a participação da sociedade civil para a sua efectivação foi fortemente enfatizada, nomeadamente através das suas múltiplas entidades representativas, na formulação da política, planeamento, gestão, execução e avaliação das acções na saúde. Tratou‐se, assim, de uma propos‐
ta de redefinição do sistema público de saúde enquanto projecto colectivo e demo‐
crático que, obrigatoriamente, ocorreria apenas através da inclusão, em primeiro lugar, das múltiplas entidades oriundas da sociedade civil no debate em torno do sis‐
tema de saúde e, em segundo, dos múltiplos saberes e práticas que dela emanam para os espaços até então restritos da medicina e da saúde (Nunes et al., 2007). O sistema único de saúde A Constituição Brasileira de 1988 sancionaria as directrizes do movimento sanitarista cristalizadas pela VIII Conferência ao estabelecer a saúde como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, e a participação da sociedade civil no planeamento e gestão como as directrizes centrais que mais tarde seriam funda‐
doras do SUS. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (Constituição Brasileira, artigo 196) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes directrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera do governo; II – atendimento integral, com prioridade para as actividades pre‐
ventivas, sem prejuízo de serviços assistenciais; III – participação da comunidade. (Constituição Brasileira, artigo 198) 110 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos O SUS foi posteriormente regulamentado pela Lei n.º 8.080 (1990). No seu artigo 36 foi declarado que o processo de planeamento e orçamentação do SUS deveria ser feito no sentido ascendente, do nível local para o federal, através da auscultação de órgãos deliberativos especificamente criados para essa função. A saúde emergiu, assim, como uma questão de cidadania e a participação política dos cidadãos na definição das políticas de saúde e no controlo da sua implemen‐
tação como condição para a sua concretização (Guizardi e Pinheiro, 2006). Os Conselhos Municipais de Saúde Os Conselhos de Saúde foram criados, juntamente com as Conferências de Saúde, através da Lei n.º 8.142 (1990). Esta lei trata “da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos finan‐
ceiros na área da saúde” e criou, em cada esfera de governo, e sem prejuízo das fun‐
ções do poder legislativo, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A representação dos usuários tanto nos Conselhos como nas Conferências, seria paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Deste modo, a sua arquitectura institucional caracteriza‐se por uma composição paritária entre representantes dos usuários (50%) e representantes dos órgãos institucionais e trabalhadores (25% cada). No caso do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, este é composto por 36 membros, dos quais 18 são representantes dos usuários, 9 representantes dos trabalhadores de saúde do SUS de Belo Hori‐
zonte e 9 representantes dos prestadores de serviços públicos e privados de saúde. A distribuição dos lugares de representação dos usuários no seu interior surge organizada em duas lógicas de inclusão distintas, uma primeira territorial e ligada à organização espacial do próprio SUS no território do Município de Belo Horizonte, e uma outra ligada a grupos de risco e a associações de usuários do SUS como, por exemplo, associações de pensionistas, mulheres e portadores de doenças crónicas. Segundo a Lei n.º 8.142, os Conselhos de Saúde são de carácter permanente e, por definição, a instância deliberativa do sistema de saúde nos seus três níveis de governo – federal, estadual e municipal. Actuam na formulação de estratégias e no controlo da execução da política de saúde na sua instância correspondente, inclusivamente nos seus aspectos económicos e financeiros. As suas decisões são homologadas pelo chefe do poder constituído na respectiva esfera de poder. A importância dos Conselhos Municipais de Saúde no SUS está patente no facto de ser por intermédio destes que os municípios são dotados dos recursos federais e estaduais destinados à saúde. O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no seu conjunto, é consti‐
tuído por uma multiplicidade de órgãos com atribuições e níveis de actuação dis‐
tintos. É constituído, num primeiro plano mais restrito, pelo Plenário (a instância deliberativa), a Mesa Directora (composta por dois usuários, um trabalhador e um representante dos prestadores de serviços), a Secretaria Executiva (com compe‐
tências de assessoria administrativa), as várias Câmaras Técnicas (com competên‐
cias de assessoria em relação a várias áreas temáticas), os vários Conselhos Distri‐
tais de Saúde e as Comissões Locais de Saúde instaladas em cada unidade de saúde. Num plano mais alargado e informal (dependendo da organização dos O Controlo Social e a Experiência dos Conselhos de Saúde 111 vários segmentos da sociedade civil), o Conselho é constituído pelo conjunto das Plenárias – sendo as de usuários e de trabalhadores as que mais se destacam. Ainda segundo a Lei n.º 8.142, as Conferências de Saúde, que reúnem perio‐
dicamente de 4 em 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais, fica‐
ram incumbidas da avaliação da situação da saúde e da tarefa de propor as direc‐
trizes para a formulação da política de saúde nos níveis de governação corres‐
pondentes. A organização das Conferências ocorre no sentido ascendente, com a realização de conferências distritais, municipais, estaduais e, finalmente, federais de modo a incorporar no estabelecimento dos parâmetros para a saúde os saberes, as necessidades e as expectativas territoriais da população no sentido micro‐macro. Se, por um lado, as Conferências de Saúde são responsáveis pelo estabele‐
cimento das metas e dos parâmetros de interesse público mediante as quais se deve reger o governo da saúde, os Conselhos de Saúde são responsáveis pelo con‐
trolo e fiscalização das acções políticas de governação à luz dos parâmetros defi‐
nidos pelas Conferências. Território enquanto espaço de cidadania A criação de um sistema público de saúde descentralizado capaz de propor‐
cionar condições de implementação de políticas mais democráticas, igualitárias, transparentes e orientadas para um esbatimento das desigualdades locais, regionais e estaduais no acesso da população à saúde, aparece, assim, vinculado à institu‐
cionalização destes espaços em todos os níveis e etapas de implementação das polí‐
ticas de saúde. A forte dimensão territorial destes espaços e o carácter descen‐
tralizado dos processos de tomada de decisão indicam a sua percepção enquanto estruturas institucionais mediadoras da construção do território enquanto espaço de cidadania (Santos, 2007). Essa construção deve ser entendida como um processo onde a existência ou não de infra‐estruturas (educação, saúde, transportes, etc.) e a possibilidade de acesso das populações desempenham um papel importante: A possibilidade de um indivíduo ser, em maior ou menor grau, cidadão, depende largamente da sua localização no território. Enquanto um dado local aparece enquanto condição de pobreza, outro local, pode, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso a bens e serviços disponí‐
veis, em teoria, para todos, mas que na verdade são inacessíveis para muitos. (Santos, 2007: 107). Neste contexto, a cidadania emerge como sendo o resultado da mediação de múltiplas entidades. A definição do grau em que cada indivíduo é realmente um cidadão deve ser entendido pelas condições de possibilidade que lhe são dadas para levar a cabo com dignidade o seu projecto de vida (Nunes et al., 2009). Controlo social, Estado e sociedade civil: um novo modelo de governação A actuação dos Conselhos de Saúde enquanto sistemas de accountability é designada pelos diversos actores intervenientes como o “controlo social” que é exercido pela sociedade civil através da sua participação na definição, problema‐
tização e avaliação das políticas públicas de saúde promovidas pelo Estado. 112 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos [O controlo social] foi uma conquista da sociedade civil brasileira, devendo ser entendido como um instrumento de democracia. Tem como pressupostos básicos o desenvolvimento da cidadania, a construção de espaços democráticos, beneficiar o conjunto da sociedade e ter actuação permanente. Democratizar o Estado implica reconhecer que na nossa sociedade exis‐
tem interesses diferentes e contraditórios. Este reconhecimento mate‐
rializa‐se na constituição de canais e/ou mecanismos/instrumentos que facilitam a expressão dessas múltiplas demandas e em espaços para a negociação de alternativas de acção e soluções que as levem em consi‐
deração. (ConSaúde, n.º 1: 7) Assim, a designação de controlo social reclama, em primeiro lugar, o reconhe‐
cimento da existência de diferentes e conflituais interesses na sociedade; em segundo lugar, a criação de “canais” e espaços que possibilitem que a expressão e a confrontação desses interesses; e, em terceiro lugar, que esses diferentes inte‐
resses se engajem num exercício de negociação ou de composição de soluções adequadas aos problemas trazidos para o debate público. Ainda que a definição de “controlo social” nomeie o eixo Estado/sociedade civil, os moldes como um e outro são concebidos sugere a emergência de con‐
cepções distintas das comummente representadas. Neste sentido, é exigida uma problematização do que é Estado e do que é sociedade civil, por oposição a uma concepção dicotómica de tradição liberal que opõe o Estado à sociedade civil. Tal decorre da emergência de novas configurações ancoradas em novas dinâmicas relacionais entre a sociedade, nos seus diferentes segmentos organizados, o seu território e as estruturas institucionais de poder que tradicionalmente a governam. Estas configurações revelam que, ao invés de concepções estanques e bem deli‐
neadas de Estado e de sociedade civil, estamos perante uma heterogeneidade de actores e entidades – sejam movimentos de doentes, movimentos de pensionistas, sindicatos laborais na área da saúde, organizações empresariais, etc. – que se arti‐
culam de modo complexo, em distintas escalas, actuando em diferentes domínios e mobilizando interesses distintos, por vezes conflituantes. Podemos, assim, sintetizar o controlo social como um processo que assume a sociedade como protagonista, o Estado e a sua acção como o seu foco de atenção e a promoção da democracia como seu objectivo. Apesar de o Estado (e as suas acções) ser visado como objecto de controlo, a criação de espaços públicos que possibilitam à sociedade civil, diversa e conflitual, encontrar um espaço de expres‐
são, conflito e negociação coloca‐a (e aos que a protagonizam) no centro de um processo onde as acções públicas deixam de ser da exclusiva responsabilidade do Estado, passando a derivar de configurações de actores que assumem como objec‐
tivo central a promoção da democracia. Enquanto concepções mais convencionais assumem uma distinção bem deli‐
neada entre instituições públicas sujeitas a accountability e os sujeitos a quem estas devem prestar contas, a noção de controlo social obriga a que os cidadãos sejam simultaneamente fiscalizadores e fiscalizados. Em suma, uma acção anco‐
rada num controlo social permite redistribuir a responsabilidade do Estado através de novas configurações de Estado e de sociedade civil, em todos os níveis, ou seja, desde a deliberação até à avaliação das acções. Como tal, através dos Conselhos O Controlo Social e a Experiência dos Conselhos de Saúde 113 de Saúde e da concepção de controlo social enquanto mecanismo de accountabi‐
lity, parecem existir indícios que apontam para a constituição de uma nova conste‐
lação de governação nos domínios da saúde pública com a articulação dos actores formais e dos múltiplos actores oriundos da sociedade civil. Por outro lado, os Conselhos surgem como espaços de construção continuada de uma cidadania ter‐
ritorializada vinculada ao domínio da saúde pública onde a participação e o contro‐
lo social por eles operado desempenham um papel central. Os Conselhos de Saúde: um modelo eficaz? Para uma avaliação da eficácia dos Conselhos e do exercício do controlo social enquanto mecanismo de accountability deve ser tida em conta a seguinte questão: em que medida um Conselho de Saúde, enquanto espaço de participação, serve como mecanismo de mitigação das desigualdades no acesso à saúde pelos seg‐
mentos mais desfavorecidos da população? Esta questão desdobra‐se ainda em duas outras questões, ainda que intimamente interdependentes. Em primeiro lugar, em que medida é que a participação dos sectores organizados da sociedade nestes espaços de tomada de decisão é efectiva? Em segundo lugar, em que medi‐
da é que essa participação tem servido para a construção do território enquanto espaço de cidadania? Com efeito, a construção dos Conselhos de Saúde enquanto espaços de democratização da gestão da saúde só ocorrerá se o seu funcionamen‐
to quotidiano se traduzir em práticas democráticas de participação e de diálogo que permitam uma construção da saúde como dimensão central da cidadania e como projecto colectivo que vise o bem‐estar da sociedade civil no seu conjunto. Relativamente à primeira questão, está em causa compreender até que pon‐
to a inclusão de diferentes actores se traduz na sua real participação nos processos de tomada de decisão e, adicionalmente, em que medida as suas preocupações, necessidades e saberes são incorporadas e contribuem para a definição dos parâ‐
metros e dos processos de tomada de decisão em saúde. Em situações em que se assiste a uma reprodução dos contributos resultantes do domínio do saber técni‐
co‐administrativo no espaço do Conselho, assim como no desempenho das suas funções deliberativas, podemos estar perante modelos de organização que confi‐
guram processos de “dupla delegação” (Callon et al., 2001), ou seja, uma reprodu‐
ção dos processos de delegação política e cognitiva que caracterizam os mecanis‐
mos formais da democracia representativa. O princípio de “dupla delegação” traduz‐se numa separação entre leigos e especialistas e entre representação e participação. De acordo com este modelo, os cidadãos são caracterizados por um duplo défice: o défice de capacidade política (ao assumir‐se que estes são guiados por interesses privados e individuais e, como tal, dificilmente capazes de representar o interesse público, que deve ser assegu‐
rado pelos seus representantes eleitos) e de conhecimento (colocando cientistas e especialistas no papel de legítimos defensores do interesse público em matérias de decisão que envolvam dimensões técnicas). Neste modelo, que, a título de exemplo, tem vigorado nas sociedades democráticas da Europa, os cidadãos ape‐
nas são capazes de fazer opções e ter uma participação relevante em processos de tomada de decisão mediante o recurso a uma educação apropriada. O caso do Conselho Municipal por nós estudado afasta‐se desta concepção, configurando um 114 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos espaço onde são produzidas novas configurações de conhecimento e onde, para utilizar a terminologia definida por Arnstein (1969), há lugar a uma efectiva redis‐
tribuição de poder nos processos de co‐decisão que se aproxima de um processo de “parceria”. Efectivamente, no caso analisado, os cidadãos revelam‐se capazes de controlar o seu envolvimento nos procedimentos participativos (incluindo a capacidade de influenciar a distribuição de informação, a definição da agenda e das prioridades, a formulação de estratégias e programas de acção, a distribuição dos recursos financeiros, o envolvimento nas deliberações, a capacidade de gerar decisões vinculativas, etc.) e de exigir que os processos postos em prática sejam inteligíveis para aqueles que neles participam. A qualidade da participação é medida em função da real capacitação dos cida‐
dãos para desempenharem um efectivo exercício de controlo social, influindo efectivamente na definição das estratégias e programas políticos e participando da distribuição dos benefícios que deles advém. No caso concreto do Conselho Muni‐
cipal de Saúde de Belo Horizonte, e tendo em conta que as tomadas de posição do conselho são de carácter deliberativo e obrigatoriamente homologadas pelo Pre‐
feito, está igualmente implicado um nível de implementação e interferência na definição das políticas públicas de saúde: […] como é que seria esse diálogo do Conselho com o Gestor? Então, através de alguns documentos fixos, necessários. Por exemplo, e um deles é o Plano de Saúde! Sem Plano de Saúde ninguém recebe verba de investimento ou verba de custeio. Então, é uma prerrogativa. O momen‐
to do Plano, que geralmente vai por 4 anos, de 4 em 4 anos o Gestor vai chegar, dialogar com o Conselho […] através de um documento, com o que ele planeja para os próximos 4 anos. É o início de um diálogo com o controle social e o Conselho pode modificar o plano, ele revisar o plano, ele pode modificar da forma que ele queira. Mas só o Plano resolveria? Não! […]. A Conferência tira as directrizes. As directrizes tem que esta contempladas no Plano. O Plano tem de estar de acordo com as directri‐
zes que a sociedade maior decidiu. Então está no Plano. No Plano, não adianta você ter um bom Plano que está em consonância com a confe‐
rência, e mais com algumas demandas que o próprio Conselho verificou (ele é deliberativo por isso ele pode pôr também). Se não tiver dinheiro ele não sai de intenção! Então, o diálogo de se aprovar a proposta orça‐
mentária, antes de ela ir para o legislativo, e quem aprova é o legislativo. Ela tem de passar pelo Conselho de Saúde para verificar essa compatibi‐
lidade, essa possibilidade, entre aquilo que está proposto no Plano e aquilo que você tem na questão de dinheiro, do orçamento do próprio município! Outro momento importante de diálogo documental do Gestor como Conselho é o relatório de gestão anual. Então, você planejou, você tem dinheiro, mas, e depois de um ano, executou o quê? Você queria reduzir a mortalidade infantil de 18 por mil para 16 por mil, você não conseguiu ou você até conseguiu para 15 por mil. O Gestor tem de falar para o Conselho porque é que ele conseguiu mais, por que é que ele conseguiu menos, o que é que impediu, se foi falta de recursos huma‐
nos, ou outra coisa. Ele tem de ter esse diálogo franco, essa autocrítica, porque na realidade, sem esse instrumentos, sem o relatório de gestão, sem o relatório financeiro, sem o plano de saúde, sem o orçamento, e se isso não tiver uma coerência entre si. Sem isso não tem um diálogo claro O Controlo Social e a Experiência dos Conselhos de Saúde 115 com o Conselho. […]. Mas sem esse diálogo e sem essa coerência entre os documentos, o processo de gestão fica pequeno. E um dos problemas que a gente nota hoje, é que a relação do Conselho com o Gestor não é apenas fiscalizar se gastou ou não! Isso é importante? É! Agora, é o poder de planejamento e de execução que os gestores têm que ter no processo. Então o Conselho tem que estar de olho: está tudo certinho? Está tudo documentado? Quer dizer, se ele aprovar todas essas peças, o dinheiro vem da reserva federal e vem da esfera estadual! Mas só isso é importante para o conselho? Para decidir o processo? A coerência, o resultado, e no final, você fala: não, realmente, investiram tantos milhões, e você conseguiu ter como resultado uma melhoria da qualida‐
de de vida da população! Porque a saúde é vista pela qualidade. Não queremos saber se aumento ou não o nº de internações. Aumentou? Aumentou. Precisou? Precisou. Mas e isso é importante? A pergunta que a gente tem de fazer com a reforma sanitária é: melhorou a qualidade de vida da população? Ou piorou? Se está tendo mais internações você pode dizer: ah, então melhorou o sistema de saúde! Mas não é isso que nós queremos! Nós queremos a inversão do modelo, queremos um modelo mais preventivo e menos curativo, isso é a finalidade geral de um bom planejamento e o que o SUS necessita! (Entrevista2: 650‐704) Deste modo, o poder deliberativo e fiscalizador investido no Conselho Muni‐
cipal de Saúde de Belo Horizonte, em articulação com o papel desempenhado pela Conferencia de Saúde, exercem uma real interferência na definição e redefinição das políticas municipais de saúde. Recorrendo novamente à tipologia de Arnstein (1969) – traduzida numa ‘escada da participação’ cujos degraus são: Manipulação, Terapia, Informação, Consulta, Pacificação, Parceria, Delegação de Poderes e Con‐
trolo dos Cidadãos – a acção do Conselho parece aspirar a um pleno controlo dos cidadãos no domínio das políticas públicas de saúde. No entanto, a análise da sua eficácia enquanto mecanismo dialogista de prestação de contas revela também proximidade com o ‘degrau’ correspondente à delegação de poderes. Os poderes atribuídos ao Conselho, assim como o facto de ser necessário o seu aval para a aprovação do Plano Municipal de Saúde e para a aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde, garante uma mais valia negocial com os gestores públicos e privados da saúde que permite que os usuários detenham algum poder no proces‐
so de tomada de decisões no âmbito da definição estratégica das políticas públicas de saúde. Podemos, assim, considerar que o Conselho de Saúde de Belo Horizonte possui um já elevado nível de eficácia no quadro do que podemos denominar de mecanismos participativos de accountability. Regressemos agora à questão da eficácia da actuação dos Conselhos de Saú‐
de: em que medida essa participação tem servido para a construção do território enquanto espaço de cidadania? Em que medida promove efectivamente o acesso à saúde pelos segmentos mais desfavorecidos da população? O trabalho realizado pelo Conselho tem ajudado a expandir a rede pública de saúde para zonas pro‐
blemáticas em termos sociais e marcadas por claras insuficiências na área da saú‐
de, como a inexistência de infra‐estruturas capazes de dar respostas às necessida‐
des da população e, consequentemente, a existência de graves défices nos serviços básicos de prestação de cuidados de saúde: 116 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos […] nós conseguimos junto ao Conselho a gestão, porque eu bato de frente com a gestão, da Centro‐Sul, conseguimos esses centros de saúde nos piores locais que são as vilas que médico nenhum, gestor nenhum quer ir lá em cima na vila, mas conseguimos. (Entrevista1, 1194‐1205) Com um forte vínculo local às comunidades e com um conhecimento pro‐
fundo da sua realidade quotidiana, a acção do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte tem obtido resultados francamente positivos na consolidação da rede pública de cuidados médicos através da sua extensão para zonas marginaliza‐
das e, em maior ou menor grau, ignoradas pelas estruturas políticas e técnico‐
‐administrativas. Num país como o Brasil, com debilidades na expansão da rede de saúde pública e dificuldades em termos do seu funcionamento, é nos municípios como o de Belo Horizonte, onde a actuação dos Conselhos de Saúde e a participa‐
ção da sociedade organizada na definição das políticas públicas de saúde é real‐
mente efectiva, que se encontram os melhores resultados em termos de indica‐
dores de saúde. Por outro lado, as associações no domínio da saúde, através da sua participa‐
ção nos Conselhos de Saúde, desempenham ainda um papel preponderante em outras áreas como, por exemplo, no assegurar da distribuição de medicamentos a doentes crónicos que não têm possibilidade de os adquirir no mercado: A nossa associação tem um convénio com o município aonde os nossos pacientes de Belo Horizonte recebem, no caso, não só a medicação pelo SUS que é o gama‐interferon e a imunoglobulina, mais os antibióticos, os remédios do dia a dia. Então nós recebemos. E temos um convénio com o Estado, a secretaria estadual também fornece para os pacientes do interior, e isso a gente tem um formulário que encaminha tudo direiti‐
nho. E isto tudo quem faz é a associação. Então é este o nosso programa. (Entrevista1, 1245‐1251) A actuação das associações de doentes e usuários através do Conselho de Saúde de Belo Horizonte na obtenção de serviços e de bens tem sido fulcral para garantir o tratamento de uma franja da população estigmatizada e sem acesso ao mercado para adquirir os tratamentos necessários. As associações actuam ainda na melhoria das condições de acesso da popu‐
lação aos serviços de saúde como, por exemplo, no encaminhamento de doentes com doenças raras para os serviços apropriados e o seu acompanhamento nos tra‐
tamentos específicos: Agora temos uma coisa no Brasil hoje, principalmente em Minas Gerais que está dando muito certo, é o Tele Saúde. O Tele Saúde nós estamos interligados com outras cidades daqui, outros países da Europa, e mes‐
mo lá dentro. Se um doente hoje vai num centro de saúde, o caso dele não é para a atenção básica, é uma doença mais grave, aquele médico discute com a universidade ou até lá fora, então isto ajuda bastante, tan‐
to os pacientes grave como as associações. Então hoje, no meu caso que sou representante da [Associação de doentes com] Imunodeficiência Primária, se eu tenho um paciente da Regional Venda Nova que é uma Regional mais carente, lá na atenção básica, uma criança recém‐nascida com 2, 3 meses, está tendo muita infecção, não está se desenvolvendo, O Controlo Social e a Experiência dos Conselhos de Saúde 117 se suspeita da Imunodeficiência Primária. Aí o pediatra entra em contac‐
to pelo Tele Saúde com o nosso serviço. E aí a gente se discute e enca‐
minha a criança para a gente. Aí é feito os exames e se realmente for diagnosticado a Imunodeficiência agente acompanha, se não, devolve, ou então no caso da fibrocística ou de outras doenças mais graves, encaminha para o próprio serviço ali dentro. (Entrevista1, 1227‐1240) Deste modo, é através da mediação das associações que o Estado e o Muni‐
cípio vêem asseguradas muitas das suas responsabilidades no que respeita à iden‐
tificação da população doente e ao seu acompanhamento quotidiano, garantindo o acesso a medicamentos e aos respectivos tratamentos. Apesar das premissas fundamentais de constituição do SUS – igualdade e uni‐
versalidade no acesso à saúde – e da responsabilidade imputada ao Estado pela Constituição Brasileira em fazer cumprir estas premissas, a realidade brasileira revela graves carências e inúmeras deficiências na rede de saúde pública e as difi‐
culdades do Estado e de muitos dos Municípios em corrigir essa situação. Deste modo, as associações têm vindo a assumir um papel activo na busca de soluções para alguns dos problemas que mais se destacam junto das populações mais des‐
favorecidas. Os Conselhos de Saúde têm sido um importante mecanismo de capa‐
citação para as associações de usuários e demais movimentos organizados actua‐
rem no domínio da saúde. O papel desempenhado por elas é potenciado pela sua ligação formal aos Conselhos, ao funcionarem, por um lado, como pontes de aces‐
so à informação relativa às políticas de saúde e, por outro, como plataformas de intervenção política de defesa dos direitos, interesses e necessidades daqueles que representam. Tal têm‐lhes permitido desenvolver acções concertadas e capa‐
zes de transformar positivamente a realidade da saúde em diferentes níveis terri‐
toriais. A actuação dos Conselhos de Saúde na gestão local da saúde, articulada com as restantes actividades em que se encontram envolvidos, tem revelado o seu papel central enquanto agentes positivos de transformação social no respeitante à melhoria efectiva das condições de acesso à saúde das comunidades locais. Dificuldades e desafios futuros Apesar das dificuldades encontradas na constituição e funcionamento dos Conselhos de Saúde, especialmente em pequenos municípios, eles têm‐se reve‐
lado como um recurso central para garantir a realização do preceito constitucional da saúde como direito de todos e obrigação do Estado. Em termos gerais, tem sido reconhecido que a participação da sociedade civil, através do Conselhos Munici‐
pais de Saúde nas políticas públicas de saúde, tem contribuído para uma melhoria efectiva da qualidade dos serviços públicos locais, havendo um efeito de redistri‐
buição dos benefícios gerados por tais políticas e uma redução dos desiguais níveis de acesso à saúde. A capacidade de organização, fundamentalmente a nível local, da sociedade civil – na figura de associações e movimentos sociais – desempenha um papel fulcral para o eficaz funcionamento dos conselhos de políticas para a sua consolidação no sentido da redistribuição de benefícios e para a mitigação das desigualdades. 118 João Arriscado Nunes, Daniel Neves, Marisa Matias, Ana Raquel Matos Daqui ressalta que, apesar deste esforço de dar voz aos distintos grupos da sociedade civil, a concepção da sociedade civil que aqui emerge como sendo cons‐
tituída por uma heterogeneidade de entidades organizadas, juntamente com os mecanismos de representatividade criados pelos Conselhos de Saúde parecem conduzir à exclusão de todo um conjunto de grupos sem capacidade de organiza‐
ção – e dos quais destacamos as populações mais vulneráveis das favelas e as populações indígenas. A capacidade de organização e de reivindicação surge como essencial para o seu reconhecimento enquanto actores políticos e, deste modo, para a sua inclusão no espaço de participação dos Conselhos de Saúde. Este é aliás um dos mais sérios desafios à ampliação da democracia sanitária no Brasil e à defesa da máxima “A saúde é direito de todos e dever do Estado” embutida no projecto de construção do SUS. Referências bibliográficas ARNSTEIN, Sherry R. (1969), “A ladder of Citizen Participation”, JAIP, 35: 216‐224. AROUCA, Sérgio (1986), “Democracia é saúde”, in Anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1987, pp. 35‐42. CALLON, Michel; LASCOUMES, Pierre; BARTHE, Yannick (2001), Agir dans un Monde Incer‐
tain: essai sur la démocratie technique, Paris: Seuil. GUIZARDI, Francini L.; PINHEIRO, Roseni (2006), “Dilemas culturais, sociais e políticos da participação dos movimentos sociais nos Conselhos de Saúde”, Ciência & Saúde Colectiva, 11 (3): 797‐805. NUNES, João Arriscado; MATIAS, Marisa; MATOS, Ana Raquel; NEVES, Daniel (2007), New Accountability Systems: experimental initiatives and inequalities in public policy and health policy domains capacity building, Relatório de Investigação. Coim‐
bra: CES NUNES, João Arriscado; MATIAS, Marisa; MATOS, Ana Raquel; NEVES, Daniel (2009), New Accountability Systems: Policy Report, Relatório de investigação. Coimbra: CES. SANTOS, Milton (2007), O Espaço do Cidadão, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. VAN STRALEN, Cornelis (2005), “Gestão participativa de políticas públicas: O caso dos Conselhos de Saúde”, Psicologia Política, 5 (10): 313‐344. OS NOVOS ACTORES COLECTIVOS NO CAMPO DA SAÚDE: O PAPEL DAS FAMÍLIAS NAS ASSOCIAÇÕES DE DOENTES João Arriscado Nunes, Ângela Marques Filipe, Marisa Matias Introdução Ao longo dos últimos anos tem sido dada importância crescente à análise de movimentos que têm emergido, sobretudo nos países europeus, no domínio da saúde. Genericamente definidos como movimentos sociais em saúde (Epstein, 1996; Rabeharisoa, 2006; Callon et al., 2001; Escobar, 2003; Brown e Zavestoski, 2005), estes movimentos podem assumir diferentes formas mais ou menos insti‐
tucionalizadas: desde as organizações de saúde e associações de doentes, a formas de activismo terapêutico, a movimentos de utentes dos serviços de saúde, movi‐
mentos pela justiça ambiental, colectivos emergentes associados a ameaças à saú‐
de pública, iniciativas para a promoção e defesa do direito à saúde e seus serviços. Ainda neste domínio, a própria mobilização colectiva provou ser uma forma de trazer enquadramentos alternativos para os problemas no espaço público, abrindo novos lugares de controvérsia (Nunes, Filipe e Matias, 2006). Neste texto procuramos reflectir sobre uma forma particular de movimentos neste domínio, as associações de doentes, tendo como contexto de análise privile‐
giado a sociedade portuguesa. Para tal, recorremos a parte dos resultados de traba‐
lho realizado no âmbito de um projecto europeu (Governance, Health and Medicine: Opening Dialogue between Social Scientists and Users, MEDUSE). Ao procurar anali‐
sar esta diversidade de características, actividades e transformações associadas a este fenómeno, a nossa investigação centrou‐se em três eixos principais: a) as rela‐
ções das associações com os profissionais de saúde e o envolvimento em práticas de investigação; b) o seu papel social e político; c) as formas de internacionalização, sobretudo à escala europeia e a formação de redes associativas. A metodologia usada partiu dum levantamento inicial das associações de doentes existentes em Portugal com vista à construção duma base de dados, seguida duma caracterização geral desse universo complementada pelo recurso à aplicação de um questionário. Foi igualmente realizada uma vasta análise qualita‐
tiva, incluindo a revisão de literatura existente, dos documentos disponibilizados pelas associações e as informações disponíveis nas suas páginas online, e foram organizados dois grupos de discussão com os representantes das associações. Os dados recolhidos através de questionário às associações de doentes e da realiza‐
ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 119‐128. 120 João Arriscado Nunes, Ângela Marques Filipe, Marisa Matias ção de grupos de discussão permitiram‐nos, desde logo, proceder a uma caracteri‐
zação das associações de doentes em Portugal. Um dos elementos que emergiu logo desde as análises preliminares foi verifi‐
car o peso significativo da família no universo das associações de doentes em Por‐
tugal (muito relacionado com a fraca profissionalização das mesmas), assim como a afirmação da experiência familiar e da vivência da doença ou deficiência enquan‐
to aspectos centrais na constituição e actividade destas associações. É esta dimen‐
são de análise que procuraremos aprofundar ao longo deste texto.1 A emergência e consolidação das associações de doentes Ao longo das últimas décadas, têm vindo a constituir‐se, em diferentes países da Europa, da América do Norte e da América Latina, novos actores colectivos no campo das políticas de saúde. De entre esses actores colectivos destaca‐se a emer‐
gência de associações de doentes como objecto particular de interesse, na medida em que vêm a desempenhar um papel crescente na transformação do campo da saúde. A expressão “associação de doentes” é aqui utilizada num sentido mais alargado, referindo‐se não apenas a associações de doentes, como a associações de pessoas portadoras de deficiência ou outro tipo de movimentos (sociais) de saúde em torno de determinadas situações ou condições e que se constituem em organizações. As transformações no domínio da saúde passam pela abertura de novos espaços de participação para os doentes e para os que a eles prestam cuidados fora do âmbito profissional, como forma de promoção da defesa dos seus direitos e, em particular, do direito ao acesso a cuidados de saúde pelos doentes ou pes‐
soas portadoras de deficiência. As associações de doentes promovem práticas ino‐
vadoras de mediação entre os diversos actores no campo da saúde, como os pro‐
fissionais e as instituições de prestação de cuidados, os governantes e decisores políticos, as comunidades científicas e de investigação, os prestadores de cuidados não convencionais e a indústria farmacêutica (Rabeharisoa, 2003; 2006; Rabeharisoa e Callou, 2002; Barbot, 2002; Gaudillière, 2002; Dodier, 2003). A promoção e organização de plataformas e de federações de associações e de coligações entre estas e outros actores, nacionais como internacionais, têm vindo a constituir uma das formas mais eficazes de ampliar a sua visibilidade e capacitação enquanto actores políticos, situação que é particularmente relevante no espaço da União Europeia. As associações têm estado ainda envolvidas em actividades tradi‐
cionalmente consideradas como a reserva dos especialistas, investigadores e profis‐
sionais de saúde, tais como a investigação biomédica. E é no seio da investigação que associações de doentes têm conseguido intervir activamente na redefinição de prioridades de investigação, na organização de ensaios clínicos, na angariação de fundos para financiamento de investigação e no processo de produção de conheci‐
mento sobre situações e condições nas quais existe escassa ou nula produção cientí‐
fica (Epstein, 1996; 2000; Rabeharisoa e Callou, 2004). No campo das doenças órfãs, das doenças degenerativas, das doenças do foro mental e das várias formas de defi‐
1 Para a análise completa realizada ao longo do projecto, ver Nunes, Filipe e Matias (2007). Os Novos Actores Colectivos no Campo da Saúde 121 ciência, as associações de doentes têm contribuído para o combate à doença e para a sua redefinição enquanto problema que é simultaneamente científico, clínico, moral, social e político, através de diversas práticas de sensibilização e difusão de informação. Precisamente neste campo, têm emergido alguns dos exemplos de pla‐
taformas mais fortes e activas no contexto europeu, de que são exemplos a EUROR‐
DIS – que teve um papel central na aprovação do Acto Europeu sobre Medicamentos – ou o European Disability Forum – cuja luta pelo reconhecimento social e pelos direitos das pessoas portadoras de deficiência foi fundamental. As associações de doentes em Portugal e o papel da família Como já foi referido, este texto procura abordar uma dimensão específica do trabalho desenvolvido, centrando‐se no papel da família no contexto das associa‐
ções de doentes em Portugal. No caso português, o peso da família na sociedade e a importância do papel da família nestas associações decorre da sua centralidade em redes sociais que procuram responder às limitações dos sistemas de segurança social estatal e de solidariedade social (Portugal, 2005; Santos, 1993). A família tem assumido, assim, uma relevância considerável no apoio a situações de doença ou de incapacidade dos seus membros, mas também no acesso ao sistema de saú‐
de e na complementaridade com este especialmente em situações a que ele não é capaz de responder. Este é o cenário geral em que muitas das associações de doentes e familiares operam, em particular, quando falamos de saúde mental ou perturbações de desenvolvimento, onde são os familiares dos doentes que tomam a iniciativa de promover formas de associativismo e mobilização colectiva. Partindo dessas características e especificidades do contexto português, foi construída uma tipologia que organiza as associações por referência ao papel que a família aí ocupa, tendo sido definidas as seguintes categorias: 1) as auto‐denomi‐
nadas associações de familiares de doentes; 2) as associações de doenças crónicas e/ou incapacitantes; 3) as associações de doenças raras, perturbações de desen‐
volvimento/mentais ou metabólicas; 4) outras associações, grupo este que inclui associações de doenças infecciosas, associações para a humanização do parto, associações que lidam com problemas de infertilidade, associações que lidam com problemas relacionados com distúrbios alimentares, entre outras. Verificámos que, tanto nas auto‐denominadas associações de familiares como nas que actuam no campo das associações de doenças órfãs, degenerativas e do foro mental ou das várias formas de deficiência, as famílias assumem um papel mui‐
to significativo. Nestas últimas, e tendo em conta que, por motivos diversos, os seus portadores têm dificuldade de se organizar no espaço público, as famílias assumem ainda um papel fundamental ao funcionarem como grupos de pressão e de sensibili‐
zação, contribuindo para o combate à doença e para a sua redefinição enquanto problema que é simultaneamente científico, clínico, moral, social e político. Partindo destas categorias, os dados recolhidos através do questionário (informação correspondente a 2006/07) mostram o peso maioritário do tipo de associações onde o papel central da família é directamente identificado, uma vez que as associações que integram os três primeiros tipos representam 61% do das associações. Essa distribuição pode ser verificada através do Gráfico 1. 122 João Arriscado Nunes, Ângela Marques Filipe, Marisa Matias Gráfico 1 tipologia das associações de doentes
(amostra)
associação de familiares
associação de doenças
19%
crónicas e/ou
39%
incapacitantes
associação de doenças
12%
raras, perturbações
desenvolvimento/mentais
30%
ou metabólicas
outras
Uma outra característica importante das associações de doentes em Portugal, e em especial daquelas onde a família é crucial, é a sua fraca profissionalização, sendo que um terço não emprega qualquer assalariado e, simultaneamente, a esmagadora maioria (cerca de 94%) assenta numa base de voluntariado. Quanto mais ampla é esta base mais dominante é a estrutura associativa onde a família é uma componente fundamental. Esta distribuição fica particularmente clara quan‐
do cruzamos o número de voluntários existente nas diferentes associações pelo tipo de associação identificada (ver Gráfico 2). Gráfico 2 voluntários por tipo de associação
100%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 90%
outras
associação de doenças raras,
perturbações desenvolvimento/
mentais ou metabólicas
associação de doenças crónicas
e/ou incapacitantes
associação de familiares
0%
menos de 10
voluntários
de 11 a 50
voluntários
número de voluntários
51 ou mais
voluntários
Os Novos Actores Colectivos no Campo da Saúde 123 A forte participação dos familiares nas associações de doentes está também patente na constituição das direcções das associações sendo que 35% são familia‐
res directos das pessoas afectadas (pais, cônjuges, irmãos, filhos). Apenas 15% das associações incluem nos seus órgãos directivos pessoas com vínculo profissional e é também relevante que quase um terço das associações (27%) inclua portadores da doença(s) em causa (ver Gráfico 3). Gráfico 3 membros da direcção face à doença ou deficiência
Portador
pai ou mãe
15%
27%
companheiro/a, irmã(o), cônjuge
filho/a
simpatizante
23% laço profissional 23%
1%
11% Não é apenas nas esferas de organização ou funcionamento das associações existentes que as famílias estão no centro da actividade das associações de doen‐
tes. Outros dados confirmam que, quando identificado o público‐alvo destas asso‐
ciações em alguns domínios centrais da sua actividade como a disseminação de informação ou o apoio e aconselhamento, a família tem um peso esmagador no domínio dos ‘destinatários’ dos serviços prestados (que vão desde o atendimento telefónico à divulgação de informação através de revistas ou newsletters), peso esse que ronda os 90%. Num outro plano de análise, mais evidenciado a partir dos resultados dos grupos de discussão, a centralidade das relações familiares na própria existência e actividade das associações de doentes veio igualmente a confirmar‐se nas nar‐
rativas de experiência da doença e daqueles que lidam com ela e com os seus por‐
tadores diariamente. Assim, foi possível constatar o papel central que a família assume nas associações de doentes através do seu envolvimento nas várias das formas de mobilização e acção acima descritas mas também, desde logo, na pró‐
pria fundação e constituição destes novos actores colectivos que são as associa‐
ções de doentes. Esta dimensão é particularmente relevante no contexto das associações de familiares que procuram responder aos problemas, limitações e ansiedades com que se deparam os portadores ao lidar com certas doenças ou condições. Fazem claramente parte dessa dinâmica as associações onde a família está presente num contexto de doença crónica ou incapacitante, em que o estado de fragilidade e vulnerabilidade dos familiares é contínuo, prolongado e até acen‐
tuado no tempo. Nestes casos, há igualmente outras implicações para a estrutura 124 João Arriscado Nunes, Ângela Marques Filipe, Marisa Matias familiar, por exemplo no plano dos rendimentos familiares, sobretudo nos casos que envolvem cuidados paliativos continuados. Já no domínio das doenças órfãs e raras, a família surge como o actor central de prestação de apoio ao doente, muitas vezes transformando aquilo que são experiências pessoais de vida e de perda em acção colectiva pelo reconhecimento e institucionalização da doença ou pelo acesso a medicamentos órfãos. Nestes casos, as associações tornam‐se nos principais actores de provisão e disseminação de informação, bem como um promotor das acções de sensibilização pública. Além disso, procuram desenvolver formas de cuidado especializado ou direccio‐
nado a uma população, muitas vezes negligenciada, alargando ao mesmo tempo o reconhecimento da dignidade e da igualdade desses cidadãos. No caso das doen‐
ças raras e, mais especificamente, onde não há terapias efectivas disponíveis, o que faz com que os doentes sigam uma trajectória de degenerescência que acaba, muitas vezes, numa morte prematura, as associações assumem a tarefa de tradu‐
zir essa perda pessoal em mobilização e acção colectivas: Quando [o filho mais novo] começou a ir para a escola, tinha o João mais dois anos e frequentava o ensino especial, uma vez pediu para nós o irmos buscar: “mãe vem‐me buscar, leva o mano e vem‐me buscar” e nós fomos buscá‐lo à escola, na primeira classe, onde os outros miúdos se aperceberam que ele tinha irmão diferente […]. Então começámos por fazer sessões de esclarecimento aos meninos da primária do que era a síndrome da qual padecia o João […]. Nós vamos lançar a partir de Abril uma mega‐campanha em todos os meios de comunicação […] para isto das doenças raras […] lan‐
çar um projecto que é pioneiro no mundo […] por homenagem ao João, porque ele um dia achou que não tinha uma escola onde tivesse uma peda‐
gogia diferenciada, especializada para a sua doença, então um dia disse: “faz‐me uma escola”. (representante de associação de doenças raras, 12 Março de 2007). Na sua maioria estas doenças têm uma origem genética, pelo que a transmis‐
são da doença de pais para filhos coloca de imediato a família como o meio onde teve origem o problema/patologia, ao mesmo tempo que concentra as responsa‐
bilidades e as implicações de um cuidado continuado e atenção ao familiar doente. Assim, a família está no centro tanto das causas como dos efeitos de certas doen‐
ças e da sua gestão, podendo, como já foi referido, ter um papel de difusão de informação ou criação de novos conhecimentos sobre a doença através da partilha de experiências e de histórias de vida e de família: E realmente esta população [doentes com hemoglobinopatias] encontra‐se com um problema gravíssimo que é: são pais de crianças doentes que não conseguem ter um projecto de vida dito normal porque têm imensas limita‐
ções. Não conseguem ter uma profissão porque se o filho está doente eles têm que deixar o emprego porque o nosso país infelizmente ainda não tem uma legislação que apoie estas situações, não é? Porque se a criança fica doente, o pai muitas vezes não pode ficar com ela o tempo que é necessário. E agora imaginem isto em populações imigrantes… (representante de asso‐
ciação de familiares de doentes, 12 Março de 2007). Os Novos Actores Colectivos no Campo da Saúde 125 Este é também o caso de algumas doenças neurodegenerativas. Aqui, e de maneira especialmente vincada, a autonomia e agência do indivíduo são limitadas e exige‐se à família um nível e intensidade de cuidados que transformam os fami‐
liares em prestadores de cuidados, independentemente da idade da pessoa afec‐
tada pela doença. Nós continuamos, realmente, no âmbito da saúde a ter uma problemática imensa e um longo caminho a percorrer […]. E é claro que no autismo, quem é que os representa? Os familiares. Os familiares […], com a doença mental, também estão saturados, estão deprimidos, estão sobrecarregados. […] Mas consegui que na área da saúde, o plano de acção social viesse com algumas, vamos dizer, medidas mínimas que me vêm satisfazer e que vão desde eu ter, no ramo da saúde, médicos, psiquiatras, neurologistas a quem eu possa recorrer e saber: este médico, este clínico que aqui está, é bom para tratar o meu filho com autismo. Não é andar por aí por fora a correr um e outro e as pessoas telefonarem: “eu tenho o meu filho com este e este problema, já toma uma medicação já não sei há quantos anos, não sei se está a funcionar, não sei se não está a funcionar”. (representante de associação de pertur‐
bações do desenvolvimento e doenças mentais, 19 Fevereiro de 2007). Muitas dessas patologias, como outras ligadas a perturbações do desenvolvi‐
mento ou ainda as doenças mentais, têm uma forte incidência nas pessoas mais jovens, assumindo os pais ou irmãos um papel fundamental na prestação de cui‐
dados. Quando se trata de uma forma de deficiência ou de uma doença do foro mental, emergem também questões importantes sobre os problemas enfrentados em termos de discriminação e da necessidade de (re)integração social e/ou ocupa‐
cional. Neste caso, o papel da família reside numa luta específica pelo reconheci‐
mento da diferença e de direitos da pessoa portadora de deficiência que posterior‐
mente terão implicações na integração socioprofissional desta, na melhoria da sua qualidade de vida e na aquisição de uma maior autonomia. Neste contexto, a mobilização dos familiares no seio duma associação de doentes marca de maneira muito forte a identidade desta e, ao mesmo tempo, qualifica de um novo modo os familiares, enquanto prestadores de cuidados e de porta‐vozes. O papel social [da associação] acho que é importante e acho que é reconhe‐
cido, principalmente, porque temos tentado fazer um trabalho em rede. Nos sítios onde nos encontramos procuramos os centros de saúde, os hospitais, as juntas de freguesia e procuramos conhecer todas as respostas que exis‐
tem na comunidade e estabelecer uma rede e uma boa articulação entre as várias respostas que existem. Além disso a associação, em si, dispõe de vários técnicos tanto na área do serviço social como da psicologia como da terapia ocupacional e imediatamente nós tivemos uma resposta social, den‐
tro das nossas capacidades, satisfatória Para além disso, transmitimos muita informação a quem procura. (representante de associação de famíliares de doentes, 19 Março de 2007). Por último, vale a pena referir explicitamente algumas associações que lidam com um conjunto de doenças que, não envolvendo directamente os familiares dos doentes como prestadores de cuidados ou porta‐vozes, podem ter implicações directas e indirectas para a família, como acontece no caso de doenças transmis‐
126 João Arriscado Nunes, Ângela Marques Filipe, Marisa Matias síveis e infecciosas, em que os familiares das pessoas infectadas constituem, muitas vezes, o primeiro círculo de risco de contágio. Por outro lado, nestes casos, a família poderá assumir uma posição de rejeição ou de abandono da pessoa doente, espe‐
cialmente quando a patologia em questão é associada publicamente a formas de discriminação e a imagens de degradação física, uma situação extensiva aos familia‐
res contagiados. O papel da família pode assim assumir alguma ambiguidade, podendo os familiares das pessoas doentes funcionar como promotores de acção pública, nomeadamente no campo da prevenção, das campanhas de sensibilização e rastreio, mas também tornar‐se agentes de discriminação das pessoas doentes: É assim, eu na minha casa tive Hepatite C … nós pensamos todos no doente ‘infectado’ e ninguém pensa no ‘afectado’ que às vezes fica pior do que o doente. Nas hepatites se houver 150 mil infectados, há 300 mil afectados, no mínimo. Cada doente tem o marido e o filho, ou a mulher e o filho, são afec‐
tados. […] A minha filha – eu tive a doença dentro de casa – ela não admite sequer ouvir falar em Hepatite C. Ela tudo o que seja Hepatite C, ela foge. E já sofri suficientemente em relação a isso. […] Porque ela tinha 14 anos na altura em que se descobriu, o pai começou o tratamento e perdeu as amigas todas. Porque o doente em tratamento de hepatite C muitas vezes torna‐se violento. (representante de associação ligada a doença infecciosa, 12 Março de 2007). Num outro plano de intervenção, algumas outras associações estão ligadas a problemas que têm a ver com a própria constituição de famílias. É o caso das que lidam com problemas de fertilidade ou com a desumanização do parto. Embora de forma distinta, em ambas as situações manifesta‐se uma preocupação com o aces‐
so a cuidados de saúde humanizados e com a importância de redes sociais de apoio. Nesta situação, o motor da criação de associações será a percepção ou a experiência de uma desadequação da prestação de cuidados de saúde ou da informação tradicionalmente fornecida no meio médico e profissional. Ao nível do nosso papel social é dos nossos objectivos dar apoio psicológico às pessoas, ao doente infértil. Elaborámos já um folheto e temos em revisão científica […] um guia e um manual com informação sobre infertilidade. Por‐
que temos vindo a constatar pelas pessoas que nos contactam que há muita falta de informação nesta área. Os casais quando se deparam com o pro‐
blema da infertilidade e quando recorrem aos serviços médicos mais especí‐
ficos das consultas de infertilidade, nem sempre há oportunidade de lhes explicar concretamente qual é a abrangência do seu problema, quais as suas possibilidades. […] Pretendemos também, a longo prazo, melhorar a huma‐
nização e o acesso aos cuidados de saúde públicos, porque de facto depa‐
ramo‐nos com longas listas de espera, quer para as primeiras consultas, como propriamente para os tratamentos, e depois há muitos casais que conseguem entrar numa consulta externa hospitalar e depois não têm dinheiro para fazer tratamento. […] é uma associação que tem por fim […] tentar orientar as pessoas e no fundo, fazendo já a ponte para o nosso papel político, conseguir junto dos nossos governantes que alguma coisa mude em termos de apoios aos casais inférteis. (representante de associação de pro‐
blemas de fertilidade, 19 Março de 2007) Os Novos Actores Colectivos no Campo da Saúde 127 Considerações finais Como vimos, no universo das associações de doentes é muito significativo o peso da família. Esse peso tem a ver, por um lado, com a importância do volun‐
tariado nas estruturas, órgãos e actividades das associações, que é, por sua vez, o reverso da fraca profissionalização destas. Por outro lado, a experiência familiar e a vivência da doença ou deficiência são aspectos centrais na constituição e activi‐
dade destas associações. Tratando‐se de um universo muito heterogéneo e susceptível de ser descrito, dividido e classificado de diferentes maneiras, qualquer tentativa de construção de uma tipologia é condicionada pelos objectivos de quem a elabora. Neste caso, procurámos elucidar os diferentes modos de envolvimento de familiares das pes‐
soas doentes ou portadoras de deficiência na constituição e actividades das asso‐
ciações. A tipologia que propusemos decorre deste propósito de inventariar e explorar esses modos de envolvimento e as suas implicações nas características das associações. Como mostrou a análise dos grupos de discussão, o envolvimento da família é transversal a todos os tipos de associações independentemente de estas se auto‐definirem como associações de familiares e/ou de pais e amigos. O que varia conforme os tipos de patologias ou formas de deficiência e as suas impli‐
cações sociais é o modo de envolvimento dos familiares, que vai desde a prestação de cuidados, passando pela condição de porta‐vozes dos doentes ou portadores de deficiência, ou até mesmo co‐afectados pela doença. Como tem acontecido noutros países, e com todas as especificidades que revelam no contexto da sociedade portuguesa, as associações de doentes estão a emergir no campo da saúde como novos actores colectivos com uma visibilidade pública crescente, embora com uma capacidade ainda limitada de influenciar as políticas públicas e de saúde em Portugal. Este cenário deve‐se ao facto que uma proporção significativa das associações de doentes em Portugal está num primeiro estádio organizacional associado à sua recente criação, à sua limitação de recursos humanos e financeiros e fraca profissionalização. Como referido, aqui emerge a proeminência do trabalho voluntário e da participação dos familiares dos doentes nas associações desde a sua constituição, à sua liderança no desenvolvimento das suas actividades e missões. Esta característica dominante tem por seu lado a ver com as trajectórias históricas particulares no domínio na saúde em Portugal bem como no seu cenário associativo mais lato. Directamente relacionado com estes aspectos está o facto das associações de doentes portuguesas ainda terem um papel e legitimidade limitados ao nível social e político. Eles são actores emergentes e cada vez mais relevantes nos campos da promoção e educação para a saúde, prevenção de doenças e provisão/dissemi‐
nação de informação. Os tipos de informação providenciados vão desde o foro médico ao aconselhamento jurídico e psicológico. Assim, como outras associações estrangeiras, as associações de doentes em Portugal partilham o objectivo, por um lado, de lutar contra a doença e, por outro lado, lutar contra a discriminação que ela causa ou, inversamente, pelo reconhecimento duma certa condição ou proble‐
ma. Outra tendência igualmente visível no cenário nacional é o papel emergente das associações como mediadores entre diferentes actores no domínio da saúde (privados, públicos, políticos, médicos, económicos, entre outros). Nesse sentido 128 João Arriscado Nunes, Ângela Marques Filipe, Marisa Matias algumas das associações estão a tornar‐se também mediadores enquanto tradução entre os discursos sociais e científicos e entre eles e outros actores, inclusivamente introduzindo questões na política como no caso da diabetes e da infertilidade. Estes dados e a investigação comparativa realizada no projecto que serviu de base a esta análise sugerem um papel central que as associações de doentes pode‐
rão vir a desempenhar no futuro. Neste processo, e nas condições específicas de Portugal, é de prever que as famílias de doentes e portadores de deficiência pas‐
sem por uma redefinição e, talvez, por uma ampliação do seu protagonismo no domínio da saúde e da prestação de cuidados. Referências bibliográficas BARBOT, J. (2002), Les Malades en Mouvements: la médecine et la science à l’épreuve du sida, Paris, Balland. BROWN, P.; ZAVESTOSKI, S. (eds.) (2005), Social Movements in Health, London, Black‐
well. CALLON, M.; LASCOUMES, P.; BARTHE, Y. (2001), Agir dans un Monde Incertain: essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil. DODIER, N. (2003), Les Leçons Politiques de l’Épidémie du Sida, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. EPSTEIN, S. (2000), “Democracy, expertise and AIDS treatment activism”, in D. L. Klein‐
man (ed.), Science, Technology and Democracy, Albany, State University of New York Press, pp. 15‐32. EPSTEIN, S. (1996), Impure Science: AIDS and the politics of knowledge, Berkeley, Uni‐
versity of California Press. ESCOBAR, A. (2003), “Actores, redes e novos produtores de conhecimento: os movi‐
mentos sociais e a transição Paradigmática nas Ciências”, in B. S. Santos (org.), Conhecimento Prudente para uma Vida Decente, Porto, Afrontamento. GAUDILLIÈRE, J.‐P. (2002), “Mettre les savoirs en débat? Expertise biomédicale et mobi‐
lisations associatives aux Etats‐Unis et en France”, Politix, vol. 15, 57: 103‐123. NUNES, J. A.; MATIAS, M. E FILIPE, A. M. (2006), Emerging modes of enacting health, MEDUSE Discussion Paper, Coimbra, CES. NUNES, J. A.; FILIPE, A. M.; MATIAS, M. (2007), The Dynamics of Patient Organizations in European Area: the case of Portugal, Coimbra, CES. PORTUGAL, S. (2005), “«Quem tem amigos tem saúde»: o papel das redes sociais no acesso aos cuidados de saúde”, Oficina do CES, 235. RABEHARISOA, V. (2003), “The struggle against neuromuscular diseases in France and the emergence of the partnership model of patient organisation”, Social Science & Medicine, vol. 57, 11: 2127‐2136. RABEHARISOA, V. (2006), “From representation to mediation: the shaping of collective mobilization on muscular dystrophy in France”, Social Science & Medicine, vol. 62, 3: 564‐576. RABEHARISOA, V.; CALLON, M. (2002), “The involvements of patients’ associations in re‐
search”, International Social Science Journal, 171: 57‐65. RABEHARISOA, V.; CALLON, M. (2004), “Patients and scientists in french muscular dys‐
trophy research”, in S. Jasanoff (ed.). States of Knowledge: the co‐production of science and social order, London, Routledge, pp. 142‐160. SANTOS, Boaventura de Sousa (1993), “O Estado, as relações salariais e o bem‐estar social na semi‐periferia: o caso português”, in Santos, Boaventura de Sousa, Portugal: um retrato singular, Porto, Afrontamento. PARTE III A MORTE E O MORRER NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS ROSTOS DA MORTE NA ERA DA TÉCNICA Ana Celeste Mendes Nada de mais natural, quotidiano e universal do que a morte. E, contudo, a morte impõe‐se como um imponderável que desen‐
coraja a razão que nenhuma linguagem consegue dominar. Louis Vincent‐Thomas Tendo em conta a ideia defendida por diversos teóricos, de que as civilizações se definem pelo modo como tratam os moribundos e os defuntos, a morte surge‐
‐nos como um indicador privilegiado de questionamento do contexto social, como um dos grandes reveladores das sociedades e das civilizações e um dos instrumen‐
tos mais importantes para o seu questionamento e a sua crítica. O Homem da antiguidade, que vivia num mundo impregnado de paganismo e de maravilhoso, detinha com a morte uma relação de proximidade que a partir daí parece ter deixado de conseguir. As mudanças, que durante séculos foram sendo graduais, conheceram, no século XX, uma grande celeridade, tendo a morte e o morrer sido revestidos de uma invisibilidade social que se tornou num dos traços mais marcantes da era moderna. Associados às mudanças operadas nas diversas estruturas sociais, os ideais que proliferam no ocidente a partir da segunda meta‐
de do século passado, afastaram o fim de vida e a morte para os bastidores da vida social. A emergência do novo ideal de felicidade que proliferou no Ocidente nas últimas décadas do século XX e a aceleração do ritmo da vida que a sociedade moderna conheceu (aceleração que não contempla interrupções, ritmo vertigino‐
so que se mostra indiferente à paragem definitiva a que a morte obriga), contribuí‐
ram para um certo silenciamento social de dimensões tão intrínsecas à existência quanto o sofrimento e a morte. Mas nos finais século XX, início do século XXI, o panorama parece ter voltado a mudar: o aparecimento de doenças de difícil ou impossível controlo que surgem ligadas à senescência e afectam um número importante de indivíduos, o aparecimento de novas doenças, as dificuldades com que a medicina se confronta no combate a doenças como o cancro, que se torna‐
ram, sobretudo, doenças crónicas, com finais de vida muito prolongados exigindo um tipo de intervenção específica (em nome das quais a medicina paliativa se desenvolveu), bem como as acções terroristas, que, com os atentados 11 de Setembro de 2001, vieram pôr em causa a aparente intocabilidade do valor da vida do homem contemporâneo e a segurança que caracterizou os ideais da vida dos ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 131‐145. 132 Ana Celeste Mendes tempos modernos. Todos estes aspectos vieram dar uma nova visibilidade e con‐
ceptualização à morte dos dias de hoje. A sensação de insegurança, a fragilidade e volatilidade da vida humana, pare‐
cem, assim, ter contribuído para o aparecimento de um nova sensibilidade face aos temas da morte e do sofrimento humanos. O número de livros publicados sobre o assunto, a proliferação de eventos de discussão sobre o tema da morte e do morrer, as diversas campanhas de sensibilização que tornam socialmente visí‐
veis doenças como cancro e a SIDA, os movimentos em torno da humanização da medicina, a psicologização das vivência do sofrimento e do luto, bem como a introdução da medicina paliativa na agenda política nacional, parecem indicar que nos encontramos numa fase de mudança no modo como o homem vive e concebe a morte. “In some circles”, escreve Tony Walter, “not least the quality media, death and our feelings about death are no longer taboo but the new radical chic” (Walter, 1994: 27). A compreensão do ambiente social dos nossos dias implica, de modo inegá‐
vel, o conhecimento daquilo que envolve as vivências e representações da morte. A morte, ou mais especificamente, a consciência da morte, constitui fundamento essencial para o sentido da vida. Se o Homem não tivesse consciência da morte, se não concebesse a ideia (ainda que inconcebível) da sua finitude, a vida – e, inexo‐
ravelmente, a vida social também – perderia muito do seu significado. Surgindo como forma de atribuir alguma ordem e sentido à força caótica que a natureza parece lançar sobre o homem, a cultura humana toma, no que se refere ao pro‐
cesso de morte e ao sentimento de perda, uma forma especial. As especificidades que o fenómeno da morte encerra, a densidade que comporta, concorrem para que a natureza e a cultura manifestem, aqui, os seus aspectos fundamentais. A abordagem do tema implica o confronto com continuidades e desconti‐
nuidades, com movimentos rápidos e movimentos lentos, com acelerações e desa‐
celerações que se encontram presentes em toda a conjuntura social e, logo, tam‐
bém, em torno das questões que dizem respeito às construções sociais e vivências da morte. À semelhança do que acontece com toda a sociedade e recorrendo à terminologia de Bourdieu, o “campo morte” da sociedade portuguesa contempo‐
rânea é constituído por mecanismos e forças contraditórias capazes, não só de revelarem que os processos sociais detêm características plurais, não homogé‐
neas, como também que se constroem a partir de tensões que se desenrolam no interior dos mecanismos que lhes dão forma. A dimensão temporal que envolve a morte é disso exemplo. Plural nos ritmos que assume e nos efeitos que produz, a vivência da morte parece comportar, hoje, duas grandes tendências temporais que manifestam cadências contrárias: o ritmo lento que se assiste na vivência do pro‐
cesso de morrer (sustentado pelas terapêuticas e procedimentos médicos e levado até às últimas consequências nas situações em que se recorrem às tecnologias de suporte de vida) é contrário ao ritmo rápido, que parece envolver os modernos rituais da morte, como a cremação (que, pela rapidez com que decompõem o cor‐
po em cinzas, reporta o Homem, a um ritmo avassalador, para o fenómeno da dis‐
solução do outro, para a dimensão irrealizável da não‐existência, ou até mesmo naquilo que constitui a pressão social laboriosamente tecida em torno dos enluta‐
dos para que rapidamente resolvam a sua dor e o seu sofrimento (Ariès, 1977). Rostos da Morte na Era da Técnica 133 A cientifização da vida e o desencantamento do mundo na reconfiguração da morte moderna Constituindo uma dimensão intrínseca ao indivíduo, questão inultrapassável, necessária à espécie, a morte biológica não é em si um acidente que sucede à vida, ou melhor, aos seres vivos, mas o último estádio de um processo inaugurado pela concepção deles (Pohier, 1999: 26). Resultando da destruição irreversível da fede‐
ração das células que constituem os tecidos, os órgãos, a morte biológica detém, através da tanatomorfose (processo de decomposição do corpo), um efeito cata‐
bólico, de mineralização de milhões de insectos que, denominados de “trabalha‐
dores da morte”, tornam o cadáver útil ao ecossistema (Thomas, 2001). O tipo de assunção acima descrita, faz parte da visão científica da morte que, a partir do século XIX, se foi enraizando no mundo ocidental. Baseadas na ciência moderna, as nossas actuais concepções sobre a vida e a morte conduzem‐nos a adoptar uma noção específica do Universo. Não se encontrando reservado a um pequeno escol, imperando, pelo contrário, em todos os domínios da vida social e desde a idade mais precoce, o discurso científico surge hoje como um saber ligado à verdade, conhecendo uma forte legitimação social (Giddens, 1996). A cientifização da vida, acompanhada pelo processo de desencantamento do mundo1 (Martins, 1985), afastou o homem moderno das concepções mágico‐
‐divinas enquanto forma de explicação dos processos da vida e da morte, ao mes‐
mo tempo que o aproximou das explicações ao nível da vida celular. O discurso oriundo da biologia parece contribuir para uma mudança ao nível das percepções sociais dos processos da vida e da morte. O indivíduo moderno aceita a concepção biológica enquanto explicação visível do fenómeno da morte. Concepção plena de sentidos científicos que a patologia e a medicina legal se encarregam hoje de explicitar, mas vazia da dimensão espiritual, afastada do absoluto, do mistério, que a morte humana convoca. A partir do século XIX, a morte foi usurpada das mãos dos padres para passar a ser manipulada pelos médicos (Bradbury, 1999: 47). Herdeiro do pensamento lógico e racional, o Homem da era moderna encontra‐se próximo do discurso pro‐
duzido pela ciência e pela medicina mas arredado das instâncias que, ao longo de séculos, tomaram a seu cargo o problema espiritual da morte. Ao contrário do que se passava em tempos antigos, o Homem moderno encontra‐se a sós com o misté‐
rio incontornável do seu fim. A transformação da morte em processo de morrer implica que à inalienável experiência do sofrimento físico (a doença não permite que seja outro, que não o doente, a viver o tempo de dor), se venha juntar o sofrimento espiritual do doente, a solidão potenciada pela azáfama do quotidiano hospitalar, pelo não‐saber agir dos familiares, pelo constrangimento do ambiente que o rodeia. Paralelamente ao aumento do tempo de vida dos doentes com doenças mortais, adensam‐se as necessidades dos indivíduos em fim de vida. A situação idiossincrática em que o doente terminal se encontra, coloca‐o, numa dimensão outra, num plano de existência com o qual os outros não se identificam (Elias, 1985). O recolhimento que, a dada altura, parece caracterizar aquele que se encontra na fase final da sua existência, contrasta em absoluto com aqueles que a 1 Expressão de Max Weber que significa “a eliminação da magia enquanto técnica de salvação”. 134 Ana Celeste Mendes si se chegam, cheios de palavras, cheios de “coisas do mundo”. Acontece, no entanto, que muitos daqueles que se encontram no seu fim, já não têm vontade de conversar. Rita2, uma doente em fim de vida que conheci, expunha de modo claro a vontade que agora a habitava. “Já não me apetece falar… apetece‐me estar”. Este “estar” é, pois, um “estar” que se reveste de características novas, um “estar” cujo sentido parece impossível de apreender com profundidade por parte daqueles que nunca passaram por semelhante experiência. A desagregação social que a morte implica, a desordem que a morte imprime, revela‐se, pois, a vários níveis. Erguida sobre a égide da razão e alicerçada no pen‐
samento lógico‐matemático, a sociedade moderna tornou‐se (apesar da enorme consumo de imagens de sofrimento e de morte que os media difundem e que o indivíduo de hoje consome) profundamente necrófoba (Thomas, 2001). Caídas em desuso, vazias de sentido, as formas rituais e orais de outrora deixaram de deter o papel social que detinham, sem que tenham sido, pelo menos de modo massifica‐
do, substituídas por outras (Elias, 1985). A segunda metade do século XX conhece, portanto, além das reconfigurações do panorama da morte, o vazio ritualístico que prolifera em seu redor. Perante o moribundo, que surge aos olhos dos outros como um ser frágil perante a morte, torna‐se frequente que os outros, ou fujam ou façam de conta que a morte não está a caminho. No meio hospitalar é frequente o comportamento oscilar entre o activismo febril e o abandono tácito. Escudando‐se por detrás do papel profissional, o médi‐
co e os enfermeiros tendem a limitar os contactos aos gestos técnicos indispen‐
sáveis. A angústia que acomete os profissionais (remetendo sempre para a própria morte, a morte do outro gera angústia e desconforto) acresce, no caso dos familia‐
res, o desgosto e a estupefacção. Demasiado incrédulos com a eminência do desa‐
parecimento do outro, esgotados pelo esforço continuado que o acompanhamen‐
to de uma doença prolongada exige, os familiares surgem, com frequência, como indivíduos necessitando de apoio e cuidados, tentando, contudo, esconder as suas fragilidades do moribundo. À desagregação física e emocional do doente terminal, sucede‐se a desestruturação do ambiente que o circunda. Face à disrupção que se impõe, ao fim que, pianíssimo se aproxima, ergue‐se, assim, nas palavras de Hei‐
degger, a “Solidão do Ser perante o Absoluto” (Lévinas, 2003). Violentíssimo con‐
fronto que remete já para uma existência outra, que antecipa a entrada no “misté‐
rio”, a dissolução do sentido do eu. E poderá ser este confronto solitário do homem com a sua morte, este processo que é também a passagem do ser “pela noite escura da alma”, que poderá ser capaz, como nos mostra Leloup, de devolver ao Homem a capacidade de pensamento profundo, a reflexão espiritual, a reflexão metafísica da existência, dimensões que o modo de vida moderno tende, por nor‐
ma, a afastar do quotidiano rotineiro (Hennezel e Leloup, 2001). O Homem que no tempo do abrandamento da vida (tempo que antecede o silenciamento final) se confronta com a ideia (já) inevitável da sua finitude, com a ideia da sua morte, parece, ao fim de várias provas, dotar‐se de características muitas vezes novas, de capacidades interiores até aí desconhecidas, que o reves‐
tem de uma profundidade e intensidade únicas. A noção de que o tempo se esgota, 2 Nome fictício. Rostos da Morte na Era da Técnica 135 o sentimento tremendo de que o presente já não contém um futuro, tende a dotar aquele que está a morrer de uma clarividência e densidade novas que tornam o fim de vida num tempo em que a existência parece revestir‐se de uma espessura única. Este tempo, que é o tempo da vivência da morte é, contudo, um tempo novo, uma possibilidade que resulta das reconfigurações operadas no seio da medicina. O progresso científico e tecnológico veio mudar radicalmente a epidemiologia da morte. Até ao século XX morria‐se sobretudo devido a doenças infecciosas, sendo a morte rápida e o sofrimento curto, pelo que nem médico nem doente, tinham alguma coisa a dizer sobre a etapa final. Contrariamente, hoje a morte opera em tempo longo. Morrendo sobretudo de doenças prolongadas como pato‐
logias vasculares ou oncológicas ou devido à falência de múltiplos sistemas, o indi‐
víduo leva tempo a morrer. O longo tempo da morte e o prolongado sofrimento que isso implica tornam a “hora incerta” da morte, num desafio para doentes e médicos (Antunes, 2008). Este novo tempo de espera, tempo em que o homem “está morto mas ainda não” (Vicente, 2008) implicou a reconfiguração da atitude da medicina face a estes doentes que, experienciando a morte como um processo e não como um momento, começaram a exigir o controlo não só da forma de mor‐
rer, como das circunstâncias em que a morte acontece (constituindo, a eutanásia, o exemplo mais evidente dessa intenção). O direito “à verdade” (Castra, 2003) e o direito à consciência (Hennezel e Leloup, 2001) visam proteger o doente da atitude paternalista (Ariès, 1975; Elias, 1985) que, escondendo ao doente a verdade sobre o seu estado ou mantendo‐o inconsciente nos últimos dias de vida, impedem o Homem de viver a etapa final da sua existência e de conceder uma conclusão à sua vida. Os cuidados paliativos na reconfiguração do panorama da morte Assente numa lógica diferente da medicina curativa, os cuidados paliativos (resultantes da articulação das políticas de dor com os cuidados continuados) sur‐
gem da oposição de um conjunto de médicos3 à obstinação terapêutica (Castra, 2003), à futilidade terapêutica (Marques, 2002) e à tentativa de manutenção da vida sob qualquer forma. Reconhecendo os limites da intervenção da ciência e da técnica médica em muitas situações clínicas associadas a doenças que se prolon‐
gam no tempo, os médicos deste segmento de intervenção médica dão primazia ao valor da atenuação do sofrimento, deslocando para lugar secundário o valor da preservação da vida a todo o custo. No âmbito dos cuidados paliativos, o valor do “cuidado” sobrepõe‐se ao valor da “cura”. Concebendo o doente como um ser global, os cuidados paliativos (prestados por uma equipa multidisciplinar) com‐
3 O movimento dos cuidados paliativos teve início na segunda metade dos anos 60 do século XX em Inglaterra, sendo a sua mentora Cicely Saunders, uma oncologista do St. Christopher’s Hos‐
pice, que já nesta altura considera desadequados os cuidados prestados pelos hospitais aos doentes que estão próximos da morte. Saunders institui assim uma outra maneira de cuidar daqueles que têm uma morte anunciada, deslocando o esforço tenaz que se encontrava asso‐
ciado à dimensão da cura, para a dimensão do cuidado ao outro que, sendo muitas vezes um ser dependente, necessita de ajuda para morrer sem sofrimento ou com o menor sofrimento possível (Almeida e Melo, 2002). 136 Ana Celeste Mendes preendem o doente enquanto um ser global, prestando assim atenção, não só à dimensão física do sofrimento, como também à sua dimensão psicológica e espi‐
ritual. A grande especificidade dos cuidados paliativos, a diferença possivelmente marcante, reside na atenção que esta abordagem concede às questões das depen‐
dências, ao sofrimento e às vulnerabilidades da condição humana. O cuidado àquele que, tantas vezes decrépito, desfigurado, irrecuperável, se alimenta do desespero, implica uma acção centrada na conservação da dignidade humana, uma acção conservadora que consiga traduzir ao outro, mesmo incapacitado, mesmo dependente, o sentido que o outro tem. O cuidado ao doente terminal requer uma sensibilidade específica e um trato cuidado que implica, como mos‐
tram Almeida e Melo, um acompanhamento efectivo, um “estar ali”, sendo capaz de responder à questão, que tantas vezes se coloca, “Que figura faço?”, sobretudo com o gesto, seguramente com a atitude cuidada, “Não tenhas vergonha! Estamos contigo. Gostamos de ti.” (Almeida e Melo, 2002). Estruturados em torno de uma organização flexível, os cuidados paliativos erguem‐se de acordo com o respeito pela identidade do doente, não o isolando da família, nem descurando os pormenores práticos que sirvam para suportar melhor as suas deficiências físicas. A comunicação com o doente, o acompanhamento reli‐
gioso e o “encontro com o doente no seu próprio nível emotivo” (Thomas, 2001) fazem parte da reintegração da dimensão humana que a burocratização hospitalar tende a fazer esquecer. À terapia química junta‐se, assim, a escuta, a presença e a paciência de quem acompanha, de modo efectivo, o indivíduo doente. O espírito das equipas de cuidados paliativos é o da aceitação do frente‐a‐frente com a morte, tomando consciência do seu significado, atitude que se encontra nos antípodas do comportamento que caracteriza a medicina de índole curativa. A medicina moderna, fortemente científica e tecnológica, tende a conceber a morte como um fracasso, remetendo‐a, por isso, para locais afastados do seu olhar e da sua reflexão. A obstinação terapêutica, resultante da vontade cega de manter a vida a todo o custo acaba, assim, por encontrar resistências. Ao valor da vida, sobrepõe‐se o da dignidade da vida, conduzindo isto ao redimensionar do problema. A pos‐
sibilidade da tecnologia conseguir manter viva uma vida sem possibilidades de autonomia levanta sérias questões em múltiplos domínios. Por um lado, impõe‐se a necessidade de racionalizar os recursos disponíveis, por outro, coloca‐se a ques‐
tão da eutanásia e das decisões médicas que tanto podem ser favoráveis, com o investimento na manutenção de alguns procedimentos (como antibioterapia, ali‐
mentação, hidratação), como podem resultar na decisão de deixar a doença seguir o seu curso, oferecendo assim, ao doente, uma morte que chega “não antes, nem depois, mas na hora certa”. A questão do tempo certo da morte coloca‐se na con‐
temporaneidade e resulta da reconfiguração que a ciência e a tecnologia vieram imprimir ao tempo e ao modo de morrer. Hoje os indivíduos não tendem só a viver mais tempo, como a vida pode ser prolongada até limites outrora impensáveis. No entanto, esta é uma questão complexa, que inscreve muitas questões relativas à morte dos doentes na dimensão da ética e da moral. De acordo com Thomas, e à semelhança do que aconteceu com a ciência e com a técnica, que organizaram a vida até ao ponto de lhe retirarem o seu sentido profundo, também a obstinação terapêutica e a eutanásia constituem um modelo idêntico de organização e desu‐
manização da morte (Thomas, 2001). Rostos da Morte na Era da Técnica 137 Os cuidados paliativos e o tempo lento da morte, recolocam‐na no seio da família, dando‐lhe uma nova forma de visibilidade social. Integrando aqueles que são mais próximos do doente, chamando a família a agir e atribuindo‐lhe especial importância no acompanhamento ao doente, os cuidados paliativos potenciam a singularidade do doente, atribuindo especial importância ao valor da dignidade que, em indivíduos profundamente comprometidos, reside na possibilidade e capacidade de criarem laços e suscitarem emoções até ao fim. O combate ao iso‐
lamento social e emocional do doente, dando‐lhe visibilidade enquanto ser sofre‐
dor mas único no seu sofrimento, surge, pois, como questão central no modus operandi deste tipo de cuidados. Medicalização, rivatização e individuação da vivência da morte e do luto As características de unicidade e individualidade que os cuidados paliativos atribuem ao ser doente, encontram‐se intimamente relacionadas com o individua‐
lismo moderno, valor central da sociedade pós‐industrial e essencial na construção da vivência do processo de morte e até dos novos rituais fúnebres. A partir do século XVIII, o processo de laicização da moral colocou num pedestal o ideal de dignidade inalienável do homem e os deveres de cada um para consigo próprio que acompanham esse ideal (Lipovetsky, 2004). A autonomia moderna da ética erigiu a pessoa humana em valor central, pelo que cada indivíduo passou a ter a obrigação de respeitar a humanidade que existe em si, de não agir contra o fim da sua natureza, de não se despojar da sua dignidade inata. O direito a “morrer com dignidade”, que é, em termos últimos, um pedido de eutanásia, é a expressão última do individualismo actual. “À semelhança da família, do sexo, da procriação, da religião, a relação com a morte tende a reciclar‐se na lógica do direito subjecti‐
vo e das opções livres” (Lipovetsky, 2004: 76). O fim de vida preconizado pelos cuidados paliativos surge assim como uma construção profundamente imbrincada no direito individual, na liberdade de opção, na individualidade e na existência exclusiva de cada ser humano. A ideia de uma moral individual característica que aponta para o imperativo pós‐moderno de cada um viver à sua maneira, encontra‐
‐se afecta ao indivíduo não só naquele que é o tempo da sua vida como também naquele que será o tempo da sua morte. A pluralidade que caracteriza as manifes‐
tações rituais face à morte contemporânea traduz a ideia de que o homem deve relacionar‐se com a morte do mesmo modo como se relaciona com a vida: “à sua maneira” (Walter, 1994). A expressão individual face às questões que envolvem a morte, manifestam‐se tanto ao nível da vivência do processo de morte e disposições últimas por parte daquele que vai morrer, como também ao nível da vivência do desgosto e do luto, por parte daqueles que lhe sobrevivem. Ao contrário daquilo que acontece numa cultura comunitária, em que o profundo receio do indivíduo é, mesmo no que toca à morte, ver‐se afastado do seu grupo (Morin, 1970), numa cultura fortemente indivi‐
dualista, o receio mais profundo do homem é aquele que diz respeito à dissolução da individualidade, à perda do sentido do seu “eu” (Morin, 1970; Walter, 1994). Associada à dignidade que se pretende conceder ao homem na fase final da sua vida, a individualidade da sua morte surge enquanto valor a perseguir. A marca identitária que poderá ser encontrada nos ritos fúnebres de um indivíduo deter‐
138 Ana Celeste Mendes minado relembrará aos sobreviventes a sua exclusividade enquanto ser individual e único, inscrevendo no espaço‐tempo o acontecimento daquela morte específica. Contrariamente à posição defendida por Elias (1985), a morte moderna caracte‐
riza‐se, de acordo com Walter, não pela desritualização, mas pela existência de rituais privados, de natureza laica e de pendor individualista, que, por não serem partilhados pela colectividade, parecem não existir. Demonstrado ter uma posição diferente de teóricos como Ariès e Elias, Walter defende que o indivíduo de hoje tem convicções profundas sobre o modo de viver o luto (Walter, 1994). Na sua perspectiva, a imagem de desagregação do sentido que o luto parece ter na con‐
temporaneidade advém da desagregação das formas colectivas dos rituais. Viven‐
do o luto “à sua maneira” e não de acordo com formas socialmente estabelecidas, o enlutado pode não ser facilmente reconhecido enquanto tal. Mas a invisibilidade social do luto não significa a inexistência do luto. As formas ritualísticas que, em termos colectivos, entraram em desuso, abriram espaço à entrada de novos rituais e simbolismos que hoje, mais do que nunca, parecem concentrar‐se na importân‐
cia única que o falecido detinha para aqueles que eram próximos. A morte de um familiar, o desaparecimento de alguém a quem o indivíduo se encontra ligado por laços emocionalmente fortes é, aliás, hoje sentido como um duríssimo golpe, como uma amputação no mais profundo do espírito. “One person is absent, and the whole world is empty” (Walter, 1994: 23). A partir do século XIX, e tal como mostram vários autores, a preocupação do Homem com a morte passou a ser a preocupação que subjaz à possibilidade do desaparecimento do outro. Outro que é hoje ser único, pleno de sentido para aqueles que lhe são próximos e que a ele se encontram ligados de forma exclusiva. É por este motivo que a partir do século XIX os túmulos passam a expressar o des‐
gosto dos sobreviventes e que a partir do século XX as cerimónias fúnebres pas‐
sam a ser cada vez mais privadas, tendencialmente familiares (Walter, 1994: 23). Como afirma Bradbury (1999), a morte passa a dizer respeito ao defunto e à sua família. Nas sociedades em que a cremação era já uma prática comum no início do século XX, as cinzas são entregues aos familiares que decidem sobre o destino a dar‐lhes, de acordo com um desejo previamente expresso pelo defunto. As questões ligadas à morte contemporânea remetem‐nos para a dimensão dos novos rituais fúnebres e das práticas individuais de luto. Na linha do pensa‐
mento de Walter, Littlewood (1993) defende que hoje se concede liberdade aos enlutados para viverem da forma que julgarem mais adequada o seu sofrimento, dando‐lhes espaço e liberdade para viverem um luto privado, não afecto a normas pré‐estabelecidas e que, ao ser descoincidente das convicções daqueles que se situam ao seu redor, se pode tornar num luto desamparado e solitário. A pressão social que tende, hoje, a recair sobre os enlutados tem sido, aliás, objecto de refle‐
xão. O indivíduo sofredor é hoje coagido a viver a sua dor de forma rápida e em privado. Um sofrimento demasiado visível ou prolongado é, actualmente, conside‐
rado mórbido (Ariès, 1975) e tido como um atentado ao bem‐estar social. Do mesmo modo que em volta do doente terminal se tende a erguer a “tirania do pensamento positivo” (Holland e Lewis, 2000), em torno do enlutado tende a erguer‐se um discurso que visa re‐introduzi‐lo, da forma mais rápida possível, e sob qualquer condição, na normalidade do quotidiano. A aparência normal do dia‐
‐a‐dia do enlutado afasta, dos olhos dos outros, o peso do sofrimento e do trágico Rostos da Morte na Era da Técnica 139 que a ideia de morte transporta. A única norma que parece imperativa em todas as formas modernas dos rituais prende‐se, assim, com a forma discreta como o indivíduo deve demonstrar o seu desgosto. O enlutado deve mostrar os seus senti‐
mentos de forma discreta, sem incomodar quem o rodeia. (Ariès, 1975; Elias, 1985). O desgosto profundo deve ser vivido na privacidade. “Privacy is distin‐
guished both from individualism and from the sense of community, and expresses a model of relating to others that is quite specific and original”, escreve Ariès (Wal‐
ter, 1994). Comercialização e ritualização da morte moderna O desejo de privacidade actualmente manifesto encontra‐se intimamente relacionado com a dimensão da comercialização da morte que, a partir do século XX, começou a prosperar nas sociedades do Ocidente. Recorrendo aos serviços funerários, a família prescinde dos serviços das mulheres da comunidade, tradicio‐
nalmente encarregues de preparar o corpo do defunto, enquanto a família se ocu‐
pava da organização e preparação da cerimónia fúnebre (Walter, 1994). Em mea‐
dos do século XX, as decisões relativas às cerimónias fúnebres ficam a cargo dos familiares mais próximos do defunto, que passam a pagar a quem os execute. A sociedade de mercado, que reduz o significado da vida a um processo de acumula‐
ção de bens, introduz o cadáver no seu circuito (Thomas, 2001). A prosperidade da indústria funerária torna‐se, a partir daqui, um importante factor no que toca ao equacionamento das questões relativas à morte contempo‐
rânea. Tendo como principal objectivo o lucro e como clientes indivíduos poten‐
cialmente fragilizados e em sofrimento, o sector da indústria funerária parece sur‐
gir como um elemento sui generis no mercado. Não deixando de ter em atenção as possibilidades inovadoras que o ramo oferece e não perdendo de vista a concor‐
rência do mercado dos nossos dias (Bradbury, 1999), o sector funerário oferece hoje uma multiplicidade de artigos e serviços fúnebres que, surgindo sobretudo como estratégias criativas em termos comerciais, se destinam a assinalar um momento limite da existência humana, um momento trágico, de absoluta ruptura para aqueles que se confrontam com o desaparecimento do outro, daquele que faz parte da construção de si. A dimensão trágica da existência humana, a ruína que se abate sobre o Homem no percurso da sua vida, prende‐se (ainda que de forma não consciente) com a certeza inultrapassável do seu desaparecimento, com a ideia irrepresentá‐
vel de um futuro pautado pela sua não existência. “A voz do mistério sussurra‐me ao ouvido: deixarás de ser!” (Unamuno, 2007: 41). Mas porque a ideia da sua não existência é irrepresentável para o Homem (Jankélevitch, 2003; Lévinas, 2003), a ideia da morte, a tormenta da morte, chega ao indivíduo através da morte daquele que lhe é próximo, da morte daquele a quem o Homem se encontra emocional e profundamente ligado4 e cujo desaparecimento surge como uma amputação da sua existência (“Eu sou eu com o outro”, diz Heiddeger)5. 4 Esta morte é a morte a que Vladimir Jankélevitch (2003) denomina de “morte na segunda pes‐
soa”, a morte que não sendo já me pertence: mais além seria a minha morte. 5 Citado por Emmanuel Lévinas (2003: 56). 140 Ana Celeste Mendes Ao colocar as questões que se relacionam com os procedimentos e rituais de morte nas mãos dos agentes funerários, os familiares enlutados assumem, desde logo, o papel de consumidores, colocando‐se, assim, no seio de uma relação comercial. Tal como todas as outras instâncias da vida, a morte tornou‐se num objecto mercantilizavel, num negócio com objectivos de lucro em que a criativi‐
dade, a inovação, a imagem e a satisfação do cliente se tornam essenciais. As necessidades específicas dos enlutados, outrora colmatadas pelos membros da comunidade que formavam fortes redes sociais de apoio aos familiares em luto são actualmente supridas (e isto quando são) pelas empresas funerárias, a troco de pagamentos onerosos6. Tendo em conta que o enlutado necessita, de modo imediato, de fazer esco‐
lhas que se prendem com os artefactos, procedimentos e cerimónias fúnebres, e uma vez que esta escolha decorre numa situação em que o indivíduo se encontra emocionalmente fragilizado, o agente funerário torna‐se, frequentemente, num elemento importante quer no que toca ao aconselhamento, quer no que toca ao acompanhamento dos enlutados/clientes até ao final das cerimónias. No estudo que desenvolveu sobre as representações da morte, Bradbury concluiu que os agentes funerários em Inglaterra se sentem bastante honrados com a sua profis‐
são, sentido que desempenham um papel social de grande importância (Bradbury, 1999). Associando os objectivos inerentes às actividades mercantis dos dias de hoje aos ideais de humanidade e dignidade, as empresas do sector funerário pare‐
cem formar os seus agentes para a prossecução de objectivos comerciais, mas também para o acompanhamento dos sofredores, prestando o auxílio e os servi‐
ços necessários ao bem‐estar dos sobreviventes. A desritualização da sociedade moderna ou ausência de ritos de forte sentido colectivo, de que nos fala Walter (1994), parece não só abrir espaço à acção da indústria funerária, como tende a tornar o terreno propício ao acolhimento de rituais e comportamentos novos, de natureza secular, em que o sentido último da acção se encontra bem mais relacionado com as opções de vida (e logo, com as opções de morte) daquele que morre, do que com crenças religiosas, colectiva‐
mente partilhadas, que visam assegurar uma boa‐passagem para uma vida‐além. O exponencial aumento do número de cremações que se tem vindo a registar nos últimos anos em Portugal e o posterior destino que é dado às cinzas (deitadas ao mar, depositadas em local eleito pela família ou defunto, conservadas em casa, par‐
tilhadas por vários recipientes e divididas pelos familiares mais próximos ou mesmo lançadas no espaço por um foguetão, ao serviço de uma funerária americana, que dispõe desse serviço para multimilionários) é demonstrativo do privilégio que é hoje concedido às convicções individuais e às capacidades económicas, edificadas ao lon‐
go do percurso de uma vida que deve conhecer um final que lhe seja consonante. Afastado da religião e dos rituais de outrora, o Homem de hoje parece querer viver e morrer “à sua maneira”. E se a tendência para a individuação na forma como o homem vive a vida e “vive a morte” pode não implicar, como já referimos, a ausência de ritos e de normas reguladoras dos comportamentos face à morte, 6 Veja‐se o caso das refeições oferecidas pela família no fim das cerimónias fúnebres, que tradi‐
cionalmente ficavam a cargo das mulheres da comunidade e que hoje constituem um dos ser‐
viços que a empresa funerária tem para oferecer aos seus clientes. Rostos da Morte na Era da Técnica 141 poderá, contudo, levar a uma contradição entre aquilo que pode ser a experiência privada da morte e o discurso público sobre a mesma (Walter, 1994). O papel da indústria funerária na reconfiguração do sentido e vivências da morte Uma vez consumada a morte, tem início um mecanismo que torna o defunto refém da um sistema de regras técnico‐burocráticas, que o retiram temporaria‐
mente das mãos da família e o colocam no seio de uma engrenagem onde o regard medical e a emissão de certificados adquirem especial importância (Mar‐
tins, 1985). A burocratização e a racionalização da vida moderna, sobre cujas con‐
sequências Max Weber reflectiu amplamente e que acompanham a vida do Homem de hoje, impõem‐se no momento da morte. As lógicas que subjazem à organização da morte contemporânea não se encontram afastadas da racionali‐
dade ocidental. A cientifização, a tecnicização e a burocratização, características da sociedade moderna (Martins, 1985), encontram‐se, aliás, presentes nas ques‐
tões da morte, de forma esplendorosa. No hiato temporal que decorre entre o momento da morte e a entrega do corpo à família (exceptuando os casos em que a morte ocorre em casa e que o médico dispensa a autópsia), o corpo é preparado pelos agentes funerários para as cerimónias que se avizinham. Dentro do leque de opções que, a este nível, se colo‐
cam (como são exemplo o embalsamamento7 ou a tanatoestética8), a tanato‐
praxis9 começa, no que aos procedimentos tanatológicos diz respeito, a ganhar um peso cada vez mais elevado (Bradbury, 1999) entre nós (o número de tanatopraxis realizadas em Portugal em 2008 foi, a título de exemplo, mais do dobro das reali‐
zadas em 2007). Visando evitar o confronto dos sobreviventes com a degradação corpórea daquele que morreu, com a iminência da sua decomposição física e com a fealda‐
de da morte, as novas técnicas aplicadas à morte parecem contribuir para a cons‐
trução dos novos “rostos da morte”. Através da aplicação de técnicas de conserva‐
ção e maquilhagem, o impacto do confronto com o corpo morto – a iminência do processo de decomposição, símbolo da ruína humana –, questão central na rela‐
ção do Homem com a morte (Seale, 1998) tende, hoje, ser minimizado. A repre‐
sentação da “boa‐morte” passa, assim, pela imagem de integridade física e de serenidade do corpo sem vida. A tanatopraxis, técnica de conservação temporária 7 Técnica que permite conservar o corpo morto por um longo período de tempo. 8 Consiste em melhorar o aspecto do defunto recorrendo apenas a procedimentos de ordem estética. 9 A tanatopraxis consiste numa operação em dois tempos diferentes: em primeiro lugar, pratica‐
‐se uma verdadeira limpeza dos tecidos com injecção nas artérias carótidas, axilares e femurais de um produto à base de formaldeído, o thanatyl. Este líquido substitui o sangue e acrescenta‐
‐lhe um corante, amaranto ou eosina, para compensar a descoloração dos tegumentos. A injecção realiza uma re‐hidratação que confere um aspecto de tonicidade e salienta os globos oculares encovados. Em seguida, faz‐se o tratamento das cavidades, meio particularmente séptico que é submetido a uma verdadeira purga. As vísceras do abdómen são puncionadas com a ajuda de um trocarte, enquanto o seu conteúdo é evacuado por aspiração. O cadáver é assim limpo de gases, de líquidos diversos, de matérias fecais. Seguidamente, injecta‐se o fluí‐
do conservante: um litro de thanatyl para um adulto de setenta quilos (Thomas, 2001). 142 Ana Celeste Mendes do cadáver, revela‐se um importante instrumento na construção desta imagem. A substituição dos fluidos corpóreos por um composto químico que adia o início da decomposição do corpo e a aplicação de operações cosméticas visam devolver ao indivíduo morto a imagem que tinha em vida, ao mesmo tempo que eliminam germes potencialmente perigosos para aqueles que contactam com o defunto durante os rituais fúnebres, o que se encontra em total consonância com o impe‐
rativo higiénico da sociedade contemporânea (Bradbury, 1999). De modo análogo, a dissolução das marcas do sofrimento e de degradação física que se encontram inscritas no corpo do defunto, coadunam‐se com os imperativos da beleza e do afastamento do sofrimento para longe do olhar, característicos dos nossos dias. O grande intuito da tanatopraxis é, de facto, o da restauração. O cadáver deve transmitir serenidade, pelo que as marcas mais desagradáveis tendem a ser mini‐
mizadas pelo tanatopractor: as placas pregaminhadas devidas à desidratação, a lividez cadavérica, o encovamento e a revulsão dos globos oculares e as petéquias (manchas escuras que aparecem cinco horas após a morte) são rapidamente tra‐
tadas. O rosto é remodelado e discretamente colorido: injecções, suturas, aplica‐
ções de pequenas próteses rectificam o traço da boca ou o encovamento das pál‐
pebras, enquanto uma base de maquilhagem disfarça o escurecimento provocado pelo formol (Thomas, 2001)10 Se a um primeiro nível a tanatopraxis visa a higiene e a decência, num segundo nível orienta‐se para uma finalidade estética. O objectivo é, assim, conferir ao defunto o aspecto humano que foi o seu. É necessário ter em atenção que a tanatopraxis constitui, por vezes, a única possibilidade de devolver o defunto aos familiares no decorrer dos rituais fúne‐
bres. Casos em que, outrora, a drástica deterioração do corpo impossibilitava o contacto directo dos parentes e amigos com o falecido podem, através destas prá‐
tica, ser recuperados, o que se revela de enorme importância para quem os restos mortais de um parente constituem o único suporte que subsiste dos sentimentos de amor, de gratidão ou de respeito que lhe foram dedicados. A exposição do defunto por altura dos rituais fúnebres parece, pois, ser bem conseguida, se o cor‐
po morto conseguir conservar a imagem que o indivíduo detinha em vida. As ques‐
tões que se relacionam com a visibilidade social da morte parecem, assim, estar relacionadas com uma certa desconstrução da própria imagem da morte. Conse‐
guindo dotar o corpo morto de uma imagem em que a erosão física subjacente à morte se encontra escondida ou ausente, a ciência e a tecnologia permitem esconder dos sobreviventes a natureza violenta e trágica do processo de decom‐
posição física que, é no fundo, a imagem imediata da morte humana. Ilusão de permanência de vida que as tecnologias da memória conseguem. Utilizadas para captar e reproduzir a imagem do indivíduo, as novas tecnologias permitem que estejamos, não só perante formas de rituais inovadoras (tais como os funerais vir‐
tuais que já se praticam em algumas zonas do Brasil e os cartões de condolência virtuais), como perante novas formas dos sobreviventes relembrarem os seus mor‐
tos. As imagens de vídeo que já funcionam, de forma interactiva, nas sepulturas dos cemitérios japoneses, são disso exemplo. Filmes dinâmicos que mostram o 10 Vale a pena sublinhar que os profissionais de tanatopraxis franceses, mentores da tanato‐
praxis que se pratica em Portugal, não caem nos exageros que caracterizam a actuação dos tanatopractores americanos. Rostos da Morte na Era da Técnica 143 indivíduo em vários momentos da sua vida e que, sendo de acesso restrito (fun‐
cionam através de código), permitem que a relação dos sobreviventes com os seus mortos se faça de um modo ainda mais virtual. A sensação de virtualidade característica do desaparecimento daquele que existiu mas que já não está presente é assim materializada. A inexistência que se mistura com uma existência virtual, aquele que não estando, está, através do som, através da imagem, perpetua a ilusão da permanência. O espaço ocupado por aque‐
le que morre reveste‐se de ausência e de vazio. Mas a recuperação virtual da sua existência, o retorno da imagem, da voz, parece dissolver, de modo quimérico, a irreversibilidade que a morte comporta. À semelhança do que acontece com a ima‐
gem da fotografia, que é, no fundo, a cristalização de um fragmento da realidade (Sontag, 2003), as imagens que as novas tecnologias reproduzem do ser ausente, como que perpetuam a sua existência no espaço‐tempo. A descoincidência espácio‐
‐temporal característica da modernidade ajuda, contudo, a esbater a estranheza do fenómeno. Na verdade, a vida moderna anima‐se do “esvaziamento” do tempo que é a pré‐condição para “o esvaziamento do espaço” (Giddens, 1996). O advento da modernidade pautou‐se, aliás, “pela promoção das relações entre os ‘outros’ ausen‐
tes que, encontrando‐se fisicamente distantes, tornam o lugar cada vez mais fan‐
tasmagórico (o local é completamente penetrado e modelado por influências sociais muito distantes) “ (Giddens, 1996: 13). A unilinearidade que as sociedades pré‐
‐tradicionais conheceram esbateu‐se nos tempos modernos. Muitas das interacções sociais ocorrem hoje num domínio de espaço e tempo esbatidos que parecem ser a antecâmara da virtualidade da memória associada àquele que morre. Mediatização e des‐sacralização da morte contemporânea O exponencial desenvolvimento do conhecimento médico‐científico, a cres‐
cente tecnificação da sociedade (Martins, 1985) e as transformações operadas ao nível dos sistemas sociais e políticos da modernidade, concorreram para a edifica‐
ção da ideia de controlo sobre a vida e sobre os fenómenos que caracterizam o homem da era moderna (Giddens, 1996). A racionalidade tipicamente ocidental, tal como Weber a define, concorreu, a par da crescente ideia de controlo e de auto‐controlo (Giddens, 1996), para o afastamento das situações da vida mais sus‐
ceptíveis de provocar emoções fortes e violentas (Elias, 1985). Apostada em afas‐
tar‐se da dimensão do sofrimento e da tragédia, a sociedade contemporânea afas‐
tou‐se inevitavelmente da morte. Tema de natureza profundamente inquietante para o Homem, a morte revela‐se como o tema que mais se mostra capaz de susci‐
tar reacções emocionalmente fortes (Morin, 1970; Ariès, 1975; Elias, 1985), tendo‐
‐se convertido no decorrer do século XX num assunto tabu, sobre o qual toda a gente evitava falar (Ariès, 1975). A força aniquiladora e irreversível da morte tornou‐se inconveniente. Criando a ilusão de que se não falar sobre ela, se não a presenciar, a afasta, o indivíduo passou a evitar o contacto directo com toda a realidade tanatológica (Thomas, 2001). Mas o indivíduo que se afasta do confronto imediato com a morte, aquele que se arreda do sofrimento próximo, é o mesmo indivíduo que passa a consumir um número crescente de imagens de tragédia, de sofrimento e de morte, que lhe chegam através dos meios de comunicação. A morte torna‐se, assim, rapidamente, 144 Ana Celeste Mendes a imagem que dela se passa. Para quem o contacto com a morte é essencialmente virtual, a morte e a imagem da morte parecem tornar‐se, deste modo, realidades sobrepostas. Como se entre a morte e a representação da morte não houvesse distância, como se entre o indivíduo e a imagem da morte não se interpusesse a objectiva, a imagem trabalhada, editada, a imagem que convida o espectador a assistir, confortavelmente sentado, ao espectáculo do sofrimento, ao espectáculo da morte que muitas vezes não é mais do que o convite para assistirmos ao espec‐
táculo do macabro (Sontag, 2003). A sobre‐exposição a estas imagens, o sucessivo confronto com a morte do outro distante, daquele cuja morte apenas me lembra que aquela não é a minha morte (Morin, 1970; Jankélevitch, 2003) tem, de acordo com vários autores, gran‐
de possibilidade de se tornar perversa. A permanente exposição às imagens da morte (não à morte‐em‐si) esvaziam‐na do drama que a morte comporta. Falar da morte de forma descuidada, falar sem o intento da discussão séria que pode ser feita em seu redor mas, ao invés disso, incorrer na banalização que advém da sua generalização e da sua redução a um acontecimento mundano, é o caminho para a eliminação do trágico (Thomas, 2001). A morte longínqua, a que nos chega de forma des‐sacralizada através dos media, a que Jankélévitch (2003) chama de “morte na terceira pessoa”, é a morte longínqua, a morte espectáculo que nada transfigura no íntimo do espectador – e, por isso, bem diferente da vivência da morte daquele que nos é próximo (que é, aliás, a única forma de a vivermos, uma vez que somos incapazes de viver a nossa morte) e que é sentida como irreal, dis‐
ruptiva e avassaladora – é a morte esvaziada de sentido. Falando dela excessiva‐
mente e com ligeireza, mediatizando‐a, substituímos o rito pelo espectáculo (a morte é, no entanto, diferente da encenação que dela se faz), o que apenas serve para encobrir a desorientação e a angústia que a morte suscita (Thomas, 2001). Servindo de pilar estruturante nos momentos de crise e nas situações marginais da vida social, o discurso oral e a linguagem permitem ao indivíduo construir uma relação intersubjectiva com a realidade o que, de acordo com Berger e Luckman, impede que, face a uma experiência como a da morte, o indivíduo se encontre de forma desprotegida face à sua natureza animal (Seale, 1998). Mas perante a expe‐
riência única, limite, da morte, perante a proximidade da violência aniquiladora que a morte provoca, o poder da palavra e a força estruturante do discurso, conseguem muito pouco”. Perante a prova da morte, perante a morte em si mesma, essa dor quente, viva, escaldante com que se debate e se exaspera qualquer ser, é sabido que não pode nascer nem crescer nenhuma palavra, nenhuma voz. É verdade que se pode falar sobre, em torno, contra, mas nunca da morte” (Thomas, 2001: 36). Referências bibliográficas ALMEIDA, J. M. P; MELO, Jorge (2002), “Ética, Espiritualidade e Oncologia”, in Maria do Rosário Dias e Estrela Durá (org.), Territórios da Psicologia Oncológica, Lisboa, Climepsi, pp. 129‐145. AMEISEN, Jean Claude (2006), “Dans l’oublie de nos métamorphoses. La mort et le renouvellement permanent des règles”, in Michel Wieviorka (dir.), Disposer de la Vie, Disposer de la Mort, l’Aube, Les Entretiens d’Auxerre, pp. 57‐68. ANTUNES, João Lobo (2008), O Eco Silencioso, Lisboa, Gradiva. ARIÈS, Philippe (1975), História da Morte no Ocidente, Lisboa, Teorema (2.ª ed.). Rostos da Morte na Era da Técnica 145 ARIÈS, Philippe (1977), O Homem Perante a Morte I, Mem Martins, Europa América. BRADBURY, Mary (1999), Representations of Death. A social psycological perspective, New York, Routledge. CANGUILHEM, Georges (1999), Le Normal et le Pathologique, Paris, PUF. CASEIRO, José Manuel (2003), “Prefácio”, in Manuel Silvério Marques, A Segunda Nave‐
gação. Aspectos clínicos da ética na dor oncológica, Lisboa, Biblioteca da Dor, Permanyer Portugal CASTRA, Michel (2003), Bien Mourir, Paris, PUF. CHRISTAKIS, Nicholas A. (1999), Death Foretold, Chicago and London, University of Chi‐
cago Press. DIDION, Joan (2006), O Ano do Pensamento Mágico, Lisboa, Gótica. ELIAS, Norbert (1985), The Loneliness of the Dying, New York and London, Continuum. GIDDENS, Anthony (1996), As Consequências da Modernidade, Oeiras, Celta (3.ª ed.). HENNEZEL, Marie de; LELOUP, Jean‐Yves (2001), A Arte de Morrer, Lisboa, Editorial Notí‐
cias (2.ª ed.). HOLLAND, Jimmie; LEWIS, Sheldon (2000), The Human Side of the Cancer. Living with hope, coping with uncertainty, New York, Harper Collins. HOWARTH, Glennys; LEAMAN, Olivier (org.) (2004), Encicolpédia da Morte e da Arte de Morrer, Lisboa, Quimera e Círculo de Leitores. JANKÉLÉVITCH, Vladimir (2003), Pensar a Morte, Mem Martins, Inquérito. JONAS, Hans (1985), Le Droit de Mourir, Paris, Payot & Rivages. LAVI, Shai J. (2005), The Modern Art of Dying. A history of euthanasia in the United States, Princeton, Princeton University Press. LÉVINAS, Emmanuel (2003), Deus, a Morte e o Tempo, Coimbra, Almedina. LIPOVETSKY, Gilles (2004), O Crepúsculo do Dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos, Lisboa, Dom Quixote. LITTLEWOOD, Jane (1993), “The denial of death and rites of passage in contemporary societies”, in David Clark (ed.), The Sociology of Death, Oxford, Blackwell, pp. 69‐86. MARQUES, Manuel Silvério (2002), “A passividade originária e a fundação da medicina dos cuidados paliativos”, in Maria do Rosário Dias e Estrela Durá (org.), Territó‐
rios da Psicologia Oncológica, Lisboa, Climepsi, pp. 145‐188. MARQUES, Manuel Silvério (2003), A Segunda Navegação. Aspectos clínicos da ética na dor oncológica, Lisboa, Biblioteca da Dor, Permanyer Portugal. MARTINS, Hermínio (1985 [1980]), “Tristes Durées”, in Hermínio Martins, João Pina Cabral e Rui Feijó (org.), A Morte no Portugal Contemporâneo, Lisboa, Querco, pp. 11‐36. MELLOR, A. Phillip (1993), “Death in high modernity”, in David Clark (ed.), The Sociology of Death, Oxford, Blackwell, pp. 11‐31. MORIN, Edgar (1970), O Homem e a Morte, Mem Martins, Europa‐América (2.ª ed.). POHIER, Jacques (1998), A Morte Oportuna, Lisboa, Editorial Notícias. SEAL, Clive (1998), Constructing Death. The sociology of dying and bereavement, Cam‐
bridge, Cambridge University Press. SONTAG, Susan (2003), Olhando o Sofrimento dos Outros, Lisboa, Gótica (2.ª ed.). SONTAG, Susan (2007), Al Mismo Tiempo, Barcelona, Mondadorie. THOMAS, Louis‐Vincent (2001), Morte e Poder, Lisboa, Temas e Debates. TWICROSS, Robert (2001), Cuidados Paliativos, Lisboa, Climepsi. TOURAINE, Alain (1994), Crítica da Modernidade, Lisboa, Instituto Piaget. UNAMUNO, Miguel de (2007), Do Sentimento Trágico da Vida, Lisboa, Relógio D’Água. VICENTE, Filipe Nunes (2008), Educação Para a Morte, Lisboa, Bertrand. WALTER, Tony (1994), The Revival of Death, New York, Routledge. UMA SOMBRA O PRECEDE. LEI DA MORTE, HOSPITALIDADE E CUIDADOS DE SUPORTE1 M. Silvério Marques Such (technical) knowledge has to be balanced with a detailed consideration of social and personal factors. ‘Feelings are facts in this house’ as one of the nuns of St Joseph’ s Hospice put it, and intuitive thinking has to be added to the discursive if we are to ap‐
proach the full reality of another person. C. Saunders, Selected Writings, 1958‐2004 O tópico “Saúde, complexidades e perplexidades” é uma óptima maneira de nos fazer pensar “sobre a morte e o morrer nas sociedades contemporâneas” sem facilidades e sem fingimentos. Bem hajam, pois, por esta oportunidade. O meu propósito neste trabalho é limitado: partilhar algumas interrogações em torno do desaparecimento da ordem social “hospitaleira”, ou seja, da invenção do mori‐
bundo anónimo. Antes quero deixar uma breve nota sobre a complexidade no horizonte da tensão inegável entre o decadente humanismo médico‐assistencial e uma biome‐
dicina “épica” e reificadora (Marques, 1999; 2006). Trata‐se de aceitar o papel da incerteza e da incógnita no mundo da vida, no mundo das escolhas e dos valores: a medicina é, desde os gregos, uma prática de afrontamento e de redução do acaso (os gregos distinguiam, segundo o prognóstico, doenças do acaso e doenças da necessidade). Daqui a invenção do kairós, a boa ocasião, a exigência de acribia, a justa medida. Daqui a teoria da prudência, da precaução, o célebre preceito primo non nocere; muitos argumentos utilizados nos debates sobre as oposições aristoté‐
licas tyché/techné (acaso/arte) e necessário/não necessário foram integrados na doutrina da Krisis, da decisão. No exercício da clínica (e na vida), o juízo é incerto, vulnerável, entre singu‐
laridade e complexidade. Com efeito, a melhor compreensão da complexidade organizada a partir da nova “iatromecânica” e da velha “iatrofilosofia” remete‐nos hoje para o “todo” biopsicossocial. O acto médico, que já foi principalmente regi‐
me (dieta) e profecia (prognóstico), hoje é cura e cuidado, prevenção e reabilita‐
1 A investigação que serviu de base a este artigo foi realizada no âmbito do projecto “Medicina, Filosofa e Sociedade”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a decorrer entre 2007‐2010 (CF, UL) e tendo como investigador responsável, Adelino Cardoso. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 147‐165. 148 M. Silvério Marques ção, tende a ser cada vez mais reparação e paliação. É, porém, sempre, encontro e relação terapêutica; mais que a doença, o seu foco é – deve ser – o doente e a sua circunstância. A boa posição é, por isso, clínica; o termo clínica significa, etimolo‐
gicamente, à cabeceira do doente. Eis os contornos desta pequena apologia da hospitalidade em medicina, em especial do acolhimento e do reconhecimento do doente dependente ou em fim de vida. Afinal a morte é uma tragédia inter‐
‐pessoal: sempre único o ser humano, nunca é só. Uma sombra o precede. Centralidade O sujeito individual, o paciente, no seu padecer, nas suas queixas, nas suas deliberações é o sujeito‐objecto primeiro do acto médico, o alvo das intenções, das acções e das omissões da terapêutica curativa e da terapêutica de suporte (ou cuidados paliativos ou cuidados de suporte). Quer dizer que a família do doente, apesar de pilar essencial (ninguém o negará), não é o centro das atenções. Esta é a posição recentemente reafirmada, contra certa ortodoxia, por Randall e Downie, na sua excelente Filosofia dos Cuidados Paliativos: “there is no special relationship, and no implicit promise, between professionals and the relatives of patients” (2006: 222)2. Obra original, que li com avidez, na qual, a par de muitas ideias con‐
cordantes, vim a encontrar uma tese muito discutível que envolve as fundações da medicina clínica (e das profissões de saúde em geral): “one must conclude that the close personal relationship which the philosophy of palliative care advocates to the end of relieving psychosocial and spiritual distress is neither achievable nor desira‐
ble.” (Randall e Downie, 2006: 165)3. A premissa maior, uma proposta deflacio‐
nista da aliança terapêutica, não seria aceitável, suponho, pela maioria dos médi‐
cos (e dos enfermeiros, etc.) que tratam doentes4. E uma tal ablação do espiritual, uma tal neutralidade do emocional – em condições normais – não parece sequer humana e clinicamente possível5; esta impressão reforça‐se à luz de obras como, por exemplo, a de Frankl em medicina e neuropsiquiatria – a busca incoercível do sentido e a eficácia da logoterapia –, ou a de Levinas em filosofia – o rosto e a ética da hospitalidade (Frankl, 1959; Levinas, 1961; 1974)6. De que lugar falam aqueles especialistas? E porquê? Suponho que poderia ser uma forma hiperbólica de alerta para o abuso do poder médico7. Convém, certamente, à aceitação do risco moral, 2 Estes especialistas já nos haviam contemplado com uma outra obra de referência, a Ética dos Cuidados Paliativos (Randall e Downie, 2002). 3 Contra Kearney (2000, etc.). Compare‐se com Marques (1999; 2006). 4 Note‐se que Randall e Downie defendem uma ciência clínica prudencial (a antiga ciência do indivíduo, como tenho sugerido, tentando pensar o acto médico, Marques, 1997, 1999). 5 Excluo a chamada medicina de guerra, a medicina de catástrofe, e afins… 6 Compare‐se com Saunders (2006/1981: 161, 218), onde menciona o que ia beber em Viktor Frankl e à evocação da significação e do amor, nem que fosse em (remotas) lembranças pés‐
soais. Compare‐se ainda com Derrida (1977/2003: 76). 7 E de rejeição do poder do anel de Giges (figura célebre tomada aqui de uma lição de Richard Zaner proferida em 2000, na conferência anual da European Society of Philosophy of Medicine and Health Care). Notar‐se‐á que os laboratórios farmacêuticos com o financiamento de muita pseudo‐investigação e os media com a fácil projecção que não vem de graça, subverteram as legítimas ambições de alguns profissionais… Uma Sombra o Precede 149 da finitude, da mortalidade, ou seja, à recusa da ilusão de omnisciência e de omni‐
potência. Se a ilusão fosse realizável precipitaríamos o decaimento do ontológico (determinações meramente negativas da consciência, incluindo da consciência moral) sobre o ôntico, sobre o pulsional e suas representações. Coligam‐se, aqui, entre outras instâncias, o excedente, a representação e a re‐centralização da pre‐
sença e da finitude (Henry, 1985: 351)8. Pelo contrário, a clínica reclama a capaci‐
dade de o “terapeuta” se pôr entre parêntesis temporário para, num tempo ulte‐
rior, entrar com paciência, receptividade e concentração (q.b.) em processo transferencial. Seja, para documentar muito por alto estas considerações, a seguinte vinheta a propósito de um caso clínico de um doente muito grave observado no domicílio cerca de 3 meses antes de falecer: FC, 68 a, Arquitecto. Mieloma Múltiplo. Início há 8 anos (anemia, dores, fractura patológica….) • iúvo, 2 filhos. Apoio familiar (‘cuidadora principal’: a irmã) • camado. Dependente há c. 5 meses (escala de Norton # 15) • valiação. Prognóstico: doença em fase terminal. Bons cuidados básicos e bom acompanha‐
mento • roblemas activos: mau controlo da dor; confusão e períodos de agitação psicomotora; depres‐
são?… • evisão terapêutica: resistência à Morfina?+ Bifosfonato+ Corticóide+ Sedati‐
vo+Antidepressivo… ? Vontades expressas anteriormente pelo do doente? Medidas “agressivas”?; Onde falecer? D‐7: Sem via oral; passa a fármacos & soros por via submucosa, subcutânea e transcutânea; rea‐
firmado o desejo de falecer em casa… D‐3: exprime, em período de lucidez, desejo de morrer Re‐discutidas com a família as medidas possíveis Sedação (sedação paliativa). D‐0: falecimento Acompanhamento da família no trabalho de luto Como acompanhar e manejar, com humanidade e eficácia, o sofrimento e os sintomas imbricados deste doente (e os reflexos na família), a entrar em fase agó‐
nica, sem pecar por excesso ou por defeito?; como cuidar do corpo, da mente e do espírito honrando quanto possível a capacitação (ou empowerment), a sua identi‐
dade, a sua pessoa? Sabe‐se, da muita investigação empírica realizada, que as von‐
tades claras do doente com doença terminal incluem a resolução dos sintomas (dor, etc.), o não prolongamento do sofrimento e do morrer, o encerrar de ques‐
tões pendentes, o reforço das ligações emocionais, a possibilidade de preparação para a morte dando sentido e completude à sua existência. Ou seja, capacitação, integridade, dignidade (Steinhauser et al., 2000; Fuster e Doyle, 2004; Ellershaw, 2003; AAVV, 2005)9. Em contrapartida cabe aos profissionais o dever de efectua‐
rem a autocrítica em equipa e a cada um de fazer o seu “exame de consciência”. 8 Compare‐se com Derrida (1997/2003: 68). 9 Sobre a dignidade Chochinov (2002; 2004), é controverso e indispensável. 150 M. Silvério Marques Exemplo das perguntas que cada profissional deverá efectuar em consciência e em reunião de equipa • O doente morreu acompanhado, com dignidade e em paz? Deu‐se‐lhe o tempo (por ele) pedido? • Libertou‐se o doente, adequadamente, dos tormentos sintomáticos e da dor total? • Respeitou‐se a sua vontade? • Como se sente cada membro da equipa…? (… e se a sua conduta fosse publicitada?) Compreender‐se‐á, agora, porque falamos de acolhimento, de abertura, de auto‐afecção (Kübler‐Ross, 1969; Lo et al., 1999a; 1999b). Os laços da afectividade, segundo Michel Henry (que desenvolveu uma teoria incontornável sobre o eu, o si e os afectos) são dobras da auto‐doação, isto é, são prestações que abraçam a não‐fenomenalidade da fenomenalidade10, não sendo originariamente inconscien‐
tes (Henry, 1985: 368). Perplexidades Quem tem prática de oncologia e de medicina de cuidados paliativos (MCP) em Portugal11 sabe que ainda em 2008 cerca de metade dos doentes com doença em fase terminal eram enganados – o subterfúgio, a mentira impiedosa e o com‐
plot familiar ainda são atitudes muito comuns na nossa cultura12. O efeito mais frequente, creio, não é a esperança, é a crueldade: condenar‐se, porventura invo‐
luntariamente, o doente a atravessar na mais profunda solidão e no mais mudo desespero as inúmeras perdas e medos do fim da vida deixando eternamente sus‐
pensos desejos ou obrigações pessoais. Evidentemente que se morre sempre só. Mas espera‐se dos familiares, dos amigos, dos próximos, na fase de maior sofri‐
mento e vulnerabilidade do doente terminal, a presença, a solicitude, o apoio, para que consiga viver até ao fim13. A vida tornou‐se, é notório, difícil e madrasta para tantos dos nossos concidadãos; mas não se pense que a divisão entre morte digna e morte indigna é uma simples questão de classe social: quem faz domicílios vê muita miséria nos ricos e grandeza nos pobres14. 10 Ou uma pré‐fenomenalidade prática, emocional (Henry, 1985: 354). Esta hipótese não nega‐
ria, suponho, a dinâmica inconsciente reactiva do recalcamento, do esquecimento, da forclu‐
são. No campo clínico é o domínio nocturno (ou solar) explicitado em cuidados paliativos em termos de dor total, pela agudização do síndrome dolorosa; é o fenómeno saturado ou inten‐
sificado e a sua indizibilidade (limitações de tempo e lugar) Tentei tratar a intensificação, seguindo Goethe, Filomena Molder e Jean‐Luc Marion, em Marques (2008a). 11 A MCP não é, entre nós, uma “especialidade” mas comporta know‐how diferenciado que requer aprendizagem clínica, teórica, ética. Ver, entre muitos outros, Twycross (2001), Hanks et al. (2001), Cassel (1999), Malherbe (1999). 12 Evidentemente que o dever de revelação (disclosure) não é uma enunciação mecânica do diagnóstico e do prognóstico; cada doente tem a sua vontade de saber (ou não saber) e cada cultura os seus constrangimentos. É interdito mentir. Dito isto, há sempre o dever de não abandonar o doente. 13 Veja‐se Paul Ricoeur (2006) e o comovente livro póstumo dos seus escritos e dos seus “Ais” (2008). 14 O que não significa que não haja terríveis e inadmissíveis carências em muito lares e famílias pobres de Lisboa. Tal devia preocupar mais o poder e os serviços públicos; cabe, também, aos profissionais de saúde e suas organizações (se enxergam mais que os interesses corporativos) lutar por maior equidade. Uma Sombra o Precede 151 Notem‐se estes dados recentes (reportam‐se aos doentes oncológicos da Unidade de Oncologia do Hospital do Espírito Santo de Évora e ao local de faleci‐
mento no ano de 2003/2004) que espelham a transformação de uma sociedade tradicional ainda muito solidária noutros campos, a região de Évora (Feio, 2008)15; obviamente faltavam (e faltam) recursos e apoios no domicílio aos doentes, às famílias e prestadores de cuidados, principalmente assistência durante 24h/dia, 365 dias/ano, de enfermagem especializada, cuidados pessoais e médicos16. Local de falecimento de doentes com cancro Distrito de Évora, 2003/2004 N=118, em % Residentes Não residentes Total Hospital Agudos (idem, no S. de Urgência) 75 (13,8) 90,6 (7,5) 82 (11) Lar/U. Cuid. Continuados 3,3 Domicílio 7,7 Local 0 4,2 Ora, o médico competente (qualquer profissional de saúde), seja como actor, como testemunha ou como cúmplice (por exemplo na “mentira piedosa”), tem a honra de acompanhar os doentes e suas famílias e o privilégio de intervir em situações de grandeza e de miséria da humanidade. Quando enfrenta a doença avançada e refractária e propõe tratamentos paliativos, haverá momentos em que não pode deixar de se perguntar: neste caso, o que é a boa morte?; o que significa morrer com dignidade?; como dar más notícias?; como dobrar o cabo da boa esperança?; e o das tormentas?; e como não causar sofrimento evitável?; como respeitar as opções do doente?; e as suas derradeiras vontades?; prefere morrer em casa ou no hospital?; e o que manda o estado da arte, em termos de prescrições “positivas” e “negativas”?; como sopesar o acompanhamento moral e espiritual (coping)?; quando e como agir se o doente foi enganado e tiver expectativas erradas? (Tomé e Marques, 2008; Saunders, 1978/1979; 2002; 2006; Folscheid, 1997; Ricoeur, 2001; 2004)17 Que as coisas não são simples, e exigem uma mudança de cultura institucional, resulta também de um estudo exploratório que efec‐
tuamos recentemente em Lisboa (com uma amostra de doentes do IPO e da equi‐
pa MCP do Centro de Saúde de Odivelas18): mostrou que os doentes (N=58) se 15 Ver também a sua tese de mestrado em MCP, com a minha gratidão. 16 Isto é mais que sabido há muitos anos (visto de fora, parece que com a política de Correia de Campos sofreu um impulso positivo na boa direcção). Compare‐se com Billings (2002), Gomas (2001), Murphy‐Ende (2001). 17 É claro que estas perguntas só devem (e podem) ser postas com tempo, no tempo próprio, por médico que conhece o doente, que conquistou a sua confiança e que o não deserta no fim (por exemplo entregando‐o a outro colega ou a outra equipa); não esquecer a imensidade de questões de índole técnica afloradas atrás (ver vinheta clínica). 18 Este estudo foi efectuado antes da Unidade de Cuidados paliativos do Centro de Saúde de 152 M. Silvério Marques sentiram, segundo os familiares, “totalmente” (50.9%) e “parcialmente” (33.3%) informados (informação parcial?19); quase 20% ignoravam a sua situação20. A grande perplexidade acerca da morte e do morrer nas sociedades contem‐
porâneas mais desenvolvidas é, está à vista de todos, a seguinte: porque é que a morte se tornou, em poucas gerações, como mostrou Phillipe Ariès, tão envergo‐
nhada, tão solitária, tão negociada, tão desumana, havendo, em geral, em potên‐
cia, tantas condições em contrário…? A resposta não é fácil nem eu a tenho. Mas é claro, para todos, que boa MCP, Unidades de Suporte hospitalar e apoio domiciliário – qualificados e certificados por entidades independentes e idó‐
neas – constituem a segunda condição para um ocaso da vida digno; a primeira é enfermagem especializada disseminada pelo país em articulação com os Cuidados Primários. Porém há quem se interrogue: não poderá o negócio da doença prolon‐
gada, a sua monopolização e hiper‐medicalização, não apenas subverter o princí‐
pio da autonomia, como também alimentar a reificação e agravar a alienação humanas21? Robert W. Higgins, psicanalista com larga experiência de acompa‐
nhamento de doentes em fim de vida, tem vindo a avisar‐nos, com efeito, que assistimos à invenção de uma nova casta de intocáveis, os moribundos. Para ele, a sociedade ocidental quer é arrumar os “trapos” velhos e os doentes “terminais” a um canto…”tout se passe comme si nôtre societé instaurait une ‘symbolization’ […], une ‘représentation’ et une ‘ritualization’ de la mort, qui reposent essentielle‐
ment sur le ‘mourrant’ […] avec la prétention illusoire de nous délivrer et de la mort, et de ce que nous devons aux morts”” (Higgins, 2003a: 28).. Haverá algum exa‐
gero, mas… Provavelmente, a melhor resposta da sociedade passa pela redesco‐
berta da hospitalidade: a definição da boa morte é absolutamente íntima; a vida digna até ao fim não é fácil e, constitui um teste ao respeito pelos direitos huma‐
nos pela comunidade de cidadãos que se… respeitam. Para os profissionais não é novidade: a vida é breve, a arte longa, a ocasião fugaz, a experiência enganadora, o juízo difícil… Odivelas ter sido abandonada pelas suas chefias (a quem aliás reiteramos o agradecimento pela disponibilidade). 19 Que a disclosure não é uma questão assim tão simples pode ver‐se nos trabalhos de Lamon e Christakis (2003). Quanto a nós portugueses, não esqueçamos que ainda se vive imerso na cultura desumana (política, social, jurídica, médica, etc.) do talvez, do faz de conta, do escre‐
ver Direito (não direito) por linhas tortas. 20 Marques, Bacelar‐Nicolau et al. (2008) (Humanização dos cuidados paliativos em contexto domiciliário: interpretação clínica e conclusões principais de um inquérito com o questionário SERVQUAL‐M, projecto financiado pela FCG ao Serviço de Apoio Domiciliários do IPO, Lisboa). Repare‐se que neste estudo empírico retrospectivo, uma percentagem elevada de doentes, segundo a opinião retrospectiva dos cuidadores, faleceu com sintomatologia agravada, nomeadamente dores (60%), obstipação (67%) e depressão/ansiedade (43%). Mas dos 58 familiares/doentes que responderam ao questionário apenas uma minoria estava insatisfeita (uma classe de 5 indivíduos mostra‐se francamente insatisfeita); uma classe de 15 estava moderadamente satisfeita, havendo 38 indivíduos fortemente satisfeitos com a qualidade e prontidão dos serviços prestados. Estes resultados fazem problema e movem‐nos a alargar este trabalho. 21 Henk ten Have (2000), examinando o caso holandês, explicou‐nos, há uns anos, alguns dos danos colaterais e paradoxais causados ao princípio da autonomia. Uma Sombra o Precede 153 Oblativo/ablativo O acto médico é um facto social total. O significado preciso, operatório, das categorias estruturantes (do conhecimento) da biologia (não da vida), tem vindo a ser cada vez mais determinado e contextualizado, a saber: parte/todo, indivíduo, escala, propriedade emergente, autopoiése, diferenciação, morfogénese, rede, integração, atractor, trajectória, história, população, dinâmica social, evolução, etc. Encobre‐se, aqui, na pregnância destes conceitos, o abismo que a ciência abriu entre naturalismo e facto experimental, por um lado e sentido e fenomenologia natural, por outro. Comparem‐se com, por exemplo, estas duas categorias que atravessam assimétrica e ortogonalmente todos os domínios e escalas do campo médico (em especial da enfermagem): a oblação e a ablação. Como o todo e a par‐
te e o uno e o múltiplo, são categorias que conformam os gestos comuns da clínica (Marques, 2008c). Ablação, não a cirúrgica22, mas a da fala, do tempo, da solicitu‐
de, da relação; por exemplo, a supressão da autonomia ou a exclusão do nosso convívio do idoso, do doente “pesado”, do moribundo: a sua morte social e legal, como, a dos leprosos até há pouco, é exarada antes do seu passamento. Não é evidente que, quando o doente quer mandar na sua vida e conhecer a sua situação se deve facultar toda a informação solicitada e suscitar a possibilidade de delibera‐
ções antecipadas (tipo living will)?23; não seriam estruturantes para a moral das famílias e das comunidades, permitindo evitar e resolver bem tantos dilemas dia‐
bólicos? Falhamos por recusar ao doente o tempo, por mentir, por esquecer a subjec‐
tividade, por capturar o espiritual, por ignorar o cultural, e, assim, por não abolir, quanto possível, a dor e o sofrimento, as dele e as dos seus. Higgins (2003), como disse, alertou para a indução obscena de vergonha no doente moribundo pela comunidade, que nele descarrega os seus fantasmas e terrores (um processo de vitimização expiatória)24. É a destruição da confiança básica, da esperança, do sen‐
tido, tantas vezes sob o pálio de panaceias eficazes. Enfim, o psicanalista protesta contra a evacuação da companhia, da escuta, da voz, da fala intermediária (como diz François Flahault25). Numa palavra, falta hospitalidade26: “Faute d’une méta‐
phore ou d’une fiction qui seules permetent d’entrer en relation, le mourant reste cet être rendu diaphane ou totalement opaque, par cette anticipation ‘réaliste’ de sa mort que rien ne vient signifier, rappeler comme étant aussi et d’abord ‘notre 22 Uma outra ablação relevante, agora no contexto da história da ciência, é a metodologia sub‐
tractiva em medicina experimental segundo Claude Bernard: sublata causa, tollitur efectus. 23 Sei que a questão das deliberações antecipadas é complexa e pode gerar ainda mais perplexi‐
dade; eis algumas razões comuns de hesitação: stress e incapacidade de decidir (Larson, 1993), esperança e desespero (Kodish, Post, 1995, Kissane, 2004), mudança de opinião e revi‐
são de crenças (Fagerlin, 2004). 24 A certo passo, o autor, reportando‐se explicitamente à obra de René Girard, afirma mesmo: “qui délegue aux mourants émissaires nos dificultés avec la mort” (Higgins, 2003: 153). 25 Para a inscrição da subjectividade no corpo, entre outros, ver Flahault (1978/1979; 2002; 2008). 26 E, acrescente‐se, faltam, para os profissionais, espaços de reflexão ditos “grupos de fala” e apoio profissional de psiquiatria de ligação (como se diz na gíria). 154 M. Silvério Marques mort’, notre ‘en commum’.” (Higgins, 2003b: 151)27. Ao morrente abandonado uma sombra o engole. Por outro lado, embora o pluralismo de valores e práticas seja desejável e inevitável nas sociedades multiculturais, verifica‐se um agravamento da mercado‐
rização, reificação, fragmentação e tecnicização dos sentires e dos saberes envol‐
vidos (médicos, etc.). A par da liberdade e a capacitação do doente, tem estado na ordem do dia na medicina e na bioética Ocidentais a preocupação auto‐reflexiva por parte de uns quantos: cresce, justamente, a crítica aberta, sem agendas escondidas e sem disfarces, com a assunção plena das inquietações pessoais nos planos técnico, moral e filosófico28. Eu, pelo meu lado, aprendi (e julgo que todos o vemos), que a determinação prática do bem não é aproblemática, algorítmica, dogmática, nem sequer democrática; pelo contrário, é prenhe de aporias e exige o esforço persistente, situado, casuístico, intersubjectivo, em‐carne‐e‐osso… Pare‐
ceu‐me, há tempos, que era conveniente distinguir entre três regimes de bem moral: (i) bem instrumental, isto é a correcção, o bem como meio, ou aptidão, etc., para um fim (a beleza, a perfeição de uma tela de Gauguin), (ii) bem adjectivo, baseado em valores internos (o pintor bom, a bondade na e da actividade expe‐
riente; daqui a inevitável tomada de responsabilidade pelos actos próprios – tão raro nas culturas complacentes – o spondaios), e (iii) bem substantivo, concreto ou real, o esforço oblativo, autêntico, do indivíduo para (na definição de Paul Ricoeur) bem viver com e para o Outro em instituições justas (uma grosseira analogia sensí‐
vel: Gauguin pintor versus Gauguin pai de família). Hospitalidade Para além das indicações de Higgins, uma outra causa estrutural das nossas dificuldades, independentemente de sermos profissionais ou leigos, e que foi vivi‐
da na carne por Fernando Gil, está expressa num texto impressionante que escre‐
veu no leito de um hospital público, um ano antes de falecer. Concentro‐me numa configuração, o testemunho austero de um tipo de anonimato: Paradoxalmente a mesma impessoalidade anónima que em tese geral compromete a aplicabilidade da lei moral a acções determinadas […] é o que permite considerar o doente hospitalizado como um ‘um fim em si’. […] o princípio de funcionamento do hospital público é o ‘véu da igno‐
rância’ […]. O anonimato assegura a igualdade de cuidados, entre outras coisas porque curar exige a cooperação do doente. De começo simples possibilidade, a fraternidade ganha corpo. (Gil, 2005b) 27 E Higgins remete para o Homo Sacer, o que é demais e de menos, depois da Vida Nua de G. Agamben (1998/1995). O mesmo é, infelizmente, aplicável aos idosos solitários, carenciados ou dependentes (Trotter, 2000). 28 “Sem agendas subreptícias”: veja‐se a lisura e positividade argumentativa na bela obra assu‐
midamente confessional de Malherbe (1990). Destaco entre nós, pela sua relevância e eleva‐
ção Jorge Melo e J. M. Pereira de Almeida (1998; 2002), João Lobo Antunes e Walter Osswald, sem esquecer Fernando Gil. A noção de medicina reflexiva está discutida em Epstein (2008) e Williams e Frankel (2008). Uma Sombra o Precede 155 Conjecturo que, através de uma espécie de analogia de atribuição, o anoni‐
mato que se vê ser ambivalente, se transforma e bifurca em inospitalidade (diga‐
mos, no plano horizontal; diacronia) e, dialecticamente, em filia (no plano vertical; sincronia). A ablação do nome, o anúncio da filia, interpela‐nos a todos. A abolição do nome, a perda da individualidade ou a reificação da pessoa, lida superficialmente como impessoalidade, pode (em primeira aproximação) ser clas‐
sificada, segundo o escopo, em (i) impessoalidade‐em‐si (de coisa), (ii) para‐si (de servo), (iii) para outrem (de ermita: Robinson Crusoé), para tal comunidade (do pária, de género, de minoria, do inimigo), e (iv) para a família nuclear (por inveja, do doente, de moribundo, etc.)29. A analogia de atribuição percebe‐se, talvez, melhor na clínica, com o profissional de saúde que exerce uma “medicina defen‐
siva” e que se assume, exclusivamente, como técnico ou cientista amoral30. Direi, para abreviar argumentos, que resulta da instalação narcísica do profissional (quantas vezes o mais responsável) no anonimato da “massa”, do número e da contabilidade de doentes, sobretudo no sector hospitalar e nas clínicas privadas. Esta acídia vai‐os arrastando para a “deformação profissional”, guardando, da magestas, apenas o verniz e atingindo o ponto em que, sem se darem conta, caiem na (auto‐)reificação, na indiferença e, até, porventura, na perda das pró‐
prias emoções31; uma vez aí, anedónicos, já violaram a promessa de lealdade, já abandonaram o doente (são formas lamentáveis e relativamente frequentes de medicina fria e inóspita). Uma indicação indirecta de que este processo é corrente e pode ser insidioso são as tentativas de captura da relação de cuidado por mais e mais métricas e medidas burocráticas, a bem das próprias ciências clínicas e, até, para a humanização da medicina e glória da enfermagem! Uma destas putativas quantificações, muito controversa desde o início, sobretudo em contexto de MCP, é a da Qualidade de Vida (Nussbaum e Sen, 2003); Randall e Downie opõem‐se‐lhe vivamente32. Aqui o anonimato leva a reificação, não reconhecimento, inospitali‐
dade (hostilidade) e ablação da alteridade, a recordar, assustadoramente, o Homo Sacer e A Vida Nua de Giorgio Agamben (1998/1995). O que é concordante com a outra deriva (holística ou totalitária?) da MCP, a medicalização das emoções humanas normais e a pulsão de interferir com inten‐
sidade na vida moral e espiritual (existencial) do doente que aqueles especialistas também contestam33: “intrusive questioning to identify the patient’s psychological 29 Eu sei que esta é uma grande simplificação e uma definição meramente provisória (Derrida, 1977/2003: 39, 45; Flahault, 2002; 2007). 30 Nesta opção por uma medicina defensiva podemos incluir a postura legítima de economia de sofrimento (problemas de stress, coping e burnout). 31 Temos visto o resultado do pensamento operacional e de verdadeira alexitimia em soma‐
tizações… 32 Randall e Downie (2006: 265, 297) contestam pois, que a Qualidade de Vida em MCP seja quantificável: este é, aliás, um conceito qualitativo! (Marques, 1999). Chegam a propor que, em Medicina de Cuidados Paliativos se abandone o termo qualidade de vida, mas não essa “filosofia” (Randall e Downie, 2006: 34, 49)! Consequentemente, recusam (2006: 239) o fun‐
damentalismo dos profissionais que se propõem criar escalas para questões do foro íntimo e espiritual e, ainda por cima, aplicá‐las a doentes graves ou moribundos, os mais vulneráveis e indefesos. 33 Segundo Randall e Downie, “normal human emotions and reactions should not be medical‐
ized” (2006: 163). 156 M. Silvério Marques and spiritual concerns so that an ‘intervention’ can be applied, is very difficult to justify unless there is strong evidence that the ‘intervention’ is actually effective.” (Randall e Downie, 2006: 162)34. Esta crítica, esta recusa, supõe, creio, a fixação do lugar da ética aquém da utilidade e além da necessidade, antes da técnica e fora das técnicas. Mas se não medicalizamos – se não avaliamos – as emoções huma‐
nas (normais/anormais), quid da normal sensibilidade, da empatia, do acompanha‐
mento, da partilha, da hospitalidade? Como diagnosticar o sofrimento, o medo, a angústia, o desespero, a depressão?35 Esta análise resulta, também, creio, numa crítica da coisificação e da filosofia utilitarista implícita que almeja fixar, normativa e paternalisticamente, o que é bom para cada doente, ignorando problemas da decisão como o do “frame”, da intransitividade das preferências, etc. (que aqui não posso desenvolver). Dir‐se‐á, portanto, encurtando alguns argumentos, cooptando uma ideia de Paul Ricoeur, que só uma analogia da acção pode salvar a analogia do sensível36: é o subir pela escada da razão analógica depois jogada fora, a resolução da suspen‐
são fenomenológica e a posição de contentor que vai permitir a elevação do acto médico a acto moral. Aqui, a moral, a moral clínica, nasce de facto e de jure da e na relação com o doente que sofre e interpela37. Na verdade, a clínica, da anamne‐
se ao diagnóstico até à paliação, é inseparável do valor: está impregnada pela escolha. E quem escolhe, escolhe‐se. A experiência clínica, sempre intersubjectiva, mesmo se pseudo‐amoral, é moral pela negativa e, mesmo na execução da técnica mais diferenciada, “tem em comum com a da esfinge o facto de se dirigir a um homem a andar que não tem outro lugar próprio para além do caminho em direc‐
ção a um destino que lhe é desconhecido, mas que, como a sua sombra, o precede” (Dufourmantelle, introdução a Derrida, 2003/1997: 17). Esta sombra vem da fini‐
tude, vem do acto concusso. A mudança mais impressionante (para um clínico 34 Esta posição conforta‐me: embora delicadamente se possa abordar a questão no momento próprio para o doente, sempre achei que o profissional de saúde, enquanto tal, não se deve imiscuir nas opções metafísicas, existenciais ou religiosas do doente, a não ser que este o peça (ou o seu porta‐voz) e, então, deve limitar‐se a seguir as práticas correntes da religião do doente. 35 Sem descrer da realidade da doença, recordemos (i) que a fronteira normal/patológico é con‐
vencional e contextual (Canguilhem), (ii) a importante teoria de Balint do médico como fár‐
maco… e (iii) a obra de Bion da relação terapêutica contentor/contido (Cassel, 1999; Kissane, 2004; Marques, 2002; 2006; 2008). 36 Sobre a analogia e a ideia de clínica ver Marques (1999: 73) – no plano do corpo e da doença: “Afinidade generativa, polaridade, intensificação complicação, são coordenadas que, no âmbito de uma teria clínica da morfologia, merecem, suponho, ser discutidas”; e no plano da relação, “Uma boa história clínica […] envolve empatia (tema que não examino aqui), o diá‐
logo, prática de inter‐locução e algum domínio técnico. Destaco a técnica dita das respostas abertas, […] das locuções neutras, da repetição verbal, das perguntas abertas, da paráfrase. Requer ainda o manejo das emoções, praesentia, doação, consiliência, autenticidade, con‐
fiança: as ajudas à comunicação são a passividade (…receptiva), a sintonia, a nomeação da emoção, o assentimento ou legitimação, o respeito, o suporte emocional” (Marques, 1999: 330) – figurei nessa obra a analogia da clínica como analogia metafísica ou de atribuição, como um espelho declinado. 37 Neste texto, e em geral em medicina, ética clínica e bioética (tal como as entendo), moral e ética são sinónimos e, genericamente, definidas (seguindo Ricoeur) como a procura de bem viver com e para o outro, numa sociedade justa. A interpelação fundacional de outrem tem sido tematizada por Jean‐Luc Marion. Uma Sombra o Precede 157 como eu) que conduziu a este lugar deserto e inabitável, talvez tenha sido a captu‐
ra e desvirtuação sub‐reptícia da alma, da ideologia, da linguagem e da terminolo‐
gia tradicional da Medicina e da Enfermagem (clientes e não doentes, produ‐
ção/produto e não assistência/tratamento/cura…, etc.)38. “… da lei da morte” Ter‐se‐á visto que uma certa magestas exprimia a inteligência, a sensibilidade, a paciência, a segurança, a auto‐confiança, a reserva dos grandes clínicos: são atribu‐
tos de um habitus, plasmado na fisionomia, construído, merecido, em dias e noites passados à cabeceira dos doentes, lutando contra a lei da morte. Era o resultado natural de uma gesta de lutas, de ajudas, de vínculos clínicos: vidas talhadas com a principal ferramenta terapêutica da Grécia Antiga, a escuta, a palavra (Lain Entralgo mostrou‐o há muitos anos). Como diz o psicanalista André Green (2002), a relação terapêutica consiste em volver a si por via da ida ao doente39, em se sentir por via do dizer de outrem, consiste no idioma do sofrimento, da queixa, do corpo, como Hipó‐
crates disse lapidarmente em Lugares no Homem 2,1: “A natureza (physis) do corpo (soma) é a fundação (arché) do discurso (logos) da medicina”. Recebemos (ainda hoje) cada doente, cada novo caso, cumprindo um rito imemorial e uma anamnese que, desde os arcanos da medicina hipocrática, institui um espaço narrativo entre clínico e doente. É a condição de reconhecimento (aknowledgment) do doente. Devemos fazer a nossa apresentação (se convém) no início da entrevista – eu sou fulano… – e solicitar ao doente que diga o nome, se identifique…, ao que vem, etc.40 São também regras de simples humanidade, de acesso ao doente, reiteradas no encontro clínico: não se compreende que possam parecer supérfluas e dispensáveis na paranóia de tudo temporizar e contabilizar41. É por isso que, de muitos lados, profissionais de saúde, eticistas, filósofos, sociólo‐
gos, religiosos, simples leigos, vêm insistindo na necessidade de regressar a algu‐
mas das condições deontológicas do exercício profissional (com doentes em fim de vida e não só) (AAVV, 2005; Callahan, 1997): – revalorizar a confiança e a esperança, no contexto das diferentes trajectó‐
rias da doença (equivale ao retorno à prevalência da clínica); – cultivar paciência para com o Real: dar tempo e dar espaço condignos, isto é, dar hospitalidade ao moribundo; 38 “Economicismo”, aqui, para simplificar muito, não quer excluir a responsabilidade da medi‐
cina (e enfermagem) não a liberal, mas a comercial, da dicotomia consigo mesmo (pluriem‐
prego, acumulações público‐privado, conflitos de interesse); aquela mutação de terminologia terá sido depois adoptada, se não erro, compreensivelmente, por técnicos e administrativos e por algumas escolas de enfermagem e grupos de generalistas, por razões diversas, desde as cor‐
porativas (e não principiais) às pragmáticas (por exemplo, o acompanhamento de muitas pes‐
soas sãs na medicina familiar, na educação sanitária, em cuidados básicos e preventivos, etc.). 39 Citando o autor: “accomplir le retour sur soi au moyen du détour par l’autre” (Green, 2002: 59). 40 Noutros trabalhos explorei a ideia que as questões clínicas do tipo “De que se queixa?”, “Como se sente?; Dói?; Está melhor?” exige a atenção à Vida ou ao indivíduo, implica um fun‐
do de com‐passibilidade e, ainda, engendra uma métrica interna primordial co‐determinante da justeza, da justa medida (Marques, 2002, 2007). 41 Nada a obstar a estudos do trabalho e a uma filosofia do trabalho racionalista exigente… 158 M. Silvério Marques – garantir o não‐anonimato e construir consensos para se poder respeitar a pluralidade das situações individuais e dos sistemas de crença; – pensar o morrer: acontecimento interpessoal (e não individual) que requer uma reforma do ethos, das instituições e… onde e quando houver Justiça, da legislação (Cadoré, 2001a; 2001b; sobre a esperança, Marcel, 1998; Kadish e Post, 1985; Zaner, 2000). Nas controvérsias públicas em torno da disclosure, do respeito, da auto‐
nomia, da sedação paliativa e terminal, do suicídio assistido, da eutanásia, temos ouvido nesta Cidade as mais desvairadas vozes. As mais autoritárias e dogmáticas, por vezes de médicos, disfarçam mal as comuns preplexidades, angústias e impas‐
ses da condição humana e exibem frequentemente uma míope e brutal inso‐
lência42. Arrisco‐me a sugerir um motivo pelo qual esse “especialista” finge com tanta facilidade: na realidade, no seu cerne, na sua carne, “il n’a pas vu assez mourrir, c’est pourquoi il parle au non d’une vérité”43. Não viu que as decisões morais são sempre escolhas singulares entre Eu e Tu, que em medicina, em saúde, Tu não requer fundação, mas sentir (e sentir‐se)44. Em questão está o saber ver, o querer ver. Houve quem nos tenha ensinado. Um paciente dizia à sua médica: “I thought it so strange. Nobody wants to look at me. – Will you turn me out if I can’t go better?” (Saunders, 2006: 79)45. Outra pa‐
42 Vemo‐lo em todas as seitas e opiniões. 43 Na fala do Dr. Rieux: “Paneloux est un homme d’études. Il n’a pas vu assez mourrir et c’est pourquoi il parle au nom d’une vérité. Mais le moindre prêtre de campagne qui administres ses paroissiens et qui a entendu la respiration d’un mourrant pense comme moi. Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer l’excellence. “ (Camus, 1963: 102). É, para mim, evi‐
dente, que algo como a dimensão do sagrado, do numinoso, do enorme comparece nesta mensagem, não no valor semântico facial mas nos actos concretos dos Rieux – enfermeiros ou médicos – que, felizmente, ainda vão existindo. Veja‐se, além disso, o pequeno debate em torno da eutanásia e de decisões médicas de fim de vida, recentemente (2008), no Público. 44 Acerca da legislação, mais algumas observações. O problema do desejo colectivo e individual de libertação da lei da morte (a morte medicamente assistida, MMA, dizem os jornais) não é homólogo ao da IVG, não tem a mesma significação, nem história, nem acuidade, nem disse‐
minação, nem transparência (seja‐se pró ou contra). Contesto que seja ética, política e socialmente bom, no nosso país, submeter a MMA, agora, a um debate público parlamentar ou plebiscitário. Falta muita coisa. Em primeiro lugar formação científica e reflexão colectiva nas áreas respectivas. Faltam ideias puras, claras e distintas dos profissionais. Falta com‐
preensão pública do que é eutanásia, suicídio assistido, sedação paliativa e sedação terminal, encarniçamento terapêutico, ordem de não reanimação, etc. Falta vontade e capacidade polí‐
tica de desenvolver e generalizar a MCP. Mais, leis úteis e provavelmente necessárias, como a discutida pela Ordem dos Médicos francesa há meia dúzia de anos, dita de “Excepção de Eutanásia” (CCNE, 2000), requerem, creio, comunidades cultas em Direitos Humanos e em Direitos de Saúde, dotadas de um Aparelho Judicial capaz, oportuno, competente, eficaz, isento, fiável e prestigiado. Falta‐nos, também, auto‐regulação profissional séria, transparen‐
te e escrutinizável (para dar um exemplo, foi público e notório que não há ainda procedimen‐
tos deontológicos e mecanismos institucionais transparentes de colheita e atribuição de órgãos para transplante, etc., nem para apropriação de mais‐valias, honorários, etc – afinal os órgãos colhidos ou doados são um bem comum). Requerer‐se‐ia, ainda, uma “regressão” no ethos profissional. E, por fim, eu não o quereria para mim, médico (por uma espécie de escrúpulo, de sentimento moral), nem para os meus filhos e netos, nem para o meu médico. Sinto, porém, que as coisas não podem ficar como estão; não haverá outro caminho? Para um pequeno diálogo, apenas sobre a eutanásia, sem concessões, ver Jonas e Dönhoff (1995). 45 Podia também referir o Ivan Illich de Tolstoi, o Diário XII de Torga ou A Morte de Virgílio de Broch. Uma Sombra o Precede 159 ciente, antes de fazer morfina, queixa‐se das dores sem nome – repare‐se que é uma descrição densa e aguda do moi‐peau de Didier Anzieu: “The pain was so bad that if anyone came into the room, I would say: ‘Don’t touch me, don’t come near me’ […] It felt as if something had come between me and the pain” (Saunders, 2006: 280). E depois de tratada com morfina: “‘She was alert and cheerful […] and maintaining her composture until her death some weeks later’” (Saunders, 2006). Cumpre‐me agora explicar, sucinta e esquematicamente, por que é que as decisões médicas do fim da vida dão a ver melhor a reificação e/ou a auto‐reifi‐
cação, que são graves em si, e, na clínica, gravíssimas: estas, não apenas, impedem o reconhecimento (Ricoeur, 2004; Honneth, 2007) como a boa prática, a acribia, a justeza. E expulsam a libertação estóica da lei da morte. Boa prática Ele é um doente em estado grave que nos pergunta com frontalidade: “Quan‐
to tempo de vida me sobra…?”, ou promete “Eu vou lutar!”… Para lá da coragem e da determinação, admiramos a sua vontade. Desta, disse Michel Henry “C’est l’apparaître sui generis de la volonté que fait d’elle et peut seule faire d’elle la réa‐
lité” (1985: 167); e “Il existe une réalité en soi, totalement étrangère au monde de la représentation […] cette réalité en soi nous est accessible […] c’est la volonté; le mode selon laquelle elle se donne à nous c’est notre corps” (1985: 163)46. Faculta a inscrição no corpo, mediada pela fala intermediária, que se articula com o lugar do Sujeito, o nome próprio, a autoridade de primeira pessoa – sujeito que nasce hós‐
pede e refém, como disse Levinas (1961; 1974) – e, por isso, com a sua autonomia. A seguinte interrogação de Fernando Gil (2005b), no artigo antes referido, atinge, certeira, o alvo: “Como fazer sentido de coisas tão díspares – a burocracia hospita‐
lar, uma mesma imagem ‘natural’ que se perpetua através dos séculos, a medicina e os seus limites, a morte e o arcaísmo do pranto colectivo, o amor e a piedade?”. Uma sombra nos precede e, ao nascer mais um dia, deparamo‐nos espantados com a Natureza e, perplexos, repetimos a história. Como tematizá‐los e obter uma orientação satisfatória para a praxis? Os sinais de fogo do Sujeito cegam, o halo de luz subjectiva torna‐o impenetrável, porque, como Fernando Gil afirmava em Eu: “parece haver uma descontinuidade entre o sentimento de unidade da consciência […] e a dificuldade […] de determinar um pólo estável de tal unidade” (1998: 227). São descrições finais das perplexidades, das aporias e dos desafios, amplifi‐
cadas e complicadas pela vivência contemporânea da vulnerabilidade, (do acom‐
panhamento) da doença incurável, da paliação, da perda e do luto na nossa socie‐
dade47. Continuo a pensar que, para estas situações – dada a óbvia incomensura‐
bilidade das perdas, singulares e irreparáveis –, o bom ponto de partida (mas não de chegada!) é a intuição pré‐racional, emocional, de que o homem é medida de 46 A demonstração é demasiado longa e passa pela teoria da passibilidade originária e da auto‐
‐afecção; fica aqui uma indicação: “le monde de la veille est homogène au rêve et compose avec ‘lui les feullets d’un même livre’” (Henry, 1985: 162). 47 Como fazê‐lo com profissionais que agora aprendem medicina em e‐sebentas e em v‐doentes (v‐virtuais, meios excelentes apenas para algumas aquisições e aprendizagens) com docentes que fraco exemplo dão e dificilmente são modelo na Faculdade ou no Hospital? – isto, mutatis mutandis, aplica‐se a todas as profissões de saúde essencialmente clínicas. 160 M. Silvério Marques todas as coisas: afinal a inteligibilidade de noções como sofrimento, dor, espe‐
rança, identidade, individuação, santidade de vida, qualidade de vida implicam o primado da relação intersubjectiva, a capacidade de auto‐afecção e, sobretudo, de auto‐calibração, de cada indivíduo: outra designação do homo mensura48. Assumo que esta é uma verdade médica evidente, dita do ser/estar cujo sentido da exis‐
tência é o sentido da co‐existência, Mitsein. Daquele a quem pergunto, tocado ori‐
ginariamente por um não sei quê que me chama: “– Diz‐me, o que te ator‐
menta?”49; “– Sentes‐te pior/sentes‐te melhor hoje?”, etc. São expressões funda‐
cionais oblativas que lançam a ponte entre a acção contentora do clínico e o hós‐
pede doente, por isso, aí, então, o seu doente e não um Outro. Nos celebrados Seminários de Zollicon, Heidegger assinalou‐as como estar‐lançado, sin‐tonia, tota‐
lidade, compreensão (lição de 1.3.1966, 1987/2001: 139).Então, se quisermos resumir esta proposta muito esquematicamente com um compromisso acerca das mediações (os lugares, os baptistérios, os discursos) a que a Medicina ain‐
da poderia recorrer, teríamos as seguintes analogias “baptistas”: Baptismos e Baptistérios: um quadro analítico
Baptistérios Comentários Eu‐Tu Conservação não fusional da vida, do corpo, do desejo, da digni‐
dade, da diferença… Hospitalidade, intersubjectividade; interpessoalidade da morte… Nós Nome, família, cultura, comunidade;
Ideal do Eu…; Sagrado, profano, secular… Próprio Sentir‐se; devir‐humano e identidade; unicidade;
Narcisismo de vida e narcisismo de morte… O que remete, evidentemente, para a subjectivização e para estruturação e desestruturação clínica da intersubjectividade, complemento necessário mas ausente deste estudo – é a irredutível complexidade, incompletude e incerteza na fixação da justa medida, mesmo com o mais escrupuloso cumprimento das regras da arte. Pintei com grossas pincelados o frágil regime hospitaleiro que a medicina foi, pode e deve ser, mormente quando se atinge a hora incerta da mors certa (Gil, 2005). No campo da saúde não há boa e inteligente e competente prática sem ava‐
liação dos resultados e sem verdadeira investigação (ideias, métodos qualitativos e estatísticos)50. Além da hermenêutica e da etnometodologia, a narrativa tem esta‐
48 Eu sei que decorreria daqui uma postura pró suicídio e, com alguma torsão, pró eutanásia, etc. Não abordo o suicídio e o suicídio assistido aqui; fi‐lo em Marques (2006) e noutros tex‐
tos e lugares, designadamente em várias discussões académicas e públicas a propósito do magnífico e inteligente filme Mar Adentro. Ver também Améry (1996). Quanto ao resto só me cabe assumir e reafirmar a contradição (tenho procurado estudar as fundações do acto médi‐
co que me/nos orientem nas navegações por estas águas turvas e profundas (Marques, 2006; 2008c). Fica também à vista com que reservas aceito o homo mensura. 49 Danièle Cohn, conferência proferida no Porto 2001, citando, salvo erro, Hannah Arendt. 50 E, indiscutivelmente, em oncologia, boa parte dessas investigações inserem‐se no movimento dito Medicina Baseada na Prova (EBM). Ver Qaseem et al. (2008), AAVV (1995). Uma Sombra o Precede 161 do em destaque na investigação qualitativa em medicina e enfermagem51. Procura responder a questões como as seguintes: como é o discurso médico corrente?; é anti‐narrativo, meramente perlocutório, retórico, impessoal, anómico? (Mattingly, 1998: 12) Como é posta ou deposta a agentividade, a duração, o drama ou a sub‐
jectividade experiencial? (Mattingly, 1998: 12, 92, 154, resp.) A fenomenologia, método mais exigente, tem sido menos utilizada (Marques, 2008a)52. O maior inte‐
resse destes vários métodos qualitativos de investigação é a capacidade de opôr resistência à reificação e de abrir uma porta de acesso à experiência do sujeito (o doente, o cuidador, o familiar… o profissional), experiência por oposição a experi‐
mentação ou a colecção “cega” de dados empíricos (o véu duplo da indiferença estatística). Em resumo, em MCP, na doença avançada e na vivência da dor (dor total), da perda, da solidão, da agonia, da dissolução dos existenciais53 – varieda‐
des de fenómeno saturado (Marques, 2002; 2008a) –, a triangulação de métodos parece ser o caminho privilegiado para uma ciência clínica do rigor, que possa con‐
viver com a opacidade e a sombra do incomensurável. Recomendação final Decorre daqui, cremos, a importância e oportunidade do conselho político sábio de Cecily Saunders (ainda mais válido entre nós, dadas as violações do Estado de Direito pelos próprios poderes instituídos): “The regulation of withholding/ withdrawing treatments and the aliviation of suffering is very difficult […] Overleg‐
islation will not preclude abuse […] and is likely to introduce complexity that actu‐
ally increases suffering”54. Até à penúltima geração de médicos formados nas esco‐
las euro‐americanas, os clínicos podiam proclamar ainda “pas de chair anonyme, pas de douleur de personne!” (Henry, 2003: 123). Assim se salvava a hospitalidade, o nome próprio, a autoridade de primeira pessoa, a experiência do corpo. Do cor‐
po que não vendeu a sua sombra (von Chamisso, 2005/1835). 51 Ver os trabalhos de Paul Ricouer e Jerome Bruner (muitas obras), Flahault (1978/1979), Kleitman (1988), Hunter (1991), Mattingly (1998), Delvechhio‐Good et al. (2000). 52 São muito bons os trabalhos de Dick Zaner (1988; 2000), essencialmente inspirado em Schutz, e a antologia editada por Toombs (2001). Confira‐se uma tentativa de síntese do estado agó‐
nico em Marques (2006). 53 Sobre os quatro existenciais, compreensão, sintonia ou attunement, linguagem, corpo‐vivido, vd F. Svenaeus, in Toombs (2001: 101). 54 Saunders (2002/1998: 371‐372, carta de 24‐03‐1998 dirigida a Therèse Lavoie‐Roux, Senadora do Canadá). Aprendemos, já há uns anos, que as indicações são claras em relação aos opiói‐
des no tratamento da dor, da dispneia, etc., e em relação aos neurolépticos ou anestésicos na sedação em estados de dor refractária ou sofrimento terminal… Todavia, assim como é peri‐
goso fixar nos manuais guidelines técnicos e normas rígidas – “éticas” ou deontológicas – para profissionais (e/ou equipas) sem senso clínico e sem formação (ou apenas com informação livresca), é também uma aberração nestas matérias aplicar a força da Lei num país de Justiça arbitrária, dependente e ineficaz. 162 M. Silvério Marques Referências bibliográficas AAVV (2005), “Improving end‐of‐Life care: why has it been so difficult?”, Special Report de Hastings Center Report. AAVV (1995), “The SUPPORT principal investigators”, JAMA, 274, pp. 1591‐1598. AGAMBEN, G. (1995/1998), O Poder Soberano e a Vida Nua, Lisboa, Presença (trad. A. Guerreiro). ALMEIDA, J. M. P. (1998), “Diante de quem morre. Apontamentos de uma perspectiva ética”, Communio, 1, pp. 25‐30. ALMEIDA, J. M. P.; MELO, J. (2002), “Ética, espiritualidade e oncologia”, in M. R. Dias e E. Durá (eds.), Territórios da Psicologia Oncológica, Lisboa, Climepsi, pp. 128‐
‐143. AMÉRY, J. (1996), Porter la Main Sur Soi, Arles, Actes do Sud (trad. F. Wuilmart). BILLINGS, J. A. (2002), “Definitions and models of palliative care”, in A. M. Berger, R. K. Portnoy e D. E. Weissman (eds.), Principles and Practice of Palliative Care and Supportive Oncology, Lippincott, Philadelphia, pp. 635‐646 (2.ª ed). CADORÉ, B. (2001a), “Dignité de la relation de soin”, JALMALV, 65, pp. 7‐10. CADORÉ, B. (2001b), “Pour recentrer la question étique”, in D. Jacquemin (coord.), Manuel des Soins Palliatives, Paris, Dunod, pp.648‐659. CALLAHAN, D. (ed.) (1997), “The goals of Medicine”, Hastings Center Report, Supple‐
ment. CAMUS, A. (1963), La Peste, Paris, Le livre de poche. CASSEL, E. J. (1999), “Diagnosing suffering: a perspective”, Ann. Int. Med., 131, pp. 531‐
‐534. CCNE (2000), Fin de Vie, Arrêt de Vie, Euthanasia, Rapport, 27 Janeiro. von CHAMISSO, A. (1835/2005), A História Fabulosa de Peter Schlemihl, Lisboa, Assírio e Alvim, (trad. João Barrento). CHOCHINOV, H. M. et al. (2002), “Dignity‐conserving care – a new model for palliative care”, JAMA, 287, 17, pp. 2253‐2260. CHOCHINOV, H. M. (2004), “Dignity and the eye of the beholder”, J. Clin. Oncology, 22, 7, pp. 1336‐1340. DE BEIR, C. H. (2001), “La phase ultime”, in D. Jacquemin (coord.), Manuel des Soins Pal‐
liatives, Paris, Dunod, pp. 322‐342. DELVECHHIO‐GOOD, M.; GOOD, B. (2000), “Clinical narratives and the study of contem‐
porary doctor‐patient relationships”, in G. L. Albrecht et al. (eds), Handbook of Social Studies in Health and Medicine, London, Sage, pp. 243‐258. DERRIDA, J. (1997/2003), vd. DUFOURMANTELLE, A. DÖNHOFF, M. et al. (1995), “Not compassion alone: on euthanasia and ethics”, in Hast‐
ing Center Report, Special Issue, pp. 44‐50. DUFOURMANTELLE, A. convida J. DERRIDA (1997/2003), Da Hospitalidade, Viseu, Palimage. ELLERSHAW, J. et al. (2003), “Care of the dying patient: the last hours or days of life”, Clinical Review, 326, pp. 30‐34. EPSTEIN, R. (2008), “Mindful practice” in M. D. Feldman e J. F. Christensen (eds.), Be‐
havioral Medicine, New York, Lange, pp. 49‐54. FAGERLIN, A. et al. (2004), “The failure of the Living Will”, Hastings Center Report, 34, 2, pp. 30‐42. FEINSTEIN, A. R. (2002), “Is ‘Quality of Care’ being mislabeled or mismeasured?”, Am. J. Med., 112, pp. 472‐478. FEIO, M. (2008), “Ano da graça de 2003‐2004: morrer com cancro no Hospital do Espíri‐
to Santo de Évora”, Rev. Port. Filos. (no prelo). Uma Sombra o Precede 163 FELDMAN, M. D.; CHRISTENSEN, J. F. (eds.) (2008), Behavioral Medicine, New York, Lange. FLAHAULT, F. (1978/1979), A Fala Intermediária, Lisboa, Via Editora (trad. M. C. Ferreira). FLAHAULT, F. (2002), Le Sentiment d’Exister. Ce soi qui ne vas pas de soi, Paris, Descartes. FLAHAULT, F. (2007), Adam et Ève. La conditioin humaine, Paris, Fayard. FOLSCHEID, D. et al. (eds.) (1997), Philosophie, Éthique et Droit de la Médecine, Paris, Presses Universitaires de France. FOLSCHEID, D. (1997), “La vie finissante”, in D. Folscheid et al. (eds.), Philosophie, Éthi‐
que et Droit de la Médecine, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 233‐
‐246. FURST, C. J.; DOYLE, D. (2004), “The terminal phase”, in D. Doyle et al. (eds), Oxford Texbook of Palliative Medicine, Oxford, Oxford University Press, pp. 1117‐1131 (3.ª ed.). GIL, F. (1998), “Eu”, Análise, 20. GIL, F. (2000/2005a), “Mors certa, hora incerta”, in Acentos, Imprensa Nacional‐Casa da Moeda, pp. 291‐304. GIL, F. (2005b), “O hospital e a lei moral”, Atlântico, n.º 7, pp. 29‐31. GIL, F.; LESSA, R.; MARQUES, M. S.; ANTUNES, J. L. (2010), “L’Hôpital et la loi morale” in M. F. Molder, Rue Descartes, Paris, pp. 77‐102. GOMAS, J. M. (2001) “Soins palliatives et domicile”, in D. Jacquemin (coord.), Manuel des Soins Palliatives, Paris, Dunod, pp. 60‐69. GRACIA, D. (2001), “Moral deliberation: the role of methodology in clinical ethics”, Medicine, Health Care and Philosophy, 4, pp. 223‐232. HANKS, G. W. et al. (2001), “Morphine and alternative opioids in cancer pain: The EAPC recommendations”, Brit. J. Cancer, 84, 5, pp. 587‐593. HEIDDEGER (1987/2001), Zollikon Seminars, 1987/2001 (ed. M. Boss), Evanston, Illinois, Northwestern University Pres. HENRY, M. (1985), Généalogie de la Psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France. HENRY, M. (2003), Phenoménologie de la Vie, I, Paris, Presses Universitaires de France. HIGGINS, R. W. (2003a), “L’invention du mourant. La violence de la mort pacifié”, Esprit, Jan., pp. 139‐169. HIGGINS, R. W. (2003b), “Questions à Robert William Higgins”, Revue JALMALV, 72, pp. 27‐32. HONNETH, A. (2007), La Réification, Paris, PUF. JONAS, H. (1989/1995), “Not compassion alone: on euthanasia and ethics”, vd. DÖN‐
HOFF, M. et al. KEARNEY, M. (2000), A Place of Healing. Working with suffering in living and dying, Ox‐
ford, Oxford University Press. KISSANE, D. W. (2004), “The contribuition of demoralization to end of life decision mak‐
ing”, Hastings Centre Report, July‐August, pp. 22‐29. KLEITMAN, A. (1988), The Illness Narratives, Basic Books. KODISH, E.; POST, S. G. (1995), “Oncology and hope”, J. Clin. Onc., 13, 7, pp. 1817‐1822. KÜBLER‐ROSS, E. (1969), On Death and Dying, New York, Macmillan. LAMON, E. B.; CHRISTAKIS, N. (2003), “Complexities in prognostication in advanced cancer”, JAMA, 290, 1, pp. 98‐104. LARSON, D. G. (1993), “Self‐cancealement: implications for stress and empathy in on‐
cology care”, J. Psychol. Onc., 11, 4, pp. 1‐16. LEVINAS, E. (1961/1980), Totalidade e Infinito, Lisboa, Edições 70 (trad. José. P. Ribeiro). LEVINAS, E. (1974/1990), Autrement qu’Être ou au‐Delà de l’Essence, Paris, Le livre de poche. LO, B. et al. (1999a), “Discussing paliative care with patients”, Ann. Int. Med., 130, 9, pp. 744‐749. 164 M. Silvério Marques LO, B. et al. (1999b), “Care at the end of life: guiding practice where there are no easy answers. Editorial”, Ann. Int. Med., 130, 9, pp. 772‐774. MALHERBE, J. F. (1990), Pour une Éthique de la Médecine, Bruxelles, Ciaco (2.ª ed.). MARCEL, G. (1940/1999), Essai de Philosophie Concrète, Paris, Gallimard. MARCEL, G. (1998), Homo Viator. Prolegomenes à une methaphysique de l’ésperance. Présence de G. Marcel, Paris, Aubier. MARQUES, M. S. (1989), “O sopro, o múltiplo e a forma”, Análise, 12, pp. 61‐115. MARQUES, M. S. (1997), “Um acto médico correcto e aumentado”, Acta Méd. Port., 11, pp. 543‐554. MARQUES, M. S. (1999), O Espelho Declinado. Natureza e legitimação do acto médico, Lisboa, Colibri. MARQUES, M. S. (2001), “A passividade originária e a fundação da medicina dos cuida‐
dos paliativos”, in M. R. Dias e E. Durá (eds.), Territórios da Psicologia Oncológi‐
ca, Lisboa, Climepsi, pp. 145‐187. MARQUES, M. S. (2002), A Medicina Enquanto Ciência do Indivíduo, Dissertação de Dou‐
toramento. MARQUES, M. S. (2003), A Segunda Navegação. Aspectos clínicos da Ética na dor onco‐
lógica, Permanyer, Portugal. MARQUES, M. S. (2005), “Os laços sem fim e os desafios da medicina”, Acta Med. Port., 18, pp. 353‐370 (edição on line). MARQUES, M. S. (2006), “A Vida do Fim: uma filosofia do pensamento clínico”, in F. Martins e A. Cardoso (orgs.), Felicidade na Fenomenologia da Vida, Colóquio Internacional Michel Henry, pp. 85‐150. MARQUES, M. S. (2008a), “O fenómeno sintomático”, in M. L. C. Soares (ed.), O Estatuto do Singular: estratégias e perpectivas, Lisboa, Imprensa Nacional‐Casa da Moe‐
da (orig.2006) (no prelo). MARQUES, M. S. (2008b), “O aparecer sui generis da fraternidade”, in M. F. Molder (ed.), Actas do Congresso sobre Fernando Gil, Lisboa, Universidade Nova de Lis‐
boa (no prelo). MARQUES, M. S. et al. (2008c), “Um projecto de investigação em cuidados paliativos domiciliários e seu contexto institucional”, Rev. Port. Filos. (no prelo). MARQUES, M. S. (2009), “Uma Sombra o Precede. Notas sobre hospitalidade, suporte e “profissionalismo” in AAVV, Razão e Liberdade. Homenagem a Manuel José do Carmo Ferreira, vol. 1, Lisboa, CFUL, pp. 257‐282. MARQUES, M. S. (2010), “A fibra e o espasmo” in AAVV, Arte Médica e imagem do Cor‐
po. De Hipócrates ao final do séc. XVIII, Lisboa, BNP, pp. 137‐157. MATTINGLY, C. (1998), Healing Dramas and Clinical Plots, Cambridge, Cambridge Uni‐
versity Press. MURPHY‐ENDE, K. (2001), “Barriers to palliative and supportive care”, Nursing Clin. N. America, 36, 4, pp. 843‐853. NUSSBAUM, M.; SEN, A. (eds.) (2003), The Quality of Life, Oxford, Oxford University Press. QASEEN, A. et al. (2008), “Evidence‐based intervention to improve the palliative care of pain, dyspnea and depression at the end‐of‐life. A clinical practice guideline from the American College of Physicians”, Ann. Int. Med., 148, pp. 141‐146. RANDALL, F.; DOWNIE, R. S. (2002), Palliative Care Ethics. A companion for all speciali‐
ties, Oxford, Oxford University Press (2.ª ed.). RANDALL, F.; DOWNIE, R. S. (2006), The Philosophy of Palliative Care, Oxford, Oxford University Press. RICOEUR, P. (2001), “Les trois niveaux du jugement médical”, in Le Just‐2, Paris, Esprit, pp. 227‐243. Uma Sombra o Precede 165 RICOEUR, P. (2004), Parcours de la Reconnaissance, Paris, Stock. RICOEUR, P. (2006), “Acompagner la vie jusqu’à la mort”, Esprit, Mai‐Avril, 3, 4, pp. 316‐
‐320. SAUNDERS, C. M. (ed.) (1978/1979), The Management of Terminal Disease, London, Ar‐
nold. SAUNDERS, C. M. (2002), Selected Letters: 1995‐1999 (ed. D. Clark), Oxford, Oxford Uni‐
versity Press. SAUNDERS, C. M. (2006), Selected Writings: 1958‐2004 (ed. D. Clark), Oxford, Oxford University Press. SOARES, M. L. C. (ed.) (1999), Hipócrates e a Arte da Medicina, Lisboa, Colibri. STEINHAUSER, K. E. et al. (2000), “In search of a good death: observation of patients, families, and providers”, Ann. Int. Med., 132, 10, pp. 825‐832. TenHAVE, H. (2000), Eutanásia: paradoxos morais, FLAD, draft, 25 de Fevereiro. TOMÉ, V.; MARQUES, M. S. (2008), “Como fazer sentido de coisas tão díspares?”, RPF (no prelo). TOOMBS, S. K. (ed.) (2001), The Handbook of Phenomenology and Medicine, Dordrecht, Klüver. TROTTER, G. (2000), “Assisted suicide and the duty to die”, J. Clinical Ethics, 11, 3, pp. 260‐271. TWYCROSS, R. (2003), Cuidados Paliativos, Lisboa, Climepsi (2.ª ed.) (trad. J. N. de Almeida). WILLIAMS, S.; FRANKEL, R. M. (2008), Connections and Boundaries in Clinical Practice, in M. D. Feldman e J. F. Christensen (eds.), Behavioral Medicine, New York, Lange, pp. 431‐437. ZANER, R. M. (1988), Ethics and the Clinical Encounter, London, Prentice‐Hall. ZANER, R. M. (2000), “Power and hope in the clinical encounter: a meditation on vul‐
nerability”, Med., Health Care and Phil., 3, 2, pp. 265‐275. MEDICINA CURATIVA, MEDICINA PALIATIVA, REGIMES DE ACÇÃO E MODALIDADES DE CONSTITUIÇÃO DO LAÇO SOCIAL ENTRE MÉDICO E DOENTE: UMA BREVE ABORDAGEM Alexandre Cotovio Martins Apresentação Este pequeno escrito é dedicado ao estudo das modalidades de formação do laço social entre médicos e doentes nos cuidados paliativos. No seu contributo parcelar para o empreendimento, tenta encarar os cuidados paliativos como um tipo de cuidado de saúde que põe em questão muitos dos pressupostos que orga‐
nizam a prática médica moderna, ao posicionarem o doente, com a sua subjectivi‐
dade, no centro das preocupações dos prestadores de cuidados de saúde e, desig‐
nadamente, dos médicos. Como ilustração empírica do trabalho conceptual desenvolvido, propõe‐se também uma interpretação sociológica do Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Da medicina curativa à medicina paliativa: coordenadas de uma interpretação sociológica Regimes de acção e modalidades de constituição do laço social entre médicos e doentes A tese principal que percorre este texto é a de que estudar os cuidados palia‐
tivos de um ponto de vista sociológico envolve, necessariamente – embora não se esgotem nisso as possibilidades de interpretação sociológica do domínio –, dar conta das diferentes formas de envolvimento na acção e construção do laço social entre médicos e doentes que tendem a dividir uma medicina curativa de uma medicina paliativa. A perspectiva de análise a que recorremos para elucidarmos as nossas pre‐
tensões é, antes de mais, aquela a que poderemos chamar, nos termos de um dos seus principais impulsionadores, de sociologia dos regimes de envolvimento (Thé‐
venot, 2006). De acordo com os autores que vêm trabalhando este quadro teórico (Thévenot, 2006; Boltanski e Thévenot, 1991), os indivíduos, quando procuram coordenar a sua acção com a de outros, fazem‐no através de diferentes “modos de entrada” nessa mesma acção. Para Laurent Thévenot, estes “modos” podem ser adequadamente entendidos como diferentes regimes de envolvimento na acção. Diz‐nos o autor: ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 167‐181. 168 Alexandre Cotovio Martins À la différence des modèles de l’action qui mettent leur accent sur l’acteur, sa collectivité ou son individualité, sa conscience ou son incons‐
cience, sa réflexion ou son irréflexion, notre caractérisation des régimes d’engagement met en évidence le façonnement conjoint de la personne et de son environnement, que requiert leur engagement. (Thévenot, 2006) Os principais eixos diferenciadores dos diversos regimes de envolvimento na acção, no seio desta perspectiva, são, diz‐nos Thévenot, a avaliação ou julgamento que os indivíduos fazem, em situação, sobre a sua própria conduta – procurando uma acção conveniente à situação específica em que se encontram – e o apoio que essa avaliação ou julgamento encontra na própria situação. Nous distinguons les façons différentes dont la réalité est éprouvée, et dont la conduite est évaluée dans chacun d’eux […]. La notion de conve‐
nance […] est employée pour distinguer les évaluations de l’engagement selon les régimes, parce qu’elle s’offre à des gradations […]. Elle conduit à caractériser la dynamique de chacun des […] régimes à partir de la forme d’évaluation qui le gouverne et du genre d’appui qu’elle trouve dans l’environnement matériel de l’agent. (Thévenot, 2006) Sobre estes parâmetros analíticos, Thévenot identifica três diferentes regimes de envolvimento na acção, os quais variam entre um modo de envolvimento mais íntimo e pessoal e um espaço de constrangimentos convencionais típicos da esfera pública, mais geral e racional. Assim, para o autor francês, temos três grandes regimes de envolvimento, distribuídos sobre um eixo que vai do singular ao geral: o regime familiar, o regime de plano e o regime público, diferenciados em função do julgamento feito pelo indivíduo em situação sobre a forma de coordenação conveniente à mesma num eixo de gradações de generalidade das relações entre os seres em presença. O autor define assim o primeiro destes regimes (Thévenot, 2006): Dans le régime d’engagement familier, le bien maintenu est localisé et per‐
sonnalisé. Nous l’avons nommé aise. […] Le bien‐être éprouvé dans la com‐
modité d’un entourage dépend étroitement de la personne qui se l’est accommodé et du cheminement de familiarisation effectué d’auprès du milieu façonné par l’usage. Ce bien est plus qu’une habitude, notion faible pour exprimer le rapport dynamique avec un milieu rapproché, qui est lui aussi éprouvé. O regime de acção em plano, por seu turno, envolve uma subida em genera‐
lidade das relações entre os seres em presença, na medida em que se desloca para lá do círculo das solidariedades construídas pelo uso íntimo: Le régime de l’action en plan correspond à un niveau d’engagement si com‐
mun qu’il porte le risque d’être invisible dans la spécificité de son appréhen‐
sion d’événements en tant que conduites humaines. […] Le bien de cet en‐
gagement en plan tend lui aussi à se dissoudre dans l’idée banale d’une action accomplie. […] [L]’engagement en plan connaît un premier élargisse‐
ment dans une prise à témoin d’autrui, qui concourt à l’engagement par‐ Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 169 ‐delà les choses en gage. C’est la promesse qui connaît une modalité plus formalisée dans les organisations: le projet. L’engagement en plan s’élargit encore en prenant en compte autrui dans sa propre capacité d’agent indi‐
viduel engagé dans son plan. L’engagement est alors stratégique, tenant compte d’autrui, asymétriquement. (Thévenot, 2006) Por sua vez, o regime de maior generalidade na forma como os indivíduos jul‐
gam e coordenam as suas acções em situações específicas é, finalmente, o regime público. Aqui, L’engagement est apprécié selon un ordre de grandeur légitime qui s’adosse à une spécification du bien commun […]. La réalité n’est probante que pour autant qu’elle est publiquement qualifiée selon cette grandeur en termes de prix, d’efficacité, de renom, etc. La personne trouve des gages de son en‐
gagement dans la disposition de ces choses qualifiées, dans un dispositif de leur agencement cohérent. […] L’agent est une personne qualifiée selon la grandeur, non pas un simple individu. Son pouvoir légitime repose sur cette qualification qui marque sa participation au bien commun. […] Il est clair que ce régime est préparé pour des engagements mutuels qui ne s’enferment pas dans les ententes à demi‐mot épousant deux familiers, ou les contrats conjoignant les plans de deux individus, mais qui s’ouvrent à un autrui géné‐
ralisé […]. Une coordination d’un ensemble plus complexe d’actions impli‐
quant des ajustements réciproques à distance, avec des acteurs anonymes, fait venir des demandes de garantie publique correspondant à ce régime. (Thévenot, 2006) A obra de Luc Boltanski e Laurent Thévenot implica, então, que se pensem as modalidades pelas quais os indivíduos em situação operam julgamentos sobre a própria conduta, no sentido de a coordenarem com as exigências que reconhecem nessa mesma situação ou de lançarem eles próprios exigências de coordenação sobre outros1, num espectro de possibilidades que oscila entre a proximidade do regime familiar e a generalidade do regime público. Aqui, iremos centrar‐nos sobre dois dos regimes brevemente apresentados: o regime familiar e o regime do plano. Sobretudo, procurando investigar aquilo que esses regimes implicam ao nível da estruturação do laço social, na medida em que é justamente sobre a representação do laço social entre médicos e pacientes e respectivas exigências de coordenação que pretendemos centrar a nossa interpre‐
tação dos cuidados paliativos. Na verdade, a diferenciação entre aqueles dois regimes implica uma diferen‐
ciação nos julgamentos e modos de coordenação activados pelos indivíduos, em termos das modalidades de estabelecimento do laço social com outros significati‐
vos implicados numa situação. Neste âmbito, pensamos útil, de um ponto de vista interpretativo, o recurso à obra de um autor que, embora volvidos quase noventa anos sobre a sua morte, ainda hoje parece trazer ensinamentos centrais para a elucidação da acção social: Max Weber. Segundo Max Weber (1993), toda a acção social é significativa, na acepção de 1 Por exemplo, quando exigem uma reparação por um acto ou omissão cometidos por outrem. 170 Alexandre Cotovio Martins que os indivíduos lhe atribuem um sentido subjectivo2. A compatibilidade desta asserção, central na complexa sociologia weberiana, com a perspectiva da socio‐
logia dos regimes de envolvimento, é perceptível se nos recordarmos que, para os autores que desenvolveram esta última, os indivíduos operam sempre, na sua acção social, avaliações e juízos subjectivos sobre essa mesma acção, os quais recaem, necessariamente, na categoria genérica do sentido dado à própria acção3. Assim, é apropriado dizer‐se que, como qualquer outra relação social, a relação entre médicos e doentes envolve a produção de um sentido subjectivo sobre essa mesma relação, por ambas as partes ou, se quisermos integrar as perspectivas, uma determinada avaliação da conduta própria em função da do(s) outro(s) e uma avaliação da conduta do(s) outro(s). Nos termos de Weber (1993), a constituição de sentido envolve a orientação para o outro e uma determinada representação da ordem das coisas que estão envolvidas, directa ou indirectamente, nessa rela‐
ção. Para os autores da chamada economia das convenções, esta dimensão de orientação para o outro tem que ver, antes de qualquer outra coisa, com o esforço e as exigências de coordenação da acção em situação (Thévenot, 2006). Analisando a obra de Weber neste particular, Paul Ricoeur (1991) mostra‐nos que é importante, para esclarecer o sentido da acção significativa, compreender‐
mos qual o tipo de conexão ou laço social de que falamos, quando falamos de uma determinada acção. Segundo este autor, podemos distinguir, de forma ideal‐típica, logo à partida, um elo predominantemente integrativo de um elo predominante‐
mente associativo. O autor francês refere‐se à tipologia, preconizada por Weber e inúmeras vezes retomada na tradição sociológica, que distingue entre comunidade (Gemeinschaft) e sociedade (Geselschaft). No primeiro caso, os indivíduos partici‐
pam num ordenamento social que lhes dá uma sensação de pertença comunitária; no segundo, vêem os seus laços com os outros sobretudo como um elo mais con‐
tratual, mais exterior e menos envolvente4. Num caso, temos um tipo de relação mais “quente”, mais emocional e próxima; no outro, uma relação mais “fria”, racional e distanciada. Nos termos de Max Weber (1995), Nous appelons “communalisation” [Vergemeinschaftung] une relation socia‐
le lorsque, et tant que, la disposition de l’activité sociale se fonde – dans le cas particulier, en moyenne ou dans le type pur – sur le sentiment subjectif (traditionnel ou affectif) des participants d’appartenir à une même commu‐
nauté [Zusammengehörigkeit]. § Nous appelons “sociation” [Vergesellschaf‐
tung] une relation sociale lorsque, en tant que la disposition de l’activité 2 Assim como o qualificativo social apenas faz sentido, na sociologia weberiana, quando este sentido subjectivo envolve a orientação, por uma qualquer via, para o outro. 3 Este julgamento, condição da coordenação da acção, pode envolver uma coordenação de si para si próprio, ou mesmo com o mundo dos objectos, o que configura algo que está para lá da defini‐
ção de acção social em Max Weber, mas esta questão não é central para a nossa discussão. 4 Sobre as formas de representação cognitiva associadas a estes diferentes laços, podemos recorrer ao trabalho de Thévenot sobre os diferentes regimes de acção e verificarmos que a um laço comunitário corresponderia uma abordagem cognitiva como aquela estudada tradi‐
cionalmente pela fenomenologia e a um laço societário, uma abordagem mais centrada nos interesses racionais e estratégicos dos indivíduos. Curioso é notar que ambas as modalidades cognitivas de representação, assim como uma outra, mais própria do regime público e assente em convenções (resultantes de investimentos de forma, no sentido de Thévenot), encontram espaço na sociologia weberiana. Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 171 sociale se fonde sur un compromis [Ausgleich] d’intérêts motivé rationnel‐
lement (en valeur ou finalité) ou sur une coordination [Verbindung] d’intérêts motivée de la même manière. En particulier, la sociation peut (mais non uniquement) se fonder typiquement sur une entente [Vereinba‐
rung] rationnelle par engagement mutuel [gegenseitige Zusage]. Estes dois modelos de relação social são, pensamos, tipos ideais – retomando a expressão weberiana – particularmente interessantes para dar conta de diferentes modalidades de organização do laço social e das associadas exigências de coorde‐
nação postas em jogo pelos indivíduos. Isto, na medida em que estes, em situação, podem envolver‐se na acção de uma forma mais intimista, emocional e “quente”, estando assim próximos de um laço comunitário5, ou de uma forma mais distancia‐
da, racional e “fria”, estando assim mais próximos de um laço societário. Identificamos aqui um segundo nível de afinidade profunda entre a tipologia weberiana e o quadro analítico desenvolvido pelos autores de De la Justification, nomeadamente em tudo aquilo que implica a diferenciação entre uma acção ins‐
crita no regime familiar e uma acção inscrita no regime de plano. Das palavras de Laurent Thévenot, extraem‐se sentidos particularmente esclarecedores desta liga‐
ção profunda, se tivermos presentes aqueles conceitos weberianos: Dans l’engagement familier, la personne concernée apprécie une action qui convient en jugeant par l’aisance si un geste est bien coordonné ou non. […] L’intimité de l’amour ou de certaines formes d’amitié, la sollici‐
tude du soin, permettent l’accès d’autrui à certains de ces repères fami‐
liers. Mais […] passer au régime du plan et à son format d’appréciation fonctionnel [est passer à un régime que] communique commodément le langage ordinaire de l’action. (Thévenot, 2006) É certo que, para os autores franceses, o fundamento do regime familiar é diferente daquele que Weber aponta para o laço comunitário (o sentimento tradi‐
cional ou afectivo). Com efeito, Thévenot (2006) deixa claro no seu entendimento da acção no quadro do regime familiar que esta envolve operações de avaliação e julgamento realizadas pelo indivíduo. Ora, a tipologia weberiana das formas de acção – afectiva, tradicional, racional por referência a valores e racional por refe‐
rência a fins – não reserva espaço suficiente para este tipo de avaliação no quadro da acção afectiva ou da acção tradicional, largamente conduzidas pela emoção ou o hábito profundamente enraizados. Não obstante, a densidade desta afinidade entre as duas perspectivas é perceptível, sobretudo, não ao nível do fundamento que elas atribuem aos diferentes modos de acção, o que já notámos, mas ao nível do registo em que se estabelecem o laço social e a coordenação das acções6. 5 Sobre este assunto, veja‐se também o regime da agapé, analisado por Luc Boltanski, que não desenvolvemos aqui por economia de espaço. 6 É ainda certo que esta afinidade no registo não esgota o domínio específico dos regimes de acção familiar e de plano, na perspectiva da sociologia dos regimes de envolvimento. Thévenot demonstra‐o claramente quando descreve o regime familiar a partir da familiaridade com objectos, não apreensível à luz da definição de acção social de Max Weber. Assim, quer o laço comunitário, quer o laço societário, no sentido weberiano, representam apenas modos parti‐
culares de envolvimento no seio dos regimes familiar e de plano. 172 Alexandre Cotovio Martins Pois bem, o que nos parece digno de discussão é que é justamente da dife‐
rença entre estes registos – aqui explicitados em linguagens diferenciadas –, comunitário e societário ou, em todo o caso, familiar e de plano, que parece emergir uma das tensões mais centrais da medicina moderna, tensão esta que aparece redobrada quando falamos de cuidados paliativos. Modalidades de constituição do laço social entre médicos e doentes e tensões na profissão médica Tudo indica que uma das tensões mais fortemente geradoras de controvér‐
sias internas à profissão médica, nomeadamente no plano da relação entre médi‐
cos e doentes, no decurso da própria história da medicina, é organizada em função de diferentes registos de constituição e diferentes formas de representar o laço social que configura essa mesma relação. Com efeito, o conflito entre uma racionalidade médica objectiva e distanciada e o subjectivismo e particularismo dos problemas, angústias e queixas dos doentes parece recobrir diferentes formas de avaliar e coordenar as acções e, por esta via, a constituição do laço social com os doentes, por parte dos médicos. Existe, assim, um espaço de oscilação entre uma representação e exigência de coordenação mais associativa, funcional e racional deste laço e uma representação e exigência de coordenação mais comunitária, integrativa e emocional do mesmo. A tensão entre a objectividade do olhar e acção médicos e a subjectividade do paciente é, em rigor, uma tensão central no próprio desenvolvimento histórico da medicina. Ao ponto de, muitas vezes, implicar praticamente a diluição da sub‐
jectividade relacional de ambos para dar lugar a uma relação racionalizada e cen‐
trada mais na doença que no doente7. Como bem demonstra Roselyne Rey (2000), a propósito da temática da dor no quadro do desenvolvimento do saber e da acção médicos, a medicina constituiu‐se historicamente muito a partir do relegar da sub‐
jectividade do doente para um plano de inferioridade, quando não de total exclu‐
são, face ao olhar objectivo do médico: [La logique] qui s’occupe de la maladie plus que du malade, qui se détourne des séquelles de la maladie (cicatrices douloureuses, consé‐
quences secondaires des traitements, douleurs post‐opératoires), est renforcée avec les succès de la médecine. Elle repose sur un point de vue optimiste sur les pouvoirs et les ambitions de la médecine, et la reléga‐
tion de la douleur à un rang modeste ou négligeable est comme la ran‐
çon ou l’envers de cet optimisme. Cette situation définit aussi un certain type de relations entre le médecin et le malade, elle souligne l’absence du malade comme sujet, l’aliénation de sa parole et de son vouloir. As condições históricas de surgimento de um tal olhar médico, frio, racional, linear e centrado numa recusa da proximidade face à subjectividade do doente encontram em Michel Foucault (2007) um interessante intérprete. Reportando‐se 7 Que, no limite, configura um tipo de relação que pôde ser criticada (embora não especifica‐
mente no caso da relação médicos – doentes) como reificadora, por autores como, por exem‐
plo, Herbert Marcuse ou Jürgen Habermas. Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 173 ao nascimento da clínica moderna, este autor afirma que ela repousa, em boa medida, justamente naquela reconversão do olhar (e concomitantemente da rela‐
ção com o paciente): La médecine moderne a fixé d’elle‐même sa date de naissance vers les dernières années du XVIIIe siècle. Quand elle se prend à réfléchir sur elle‐même, elle identifie l’origine de sa positivité à un retour, par‐delà toute théorie, à la modestie efficace du perçu. En fait, cet empirisme présumé repose non sur une redécouverte des valeurs absolues du visi‐
ble, non sur l’abandon résolu des systèmes et de leurs chimères, mais sur une réorganisation de cet espace manifeste et secret qui fut ouvert lorsqu’un regard millénaire c’est arrêté sur la souffrance des hommes. Le rajeunissement de la perception médicale, l’illumination vive des cou‐
leurs et des choses sous le regard des premiers cliniciens n’est pourtant pas un mythe; au début du XIXe siècle, les médecins ont décrit ce qui, pendant des siècles, était resté au‐dessous du seuil du visible et de l’énonçable […]. Les formes de la rationalité médicale s’enfoncent dans l’épaisseur merveilleuse de la perception, en offrant comme visage pre‐
mier de la vérité le grain des choses, leur couleur, leurs taches, leur dure‐
té, leur adhérence. L’espace de l’expérience semble s’identifier au domaine du regard attentif, de cette vigilance empirique ouverte à l’évidence des seuls contenus visibles. L’œil devient le dépositaire et la source de la clarté; il a pouvoir de faire venir au jour une vérité qu’il ne reçoit que dans la mesure où il lui a donné le jour; en s’ouvrant, il ouvre le vrai d’une ouverture première […]. Igualmente Foucault sugere, por outro lado, que este processo de racionali‐
zação, associado ao surgimento da prática clínica em condições de modernidade, exige uma forma específica de relacionamento, racionalizado também ele, mas assimétrico: L’expérience clinique […] a vite été prise pour un affrontement simple, sans concept, d’un regard et d’un visage, d’un coup d’œil et d’un corps muet, sorte de contact préalable à tout discours et libre des embarras du langage, par quoi deux individus vivants sont “encagés” dans une situa‐
tion commune mais non réciproque. (Foucault, 2007) Este olhar reconvertido, moderno, asséptico e higienista, capaz de encarar a doença como fenómeno empírico e sobretudo, de olhar o doente de uma forma hiper‐racionalizada e fundada numa perspectiva fisiológica, é um olhar a que Georges Canguilhem dedicou o seu estudo. Este autor consegue identificar uma contradição fundamental na aparente assepsia deste olhar fisiologista, do ponto de vista da própria ideia de medicina. Sobretudo, naquilo que tal olhar envolve de esquecimento da condição subjectiva do doente e da patologia e do doente como fundamentos primeiros do estudo da fisiologia e até mesmo de qualquer ideia de doença. Realizando um roteiro crítico pela história da clínica, Canguilhem (2007) sente‐se autorizado a dizer que Tout concept empirique de maladie conserve un rapport au concept axiologique de la maladie. Ce n’est pas, par conséquent, une méthode 174 Alexandre Cotovio Martins objective que fait qualifier de pathologique un phénomène biologique considéré. C’est toujours la relation à l’individu malade, par intermé‐
diaire de la clinique, qui justifie la qualification de pathologique. Tout en admettant l’importance des méthodes objectives d’observation et d’analyse dans la pathologie, il ne semble pas possible qu’on puisse par‐
ler, en toute correction logique, de “pathologie objective”. Certes une pathologie peut être méthodique, critique, expérimentalement armée. Elle peut être dit objective, par référence au médecin qui la pratique. Mais l’intention du pathologiste ne fait pas que son objet soit une matiè‐
re vidée de subjectivité. Nos termos deste seu roteiro crítico, burilado a partir da sua dupla formação, em filosofia e em medicina, Canguilhem (2007) faz o seguinte diagnóstico: il y a […] un oubli professionnel – peut‐être susceptible d’explication par la théorie freudienne des lapsus et actes manqués – qui doit être relevé. Le médecin a tendance à oublier que ce sont les malades qui appellent le médecin. Le physiologiste a tendance à oublier qu’une médecine clinique et thérapeutique, point toujours tellement absurde qu’on voudrait dire, a précédé la physiologie. Independentemente do reconhecimento do carácter normativo que a medi‐
cina não pode, segundo Canguilhem, deixar de ter, o que importa uma vez mais reter é, precisamente, o confronto entre uma medicina racionalista, societária e cujas exigências de coordenação ao nível da constituição do laço social com o doente relegam para segundo plano a sua subjectividade e uma medicina mais centrada no doente, que reserva um lugar a este, para lá da eficácia industrial (Boltanski e Thévenot, 1991; Resende, 2003) dos seus próprios dispositivos tera‐
pêuticos e técnicos. É justamente sobre este ponto crítico e revelador que se esta‐
belece o difícil e complexo processo de construção ideológica de um domínio de intervenção médica novo: os cuidados paliativos, que analisaremos agora muito brevemente, através do exemplo português e à luz do quadro interpretativo que vimos estabelecendo. O caso português: os cuidados paliativos nos seus documentos orientadores Um dos aspectos centrais que decorrem da discussão precedente é o da importância do tipo de laço social estabelecido entre médicos e doentes e das concomitantes exigências de coordenação da acção presentes na acção médica. Pois bem, o que nos importa destacar neste quadro é que encaramos a represen‐
tação médica da natureza do laço social8 com os doentes – mais comunitário ou mais societário, enquadrado num regime de exigências de coordenação mais fami‐
liares ou mais sujeitas a um plano ou uma estratégia de acção – como central na organização e discussão dos cuidados paliativos no domínio da saúde em condi‐
ções de modernidade. 8 Centramo‐nos agora nesta questão porque, tratando‐se de analisar documentos, pretendemos sobretudo trabalhar as dimensões propriamente ideológicas que os percorrem. Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 175 A tensão entre os dois tipos de representação do laço social acima traba‐
lhados (com as avaliações e exigências de coordenação que lhes estão associadas) parece hoje encontrar‐se francamente representada na distinção ideológica no seio da comunidade médica entre uma medicina curativa e uma medicina de cui‐
dados, consubstanciada, designadamente, nas políticas de saúde, orientadas para a dor, os cuidados continuados e os cuidados paliativos. Efectivamente, estes últi‐
mos são domínios da medicina em que o olhar médico objectivo e todo o aparato tecnológico e relacional que configura o seu dispositivo de actuação se curvam, por assim dizer, para entrarem num quadro em que o seu valor específico se vai progressivamente anulando face ao crescimento da preocupação e atenção com a qualidade relacional e psicológica da vida do paciente em estado avançado ou terminal de doença mortal. Ademais, esta tensão parece estar hoje de certo modo aumentada de alguns graus quando existe um duplo constrangimento que impende sobre a prática médica: por um lado, os médicos são escrutinados publicamente sobre o grau de erro da sua abordagem e tendem, consequentemente, a refugiar‐se na tecnologia para praticarem uma medicina defensiva (Sampaio, 2006) e ancorada em repre‐
sentações objectivistas da relação entre médico e doente; por outro lado, sofrem influências, directas e indirectas, no sentido de “humanizarem” a sua prática clíni‐
ca e, assim, conferirem um cunho mais comunitário, “personalizado” e subjecti‐
vado à mesma. Na verdade, a especificidade dos cuidados paliativos tende a fazer com que se coloque a tónica desta discussão no segundo dos termos, consubstanciado a partir de uma representação comunitária do laço social e do correspondente desvelo intersubjectivo exigido aos médicos – e restante pessoal – que da área se ocupam. Ouçamos, a este respeito, o que nos diz um médico sobre este assunto (Devalois, 2006): L’accompagnement de fin de la vie désigne les actions menées par l’ensemble des acteurs impliqués par la fin de la vie, survenant dans le cadre d’une maladie grave comme un cancer incurable. Il s’agit de pro‐
fessionnels de santé (dans leur diversité et le respect de l’interdiscipli‐
narité) mais aussi de bénévoles (qui représentent une dimension origina‐
le et indispensable de la démarche). Il s’agit aussi des accompagnants naturels que sont la famille et les proches du malade. […] Le terme “soins palliatifs” permet de qualifier des soins dont la finalité n’est ni d’obtenir la guérison, ni de maintenir une fonction vitale défaillante, mais d’améliorer la qualité de vie. Esta tentativa de melhoria da qualidade de vida e de recentramento do foco dos cuidados no doente terminal, também em função das suas necessidades sub‐
jectivas, tende a conduzir à estruturação de unidades especializadas nos cuidados paliativos (Lamour, 2006): L’Unité de Soins Palliatifs est un lieu spécialisé. Sa spécificité est d’accueillir, de façon temporaire ou permanente, des patients atteints de maladie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, lorsque la prise en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire ayant des compétences spécifiques. […] Il 176 Alexandre Cotovio Martins en découle: a) une compétence technique qui s’affine avec le temps; b) un travail permanent sur la relation humaine, basé sur l’écoute et l’observation, lors des multiples interactions patient famille soignant; c) un lieu de sécurisation pour les patients et les familles en situation de crise. A mencionada divisão ideológica entre representações do laço social tem con‐
figurado, tudo o indica, diferentes tomadas de posição no plano da intervenção pública dos médicos, nomeadamente na área dos cuidados paliativos, em Portu‐
gal. Como refere José Resende (2006), no nosso país, a questão dos cuidados palia‐
tivos – nomeadamente, face a outras questões não oriundas do domínio de uma medicina plenamente curativa e terapêutica, como as áreas dos cuidados conti‐
nuados e da dor – autonomiza‐se sobretudo através da intervenção pública de um conjunto de médicos, que intentam definir, quer do ponto de vista científico e técnico, quer do ponto de vista normativo e moral, o espaço dos cuidados paliativos e as diferenças significativas deste conceito em relação aos outros dois conceitos: a dor e os cuidados continuados. Nesta operação semântica e conceptual produzida publicamente, quer através dos meios de comunicação social, quer em encontros científicos, os médicos porta‐vozes deste segmento de interven‐
ção médica tentam destacar a centralidade do valor da atenuação do sofri‐
mento deslocando o valor da preservação da vida a todo o custo para um lugar mais periférico, ou mesmo secundário. Como afirma o mesmo autor, este “movimento” dos médicos tem passado, em parte, pela insistência junto dos decisores políticos, no sentido de estes inte‐
grarem a questão dos cuidados paliativos na agenda política. O que é facto é que esta questão tem vindo a mobilizar actores sociais diver‐
sos na vida social e política portuguesa, extravasando o domínio restrito dos pro‐
fissionais médicos; tem‐se observado a criação de organizações específicas para a mobilização e tradução pública das questões ligadas à especificidade dos cuidados paliativos. Casos de organizações deste tipo são o Movimento de Cidadãos pró‐
‐Cuidados Paliativos ou a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. A utilização deste tipo de plataforma para a tentativa de inclusão da questão dos cuidados paliativos na agenda política e, mais do que isso, na própria lei, teve expressão particularmente evidente numa petição, realizada pelo supra‐citado Movimento de Cidadãos pró‐Cuidados Paliativos, entregue na Assembleia da República a 26 de Fevereiro de 2004, contendo vinte e quatro mil assinaturas (Petição n.º 70/IX/2.ª). Esta petição tinha como principal propósito a inclusão dos cuidados paliativos na Constituição da República Portuguesa. Neste documento dizia‐se, com efeito, que o Art.º 64.º do Capítulo II da Lei Fundamental, no seu ponto 3, consagrava o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação e pretendia‐se ver aqui incluídos, também, os cuidados de natureza paliativa. A inclusão de tal figura no articulado legal deveria ser feita, nos termos do documento, em representação de “milhares de cidadãos que pretendem que o seu ciclo natural de vida termine com dignidade”. Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 177 Na sequência desta petição, pediu aquele órgão parlamentar, a 15 de Março do mesmo ano, informação sobre esta questão ao gabinete do Ministro da Saúde, que afirmou estar a ser elaborado, então, um Programa Nacional de Cuidados Paliativos, radicado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Conselho da Europa, no sentido da inclusão dos cuidados paliativos nos sistemas de saúde, na previsão da criação deste tipo de cuidados no Plano Oncológico Nacional 2001‐2005, bem como no Plano Nacional de Saúde 2004‐2010. Mais afirmou aquele gabinete que previa que o referido Programa Nacional de Cuidados Paliativos se implementasse, gradualmente, até 2010, em complemento da Rede de Cuidados Continuados, mais vocacionada para a prestação de cuidados de recuperação global, centrados na reabilitação, readaptação e reintegração (Relató‐
rio Final da Petição n.º 70/IX/2.ª). O Programa Nacional de Cuidados Paliativos foi aprovado a 15 de Junho de 2004, como explicitava a Circular Normativa n.º 14/DGCG, de 13 de Julho, docu‐
mento do Ministério da Saúde. Nesta Circular Normativa, que divulgava o conteú‐
do daquele Programa, as questões associadas aos aspectos subjectivos e relacio‐
nais do doente e da doença adquiriam forte centralidade. Com efeito, este normativo estatuía que Os cuidados paliativos, no âmbito do presente Programa, incluem o apoio à família, prestado por equipas e unidades específicas de cuidados paliativos, em internamento ou no domicílio, segundo níveis de diferen‐
ciação. Têm como componentes essenciais: o alívio dos sintomas; o apoio psicológico, espiritual e emocional; o apoio durante o luto e a interdisciplinaridade. A distinção entre uma medicina curativa e uma medicina paliativa, por outro lado, encontrava neste mesmo Programa uma forte ancoragem, consubstanciada desde logo na sua própria fundamentação, que faz depender a possibilidade de organização de um sistema de cuidados paliativos de uma mudança nos quadros de referência e perspectivação da própria ideia de saúde: A cultura dominante da sociedade tem considerado a cura da doença como o principal objectivo dos serviços de saúde. Num ambiente onde predomina o carácter premente da cura ou a prevenção da doença, tor‐
na‐se difícil o tratamento e acompanhamento global dos doentes incurá‐
veis, com sofrimento intenso. A autonomização dos cuidados paliativos, no âmbito deste documento orien‐
tador, faz‐se a partir de um conjunto de pressupostos de mudança. Desde logo, ao nível dos já referidos quadros de percepção da própria doença. Mas, também, nes‐
ta sequência, ao nível da organização dos serviços e da sua vocação tradicional: a abordagem da fase final da vida tem sido encarada, nos serviços de saúde, como uma prática estranha e perturbadora, com a qual é difícil lidar. § O hospital, tal como o conhecemos, vocacionou‐se e estruturou‐
‐se, com elevada sofisticação tecnológica, para tratar activamente a doença. No entanto, quando se verifica a falência dos meios habituais de tratamento e o doente se aproxima inexoravelmente da morte, o hospi‐
tal raramente está preparado para o tratar e cuidar do seu sofrimento. 178 Alexandre Cotovio Martins § O centro de saúde, essencialmente dedicado à promoção da saúde e à prevenção da doença, também tem dificuldade em responder às exigên‐
cias múltiplas destes doentes. § De facto, num ambiente onde predo‐
mina o carácter da cura ou da prevenção da doença, torna‐se difícil o tratamento e o acompanhamento global dos doentes com sofrimento intenso na fase final da vida e a ajuda que necessitam para continuarem a viver com qualidade e dignidade. Além disto, a articulação dos cuidados paliativos com outro tipo de cuidados específicos – como constituem casos notáveis os cuidados continuados e os cuida‐
dos associados à dor –, é motivo de preocupação particular: Embora esteja naturalmente implícita na Rede Nacional de Cuidados Con‐
tinuados a prestação de acções paliativas em sentido genérico, não está prevista, naquela Rede, a prestação diferenciada de cuidados paliativos a doentes em fase avançada de doença incurável com grande sofrimento. […] Urge, portanto, colmatar esta carência. […] A solução para este pro‐
blema não assenta na simples manutenção de respostas híbridas, simulta‐
neamente curativas e paliativas, nem se enquadra na Rede de Cuidados Continuados, essencialmente vocacionada para a recuperação global e a manutenção da funcionalidade do doente crónico, nem no Plano Nacional de Luta Contra a Dor, vocacionado para o tratamento da dor física e não do sofrimento global. […] A complexidade do sofrimento e a combinação de factores físicos, psicológicos e existenciais na fase final da vida, obrigam a que a sua abordagem, com o valor de cuidado de saúde, seja, sempre, uma tarefa multidisciplinar, que congrega, além da família do doente, pro‐
fissionais de saúde com formação e treino diferenciados, voluntários pre‐
parados e dedicados e a própria comunidade. O Plano Oncológico Nacional, definido por Resolução do Conselho de Minis‐
tros publicada em Diário da República a 17 de Agosto de 2001 (RCM n.º 129/2001), define especificamente os cuidados paliativos como um domínio de relevo no quadro de uma estratégia nacional para a oncologia, curiosamente estabelecendo uma distinção tácita entre uma primeira “fase” no ciclo de tratamento e cuidado de saúde, realizada em função da doença e uma segunda “fase”, em que se integra o cuidado ao doente e à sua família: Quando os tratamentos específicos, dirigidos à doença, deixam de ter lugar, as necessidades do doente e da família continuam a exigir um apoio humanizado e eficaz. […] Na maioria dos doentes com cancro o período de maior sofrimento, pela intensidade, complexidade e rápida variação das perturbações físicas, psíquicas, sociais e existenciais, é a fase terminal da doença, em que à exacerbação do sofrimento corres‐
ponde, entre nós, um progressivo vazio de apoio qualificado. Como se depreende, este diagnóstico implicava, agora, uma inflexão do olhar dos profissionais de saúde, ou pelo menos a entrada em campo de profissionais com um olhar diferente, que consubstanciasse uma melhoria da abordagem ao doente, nas diferentes e complexas dimensões do período final da sua existência. Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 179 Conclusão A terminar este pequeno percurso analítico, parece‐nos sobretudo relevante salientar a centralidade que a explicação e compreensão sociológicas podem ter na análise dos temas e problemas da saúde e, concretamente, no domínio dos cui‐
dados paliativos. A organização social da acção médica nas nossas sociedades parece tender, na verdade e paradoxalmente, a fazer esquecer o seu enraíza‐
mento social. O estudo dos regimes de envolvimento na acção e das modalidades de constituição do laço social entre médicos e doentes, nas várias dimensões que lhes estão associadas, é um exemplo de um dos planos em que a sociologia pode contribuir para a organização de um quadro reflexivo sobre a própria prática médica. Embora aqui apenas muito brevemente explorado, parece‐nos um campo fecundo de análise em torno do qual os sociólogos interessados pela saúde e pela profissão médica têm, seguramente, possibilidades de realização de trabalho cien‐
tífico imensas. Este texto não pretendeu mais, no final de contas, do que fornecer algumas pistas adicionais para esse trabalho. Referências bibliográficas Livros e artigos BENFORD, Robert; HUNT, Scott (2001), “Cadrages en conflit – mouvements sociaux et problèmes sociaux”, in Daniel Cefaï e Danny Trom, Les Formes de l’Action Col‐
lective – mobilisations dans des arènes publiques, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, pp. 163‐194. BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas (1999), A Construção Social da Realidade. Um livro sobre a sociologia do conhecimento, Lisboa, Dinalivro. BOLTANSKI, Luc (1990), L’Amour et la Justice Comme Compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié. BOLTANSKI, Luc (2001), “A moral da rede? Críticas e justificações nas evoluções recen‐
tes do capitalismo”, Fórum Sociológico, n.os 5‐6 (II série), pp. 13‐35. BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Ève (1999), Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Paris, Galli‐
mard. BOLTANSKI, Luc; THÉVENOT, Laurent (1991), De la Justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard. BOURDIEU, Pierre (1980), Le Sens Pratique, Paris, Minuit. BOURDIEU, Pierre (1987), Choses Dites, Paris, Minuit. BOURDIEU, Pierre (1997), Razões Práticas. Sobre a teoria da acção, Oeiras, Celta. BOURDIEU, Pierre (1998), Questions de Sociologie, Paris, Minuit. BOURDIEU, Pierre (2000), Esquisse d’une Théorie de la Pratique (Précédé de Trois Étu‐
des d’Ethnologie Kabyle), Paris, Seuil. BOURDIEU, Pierre (2001), Science de la Science et Réflexivité, Paris, Raisons d’Agir. BOUVERESSE, Jacques (1999), Prodiges et Vertiges de l’Analogie, Paris, Raisons d’Agir. CANGUILHEM, Georges (2007), Le Normal et le Pathologique, Paris, PUF. CEFAÏ, Daniel (2001), “Les cadres de l’action collective. Définitions et problèmes”, in Daniel Cefaï e Danny Trom, Les Formes de l’Action Collective – mobilisations dans des arènes publiques, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sci‐
ences Sociales, pp. 51‐97. 180 Alexandre Cotovio Martins CHARTIER, Roger (1985), “Formation sociale et économie psychique: la société de cour dans le procès de civilisation”, in Norbert Elias, La Société de Cour, Paris, Flam‐
marion, pp. i‐lxxvii. CHARTIER, Roger (1997), “Conscience de soi et lien social”, in Norbert Elias, La Société des Individus, Paris, Fayard. CHARTIER, Roger (2002), “Construção do Estado moderno e formas culturais. Perspec‐
tivas e questões”, in Roger Chartier, A História Cultural. Entre práticas e repre‐
sentações, Lisboa, Difel, pp. 215‐229. CHAUVIRÉ, Christiane (1995), “Des philosophes lisent Bourdieu. Bourdieu/Wittgenstein: la force de l’habitus”, Critique – Revue générale des publications françaises et étrangères, Paris, Minuit. CORCUFF, Philippe (2001), As Novas Sociologias, Sintra, VRAL. DODIER, Nicolas (2005), “O espaço e o movimento do sentido crítico”, Fórum Socioló‐
gico, n.os 13‐14 (II série), pp. 239‐277. DURKHEIM, Émile (1995), Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse, Paris, Librairie Générale Française. DURKHEIM, Émile (1999), Les Règles de la Méthode Sociologique, Paris, PUF. FOUCAULT, Michel (1999), Histoire de la Folie à l’Âge Classique, Paris, Gallimard. FOUCAULT, Michel (2007), Naissance de la Clinique, Paris, PUF. GIDDENS, Anthony (1996), In Defence of Sociology, Cambridge, Polity Press. GIDDENS, Anthony (1996), Novas Regras do Método Sociológico, Lisboa, Gradiva. GIL, Fernando (1998), “La bonne description”, Enquête, n.º 6, pp. 129‐152. GOFFMAN, Erving (1998), Les Rites d’Interaction, Paris, Minuit. GOFFMAN, Erving (1999), “A ordem da interacção”, in Yves Winkin (org.), Os Momen‐
tos e os Seus Homens, Lisboa, Relógio D’Água, pp. 190‐235. GOFFMAN, Erving (1999), Os Momentos e os Seus Homens (textos escolhidos e organi‐
zados por Yves Winkin), Lisboa, Relógio D’Água. HEINICH, Nathalie (1998), Estados da Mulher: a identidade feminina na ficção ociden‐
tal, Lisboa, Estampa. KARSENTI, Bruno (1995), “Le sociologue dans l’espace des points de vue”, Critique – Revue générale des publications françaises et étrangères, Paris, Minuit. MANNHEIM, Karl (s.d.), Sociologia do Conhecimento, vols. I e II, Porto, Rés. PASSERON, Jean‐Claude (1991), “Le raisonnement sociologique: propositions récapitu‐
latives”, in Jean‐Claude Passeron, Le Raisonnement Sociologique – l’espace non‐
‐poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, pp. 357‐403. PASSERON, Jean‐Claude (1995), “L’espace mental de l’enquête (I) – La transformation de l’information sur le monde dans les sciences sociales”, Enquête, n.º 1, pp. 13‐42. PASSERON, Jean‐Claude (1996), “L’espace mental de l’enquête (II) – L’interprétation et les chemins de la preuve”, Enquête, n.º 3, pp. 89‐126. PINTO, Louis (1995), “La théorie en pratique”, Critique – Revue générale des publica‐
tions françaises et étrangères, Paris, Minuit. PINTO, Louis (1998), Pierre Bourdieu et la Théorie du Monde Social, Paris, Albin Michel. RESENDE, José Manuel (s.d.), “Para uma sociologia política da saúde: do ‘bem em si mesmo’ ao ‘bem comum’”, Lisboa, FCSH‐UNL/Fórum Sociológico (policop.). RESENDE, José Manuel (2003), O Engrandecimento de uma Profissão: os professores do ensino secundário público no Estado Novo. Das formas de justificação às gramá‐
ticas de acção: aquilo a que os docentes se referenciam para engrandecer a sua profissão, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. RESENDE, José Manuel (2006), “‘A morte saiu à rua’: aproximações à morte entre o sofrimento e a preservação da vida”, Tavira, Associação Agir. Medicina Curativa, Medicina Paliativa, Regimes de Acção 181 REY, Roselyne (2000), Histoire de la Douleur, Paris, La Découverte. RICOEUR, Paul (s.d.), Do Texto à Acção, Porto, Rés. RICOEUR, Paul (1995), De l’Interprétation. Essai sur Freud, Paris, Seuil. RICOEUR, Paul (2007), Percurso do Reconhecimento, São Paulo, Loyola. SAMPAIO, Maria Leonor (2006), “A profissão médica no quadro da modernidade refle‐
xiva”, Fórum Sociológico, n.os 15‐16 (II série), pp. 51‐65. SILVA, Augusto Santos (1988), Entre a Razão e o Sentido. Durkheim, Weber e a teoria das ciências sociais, Porto, Afrontamento. SNOW, David (2001), “Analyse de cadres et mouvements sociaux”, in Daniel Cefaï e Danny Trom, Les Formes de l’Action Collective – mobilisations dans des arènes publiques, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, pp. 27‐49. TAYLOR, Charles (1995), “Suivre une règle”, Critique – Revue générale des publications françaises et étrangères, Paris, Minuit. THÉVENOT, Laurent (2006), L’Action au Pluriel – sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte. THÉVENOT, Laurent, “L’action qui convient”, in P. Pharo e L. Queré (eds.), Les Formes de l’Action, Paris, Éditions de l’EHESS, pp.39‐69. THÉVENOT, Laurent, “Les investissements de forme”, in L. Thévenot (ed.), Conventions Économiques, Paris, PUF, pp. 21‐71. TROM, Danny (2001), “Grammaire de la mobilisation et vocabulaires de motifs”, in Daniel Cefaï e Danny Trom, Les Formes de l’Action Collective – mobilisations dans des arènes publiques, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sci‐
ences Sociales, pp. 99‐134. WAGNER, Peter (2001), “Modernidade, capitalismo e crítica”, Fórum Sociológico, n.os 5‐6 (II série), pp. 41‐70. WEBER, Max (1993), Economía y Sociedad, Madrid, Fondo de Cultura Económica. WEBER, Max (1995), Économie et Société, vol. I, Les catégories de la sociologie, Paris, Plon. Documentos “Hospital recusa medicamento inovador a doente com cancro”, Público, 14‐09‐2007. COLOMBAT, P. (2006), “Particularités des soins palliatifs en hématologie”, Paris, John Libbey Eurotext/EUROCANCER. COMISSÃO PARLAMENTAR DE TRABALHO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS, Relatório Final referente à Petição n.º 70/IX/2.ª, de 18‐06‐2004. CONSELHO NACIONAL DE ONCOLOGIA E DIRECÇÃO‐GERAL DA SAÚDE (2004), Circular Norma‐
tiva n.º 14/DGCG. DELFIEU, D. (2006), “Accompagnement à domicile”, Paris, John Libbey Euro‐
text/EUROCANCER. DEVALOIS, B.; LEYS, A. (2006), “Les soins palliatifs: état des lieux en 2006”, Paris, John Libbey Eurotext/EUROCANCER. DIRECÇÃO‐GERAL DA SAÚDE (2001), Plano Nacional de Luta Contra a Dor, Lisboa, Direc‐
ção‐Geral da Saúde. LAMOUR, O. (2006), “Spécificité d’une unité de soins palliatifs”, Paris, John Libbey Euro‐
text/EUROCANCER. Petição à Assembleia da República n.º 70/IX/2.ª, de 18‐06‐2004. PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Plano Oncológico Nacional 2001‐2005, Lisboa, Diário da República n.º 190, de 17 de Agosto de 2001 (RCM n.º 129/2001). O DISCURSO DA BOA MORTE NAS VOZES DE QUEM CUIDA Ana Patrícia Hilário Introdução Através deste estudo pretendeu‐se compreender quais os elementos que con‐
figuram o sistema de valores dos profissionais de saúde que trabalham num serviço de cuidados paliativos. A construção de um sistema de valores permite que os pro‐
fissionais de saúde atribuam significado ao trabalho que desenvolvem com doentes terminais. O conceito de boa morte é aqui introduzido como a categoria analítica que permite compreender os elementos que configuram esse sistema de valores. O facto de à partida se definir a boa morte como um processo que envolve a realização de uma série de procedimentos sociais, conduz a que os diversos acto‐
res envolvidos no processo de morrer possuam uma expectativa concreta e dife‐
renciada do que consideram ser uma morte ideal. Ora, ao se propor que o sistema de valores partilhado pelos profissionais de saúde é construído e reconstruído dentro do cenário de prestação de cuidados, parte‐se da hipótese de que a ocor‐
rência ou não de uma boa morte tem implicações directas na configuração desse sistema de valores. Optou‐se por desenvolver a pesquisa numa unidade residencial de prestação de cuidados paliativos a doentes oncológicos terminais. Privilegiou‐se o método de estudo de caso, através da observação participante e continuada do investigador, por um período de quatro meses. A partir da análise qualitativa de 9 entrevistas em profundidade feitas a enfermeiros, com idades compreendidas entre os 26 e os 64 anos, procurou‐se então perceber quais os elementos que configuram o siste‐
ma de valores partilhado por esses profissionais de saúde. A experiência em torno da morte e do morrer Na modernidade tardia, a morte desaparecera da vida em comunidade, pas‐
sando a ser encarada como uma experiência individual, que ocorre sob a égide do poder médico, tendo‐se tornado desprovida de significação. A este propósito, Ariès (1975) refere que a aceitação e a resignação que caracterizavam as atitudes perante a morte na vida pré‐século XX, foram substituídas, no século XX, pelo medo. Para o autor, o vazio social que assiste ao do processo de morrer encontra‐
‐se relacionado com a progressiva laicização da sociedade. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 183‐190. 184 Ana Patrício Hilário Mellor e Shilling (1993) salientam, por exemplo, que a sequestração da morte e do morrer na modernidade tardia poderá dever‐se à diminuição da importância atribuída ao domínio do sagrado, bem como ao progressivo crescimento da refle‐
xividade social e à exaltação do papel do corpo sobre a identidade individual. Gorer (1965) considera, por seu turno, que a morte se tornara tão vergonhosa como o sexo, ocupando o lugar que outrora lhe estava destinado. O autor sublinha que a morte é escamoteada através de mentiras fantasiosas, sendo encarada como algo de maléfico, não se ousando até a proferir o seu nome. Segundo Illich (1976), a medicalização reduziu a capacidade dos indivíduos lidarem com a dor, o sofrimento e a morte. A morte é agora considerada como algo de anormal e inesperado e, simultaneamente, representa uma falha nas tera‐
pêuticas médicas. Kubler‐Ross (1969) sublinha que esta ocultação da morte se deve à transição do indivíduo doente para as instituições hospitalares. Mas, dado que as instituições hospitalares foram concebidas para tratar e curar os doentes, têm dificuldades em dar resposta às necessidades dos doentes em fase terminal. Oliveira (1999) salienta que a morte foi desumanizada e afastada da vida quo‐
tidiana. A maioria dos indivíduos vive de facto os seus últimos dias no quarto de uma instituição hospitalar, rodeado de aparelhos sofisticados, sendo observado e assistido por um vasto leque de profissionais, que zelam para que se mantenha vivo. Para Thomas (2001), a morte no hospital surge, simultaneamente, como uma resposta à exigência de cuidados de saúde e à necessidade de ocultação e institu‐
cionalização da morte. As estruturas organizacionais do hospital, ao terem sido concebidas com o propósito de tratar e curar o doente, podem ser encaradas como uma forma de recusa da aceitação da morte. A consciencialização destes aspectos levou ao desenvolvimento de uma nova filosofia de cuidados, que actualmente se denomina de cuidados paliativos, mas cuja expressão inicial teve por base o movimento moderno dos hospícios (Clark e Seymour, 1999). A emergência de uma nova filosofia de cuidados O movimento moderno dos hospícios surgiu como reacção aos cuidados des‐
personalizados prestados aos doentes terminais na generalidade das instituições hospitalares (McNamara, 2004). Os primeiros líderes do movimento moderno dos hospícios consideravam que a agonia do doente terminal se devia sobretudo a intervenções técnicas invasivas que prolongavam desnecessariamente a vida (Abel, 1986). Antes de mais, é de realçar que os hospícios apareceram na Idade Média, liga‐
dos a ordens religiosas, sendo compreendidos enquanto lugares de hospedagem a peregrinos doentes ou cansados, que aí encontravam um lugar de repouso. Sendo assim, os hospícios modernos não devem ser encarados como espaços de interna‐
mento, mas enquanto uma filosofia de cuidados que visa a restauração da digni‐
dade humana (Clark e Seymour, 1999). Novas iniciativas de caridade começaram a desenvolver‐se após a Segunda Guerra Mundial com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos doentes em fase terminal. De destacar a criação, em 1967, do St. Christopher Hospice, no Rei‐
no Unido (Clark e Seymour, 1999). O reconhecimento dos cuidados paliativos O Discurso da Boa Morte nas Vozes de Quem Cuida 185 como uma especialidade médica, em 1987, deve ser compreendido como outro dos marcos importantes no desenvolvimento desta filosofia de prestação de cui‐
dados (Hockley, 1997). O termo paliativo advém do étimo latino pallium que significa manto ou capa. Nos cuidados paliativos os sintomas são encobertos com o intuito de promover o bem‐estar do doente (Twycross, 2003). O cuidar deve assim ser compreendido como o conceito que delimita as práticas dos profissionais de saúde e a organiza‐
ção dos serviços (Clark e Seymour, 1999). Os cuidados paliativos não são mais do que uma forma de acompanhamento ao doente terminal através de uma estreita colaboração terapêutica (Clark e Sey‐
mour, 1999). Ao encararem a morte e o pesar enquanto factos naturais da vida, os cuidados paliativos promoveram uma crítica à medicalização e institucionalização do processo de morrer e, simultaneamente, a aceitação da ideologia da boa morte (McNamara, 2004). A ideologia da boa morte Os profissionais de saúde que trabalham em cuidados paliativos tendem a construir um sistema de valores cuja base assenta na ideologia da boa morte, com o propósito de atribuir significado ao trabalho que desenvolvem com os doentes terminais (McNamara et al., 1995). A este propósito, Kubler‐Ross (1969) refere que a noção de boa morte apela ao retorno do processo de morrer para o ambiente familiar e enfatiza a partilha do conhecimento médico da situação com os doentes. Segundo Payne et al. (1996a) as percepções sobre uma boa ou má morte encontram‐se relacionadas com o desenvolvimento de certas interacções entre os desejos dos doentes, a capacidade de atingir as expectativas dos vários interve‐
nientes e o controlo que é exercido sobre o processo de morrer. A este propósito, Costello (2005) refere que as percepções acerca de uma boa ou má morte cen‐
tram‐se sobretudo no processo de morrer e nas expectativas dos doentes e seus familiares e não no evento da morte em si mesma. Seymour (1999) sugere que o que existe são múltiplas representações sobre a trajectória ideal de morrer. A autora sublinha que a experiência de uma boa morte é frequentemente associada à imagem de uma morte natural, pacífica, dignifican‐
te e não prolongada. Por exemplo, Lawton (2000) e McNamara et al. (1994) salien‐
tam que para os enfermeiros dos hospícios uma boa morte é aquela em que o paciente morre sem dores e sereno. A interpretação do discurso dos sujeitos entrevistados sugere a presença de uma lógica idêntica à que fora apresentada por estes autores. Uma boa morte é, de facto, definida como uma morte tranquila, acompanhada pelos familiares e em que o paciente se encontra livre de dores. Como ilustração, considere‐se o seguin‐
te excerto: “Uma boa morte será uma morte acompanhada, de preferência. Do meu ponto de vista, acompanhado pela família e de preferência sem cons‐
ciência. Sem consciência porque eu acho que a pessoa não beneficia nada em aperceber‐se do que é que lhe está a acontecer.” (Enf.ª Cláudia) 186 Ana Patrício Hilário Segundo McNamara et al. (1994), a ocorrência de uma boa morte depende de factores inerentes ao contexto social e cultural em que o doente se encontra inserido, assim como de aspectos associados à evolução da doença. A este pro‐
pósito, Lawton (2000) refere que é difícil para os profissionais de saúde obterem um controlo eficaz da dor e dos desconfortos físicos provocados pela progressão da doença, pelo que os doentes morrem agitados, confusos e angustiados. Do discurso dos enfermeiros entrevistados sobressai a ideia de que uma má morte é aquela que envolve sofrimento físico e solidão, como podem ilustrar os seguintes excertos: “Uma má morte, é a morte em que o doente que está para morrer está sozinho, com dores, em que a família não está presente.” (Enf.ª Carla) “A mim faz‐me imensa confusão os doentes a lutarem para serem inde‐
pendentes, e depois, às vezes, nem é gradualmente, é uma coisa muito rápida, a ficarem acamados, a ficarem agónicos, a ficarem dispneicos. Acho que as pessoas… Acho que o ser humano não precisava de passar por isso!” (Enf.ª Isabel) Para a maioria dos enfermeiros dos serviços de cuidados paliativos a morte no hospital é medicalizada e institucionalizada (McNamara et al., 1994). Aí o doen‐
te terminal encontra‐se sobre o controlo dos profissionais de saúde, rodeado de aparelhos sofisticados, longe dos familiares e amigos, sem oportunidade de expressar os seus sentimentos (Oliveira, 1999). Ilustrativo desta ideia é o seguinte excerto de uma entrevista: “Eu acho que a partir do momento em que uma pessoa entra no hospital e fica internada perde completamente a identidade. A sua identidade! A sua independência! A sua autonomia! Só o facto de entrar e ter de vestir uma bata e tirar a roupa que é sua é simplesmente dizer que nós é que estamos ali! Nós é que sabemos o que vamos fazer! E que eles estão ali só para serem tratados” (Enf.ª Isabel) Os sujeitos entrevistados referem ainda que o facto de trabalharem num ser‐
viço de prestação de cuidados paliativos a doentes terminais contribuiu para que deixassem de compreender a morte como um falhanço da medicina e passassem a encarar o processo de morrer com mais naturalidade. Note‐se que alguns enfer‐
meiros sublinham que através do seu trabalho na unidade de cuidados paliativos conseguiram compreender melhor as necessidades daqueles que se encontram na fase final da vida. Tome‐se como ilustração o seguinte excerto: “Quando nos confrontamos com a morte não percebemos muito bem o que estamos ali a fazer porque lutamos para salvar vidas. Por exemplo, no hospital há uma reanimação e o nosso objectivo é salvar. Aqui depa‐
ramo‐nos com uma situação em que não há mais nada a fazer.” (Enf.ª Matilde) Da análise dos discursos dos sujeitos entrevistados sobressai a ideia de que trabalhar num serviço de prestação de cuidados paliativos a doentes terminais é algo satisfatório tanto em termos pessoais como em termos profissionais. O Discurso da Boa Morte nas Vozes de Quem Cuida 187 A morte suficientemente boa McNamara (2004) salienta que os profissionais de saúde tendem a colocar em primeiro plano o controlo da dor física e dos sintomas associados à progressão da doença. A autora sublinha que tal pode ser compreendido como um instrumento que permite assegurar algum tipo de certeza num processo que se caracteriza pela incerteza. A este propósito, Steinhauser et al. (2000) referem que tanto os doentes como os profissionais de saúde tendem a associar a concretização de uma boa morte à minimização dos sintomas. Ora, os enfermeiros entrevistados consideram que a dor e o controlo dos sintomas são um elemento central na prestação de cui‐
dados paliativos, visto que tal determina o bem‐estar geral do doente. Como ilus‐
tração, considere‐se o seguinte excerto: “Aspectos prioritários na prestação de cuidados paliativos: temos o con‐
trolo da dor. Eu acho que isso é fundamental porque acaba por ser um ciclo! Se eles têm dor não querem comer! Se eles têm dor não conse‐
guem fazer as pequenas coisas que poderiam! Se eles têm dor não que‐
rem saber de nada! Se lhes tirarmos a dor, e se eles não tiverem dor, se calhar já conseguem tomar o pequeno‐almoço. Se conseguiram tomar o pequeno‐almoço, conseguem tomar banho, se conseguiram tomar banho sentem‐se mais à vontade e com mais cuidados conseguem dar umas voltas pela unidade.” (Enf.ª Matilde) O aumento da dor e do sofrimento físico associado à progressão da doença são, de facto, os aspectos que mais afligem os doentes terminais (Kutner et al., 1999). Porém, alguns estudos sugerem que através da administração de cuidados paliativos é possível minimizar as situações de desconforto físico provocadas pelo avançar da doença e proporcionar aos doentes uma morte digna e serena (Hallen‐
beck, 2005). Não obstante, segundo os sujeitos entrevistados a ocorrência de uma boa morte depende de uma diversidade de factores, tais como a ocorrência ou não de certo tipo de sintomas, o desconhecimento ou não da situação e a existência ou não de conflitos familiares. Ilustrativo desta ideia é o seguinte excerto de uma entrevista: “Portanto, também há situações que por muito que se ache que as dores até estão controladas… Há um conjunto de factores: se o doente está revoltado, se o doente teve uma zanga com um filho que ainda não resolveu. Por muito que as características sejam positivas, basta uma!” (Enf.ª Matilde) McNamara (2004) sublinha que, os aspectos psicológicos são considerados como menos previsíveis e, consequentemente, menos possíveis de controlar, sen‐
do por isso delegados para um segundo plano. A interpretação do discurso dos sujeitos entrevistados sugere, no entanto, uma certa preocupação em satisfazer as necessidades emocionais dos doentes, como o pode ilustrar o seguinte excerto: 188 Ana Patrício Hilário “É muito importante que se eles estiverem conscientes e orientados, que pouco tempo antes de falecerem, consigam fazer aquilo que sempre tiveram vontade e nunca conseguiram.” (Enf.ª Mafalda) Embora o estabelecimento de uma comunicação franca entre os profissionais de saúde e o doente terminal seja considerado como um elemento central ao nível da filosofia dos cuidados paliativos (Seale et al., 1997), as expectativas dos doentes não são na maioria das vezes atingidas e a informação disponibilizada pelos médi‐
cos é em geral considerada insuficiente (Kutner et al., 1999). De facto, os enfer‐
meiros entrevistados tendem a usar as questões que os doentes colocam como pistas que permitem perceber se este se encontra preparado para discutir a sua situação clínica e a proximidade da morte. Ilustrativo desta ideia é o seguinte excerto de uma entrevista: “Eu acho que acabamos todos por esperar que o doente solicite. Que faça perguntas para nós respondermos acerca do tema. Se o doente não perguntar nós fazemos de conta que é um dia‐a‐dia absolutamente nor‐
mal […]. Eu não vou tomar a iniciativa de falar ao doente da morte! Acho que acabo por distraí‐lo. A não ser que ele me pergunte! Se ele me per‐
guntar eu também não fujo à pergunta.” (Enf.ª Sara) De sublinhar que os profissionais de saúde quando não se sentem confortá‐
veis para falar abertamente sobre a morte optam por limitar os seus contactos com o doente (Seale e Field, 2000). Note‐se que, apesar da percentagem de profis‐
sionais de saúde que informam os pacientes sobre a gravidade da sua situação clí‐
nica ter aumentado nas últimas décadas (Seale, 1991), a proporção de doentes que desconhecem o seu diagnóstico devido à inexistência de uma comunicação franca entre o médico e o paciente ainda é significativa (Tulsky, 2000). A análise do discurso dos sujeitos entrevistados revela uma cumplicidade entre os profissionais de saúde e os familiares, de forma a escamotear a verdade ao doente, sob o pretexto que este não irá suportar a situação. Como ilustração, considere‐se o seguinte excerto de uma entrevista: “Tem a ver com uma opção familiar. E muitos médicos também não estão ainda preparados! Penso eu! Para comunicar com o doente e dizer‐lhe de forma frontal que o doente vai morrer! Que vem para aqui passar os últimos dias!” (Enf.ª Maria) Apesar dos enfermeiros entrevistados considerarem que é importante estarem activamente envolvidos no processo de morrer, sublinham que lhes é difícil rotular as experiências dos doentes. Também ilustrativo desta opinião é o seguinte excerto: “Aqui depende de pessoa para pessoa! Não há um padrão! […] Básica‐
mente sem dor consegue‐se. Agora da maneira como ele esperaria, isso é sempre uma dúvida, temos que conhecer relativamente bem os doen‐
tes, e nem sempre temos oportunidade para isso.” (Enf.ª Mafalda) A este propósito, McNamara (2004) refere que os profissionais de saúde ten‐
dem a usar uma noção pragmática e contingente do processo de morrer, ou seja, que se aproxima o mais possível das circunstâncias que a pessoa escolheu. O Discurso da Boa Morte nas Vozes de Quem Cuida 189 Considerações Finais Concluiu‐se, através desta pesquisa, que o sistema de valores desenvolvido pelos profissionais de saúde com o propósito de atribuir significado ao seu traba‐
lho com doentes terminais, cuja base assenta na ideologia da boa morte, é cons‐
truído e reconstruído dentro do cenário de prestação de cuidados. Na tentativa de proporcionar uma boa morte, os sujeitos entrevistados ten‐
dem a dar prioridade ao controlo da dor e dos sintomas, delegando para um segundo plano as necessidades psicológicas, sociais e espirituais dos doentes. Estes enfermeiros reconhecem que a tarefa de minimizar o sofrimento multidi‐
mensional é um desafio complexo, daí que admitam que muitos doentes não con‐
sigam atingir o ideal de boa morte proposto pela filosofia inerente à prestação de cuidados paliativos. Os enfermeiros falam assim, quando muito, na existência de uma morte sufi‐
cientemente boa. Ou seja, na morte que se aproxima o mais possível das circuns‐
tâncias que a pessoa escolheu. É, de facto, evidente o recurso a uma noção prag‐
mática e contingente do processo de morrer. Referências bibliográficas Abel, E. (1986), “The hospice movement: institutionalising innovation”, International Journal of Health Service, 16 (1): 71‐85. Áries, P. (1975), Western Attitudes towards Death: from the Middle Ages to the pre‐
sent, London: Johns Hopkins University Press. Clark, D.; Seymour, J. (1999), Reflections on Palliative Care, Buckingham: Open Univer‐
sity Press. Gorer, G. (1965), Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, London: Cresset. Hallenbeck, J. (2005), “Palliative care in the final days of life: they were expecting at any time”, Journal of American Medical Association, 293 (18): 2265‐2271. Hockley, J. (1997), “The evolution of the hospice approach”, in New Themes in Pallia‐
tive Care, Open University Press: Buckingham. Illich, I. (1976), Limits to Medicine. Medical Nemesis: the expropriation of health, Har‐
mondsworth: Penguin. Kubler‐Ross, E. (1969), On Death and Dying, Macmillan: New York. Kutner, J.; Steiner, J.; Corbett, K.; Jahnigen, D.; Barton, P. (1999), “Information needs in terminal illness”, Social Science and Medicine, 48: 1341‐1352. Lawton, J. (2000), The Dying Process: patients’ experiences of palliative care, London: Routledge. McNamara, B. (2004), “Good enough death: autonomy and choice in Australian pallia‐
tive care”, Social Science and Medicine, 58: 929‐938. McNamara, B.; Waddel, C.; Colvin, M. (1995), “Threats to the good death: the cultural context of stress and coping among hospice nurses”, Sociology of Health and Ill‐
ness, 17 (2): 222‐244. McNamara, B.; Waddel, C.; Colvin, M. (1994), “The institutionalisation of the good death”, Social Science and Medicine, 39 (11): 1501‐1508. Mellor, P. A.; Shilling, C. (1993), “Modernity, self‐identity and the sequestration of death”, Sociology, 27 (3): 411‐431. Oliveira, A. (1999), O Desafio da Morte, Lisboa: Editorial Notícias. 190 Ana Patrício Hilário Payne, S. A.; Langley‐Evans, A.; Hillier, R. (1996), “Perceptions of a good death: a com‐
parative study of the views of hospice staff and patients”, Palliative Medicine, 10: 307‐312. Seymour, J. (1999), “Revisiting medicalisation and natural death”, Social Science and Medicine, 49: 691‐704. Seale, C.; Addington‐Hall, J.; Mccarthy, M. (1997), “Awareness of dying: prevalence, causes and consequences”, Social Science and Medicine, 45 (3): 477‐484. Steinhauser, K. E. (2000), “Factors considered important at the end of life by patients, family, physicians and other care providers”, Journal of American Medical Asso‐
ciation, 284 (19): 2476‐2482. Thomas, L. S. (2001), Morte e Poder, Lisboa: Temas e Debates. Tulsky, J. (2005), “Beyond advance directives: importance of communication skills at the end of life”, Journal of American Medical Association, 294 (3): 359‐365. Twycross, R. (2003), Cuidados Paliativos, Lisboa: Climepsi. DIREITO DE VIVER E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: BREVES REFLEXÕES SOBRE A EUTANÁSIA PASSIVA (UM ESTUDO DO CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO)1 Criziany Machado Felix Morrer é dormir. Nada mais. E por um sonho, diremos, as aflições se acabarão e as dores sem número, patrimônio da nossa débil natureza. Isto é o fim que deveríamos solicitar com ânsia. Morrer é dormir… E talvez sonhar. (William Shakespeare, Hamlet, ato III). Considerações iniciais A morte descrita por Shakespeare, cujo fragmento se encontra supramencio‐
nado, é desejada por muitos no mundo contemporâneo, porquanto esta mudou seu caráter, não é mais uma morte domiciliar rodeada das pessoas queridas. Atualmente, a morte dá‐se ora antes de termos um tratamento digno; ora em meio a tratamentos que gostaríamos de nos furtar. No contexto brasileiro, as pessoas menos afortunadas financeiramente, que, raramente têm acesso às modernas tecnologias, morrem, muitas vezes, na espera de uma chance de consultar um médico; é a “eutanásia social”, a mistanásia. Os mais privilegiados economicamente têm à sua disposição uma larga gama de trata‐
mentos, que, por vezes, são extremamente úteis, outras, acarretam apenas a morte longe da família, longe dos amigos, longe do calor humano e próximo do frio das máquinas hospitalares. Esse paradoxo deve‐se, em boa parte, ao progresso geomé‐
trico da ciência e tecnologia na área médica e das demais ciências da vida. Para muitas pessoas, a disponibilidade da medicina de alta tecnologia para “consertar” as marcas da vida é uma fonte de esperança e consolo. Para outras, são tratamentos fúteis que podem acarretar males maiores do que benefícios. Porém, é comum a recusa a abrir mão de tratamentos desproporcionais por parte de alguns médicos e familiares na busca incessante da “vida”. Essas pessoas agem 1 Este artigo consiste numa versão revista, condensada e atualizada do artigo intitulado “Eutanásia passiva: breves reflexões acerca do respeito à dignidade da pessoa humana ao morrer”, publica‐
do na revista Depoimentos, n.º 11, Jan.‐Jun. 2007, pela Faculdade de Direito de Vitória/Br., que tem por base parte da dissertação de mestrado em Ciências Criminais intitulada Eutanásia: reflexos jurídico‐penais e o respeito à dignidade da pessoa humana ao morrer e apresentada em Agosto de 2006 na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/Br. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 191‐204. 192 Criziany Machado Felix como se a “vida” não fosse também morte. Vida é nascimento, desenvolvimento e morte; por vezes o desenvolvimento é menor do que esperávamos, e a morte che‐
ga antes do que almejávamos, mas ela também é parte da vida. A não consideração da morte como uma dimensão da existência humana e do conseqüente desafio de lidar com ela como um dos objetivos da medicina faz com que sejam introduzidos tratamentos agressivos que somente prolongarão o pro‐
cesso de morrer. A postura a ser pautada diante desse processo traz implicações éticas e jurídicas que deverão ser analisadas em cada caso, é uma exigência intro‐
duzida pelos novos paradigmas científicos, traduzindo a complexidade das inter‐
faces da problemática da (in)admissibilidade de práticas eutanásicas. Todavia, em face da limitação espacial deste ensaio, optamos por discorrer apenas sobre a modalidade passiva, a qual será diferenciada das outras modalidades para, poste‐
riormente, serem analisadas as implicações no campo da bioética e do direito. Definições necessárias A questão polêmica e complexa encontra‐se longe do consenso. A eutanásia evidencia seu caráter problemático desde o intuito de defini‐la. Em seu sentido etimológico, a palavra deriva dos vocábulos gregos “eu”, prefixo que significa bom, e “thánatos”, substantivo equivalente à morte, e alude ao ato de dar a “boa mor‐
te”, podendo, portanto, verificar‐se em situações muito dessemelhantes e obe‐
decendo aos mais diversos propósitos. Nesse diapasão, faz‐se necessário proce‐
dermos a algumas conceituações a fim de delimitarmos o objeto de nossa análise. Iniciaremos a abordagem discorrendo sobre a natureza da prática da conduta eutanásica. Valemo‐nos para tanto das considerações de Jimenéz de Asúa (1929: 252‐253) que destaca a necessidade de distinguir a eutanásia médica da prática do homicídio por piedade, praticado por familiares ou amigos fiéis e desinteressados. Alude que a eutanásia praticada pelos médicos nos seus justos limites2 carece de substância polêmica, pois é uma verdadeira cura, um meio benéfico para os que sofrem cruelmente. A problemática reside na morte dada por pessoas ligadas ao paciente por laços de família, de amizade ou de amor, porque devemos verificar “se ao matador não o guiou um motivo egoísta”. Se a resposta for negativa o autor entende ensejar um perdão judicial. Martin (1998: 183), em posição similar a de Jimenez de Asúa, destaca ser o questionamento de consistir a eutanásia, exclusivamente, num ato médico ou não, uma ambigüidade que surge freqüentemente em relação à sua natureza e aduzindo que o uso consagra o sentido das palavras, propõe que se reserve a palavra eutaná‐
sia exclusivamente para denotar atos médicos que, motivados por compaixão, pro‐
voquem precoce e diretamente a morte a fim de eliminar a dor. De nossa parte, concordarmos apenas com as posições de Jimenéz de Asúa e de Martin sobre a dis‐
tinção que se impõe entre a eutanásia realizada por médicos e a morte misericordio‐
sa dada por outras pessoas, pois concebemos a eutanásia como ato médico. 2
Releva mencionar que Jimenéz de Asúa (1929) ao discorrer acerca dos justos limites da prática de eutanásia estava referindo‐se aos casos de eutanásia de duplo efeito, ou seja, aquela acarretada indiretamente por ministrar‐se medicamentos que objetivem diminuir ou aliviar a dor do paciente. Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana 193 No que diz respeito à conduta do agente, podemos classificar a eutanásia em por ação ou positiva e por omissão ou negativa; ou, ainda, em ativa e passiva. Observando‐se o fim perseguido pelo autor, podemos dividir a eutanásia ativa em: direta, indireta ou pura. Esta última modalidade, consistente na aplicação de meios no auxílio à boa morte desprovido de efeitos que abreviem o curso vital, não acarretando maiores questionamentos. A problemática circunscreve a confusão, que é feita, por alguns doutrinadores, entre a modalidade ativa e a por ação; e a modalidade passiva e a por omissão, bem como entre a modalidade ativa e a direta; e a passiva e a indireta. Javier Gafo (1989: 54), ao abordar a distinção entre eutanásia ativa e passiva, entende ser o primeiro caso a colocação em prática de uma ação médica positiva com a qual ou se acelera a morte de um enfermo ou se põe fim a sua vida. Aduz o autor que, de forma contrária, no caso da eutanásia negativa não há uma ação positiva, senão que simplesmente não se aplica nenhuma terapia ou ação que pos‐
sa prolongar a vida do enfermo. A característica da eutanásia passiva ou negativa seria, portanto, a omissão, a não aplicação de uma terapia disponível. Nesse mesmo sentido, é a posição traçada por Pessini e Barchifontaine (2000: 293), ao afirmarem ser a eutanásia ativa (positiva ou direta) uma ação médica pela qual se põe termo à vida de uma pessoa enferma, podendo também ser chamada de morte piedosa ou suicídio assistido e ser a eutanásia passiva (negativa) uma omissão, ou seja, a não aplicação de uma terapia médica com a qual se poderia prolongar a vida da pessoa enferma. Parece‐nos oportuno apontar que os referidos autores equivocam‐se, pois na eutanásia passiva também pode haver uma ação, uma vez que o agente pode frus‐
trar a ocorrência de técnicas que já vêm sendo utilizadas, sem que com isso leve diretamente à morte. Essa morte pode advir por outros fatores proliferados em razão da ausência da aplicação dessas técnicas, portanto, indiretamente. Nessa orientação é a posição de Lecuona (1997: 99): Es importante no asimilar la distinción entre eutanasia activa y eutanasia pasiva a la distinción entre acción y omisión, pues aunque pudiera encon‐
trar‐se algún parentesco entre ellas, no son exactamente equivalentes. Un médico que desconecta el respirador de un paciente, por ejemplo, cier‐
tamente está realizando una acción: está haciendo algo, a saber, retirando un aparato y por lo tanto dando muerte al paciente cuja vida dependía del mismo. Sin embargo, esa acción normalmente se clasificaría como un acto de eutanasia pasiva, puesto que sin el respirador la muerte del paciente sobreviene naturalmente, sin major intervención por parte del médico. Aquí, el médico no da muerte activamente a un paciente, sino que pasivamente le deja morir.3 3
“É importante não assemelhar a distinção entre eutanásia ativa e eutanásia passiva à distinção entre ação e omissão, pois ainda que puderámos encontrar algum parentesco entre elas, não são exatamente equivalentes. Um médico que desconecta o respirador de um paciente, por exemplo, certamente está realizando uma ação: está fazendo algo, a saber, retirando um aparelho e, portanto, dando a morte ao paciente cuja vida dependia do mesmo. Entretanto, essa ação normalmente se classificaria como um ato de eutanásia passiva, porque sem o respirador a morte do paciente sobrevém naturalmente, sem maior intervenção por parte do médico. Aqui, o médico não dá morte ativamente a um paciente, senão que passivamente lhe deixa morrer” (tradução nossa). 194 Criziany Machado Felix Ainda, no sentido do exarado, vale mencionar as considerações de Morão (2006: 38): Devem também ser consideradas situações de eutanásia passiva certos casos de omissão da continuação do tratamento médico que se encontram, não obstante, relacionados com comportamentos activos, como designa‐
damente, o caso da interrupção da reanimação artificial. Pois, como defende actualmente a melhor doutrina, na esteira da construção roxiniana, o acto de desligar um aparelho reanimador, embora traduzindo uma conduta acti‐
va de uma perspectiva fenomenológica, consubstancia afinal uma omissão do ponto de vista normativo, uma omissão através da acção, uma vez que representa uma recusa da continuação da intervenção médica. Consideramos, portanto, que a eutanásia passiva é aquela em que alguém decide retirar de outra pessoa, com a finalidade de acelerar sua morte, os apare‐
lhos ou medicamentos que a mantêm viva, ou negar‐lhe o acesso a tratamento que poderia prolongar sua vida, restando, dessa forma, a possibilidade de um agir positivo, bem como de um agir negativo. Pode‐se nomeá‐la, ainda, “ortotanásia”, o termo tem origem etimológica grega, provendo do prefixo “orthós”, que significa normal, correta, e do substantivo “thánatos”, equivalente à morte, significando o morrer corretamente, humanamente. Por eutanásia ativa concebe‐se aquela que uma pessoa administra à morte a outra, podendo encurtar‐lhe a vida diretamente – eutanásia direta – ou podendo o tempo de vida ser reduzido indiretamente através de medicamentos ministrados para aliviar a dor – eutanásia indireta, também denominada eutanásia de duplo efeito. A bioética, seus princípios basilares e as interfaces com o direito Bioética é um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike (ética). Atualmente a bioética compreende, basicamente, o campo de interseção da ética com as ciências biológicas, que se transformou numa área do conheci‐
mento interdisciplinar, apresentando múltiplas facetas. “O objetivo principal desse campo de estudos éticos consiste, assim, em trabalhar as relações entre a ética e a vida humana, a ciência e os valores humanos, sendo necessariamente interdiscipli‐
nar” (Barreto, 2001: 43). Pautaremos nosso estudo no paradigma principialista4, que está entre os modelos de análise da bioética mais divulgados e propõe a orientar as ações três princípios: a autonomia (princípio do respeito à autonomia), a beneficência e a jus‐
tiça. É a denominada “Trindade Bioética”. Alguns doutrinadores acrescentam um quarto princípio: a não‐maleficência. Os princípios aludidos não têm disposição 4
Destacamos que o paradigma principialista não é o único modelo de análise teórica da bioéti‐
ca, embora seja o mais utilizado; existem outros como os paradigmas: liberatório, das virtudes, casuístico, fenomenológico e hermenêutico, narrativo, do cuidado, do direito natural, contra‐
tualista e antropológico personalista. Todavia, optamos pela abordagem através do viés princi‐
pialista por considerarmos que as demais perspectivas são, em realidade, abordagens, aprimo‐
radas em alguns aspectos e deterioradas em outros, do próprio principialismo. Assim, não podemos considerá‐los como exclusivos e sim como complementares. Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana 195 hierárquica entre si e são válidos prima facie, a situação em causa e suas conse‐
qüências é que indicarão que princípio deve ter precedência, em caso de colisão. Esse modelo é amplamente aplicado na práxis clínica, pois se considera que possui resultados bastante positivos em relação ao respeito pela dignidade da pessoa humana. O princípio do respeito à autonomia (autos, eu; nomos, lei) denota que todos devem ser responsáveis por seus atos. A responsabilidade, nesse sentido, implica atos de escolha. Segundo nos ensina Clotet (2003: 144), o princípio em tela pode ser analisado sob dois enfoques distintos, quais sejam: sob o aspecto exclusivo do médi‐
co, referindo‐se nesse caso à autonomia do médico ou do profissional da saúde, ou entendido como o reconhecimento e a expressão da vontade do paciente ou dos seus representantes nas diversas etapas ou circunstâncias do tratamento médico. Em face do respeito à dignidade da pessoa humana, refutamos posições que considerem a prevalência da autonomia do médico ou profissional da saúde em detrimento da autonomia do paciente. Clotet (2003: 145), no sentido do exposto, destaca que: “o direito de autodeterminação do paciente ou do seu representante deveria ser sempre respeitado pelo profissional da medicina, pois este de modo geral deveria sempre agir conforme o interesse do paciente, manifestado através da sua vontade autônoma”. A autonomia expressa a liberdade de escolha, a possibilidade do paciente optar em relação a tudo que diga respeito à sua pessoa, de decidir sobre sua história pes‐
soal, de decidir sobre a ingerência ou não no seu curso vital. Entretanto, para que isso seja possível faz‐se mister que ele tenha total consciência do seu estado clínico, devendo, dessa forma, o consentimento ou a recusa à submissão de determinada terapêutica estar vinculado ao esclarecimento da situação do paciente por parte dos profissionais da saúde que lhe estiverem ministrando atendimento. A validade do consentimento informado depende da capacidade de fato5 do indivíduo em consentir, que se encontra disciplinada no Código Civil pátrio nos artigos 3.º e 4.º, que versam respectivamente: Art. 3.º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os menores de 16 (dezasseis) anos; II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua von‐
tade. Art. 4.º São incapazes, relativamente a certos atos, ou a maneira de os exercer: 5
É de extrema importância que não se confunda a “capacidade de direito” (personalidade) com a “capacidade de fato”. A capacidade de direito, personalidade jurídica, é igual para todos e exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Ela independe da cons‐
ciência ou da vontade humana, pois a capacidade de direito é atributo de todo homem, e dele inseparável. O mesmo não ocorre com a capacidade de fato (ou de exercício), que é a faculda‐
de de poder exercer pessoalmente os direitos de que se é titular; esta pressupõe a existência de duas faculdades: a consciência e a vontade. A falta de uma dessas faculdades ou de ambas torna a pessoa incapaz. Tal incapacidade pode ser suprida pelo instituto da representação (Felix, 1996: 222). 196 Criziany Machado Felix I – os maiores de 16 (dezasseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos; II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; Diante do exposto, deparamos‐nos com dois tipos de incapacidade, respecti‐
vamente, a incapacidade absoluta e a relativa. A primeira consiste numa restrição do poder de agir, devido à ausência da faculdade do exercício pessoal e direto dos direitos de personalidade – dessa forma, são representados por terceiros nos atos que se relacionam com seus direitos e interesses. A segunda refere‐se a pessoas que não possuem integralmente qualidades que lhes permitam liberdade de ação para procederem com completa autonomia – dessa forma, a legislação exige que sejam assistidos por terceiros nas tomadas de decisões; não são privados de inge‐
rência ou participação na vida jurídica. Como podemos perceber, a capacidade, compreendida como capacidade de fato, é imprescindível para validar‐se o consentimento. Todavia, outros requisitos também se apresentam como necessários para que o paciente possa validamente prestar sua anuência a um tratamento, quais sejam: a revelação adequada e veraz da informação pela equipe médica; a compreensão adequada dessa informação e o consentimento voluntário. O testamento vital, também denominado de Living Will ou Testament de Vie, é uma forma de respeito à autonomia do paciente que aparece ao lado da possibi‐
lidade do consentimento informado. Através desse documento a pessoa determi‐
na, de forma escrita, que tipo de tratamento ou não tratamento deseja receber caso se encontre doente, em estado incurável, terminal, ou em estado clínico não condizente com a dignidade da pessoa humana. Pode ser revogado pelo paciente a qualquer momento. Serve para uma pessoa manifestar sua vontade de forma ine‐
quívoca, caso, em momento futuro, não possa fazê‐lo. Além de evitar procedimen‐
tos médicos que o paciente não desejaria receber, poderia assegurar que o médico não fosse processado em face de sua omissão. Outro princípio que devemos analisar é o princípio da beneficência. “Do latim bonum facere (fazer o bem)”. Segundo ensina Clotet (2003: 64) “o princípio da bene‐
ficência tenta, num primeiro momento, a promoção da saúde e a prevenção da doença e em segundo lugar pesa os bens e os males buscando a prevalência dos primeiros”. Portanto, quando não for mais possível fazer‐se o bem ao paciente deve‐
‐se buscar não lhe fazer mal. É aqui que reside o princípio da não‐maleficência. Por ilação, temos que o princípio da não‐malefícência envolve uma abstenção, qual seja a do profissional da saúde de fazer o mal, de não tomar nenhuma atitude que venha a trazer conseqüências negativas para o paciente; ao passo que o princípio da bene‐
ficência tem como norte uma comissão, um agir, em prol do bem do paciente. O último dos princípios da “Trindade Bioética” é o da justiça. “O princípio da Justiça, nesse campo, indica a obrigação de se garantir uma distribuição justa, eqüitativa e universal dos bens e serviços (dos benefícios) da saúde. Liga‐se ao contexto da cidadania, implicando uma atitude positiva do Estado, no que se refe‐
re ao direito à saúde” (Fabriz, 2003: 111). Adotando a posição de Barreto (2001), entendemos que os três princípios apre‐
sentados não foram estabelecidos para concomitantemente resolverem as questões controversas oriundas das profundas mudanças no campo das ciências biomédicas Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana 197 contemporâneas, porquanto estes são referências de três campos de atuação distin‐
tos, ainda que todos relacionados à pessoa humana. Nessa senda, servem para privi‐
legiar um dos aspectos da relação médico‐paciente: o princípio da autonomia refere‐
‐se ao espaço decisório que cabe à pessoa humana a submeter‐se a tratamento ou não, bem como a frustrar tratamentos já iniciados; os princípios da beneficência e não‐maleficência enfatizam o papel do profissional da saúde ao tratar com o corpo e a mente da pessoa humana; e o princípio da justiça relaciona‐se com o poder públi‐
co estatal e da sociedade, por onde se procura realizar o mais alto grau de justiça, através da justa distribuição dos benefícios e serviços de saúde e da obrigação de tratamento igualitário, respeitadas as diferenças de quadros clínicos. Para os fins propostos no presente estudo releva apenas a análise dos princí‐
pios da autonomia e da beneficência e não‐maleficência. Assim, levando em con‐
sideração uma abordagem contemporânea do direito, não arraigada no positivis‐
mo jurídico, podemos afirmar que na base da discussão jurídica da morte eutaná‐
sica encontra‐se o princípio da dignidade da pessoa humana, que se expressa, dentre outras formas, através dos princípios da autonomia e da beneficência e não‐maleficência, princípios estruturais da bioética. A (in)disponibilidade do direito à vida e o respeito devido à pessoa humana Um argumento, aparentemente forte, pautado para impedir a admissibilidade da eutanásia consiste na consideração que a vida é um bem indisponível. Vários são os autores adeptos desse pensamento, por considerarem que o direito à vida é absoluto e deve sobrepor‐se aos demais direitos fundamentais. Destacamos alguns: Nessa seara, Diniz (2002: 21) aduz que “o direito à vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos da personalidade”. Entende que “a vida humana deve ser protegida contra tudo e contra todos, pois é objeto de direito personalíssimo”. Na mesma linha é a posição de Bitencourt (2004: 28): A conservação da pessoa humana, que é a base de tudo, tem como con‐
dição primeira a vida, que mais que um direito, é a condição básica de todo o direito individual, porque sem ela não há personalidade, e sem esta não há o que se cogitar de direito individual. O respeito à vida humana é, nesse contexto, um imperativo constitucional, que, para ser preservado com eficácia, recebe ainda a proteção penal. A sua extraordinária importância, como base de todos os direitos funda‐
mentais da pessoa humana, vai ao ponto de impedir que o próprio Estado possa suprimi‐la, dispondo a Constituição Federal que “não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX” (art. 5.º, inciso XLVII, letra a). Com efeito, embora seja um direito público subjetivo, que o próprio Estado deve respeitar, também é direito privado, inserindo‐se entre os direitos constitutivos da personalidade. Contudo, isso não significa que o indivíduo possa dispor livremente da vida. Não há um direito sobre a vida, ou seja, um direito de dispor, validamente, da própria vida. Em outros termos a vida é um bem indisponível, porque constitui elemento necessário de todos os demais direitos. 198 Criziany Machado Felix A inviolabilidade do direito à vida ora descrito encontra, segundo a maioria dos autores que o defendem, seu respaldo na Constituição Federal no artigo 5.º, caput, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3.º, que preceituam respectivamente: Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature‐
za, garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade… Art. 3.º Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pes‐
soal. Diante do exposto, constata‐se que os contrários à prática da eutanásia consi‐
deram o direito à vida como absoluto, sendo que todos os demais direitos, por con‐
seguinte, decorreriam deste. Todavia, cumpre destacar que, não obstante o direito à vida assumir posição de relevo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo reconheci‐
do como bem jurídico constitucional digno de tutela penal, não possui, como qual‐
quer outro, caráter absoluto. A autorização da pena de morte, em caráter excepcio‐
nal, no caso de guerra declarada, prevista na alínea ‘a’ do inciso XLVII do artigo 5º da Carta Constitucional, é um dos exemplos do caráter relativo do direito à vida. Acresce‐se ao exemplo referido as situações em que o Código Penal brasileiro admite a possibilidade de mitigação do direito à vida, como quando prevê não configurar crime o agente que “mate outrem” amparado por causas de justifi‐
cação, tais como legitima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal, ou ainda, diante de discriminantes putativas, bem como quando autoriza determinadas formas de aborto ou não incrimina a tentativa de suicídio. Canotilho (2002: 407), no sentido do pensamento supra exarado, entende que o direito à vida pressupõe sua proteção perante terceiros; e não contra tudo e contra todos, como abordam alguns partidários do caráter absoluto deste direito, deixando uma abertura para fazermos a ilação de ser o consentimento do titular do direito suficiente para ensejar uma eutanásia lícita. Discorrendo sobre a (in)disponibilidade do bem jurídico vida, por parte de seu titular, Zaffaroni (2002: 465) assevera: “a vida é o mais disponível dos bens jurídi‐
cos, porque costumamos consumi‐la a cada momento a nosso bel‐prazer”. Corro‐
boramos a posição do autor em comento, pois entendemos que “viver” são contí‐
nuos atos de disposição da própria vida. É, pois, flagrante o caráter relativo do direito à vida, sendo uma constatação que se impõe a sua disponibilidade, em determinadas situações, em especial por parte de seu titular, porquanto, ademais de sua relatividade, trata‐se de direito à vida e não de um dever de perpetuação; viver não é uma obrigação; não é, e não pode ser considerado, compulsório. A relativização do direito à vida a fim de asse‐
gurar o respeito devido à dignidade da pessoa humana impõe‐se em decorrência da necessidade de refutarmos situações indignas e degradantes. Todavia, cumpre mencionarmos que a disponibilidade da vida também não é um direito absoluto, sofrendo mitigações em diversas situações, a exemplo, entre outros, das pessoas que não têm capacidade de exarar seu consentimento, e, não podendo, pois, dispor sobre ingerências em seu curso vital. Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana 199 Encontramo‐nos diante de situações que fogem aos rigores das regras jurídi‐
cas, pautam‐se em princípios, via de regra, em colisão. Assim, é mister, para viabi‐
lizar uma adequada postura frente ao tema, estudarmos não apenas a (in)dispo‐
nibilidade do direito à vida, mas também as dimensões da dignidade da pessoa humana e as principais teorias sobre princípios em colisão. A dignidade da pessoa humana, no ordenamento jurídico brasileiro, encon‐
tra‐se situada entre um dos cinco fundamentos do Estado Democrático de Direito, no artigo 1.º, inciso III, da Carta Constitucional de 1988. Canotilho (2002: 225), ver‐
sando sobre o tema, assevera que “trata‐se de princípio antrópico que acolhe a ideia pré‐moderna e moderna de dignitas‐hominis, ou seja, do indivíduo confor‐
mador de si próprio e da sua vida segundo o seu próprio projecto espiritual”. A dignidade possui uma dúplice perspectiva, qual seja: uma dimensão auto‐
nômica e outra assistencial, protetiva. Quando não for possível a conduta de uma determinada pessoa ser pautada pela dimensão autonômica, em especial nas questões bioéticas ora propostas, devemos seguir respeitando a dignidade da pes‐
soa humana na sua perspectiva protetiva, ou seja, devemos analisar o caso pelo prisma da beneficência e da não‐maleficência, pois o direito à assistência é devido a todos os seres humanos, mesmo aos incapazes de reger‐se de forma autônoma6. É, pois, nesse ponto que a discussão acerca do direito de morrer encontra o seu maior gargalo, porquanto para alguns o direito à vida deve sobrepor‐se à dig‐
nidade da pessoa humana, e para outros, esta deve sobrepor‐se àquele. Princípios constitucionais em colisão: aportes para sua interpretação e ponderação Buscando pautar a postura jurídica que julgamos adequada ao tratamento da eutanásia passiva deparamos‐nos com alguns princípios da bioética que freqüente‐
mente estão em tensão quando discutimos ingerência no curso vital e devem ser analisados à luz da máxima da proporcionalidade. Abstratamente, as garantias constitucionais do direito à vida e do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana deveriam coexistir em harmonia, sendo, dessa forma, um direito à vida digna. Contudo, nem sempre esse ideal é atingido. Nessa senda é que se impõe como corolário lógico da tarefa de julgar, em situa‐
ções de princípios conflitantes, a máxima da proporcionalidade, que se subdivide em três máximas parciais (ou subprincípios): adequação, necessidade e proporcio‐
nalidade em sentido estrito. O subprincípio da adequação, também denominado de princípio da perti‐
nência, idoneidade ou princípio da conformidade, exige uma relação empírica entre o meio e o fim: o meio deve levar à realização do fim. Demanda uma relação adequada entre um ou vários fins determinados e o meio ou os meios com que são levados a termo. O subprincípio da necessidade é também descrito como princípio da exigibi‐
lidade, da indispensabilidade, da menor ingerência possível, da intervenção míni‐
6
Nesse sentido, ver Dworkin (2003: 337‐340), pois o autor assevera que a dignidade possui uma voz ativa e outra passiva, sendo que ambas encontram‐se interligadas, pois é no valor intrín‐
seco da vida humana que encontramos respaldo para afirmar que mesmo aquele que já per‐
deu a consciência de sua dignidade, ou nunca a teve, merece tê‐la respeitada e considerada. 200 Criziany Machado Felix ma, da escolha do meio mais suave e da proibição de excesso, sendo, inclusive, por alguns autores, confundido nessa última acepção com o próprio princípio da pro‐
porcionalidade em sentido lato. O exame deste subprincípio, consoante nos ensina Ávila (2003: 114), “envolve a verificação da existência de meios que sejam alterna‐
tivos àquele inicialmente escolhido, e que possam promover igualmente o fim sem restringir, na mesma intensidade, os direitos fundamentais afetados”. A análise da proporcionalidade em sentido estrito leva em consideração os interesses em tensão, verifica‐se a relação custo‐benefício da medida a ser toma‐
da, isto é, devemos ponderar os danos a serem causados e os resultados a serem obtidos. Nessa seara, Ávila (2003: 116) aduz que “o exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a comparação entre a importância da realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais”. Como podemos perceber, o princípio da proporcionalidade demanda uma dimensão tripla, devendo as questões que forem discutidas sob seu prisma serem pautadas na adequação, necessidade e proporcionalidade – em sentido estrito – dos meios mitigados em prol dos fins objetivados. A sua relevância demonstra‐se na análise de situações concretas, quando bens jurídicos ou direitos fundamentais igualmente habilitados a uma proteção do ordenamento jurídico se encontram em colisão, porquanto não existe hierarquia entre os mesmos, já que possuem a mesma natureza normativa, devendo ser igualmente obedecidos. Surge como parâmetro das interpretações constitucionais e ponderações destinadas a solucio‐
nar colisões, devendo sua aplicabilidade ocorrer através de suas projeções: a con‐
cordância prática e, na impossibilidade desta, o dimensionamento de peso ou importância dos princípios em tensão. Tendo como corolário o princípio da unidade da Constituição, através do qual se estabelece que nenhuma norma constitucional possa ser interpretada em con‐
tradição com outra norma da Constituição e levando‐se em conta que não existe escalonamento entre normas de direitos fundamentais, faz‐se necessária a har‐
monização das normas constitucionais em pauta no caso a ser analisado, através do denominado princípio da “concordância prática”. A concordância prática é uma forma de interpretação constitucional que objetiva a aplicação simultânea e conciliável dos princípios constitucionais, ainda que no caso concreto seja necessário o abrandamento de um deles, desde que não perca sua identidade, pois a harmonização busca obter a máxima efetivação de todos os princípios em discussão. Não obstante a relevância do princípio da concordância prática, ou da harmoni‐
zação, para a interpretação das normas constitucionais, nem sempre é possível solu‐
cionarmos as colisões entre princípios aplicando‐o. Em muitos casos, faz‐se necessá‐
rio o dimensionamento de peso ou importância dos princípios sob discussão. O critério da Dimensão de Peso ou Importância foi estruturado por Dworkin (2002), a fim de buscar a solução de casos difíceis, com fulcro na distinção por ele proposta entre regras e princípios, e aperfeiçoado por Alexy (2001). Assim, para uma melhor compreensão das questões a serem exaradadas, analisaremos o pen‐
samento de ambos, pautando as divergências e as convergências entre eles. Afirma Dworkin (2002: 40‐43) que a diferença entre regras e princípios reside numa distinção lógica, decorrente da natureza da orientação que oferecem. Não obstante os dois conjuntos de padrões apontarem para decisões particulares acer‐
Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana 201 ca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, as regras são aplicáveis na lógica do “tudo ou nada”, o que não ocorre com os princípios. Se a hipótese de incidência de uma regra é preenchida, ou ela é válida e a sua conseqüência norma‐
tiva deve ser aceita, ou ela não é considerada válida, em nada contribuindo para a decisão. Portanto, se duas regras entrarem em conflito, uma delas deverá ser con‐
siderada inválida. Os princípios ao contrário, não determinam as conseqüências normativas de forma direta, mas apenas contêm fundamentos, os quais devem ser examinados em conjunto com outros fundamentos provenientes de outros princí‐
pios. Pautando‐nos na posição de Dworkin podemos afirmar que um princípio não determina as condições que tornam sua aplicação necessária; ao revés, estabelece uma razão – fundamento – que impele o intérprete numa direção, mas que não reclama uma decisão específica. Dessa maneira, quando nos deparamos com um princípio frente a outro, haverá prevalência de um em detrimento do outro, o que não significa que ele perca a sua condição de princípio, que deixe de pertencer ao sistema jurídico. Alexy (2001), partindo desse posicionamento aprimora‐o e elabora sua teoria dos direitos fundamentais. Ressalva que apesar de sua distinção entre princípios e regras se parecer com a de Dworkin, distingue‐se dessa em um ponto essencial, na caracterização dos princípios como mandados de otimização. Concebe a tese de Dworkin como demasiadamente simples, justificando sua posição da seguinte maneira: El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los princi‐
pios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento solo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determi‐
nado por los principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla é valida, entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio (Alexy, 2001: 66‐67).7 7
“O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível. Dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandatos de otimização, que estão caracte‐
rizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais senão também das jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras opostos. Ao contrá‐
rio, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fática e juridicamente possível. Isto significa que a diferença entre regras e princípios é qualitativa e não de grau. Toda norma é bem uma regra ou um princípio” (tradução nossa). 202 Criziany Machado Felix Essa distinção é evidenciada, consoante Alexy, quando nos deparamos com conflitos de regras ou colisões de princípios. O primeiro só poderá ser solucionado se introduzirmos em uma das regras uma cláusula de exceção que elimine o confli‐
to ou com a declaração de que uma é inválida. O segundo deverá ser solucionado de maneira totalmente diversa. Quando dois princípios entram em colisão, um deve ceder ao outro. Porém, isso não importa declarar que o outro princípio é inválido, ou que deva ser excepcionado. O que ocorre é que em face de determi‐
nadas circunstâncias, a tensão entre esses mesmos princípios pode ser solucio‐
nada de forma diferente. Os princípios não possuem mandatos definitivos, senão só prima facie, pois ordenam que algo deva ser realizado na maior medida do pos‐
sível, levando em conta as possibilidades jurídicas e fáticas (Alexy, 2001: 89). A distinção entre as teorias esposadas é bastante tênue, sendo a posição de Alexy um aprimoramento da de Dworkin no que tange à consideração dos princí‐
pios serem mandatos de otimização, aplicando‐se, dessa forma, a problemática da eutanásia, porquanto, nessa situação estar‐se‐ia a discutir qualitativamente a apli‐
cabilidade do respeito à dignidade da pessoa humana, através dos diversos prin‐
cípios da bioética a serem pautados na discussão. O tratamento jurídico da eutanásia passiva no ordenamento brasileiro: conside‐
rações finais O intérprete deve, frente ao caso concreto, verificar qual o direito que o ordenamento em sua unidade deseja assegurar, sempre buscando a harmonia dos princípios em tensão e, apenas quando esta não for possível, decidir levando em consideração o princípio que naquela determinada situação assume maior peso ou importância. Quando estivermos diante de situações que o indivíduo capaz solicita ou anui com a prática da eutanásia estamos diante de uma tensão entre direitos funda‐
mentais de igual hierarquia, quais sejam: o direito à vida e o respeito devido à dig‐
nidade da pessoa humana. Dessa forma, a legitimidade da interpretação somente preservar‐se‐á na medida em que respeitarmos a máxima da proporcionalidade, através de sua tripla dimensão: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Todavia, questiona‐se qual das posições dessa máxima deverá pau‐
tar a decisão a ser tomada? O postulado da concordância prática ou a dimensão de peso ou de importância? Será possível conciliar os direitos em questão? Ou deve‐
mos proceder ao dimensionamento de peso ou importância para verificar qual o princípio que deverá ser condicionalmente precedido? A reposta a esta questão parece‐nos que decorrerá da dimensão que dermos ao direito à vida; porquanto, se consideramos esse uma faculdade que pode ou não ser exercida por seu titular, e não um dever, uma imposição, uma compulso‐
riedade; temos que é viável, através da aplicação do princípio da proporcionali‐
dade, concluirmos que o direito à vida é complementado pelo respeito devido à dignidade da pessoa humana e assim respectivamente, sendo possível a harmoni‐
zação de ambos através do postulado da concordância prática. O fundamento da premissa exposta encontra respaldo nas considerações já exaradas de que a vida é um direito disponível – por parte de seu titular – e relati‐
vo. O direito à vida deve, pois, compreender todas as fases da vida humana, quais Direito de Viver e Dignidade da Pessoa Humana 203 sejam nascimento, crescimento e morte. Dispomos diariamente de nossa vida, ao fazer escolhas, ao tomar atitudes, ao deixar de tomá‐las, e por que não devería‐
mos dispor do tratamento a que desejamos ou não nos submeter? Por que não poderíamos escolher quando basta de sofrimentos? Por que, na iminência da mor‐
te, ou em condições humanas degradantes, não podemos fazer o que por uma vida inteira fizemos: decidir? Em face das considerações supra, temos que a pessoa capaz, devidamente informada, em decorrência da dimensão autonômica da dignidade da pessoa humana em harmonização com o direito à vida – e não dever – poderá, pautada na concordância prática, dispor acerca da suspensão ou não aplicação de determina‐
das terapêuticas – ortotanásia. Situação diversa é quando se discute a colisão entre direito à vida e respeito à dignidade da pessoa humana de indivíduos incapazes de manifestar sua vontade. Nessas situações estar‐se‐ia discutindo a dimensão assistencial ou protetiva da dig‐
nidade da pessoa humana. Não devemos, portanto, cogitar da disponibilidade do direito à vida por parte de seu titular, e sim, no dever do Estado de impedir que ter‐
ceiros acarretem danos a uma pessoa enferma. Na maioria desses casos, não há como aplicarmos o postulado da concordância prática, devendo o intérprete deter‐
minar qual o princípio que deverá ser considerado de maior peso ou importância. Assim, ao analisarmos o direito à vida, nos casos de pessoas incapazes de mani‐
festar sua vontade, deveremos discutir seu peso em face da dignidade da pessoa humana, que deverá ser dimensionada através dos princípios beneficência e não‐
‐maleficência, sendo esses princípios interpretados como mandatos de otimização. Respeitadas essas interpretações, entendemos que não deverá haver inge‐
rência do direito penal a fim de criminalizar a conduta realizada pelo médico, por‐
quanto, embora o Direito Penal seja um conjunto de normas jurídicas voltadas ao poder punitivo do Estado, assim como tudo que decorre das relações do Homem, não é estático, está em freqüente mutação; em especial na situação proposta nes‐
te estudo, em face da realidade desnudada pelo avanço da ciência médica. A lei penal incriminadora não pode ser cegamente aplicada desconhecendo a dinâmica do processo civilizatório e, ao julgador, sem substituir‐se ao legislador, cabe exa‐
minar as nuances do caso concreto, dentro dos parâmetros constitucionais. Referências bibliográficas ALEXY, Robert (2001), Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estu‐
dios Políticos y Constitucionales. ÀVILA, Humberto (2003), Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, São Paulo: Malheiros. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul; PESSINI, Leo (2000), Problemas atuais de Bioética, São Paulo: Loyola. BARRETO, Vicente de Paulo (2001), “As relações da bioética com o biodireito”, in Heloi‐
sa Barboza e Vicente de Paulo Barreto (org.), Temas de Biodireito e Bioética, Rio de Janeiro: Renovar, pp. 41‐75. BITENCOURT, Cezar Roberto (2004), Tratado de Direito Penal: parte especial, vol. II, São Paulo: Saraiva. CANOTILHO, J. J. Gomes (2002), Constituição e Teoria da Constituição, Coimbra: Alme‐
dina (5.ª ed.). 204 Criziany Machado Felix CLOTET, Joaquim (2003), Bioética: uma aproximação, Porto Alegre: Edipucr. DINIZ, Maria Helena (2002), O Estado Atual do Biodireito, São Paulo: Saraiva. DWORKIN, Ronald (2002), Levando os Direitos a Sério, São Paulo: Martins Fontes. DWORKIN, Ronald (2003), Domínio da Vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais, São Paulo: Martins Fontes. FABRIZ, Daury César (2003), Bioética e Direitos Fundamentais, Belo Horizonte: Manda‐
mentos. FELIX, Criziany Machado (1996), “Personalidade: início e fim”, in James Tubenschlak (coord.), Doutrina 1, Rio de Janeiro: Instituto de Direito, pp. 220‐227. GAFO, Javier (1989), La Eutanasia: el derecho a una muerte humana, Madrid: Temas de Hoy. JIMENÉZ DE ASÚA, Luiz (1929), Liberdade de Amar e Direito a Morrer: ensaios de um criminalista sobre eugenesia, eutanásia e endocrinologia, Lisboa: Livraria Clássi‐
ca Editora. LECUONA, Laura (1997), “Eutanasia: algunas distinciones”, in Mark Platts (ed.), Dilemas Éticos, México: Fondo de Cultura, pp. 97‐119. MARTIN, Leonard. M (1998), “Eutanásia e distanásia”, in Iniciação à Bioética, Brasília: Conselho Federal de Medicina, pp. 171‐192. MORÃO, Helena (2001), “Eutanásia passiva e dever do médico de agir ou omitir em face do exercício da autonomia do paciente”, Revista Portuguesa de Ciência Crimi‐
nal, Coimbra, n.º 1, Jan.‐Mar. SHAKESPEARE, William (2002), Hamlet, São Paulo: Martin Claret (tradução de Pietro Nassetti). ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique (2002), Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral, São Paulo: Revista dos Tribunais. PARTE IV PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS SOBRE A SAÚDE FAMÍLIA, SAÚDE E DOENÇA: INTERVENÇÃO DIRIGIDA AOS PAIS Luísa Barros A ideia de que a família é um elemento crucial na equação descritiva e explica‐
tiva dos processos de saúde e doença de cada pessoa é hoje bastante consensual. A família, como determinante fundamental dos processos de desenvolvimen‐
to, adaptação e perturbação do sujeito, é chamada a explicar a aquisição de hábi‐
tos e estilos de vida saudáveis e de risco, a exposição a comportamentos de risco e as estratégias de confronto com esses riscos, os processos de adoecer, de aceita‐
ção do diagnóstico e de adaptação à doença crónica ou prolongada, de adesão aos tratamentos e de vivência da doença terminal. Mas a saúde e doença de cada pessoa também são chamadas a explicar os processos de adaptação e perturbação da família que constituem, ou de cada um dos seus membros. Finalmente a família é, ela mesma, enquanto entidade dinâmica, possível de caracterizar como mais ou menos saudável, sendo que a saúde da família afecta, necessariamente, a saúde actual e futura dos seus membros. Assim é quase unanimemente aceite que a família é um determinante impor‐
tante dos processos de saúde e doença, quer o sujeito ocupe as posições de filho, irmão ou pai/mãe, sendo que a família mais alargada tem sido, enquanto tal, pou‐
co estudada (Tinsley, Castro, Ericksen, Kwasman, e Ortiz, 2002; Roberts e Wallan‐
der, 1992; Turk e Kerns, 1985). O conceito de família na literatura da psicologia da saúde, não é alvo de gran‐
de discussão, sendo reconhecidas as múltiplas formas da mesma, e valorizada a sua importância nas diferentes fases da vida. A família é definida como um grupo composto por membros com obrigações mútuas que fornecem uns aos outros uma gama alargada de formas de apoio emocional e material (Dean, Lin e Ensel, 1981). Caracteriza‐se por ter uma estrutura, funções e papéis definidos, formas de interacção, recursos partilhados, um ciclo de vida, uma história comum, mas tam‐
bém um conjunto de indivíduos com histórias, experiências e expectativas indivi‐
duais e únicas. Dizer que a família tem um ciclo de vida (Relvas, 1996) significa que evolui ao longo do tempo. Traços mais fixos como o tamanho, a estrutura ou o nível sócio‐
‐cultural, cruzam‐se com outros bem mais dinâmicos, como o desenvolvimento da família em si mesmo, mas também de cada um dos seus membros, as tarefas pró‐
prias de cada fase, os outros contextos com que os seus membros interagem, etc. ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 207‐221. 208 Luísa Barros Família é, pois, uma realidade múltipla, mas sobretudo dinâmica, isto é, a relação entre o todo e as partes que o compõem é altamente variável entre grupos e famí‐
lias, mas também dentro de cada família, ao longo do desenvolvimento e em fun‐
ção de tarefas diferentes. A influência dos pais nos processos de saúde e doença dum filho, criança ou adolescente, ou a influência dum filho doente na adaptação dos pais, são as rela‐
ções que têm sido mais estudadas. As primeiras são também aquelas que têm sido o objecto principal do nosso trabalho, pelo que incidirei particularmente nestas (Barros, 2002; 2003). Esta conferência foi, pois, uma oportunidade para revisitar as minhas asser‐
ções fundamentais sobre estas relações entre família, saúde e doença, na intenção de partir de algumas certezas para avançar para outras tantas interrogações e, na medida do possível, chegar, pelo menos, a algumas propostas concretas e opera‐
cionalizáveis. O tema da conferência, “complexidades e perplexidades”, surgiu‐me como particularmente adequado para glosar o tema, pois todo o conhecimento adquirido sobre este tema vai no sentido da complexidade e abre, claramente para algumas perplexidades. O que tentarei será apresentar algumas sugestões que permitam ultrapassar, provisoriamente, algumas dessas perplexidades. Comecemos então por aquilo que sabemos. Cerca de quatro décadas de tra‐
balhos sobre a família, a saúde e a doença, permitem‐nos algumas certezas. Se o modelo biomédico se centrava no funcionamento biológico do corpo individual e em particular de cada um dos seus órgãos e sistemas, a perspectiva biopsicosocial, hoje largamente dominante nas ciências da saúde, ciências humanas e comporta‐
mentais, encara a saúde e doença numa perspectiva mais alargada e abrangente. Reconhece‐se a necessidade de enquadrar essa vivência da saúde e da doença, não só na pessoa, como um todo biológico, psicológico e social, mas também na perspectiva de um sujeito que é construtor de significados individuais, sempre na relação com os outros, valorizando assim os múltiplos contextos em que a pessoa se integra e com os quais co‐constrói esses significados. E valoriza‐se a família como um desses contextos privilegiados (Kazak, Simms e Rourke, 2002; Turk e Kerns, 1985). Nesta perspectiva, a compreensão das experiências de saúde e doença apela para dimensões de idiossincrasia, multiplicidade, subjectividade, e transformação. Na nossa síntese, recorremos a uma leitura ecológica, que vê a família essen‐
cialmente como um contexto de vivência e construção de saúde e de doença (Bronfenbrenner, 1979; Kazack, 1989). Não apenas um contexto, mas de todos os contextos, um dos mais duradouros, e social e psicologicamente relevantes (Cic‐
chetti e Aber, 1998), não só pela influência directa que tem junto dos seus mem‐
bros, mas pelo facto de ser frequentemente um elemento de selecção, mediação ou transformação em relação a outros contextos determinantes mais alargados como a escola, o grupo de amigos, o trabalho ou a comunidade. Mas recorremos também a uma leitura transaccional em que cada elemento da família troca com a família como um todo, e com cada um dos outros elemen‐
tos, informação e influência sobre o modo como procura a saúde ou se adapta à doença (Fiese e Sameroff, 1992; Thompson et al., 1992; 1994; Turk e Kerns, 1985). Finalmente recorremos ainda ao modelo desenvolvimentista (Bugental e Johnston, 2000; Newberger e White, 1989; Pratt, Hunsberger, Pancer, Roth e San‐
Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 209 tolupo, 1993; Thompson et al., 1992; 1994), considerando que a relação entre cada um dos membros da família, e o sistema familiar como um todo, depende da fase do ciclo de vida da família, da fase do ciclo de vida de cada um dos seus mem‐
bros, e das competências desenvolvimentistas que cada elemento possui para dar significado às suas experiências e afectar o sistema familiar como um todo. A família é, de todas as instituições da nossa sociedade, uma das que tem maior potencial para actuar como protector do stress imposto pela doença e dis‐
função, mas também uma das que, em casos de doença, mais provavelmente é afectada pelo stress, pelo esgotamento dos recursos e pela sobrecarga ou altera‐
ção dramática das funções de alguns dos seus membros. E, sendo por definição uma estrutura que tem como objectivo central a protecção dos seus membros, é também, paradoxalmente, uma das instituições que tem um maior potencial para aumentar, ou mesmo multiplicar, esse stress imposto pela doença e disfunção, ou mesmo para causar um dano que comprometa a saúde dos seus membros. Se fizermos uma rápida revisão dos trabalhos realizados sobre esta temática, podemos referir que a partir dos anos setenta se observa a emergência de grande número de estudos sobre a relação entre a família, a doença e a saúde. Tal fenó‐
meno é transversal às ciências da saúde e às ciências sociais e comportamentais, nomeadamente nas áreas da psicologia e da sociologia, mas também da política ou da educação. Nas Ciências da Saúde observamos o desenvolvimento da Medi‐
cina de Família que se baseia na ideia de que um determinado percurso de saúde ou de doença é influenciado pelo modo como os membros da família interagem uns com os outros e de que a intervenção deve ter em conta o conhecimento sobre o funcionamento da família como um todo, e não apenas os seus membros isoladamente. Mais recentemente, a implementação do modelo de cuidados cen‐
trados na família em serviços de pediatria veio demonstrar as vantagens de orga‐
nizar serviços que têm em conta as necessidades e objectivos definidos pela famí‐
lia, e que definem como um dos seus objectivos fundamentais o desenvolvimento duma relação de partenariado com famílias em que se reconhece a diversidade (Committee on Hospital Care, 2007; King, King e Rosenbaum, 1999). Nas Ciências Sociais destacarei a área da psicologia da saúde e da doença, não por ser a mais relevante ou influente, mas apenas porque me falta a competência para falar de outras áreas do saber. Neste domínio, começou‐se por relacionar a estrutura, o tamanho e o funcionamento da família com a emergência da doença, num paradigma muito dependente do modelo psicossomático. Os clássicos estu‐
dos de Minuchin (1974) são um exemplo que parece ter esgotado as suas poten‐
cialidades explicativas, atendendo ao avanço do conhecimento sobre a etiologia multifactorial da maioria das doenças que não permite mais aceitar explicações simplistas e lineares. Mais recentemente, a psicoimunologia vem trazer um olhar mais actual e cientificamente validado para o papel dos factores familiares na etio‐
logia multifactorial de algumas doenças, como o cancro ou as doenças cardio‐
‐vasculares, mas sem permitir ainda estabelecer relações preditivas muito fortes (Siegel e Graham‐Pole, 1995). Outros autores estudaram o impacto da doença na família e como é que a vivência de determinadas doenças prolongadas, crónicas ou terminais, influenciam a experiência dos membros da família, sejam estes o conjugue, os filhos ou os irmãos (Michelle, Sónia e Elliot, 2007; Varni, Kaatz, Colegrove e Dolgin, 1983). 210 Luísa Barros A doença de qualquer membro duma família representa um stressor para todos os seus membros, sobrecarregando o uso dos recursos materiais e psicoló‐
gicos e obrigando a uma reorganização da estrutura e funcionamento da família em função das tarefas de cuidar do doente, ou da mudança de papeis imposta pela doença a alguns dos seus elementos, sejam estes o próprio doente, ou o cuidador principal (Varni e Wallander, 1988). No entanto este stresse é experienciado de forma muito diferenciada conforme o significado que o indivíduo e a família cons‐
troem para essa doença. Nos estudos iniciais a orientação geral era bastante negativa, sendo que o foco era sobretudo nas consequências negativas da doença para a família, ou da perturbação familiar no aparecimento ou agravamento da doença. Progressiva‐
mente, o âmbito dos estudos foi‐se alargando, permitindo demonstrar empirica‐
mente que a família desempenha um papel importante em 5 áreas: 1) Na definição do que é saúde e doença, e portanto, do que é tratado como tal. 2) Na promoção da saúde e no incentivo a comportamentos de saúde e/ou de risco, através de esforços conscientes e deliberados ou mais inconscientes e automáticos. 3) Na decisão do quando e a quem pedir ajuda, ou de como procurar cuida‐
dos médicos em caso de doença. 4) Na definição do papel de doente 5) Na adesão a tratamentos e recomendações dos profissionais de saúde. Posteriormente, o interesse pela perspectiva da salutogénese, da qualidade de vida e da positividade, fez emergir duas novas áreas: 1) A influência da família nas crenças, atitudes e comportamentos de saúde e de protecção, no sentido de compreender melhor como se cresce e aprende a ser saudável em família. Sabemos que a família é um determinante importante desses comportamentos de saúde e de risco e que é também um elemento crucial no sucesso ou insucesso dos processos de mudança em saúde (deixar de fumar, adop‐
tar uma alimentação mais saudável ou um estilo de vida mais activos) (Carvajal, Wiatrek, Evnas, Knee e Nash, 2000; Charron‐Prochownik e Kovacs, 2000; Davison, Markey e Birch, 2000; Pine, McGoldrick, Burnside, Curnow, Chester, Nicholson e Huntington, 2000; Tilson, McBride, Lipkus e Catalano, 2004). 2) Os processos familiares de adaptação e confronto positivo da doença, isto é, como é que os recursos, as forças e estratégias positivas das famílias permitem que a maioria consiga encontrar formas relativamente flexíveis e positivas de se adaptar a situações de doença grave e prolongada, apesar do enorme stress e sobrecarga que a doença representa para a estrutura e funcionamento familiar, mas também para cada um dos membros. Nesse sentido, alguns estudos sobre a adaptação à doença crónica têm‐nos ajudado a conhecer a multiplicidade das estratégias de adaptação que os diferentes membros duma família podem usar para integrar a doença dum dos seus membros, e do papel dessas estratégias para uma vivência positiva da doença e para um prognóstico mais positivo. Mas tam‐
bém dos custos que esta adaptação tem, sobretudo para alguns dos membros da família (Seiffge‐Krenke, 2001; Mullins, Wolfe‐Christensen, Pai, Carpentier, Gillaspy, Cheek e Paige, 2007). Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 211 Ainda mais recentemente, a abordagem critica da psicologia da saúde (Lyons e Chamberlain, 2006) vem alertar para a necessidade de estudar o significado da experiência da saúde e doença no contexto mais alargado das vivências morais, políticas, económicas e sociais. Esta corrente emergente da psicologia da saúde tem questionado os aspectos mais positivistas, quantitativos e individualistas dos estudos mainstream e contribuído para uma leitura mais plural, qualitativa e con‐
textualizada da compreensão dos fenómenos de saúde e doença que se afasta da leitura validada pelo sistema médico. Nesta abordagem, podemos dizer que o sis‐
tema familiar também contribui para a construção do significado dum determi‐
nado processo de doença neste contexto mais alargado da vida do indivíduo e do sistema familiar, comunitário, social e político. A partir desta revisão muito rápida e geral sobre os resultados dos estudos que relacionam a família, a saúde e a doença, não é difícil deduzir recomendações generalistas e bastante consensuais no sentido de se atender a factores familiares, e de integrar elementos da família no processo de saúde e doença das pessoas. No entanto, se este tipo de afirmações muito gerais são fáceis de aceitar e bastante consensuais, elas acabam por levantar dúvidas e perplexidades quando se preten‐
de passar desta leitura globalizante, bem intencionada mas algo simplista para uma que tenha em conta a complexidade do conhecimento actual sobre famílias, saúde e doença. Podemos assim dizer que as inconsistências da literatura são importantes, que a maioria dos estudos são essencialmente correlacionais, não permitindo definir a direcção dos efeitos observados nem abrindo perspectivas solidamente avaliadas para uma verdadeira intervenção com a família. Por outro lado, o recur‐
so predominante a estudos quantitativos e grupais, com amostras pouco controla‐
das, não permite abranger com detalhe e rigor a diversidade dos percursos indivi‐
duais de adaptação e perturbação. Em 1976, Marinker considerou que a investigação nesta área não era mais do que um conjunto desorganizado de intenções sentimentais, mitologias e tradições sobre a vida familiar. Trinta anos depois, podemos afirmar que a investigação em diferentes áreas das ciências da saúde e das ciências sociais avançou significativa‐
mente. Conhecemos melhor algumas das vias pelas quais esta associação família‐
‐saúde‐doença se processa, e somos capazes de desenhar modelos de investigação que nos permitem prever com maior grau de confiança a magnitude de alguns desses efeitos, ou identificar algumas variáveis moderadoras ou mediadoras desta equação. Mas a prática e reflexão dos profissionais ainda se queda, frequentemente, neste nível politicamente correcto das boas intenções pouco concretizadas em medidas eficazes, quando não cai no erro grave de recorrer a estas asserções generalistas para justificar a inutilidade ou a ineficácia das intervenções, ou a impossibilidade de agir. Quantas vezes não ouvimos nos media, mas também nas instituições e nos serviços, que a culpa é da família, ou que com aquela família não há nada a fazer, ou ainda que se houvesse outra família… É certo que a família adquiriu hoje certos direitos e aceitou certos deveres no apoio e acompanhamento dos doentes, ou que as acções de promoção de saúde tentam, embora por vezes de forma incipiente, integrar a família como um dos seus vectores. Mas como profissionais de saúde, como podemos usar estes conhe‐
212 Luísa Barros cimentos para avançar com opções metodológicas simples, pragmáticas e que permitam melhorar a eficácia das práticas preventivas ou a qualidade do atendi‐
mento aos sujeitos e às suas famílias? Eis algumas das asserções que podem orientar a nossa busca de pragmatismo interventivo: 1. Do cruzamento dos estudos desenvolvimentistas com os estudos sobre famílias, podemos concluir pela possibilidade de, em cada fase da vida e com cada família, escolher os vectores mais importantes a usar nos programas de prevenção e promoção, a partir de dados de investigação (Tinsley, Castro, Erick‐
sen, Kwasman e Ortiz, 2002). Ao longo do desenvolvimento a influência da famí‐
lia é sempre importante, mas é diferentemente importante em fases diferentes e para áreas de comportamento diferentes. Sabemos que na fase da família com filhos pequenos os pais estão especialmente motivados e interessados em adop‐
tar estilos de vida e práticas saudáveis que possam proteger os filhos de riscos antecipáveis a curto prazo, podendo, dada a intervenção adequada, mudar mesmo os seus hábitos pessoais de alimentação, consumos, protecção do ambiente doméstico ou do meio de transporte. Os adolescentes e adultos jovens não serão tão directamente influenciados pelos comportamentos actuais da família, mas continuam a ser muito influenciados pelas experiências anteriores em família, pelo que tem sido sugerido que a intervenção deve passar pela refle‐
xão e discussão dessas experiências; ou que nas idades mais avançadas a vivên‐
cia a dois pode ser claramente facilitadora de mudanças de estilos de vida neces‐
sários a uma 3.ª idade mais saudável e feliz, pelo que deve haver uma atenção especial às interacções comportamentais que as sustentam ou impedem e aos significados atribuídos a essas mudanças. 2. A valorização da família não conduz, necessariamente, à necessidade de intervir com toda a família ou de provocar mudanças profundas na família. Pode, apenas, significar a possibilidade de agir junto de algum ou alguns elementos da família para mudar ou transformar a experiência de doença, a adaptação às limi‐
tações e a adesão aos tratamentos. Por exemplo, sabemos que os adolescentes filhos de pais com doença crónica grave têm probabilidade de ter sintomas psico‐
lógicos severos. Nestes casos a comunicação com o progenitor saudável pode ter efeitos muito protectores nesta relação, pelo que se recomenda reforçar esta liga‐
ção, ajudando o progenitor saudável a dividir a sua atenção entre o cônjuge doen‐
te e o filho adolescente (Brown, Fuemmeler e Anderson, Jamieson, Simonian, Kneuper Hall e Brescia, 2007). Noutro exemplo interessante, constatou‐se que as crianças diabéticas, cuja mãe é o cuidador principal, aderem melhor ao tratamento quando as mães reportam maior apoio social dos cônjuges, pelo que se reco‐
menda que a intervenção seja direccionada para o envolvimento desse pai, e não centrada principalmente na mãe ou no filho (Seiffge‐Krenke, 2002). É nesta perspectiva que se insere o trabalho que tenho desenvolvido: Aquilo que tenho para partilhar é um pouco do caminho que tenho percorrido na inves‐
tigação e na formação de diferentes profissionais de saúde. Não se trata certa‐
mente do único nem provavelmente do melhor, mas apenas duma via possível para pensar a influência da família na saúde e na doença, duma perspectiva que Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 213 enquadre modelos teóricos actuais e robustos, mas permita encontrar vias de acção pragmáticas e eficazes no contexto das profissões de saúde. Nesta valorização da família como determinante da adaptação da criança, tenho‐me centrado particularmente nos pais. E faço desde já um parêntese para esclarecer que nesta designação refiro tanto os pais biológicos, como quaisquer outros adultos que os substituam (avós, padrastos, pais adoptivos). Esta valoriza‐
ção é pertinente nas situações em que o doente é uma criança, ou naquelas em que existem crianças em famílias com doentes. As justificações para esta centralidade da parentalidade são múltiplas. Os pais são os adultos que maior responsabilidade têm na organização dos múltiplos con‐
textos físicos e sociais em que os filhos se vão desenvolver. Não só os seleccionam (e.g., bairro, escola, família alargada, actividades de tempos livres), como de facto os constroem, pela interpretação e valorização que dão a cada um desses ambien‐
tes. E se constituem a si mesmos, enquanto modelos de comportamentos e de significações, como um dos principais contextos de vida da criança (Barros, 2003). Os pais são importantes protectores e/ou moderadores da saúde da criança e do adolescente, e a fonte de influência mais estável e duradoura ao longo da infância e adolescência na construção da saúde dos filhos, mantendo‐se os efeitos desta influência muito para além da entrada na vida adulta. Os pais constituem‐se em programadores de actividades, modelos de comportamento e de significações, organizadores de contextos e de experiências de vida dos seus filhos, essenciais para a construção de saúde ao longo de todo o ciclo de vida. Os pais têm sido responsabilizados pelo comportamento e desenvolvimento dos filhos, muito para além da transmissão genética (Maccoby, 2000). O interesse pelas atitudes parentais e pela sua relação com o comportamento da criança acom‐
panhou quase toda a história da psicologia do desenvolvimento. A influência das ati‐
tudes e práticas educacionais dos pais na saúde física e psicológica dos filhos está largamente documentada. Os pais influenciam a saúde dos filhos por meio das suas atitudes educativas, como modelos de comportamentos e crenças de saúde, e de crenças especificas em relação à prevenção e vivência da doença (Azar, Reitz e Gos‐
lin, 2008; Newberger e White, 1989; Sameroff e Feil, 1985; Sigel, 1992, 1993). Por outro lado, os pais são, na maioria dos casos, adultos capazes de toma‐
rem consciência das suas significações, isto é, sujeitos que continuamente reflec‐
tem, planeiam e executam acções orientadas para a protecção, o bem‐estar, a saúde, a integração social e a realização pessoal dos filhos. Embora esta actividade parental se estruture numa dialéctica constante e dinâmica entre os interesses e necessidades da criança, os outros interesses e necessidades pessoais e os de ter‐
ceiros. Pode‐se então constatar que as atitudes e significações parentais se consti‐
tuem num determinante de protecção ou de risco, que irá influenciar a adaptação da criança em interacção com uma diversidade de outras variáveis pessoais e de contexto. No entanto, não se trata apenas de mais um factor, como a pobreza, o desemprego materno ou a qualidade do ambiente escolar. É uma dimensão cuja influência é contínua e dinâmica, à qual é possível aceder directamente e que pode ser transformada pela acção daqueles mais directamente motivados para a mudança – os próprios pais. É, igualmente, uma dimensão que pode servir de 214 Luísa Barros mediador, protector ou agravante em relação à maioria das outras variáveis já identificadas, na medida em contribui decisivamente para dar significado a esses factores (e.g., uma doença da criança, o divórcio dos pais). Numa perspectiva construtivista temos afirmado que os pais, nas suas con‐
cepções subjectivas ou implícitas, apresentam, de forma mais ou menos reflectida e elaborada, modelos ou teorias sobre os objectivos de saúde, a importância rela‐
tiva dos vários determinantes de saúde, o grau de controlo sobre a saúde dos filhos atribuído a si mesmos, e as estratégias para controlar e influenciar as atitu‐
des facilitadoras ou inibidoras da saúde das crianças. Mas podemos ir mais longe, dizendo mesmo que os pais, ao construírem sig‐
nificações sobre o que é uma família, o que é ser pais e mais especificamente ser bons pais, constroem também as linhas orientadoras do papel que se atribuem a si mesmos e aos outros membros da família, definindo regras e valores em grande medida prescritivos desses mesmos papeis. Num estudo elaborado em colabora‐
ção com Santos (Barros e Santos, 2006), procurámos avaliar essa diversidade de conceitos familiares. Encontrámos essa diversidade, mas constatámos também a possibilidade de a organizar numa sequência hierárquica de 5 níveis progressiva‐
mente mais complexos, integradores e abstractos, à semelhança de outros estu‐
dos que fizemos sobre outras áreas de significação relacionadas com a saúde e a doença. Assim, encontrámos (e darei apenas exemplos de 3 níveis diferentes) pais que consideram que “ser bons pais é algo de natural e evidente e que as tarefas essenciais dos pais são o satisfazer todas as necessidades/vontades dos filhos, o estar sempre presente para proteger os filhos de todos os perigos”; outros que afirmam que “é difícil saber se se é um bom pai, e que ser bom pai significa coisas diferentes para pessoas diferentes e em fases diferentes, e que as tarefas essen‐
ciais são ajudar os filhos a ser felizes e saudáveis, mas também definir normas e saber comunicar com os filhos”, e outros ainda que afirmam que o conceito de bons pais “é um processo subjectivo do qual nos vamos aproximando ao longo da vida sem nunca poder considerar completo; é saber compreender e responder a múltiplas necessidades que se organizam de forma evolutiva e dialéctica: como a protecção versus autonomia, ou o compreender as necessidades de cada uma ver‐
sus ajudar cada filho a compreender as necessidades dos outros, e que para ser bons pais é preciso aceitar crescer e mudar com os nossos filhos”. A ideia de que existe uma relação entre o que os pais definem como princí‐
pios reguladores dos bons cuidados parentais e as suas acções como educadores parece consensual e de bom senso. Compreender que pais diferentes têm ideias diferentes sobre o que é ser pais e ser filhos pode contribuir para que os profis‐
sionais tenham um maior respeito pela diversidade de atitudes parentais, e sejam mais eficazes na selecção de objectivos e de metodologias de intervenção. Parece‐nos pois, importante, identificar metodologias específicas de envolvi‐
mento, responsabilização e autonomização dos pais enquanto construtores da saú‐
de dos filhos. A intervenção dirigida aos pais deverá, no mínimo, ter em conta estas significações, de modo a poder ser bem aceite e ter eficácia; no máximo visar a pro‐
moção do desenvolvimento dos próprios pais, de modo a que estes possam perspec‐
tivar conceitos de saúde mais flexíveis e abrangentes, ou compreender melhor o seu papel como educadores para a saúde a médio e longo prazo e no contexto da multi‐
plicidade de influências que determinam o desenvolvimento dos filhos. Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 215 Intervir com as crianças e adolescentes, quer numa perspectiva preventiva, quer remediativa ou terapêutica, implica provocar mudanças na sua trajectória de desenvolvimento, mudando algo no ambiente ou contexto de vida da criança ou na própria criança, de modo a que se redireccione o percurso de desenvolvimento para um mais adaptativo (Cummings, Davies e Campbell, 2000). Orientar as nossas acções para a mudança das significações e das atitudes parentais é uma forma de objectivar essa mudança dum determinante que se prolonga no tempo. Quando recorremos apenas a intervenções específicas e muito centradas na criança, ape‐
sar de poder haver efeitos a curto prazo, estes tendem a desaparecer se não hou‐
ver mudanças no contexto que ajudem a manter as mudanças na criança. Sameroff e Fiese (1990) apresentam uma interessante definição das modali‐
dades de intervenção à luz do modelo transaccional, que nos permite enquadrar intervenções mais dirigidas a comportamentos e intervenções mais dirigidas a mudanças de significações. No caso da família com uma criança doente ou com problemas de desenvolvimento, podemos sumariar esta abordagem na seguinte árvore de decisão: Diagnóstico Intervenção A criança pode ser SIM Remediação tratada directa‐
mente? Não Impacto na Família Alterações mínimas e por curto tempo Os pais têm conhecimentos educacionais adequados? SIM Não Redefinição Mudar significações e paradigmas parentais (Longo prazo) Não existem competências educacionais adequadas? SIM Reeducação Mudanças estruturadas e prolongadas nas interacções (Longo prazo) Exemplo Prescrição dieta alimentar e de padrão de exercícios respiratórios Redefinir os objectivos de saúde física e psíquica Treino de competências de interacção e disciplina De alguma forma podemos ver neste exemplo as duas vias de acção privile‐
giada com os pais, que podem ser usadas pelos vários profissionais de saúde no contexto da sua profissão, e que não devem ser vistas como separadas ou alter‐
nativas, mas antes integradas e relacionadas entre si. Uma facilita e cria condições para a outra: mudam‐se atitudes que permitem criar novas experiências e novas interpretações, ou seja novos significados; ou sugerem‐se modelos, criam‐se con‐
frontos e conflitos cognitivos que facilitam a emergência de novos significados, que por sua vez permitem construir novas experiências concretas. É possível utilizar o conhecimento actual necessariamente enquadrado em paradigmas ecológicos, transaccionais, e desenvolvimentistas, mas recorrendo a grelhas mais micro na análise das interacções, de forma a seleccionar os instru‐
mentos de intervenção mais eficazes e menos intrusivos e que podem fazer senti‐
216 Luísa Barros do para os profissionais de saúde que trabalham com pais e crianças em diferentes contextos de saúde e doença. Começarei por quatro sugestões bastante gerais. É necessário aprender a observar o paciente pediátrico na interacção com a família, escutar e questionar as crianças e os pais, os outros membros da família. O interesse, valorização e esti‐
mulação da actividade reflexiva permite ao profissional apreender a situação duma forma mais completa e complexa. O profissional deve aprender a transmitir interesse genuíno e aceitação pela idiossincrasia e subjectividade da vivência de cada pessoa, e de cada família, no seu contexto particular concreto, mas também no seu contexto significativo. Esta atitude de aceitação não se pode quedar por um conjunto de boas intenções: aprende‐se, treina‐se e avalia‐se. Finalmente o profis‐
sional deve organizar a comunicação a partir das ideias, expectativas e signifi‐
cações dos pais sobre os processos de saúde e doença, de educação, prevenção e tratamento, relevantes para cada situação concreta. Para tal podemos recorrer a algumas metodologias clássicas e simples, que tentarei sistematizar de forma sintética: 1) A escuta activa e empática, e a metodologia mais específica da inquirição reflexiva, conduzem o pai/mãe à reflexão sobre as perspectivas do próprio, e facili‐
ta a compreensão das suas significações, certezas, dúvidas e incoerências (Joyce‐
‐Moniz e Barros, 2005). Nesta metodologia, o profissional coloca um conjunto de questões que convidam o interlocutor a interrogar‐se sobre as suas atitudes e ideias, e a submetê‐las à contradição, para o conduzir a um raciocínio mais descen‐
trado. As questões também podem ajudar os pais a reflectir sobre as ideias de outras pessoas que opinam sobre o seu filho (e.g., outros pais, professores, médi‐
cos), facilitando a sua comparação. Permitem que o profissional conduza os pais a examinar não só os seus comportamentos e rotinas, mas sobretudo a suas signifi‐
cações. A inquirição pode ser fomentada pela apresentação de nova informação, pelo debate entre diversos participantes que apresentam significações divergen‐
tes, ou pelo próprio profissional que confronta os participantes com problemas novos, ou com perspectivas diferentes, conduzindo assim a atenção das pessoas para significações diferentes e concorrentes. E pode ajudar os pais a conscienciali‐
zarem as suas significações sobre o valor da saúde, sobre as normas sociais que influenciam as suas atitudes, ou sobre o impacto da doença. Pode ser um elemen‐
to importante na ligação entre o componente de fornecimento de informação e a efectiva mudança cognitiva e comportamental. 2) A observação comportamental conduzida pelo profissional, de forma objectiva, intencional e registada numa grelha ou check‐list, permite identificar comportamentos, interacções, orientações e viéses, padrões de atenção e de reforço comportamental, ou de estimulação. Esta observação não deve, no entan‐
to, conduzir a interpretações precipitadas e que não têm em conta a interpretação da própria criança e/ou dos seus pais. Paralelamente, o profissional pode incentivar os pais a auto‐observarem‐se, através de metodologias muito simples de monitorização e registo, o que facilita a concretização do auto‐conhecimento e aumenta a tomada de consciência sobre os comportamentos ou significações relevantes para a saúde dos filhos. É uma meto‐
dologia de observação intencional dos comportamentos, pensamentos, emoções ou reacções somáticas do próprio. E pode ser estendida à monitorização das reac‐
Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 217 ções comportamentais e somáticas do filho, assim como da interacção entre o próprio e o filho. Ou mesmo ser traduzida numa monitorização descentrante, na qual o pai/mãe é convidado(a) a observar outros pais em interacção com os filhos (Barros, 1998; Santos, 1997). Pode incluir a quantificação de indicadores objectivos (número de vezes que o meu filho tem determinada reacção atitude), ou escalas subjectivas, em que se pede uma objectivação de valores naturalmente subjecti‐
vos (grau de satisfação/bem‐estar). A análise, discussão ou até a representação gráfica dos resultados podem ajudar os pais a compreender melhor a relação entre os seus comportamentos e as suas significações, ou entre os seus comportamen‐
tos e significações e os do filho. A reactividade própria destas metodologias valori‐
za o potencial de modificação de significações e comportamentos. 3) Outro grupo de metodologias relaciona‐se com a informação (Joyce‐Moniz e Barros, 2005). Actualmente considera‐se que os pais, e os próprios pacientes, têm direito à informação relevante sobre os seus processos de saúde e doença. Mas existem ainda muitos obstáculos, ambiguidades e dificuldades na comunica‐
ção dessa informação, que não tem sido suficientemente estudada e ensinada para que seja, de facto, utilizada como uma das metodologias mais eficazes de facilitação de controlo e de adaptação à doença, que pode ser. As metodologias de procura e fornecimento de informação, ocupando uma parte muito grande da acções dos diferentes profissionais, têm sido das menos estudadas ou valorizadas, sendo geralmente remetidas para uma dimensão menor ou secundária, que impli‐
ca a transmissão de conhecimento objectivo, e é geralmente unilateral. Isto é, pressupõe que a autoridade transmita informação aos pais. Ao contrário, parece‐
‐me que deve ser valorizada e claramente assumida como uma actividade de co‐
‐construção, em que pais e profissionais colaboram na exploração e sistematização de significações que possam partilhar, fundamentadas tanto em conhecimentos objectivos, concretos e abstractos, como nas atribuições e interpretações de cada um dos elementos da relação (Dillon, 2008). A procura da informação pelos pais visa a abertura a novos conhecimentos e perspectivas, pela busca de conhecimentos mais adaptados e diversificados, seja pelo recurso directo a outros (e.g., especialistas, outros pais), seja pelo recurso a fontes de informação disponíveis (e.g., livros, revistas, programas de televisão e rádio, internet). Pais mais informados são pais com maior percepção de controlo sobre a situação e mais capazes de serem autónomos na gestão da doença dos filhos, ou na antecipação e resolução das consequências problemáticas dessa mesma doença. Frequentemente, os pais tomam a iniciativa desta procura e o papel do profissional consiste em respeitar e valorizar esta estratégias, e ajudá‐los a interpretar, ordenar e coordenar as informações recolhidas, ou sugerindo fontes de informação fidedigna. Pelo seu lado, no fornecimento da informação o profissional serve‐se de didácticas sobre desenvolvimento, educação e/ou saúde da criança, ou sobre estratégias específicas de interacção e comunicação, de modo a propor aos pais novas interpretações, ou encorajá‐los a adoptar atitudes educacionais diferentes. É uma metodologia para ajudar os pais a aceitarem o diagnóstico de doenças ou problemas de desenvolvimento, e para aderirem às propostas específicas de tra‐
tamento dos diferentes especialistas. 218 Luísa Barros 4) Outro grupo de metodologias dirige‐se directamente à gestão das activida‐
des e interacções familiares e visam a aprendizagem e sistematização de estratégias específicas para interagir com a criança ou para resolver problemas concretos. O profissional pode sugerir e planear com os pais uma programação de acti‐
vidades para períodos específicos, que permite uma melhor estruturação do meio e das rotinas familiares, de modo a alcançar os objectivos educacionais e de saúde definidos pela família. Pode, por exemplo, sugerir que o progenitor menos envol‐
vido fique responsável por determinada actividade, valorizando a sua competência específica para a desempenhar. Ou que um irmão que se sente algo esquecido na dinâmica centrada nos cuidados ao doente possa ter um papel importante numa actividade familiar. Com o ensaio comportamental, o profissional ajuda os pais a antecipar algumas dessas estratégias ou actividades, modelando atitudes positivas ou sugerindo modos mais eficazes de as aplicar. Estas estratégias podem contri‐
buir para a organização de ambientes familiares e educacionais que favoreçam estilos de vida saudáveis e dificultem condutas e estilos de vida perigosos ou noci‐
vos, e para o incentivo a ambientes familiares mais apoiantes e onde a comunica‐
ção é mais positiva. Não é necessário que os diferentes profissionais de saúde recorram a meto‐
dologias muito sofisticadas para integrar a família, mais especificamente os pais, na sua intervenção com os pacientes pediátricos. O profissional precisa de conhe‐
cer e valorizar a importância das relações familiares e o papel primordial dos pais, enquanto elementos de protecção e de facilitação da saúde e desenvolvimento dos filhos. De estar atento as interacções entre os pais e os filhos, observando‐os, mas observando‐se também a si mesmo, como elemento facilitador ou reforçador de padrões mais ou menos adaptativos de interacção familiar. Em suma, podemos concluir afirmando que é hoje uma evidência o papel da família na vivência dos processo de saúde de doença, que esse papel só pode ser compreendido numa abordagem que integra a multiplicidade e a subjectividade dos conceitos de família, dos valores e normas sociais. E que há ainda um grande caminho a percorrer por todos os profissionais de saúde, para passar dos discursos teóricos e bem intencionados de apoio à família ou de caracterização patologi‐
zante de padrões familiares menos desejáveis, para o desenvolvimento e aplicação de metodologias simples, generalizáveis e eficazes, na valorização das dimensões positivas desta vivência familiar e na minimização do sofrimento das famílias face a situações de doença e disfunção. Referências bibliográficas Azar, S.; Reitz, E. e Goslin, M. (2008). Thinking is part of the job description: application of cognitive views to understanding maladaptive parenting and doing interven‐
tion and prevention work. Journal of Applied Developmental Psychol‐
ogy,doi:10.1016/j.appdev.2008.04.011 Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 219 Barros, L. (1998). Étude d’un programme d’intervention auprès de mères de bébés hospitalisés en réanimation: contributions d’une perspective constructiviste et développementale. In: A‐M. Fontaine e J. P. Pourtois (Eds.) Regards sur l’Education Familiale: représentations, responsabilités, interventions. (pp. 203‐
‐214). Bruxelles: DeBoeck. Barros, L. (2002). Discursos e cenários de desenvolvimento humano: importância da perspectiva desenvolvimentista para a intervenção com pais em situação de adversidade. Cadernos de Consulta Psicológica, 17‐18, 37‐43. Barros, L. (2003). Psicologia pediátrica: perspectiva desenvolvimentista (2.ª edição), Lisboa: Climepsi. Barros, L., e Santos, M. (2006). Significações sobre parentalidade e bons‐cuidados. Como pensam os pais? In M. T. Simões, M. S. Machado, M. Vale Dias, L. N. Lima (Eds.), Psicologia do Desenvolvimento – Temas de investigação. Almedina. Brown,R.; Fuemmeler, B.; Anderson, D.; Jamieson, S.; Simonian, S.; Kneuper Hall, R. e Brescia, F. (2007). Adjustment of Children and Their Mothers with Breast Can‐
cer. Journal of Pediatric Psychology, 32(3) 297‐308. Brofenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge, M. A.: Har‐
vard University Press. Bugental, D. e Johnston, C. (2000). Parental and child cognitions in the context of the family. Annual Review of Psychology, 51, 314‐344. Carvajal, S., Wiatrek, D., Evans, R., Knee, C. e Nash, S. (2000). Psychological determi‐
nants of the onset and escalation of smoking: cross‐sectional and prospective findings in multiethnic middle school samples. Journal of Adolescent Health, 27, 255‐265. Charron‐Prochownik, D. e Kovacs, M. (2000). Maternal health‐related coping patterns and health and adjustment outcomes in children with type‐1 diabetes. Chil‐
dren’s Health Care, 29, 37‐45. Cicchetti; D. e Aber, L. (1998). Contextualism and developmental psychopathology. De‐
velopment and Psychopathology, 10, 137‐141. Committee on Hospital Care (2007). Policy statement Family‐Centered Care and the Pediatrician’s Role. Pediatrics, 112 (3), 691‐696. Cummings, E.; Davies, P. e Campbell, S. (2000). Developmental psychopathology and family process. New York: Guilford. Davison, K., Markey, C. e Birch, L. (2000). Etiology of body dissatisfaction and weight concerns among 5‐year‐old girls. Appetite, 35, 143‐151. Dean, A.; Lin, N. e Ensel, W. M.(1981). The epidemiological significance of social sup‐
port systrems in depression. In R. G. Simmons (Ed.), Research in Community mental health: vol. 2. A research manual (pp. 77‐109). Greenwood, CT: JAI Press. Dillon, J.; Sagarin, J. e Bibace, R. (2008). Change in reasoning about the body through psychological distancing activities. Journal of Applied Developmental Psychol‐
ogy, doi:10.1016/j.appdev.2008.04.011. Fiese, H. B. e Sameroff, A. J. (1992). Family context in pediatric psychology: A transac‐
tional perspective. In M. Roberts e J. Wallander (Eds.), Family Issues in Pediatric Psychology. N. Y.: Lawrence Erlbaum Associates. Joyce‐Moniz, L. e Barros, L. (2005). Psicología de la enfermedad para cuidados de la salud: desarrollo e intervención. Mexico D. F.: Manual Moderno. Kazak, A. E. (1989). Families of chronically ill children: A systems and social‐ecological model of adaptation and challenge. Journal of Consulting and Clinical Psychol‐
ogy, 57, 25‐30. Kazak, A.; Simms, S. e Rourke, M. T. (2002). Family Systems Practice in Pediatric Psy‐
chology. Journal of Pediatric Psychology, 27 (2), 133‐143. 220 Luísa Barros King, G.; King, S.; Rosenbaum, P.e Goffin, R. (1999). Familiy centered caregiving and well being of parents ofchildren with disabilities: linking process with outcome. Journal of Pediatric Psychology, 24, 1, 41‐53. Lyons, A. e Chamberlain, K. (2006). Health Psychology: a critical introduction. Cam‐
bridge, Cambridge University Press. Maccoby, E. (2000). Parenting and its effects on children: on reading and misreading behaviour genetics. Annual Review of Psychology, 51, 1‐27. Marinker, M. (1976). Albert Wanderer Lecture: the family in medicine. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 69, 115‐117. Michelle, J. N., Sonia S.L., e Elliot, B. (2007). Psychological adjustment in children and families living with HIV. Journal of Pediatric Psychology 32 (2) 123‐131. Minuchin,S. (1974). Families and family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press. Mullins, L.; Wolfe‐Christensen, C.; Pai, A.; Carpentier, M.; Gillaspy, S.; Cheek, J. e Paige, M. (2007). Relationship of parental overprotection, perceived child vulnerability and parenting stress to uncertainty in youth chronic illness. Journal of Pediatric Psychology, 32,973‐982. Newberger, C. e White, K. (1989). Cognitive foundations for parental care. In: D.Cicchetti e V. Carlson (Eds.), Child maltreatment: theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect (pp. 302‐316). Cambridge: Cambridge University Press. Pine, C., McGoldrick, P., Burnside, G., Curnow, M., Chester, R., Nicholson, J. e Hunting‐
ton, E. (2000). An intervention program to establish regular toothbrusing: un‐
derstanding parents’ beliefs and motivating children. International Dental Jour‐
nal (supl.), 312‐323. Pratt, M.; Hunsberger, B.; Pancer, S.; Roth, D. e Santolupo, S. (1993). Thinking about parenting: reasoning about developmental issues across the life span. Develop‐
mental Psychology, 29, 585‐595. Relvas, A. P. (1996). O ciclo vital da família – perspectiva sistémica. Porto: Afrontamen‐
to. Roberts, M. C., e Wallander, J. L. (Eds.) (1992). Family issues in pediatric psychology: An overview. In Family Issues in Pediatric Psychology (pp.1‐21). Broadway: Law‐
rence Erlbaum Associates. Sameroff, A. e Feil, L. (1985). Parental concepts of development. Em: I.Sigel (Ed.), Pa‐
rental belief systems: psychological consequences for the children (pp. 83‐106). Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates. Sameroff, A. e Fiese, B. (1990). Transactional regulation and early intervention. In: S.Meisels e J.Shonkoff (Eds.), Handbook of Early Childhood Intervention (pp. 119‐149). Cambridge: Cambridge University Press. Santos, M. C. (1997). Intervenção desenvolvimentista com mães de crianças com doen‐
ça cardíaca congénita. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Universidade de Lisboa. Seiffge‐Krenke, I. (2001). Diabetic children and their families: stress, coping and adap‐
tation. Cambridge, Cambridge University Press. Seiffge‐Krenke, I. (2002). ‘Come on, Say Something, Dad!’: Communication and Coping in Fathers of Diabetic Adolescents. Journal of Pediatric Psychology, 27, 5, 439‐
‐450. Sigel, I. (1992). The belief behaviour connection: a resolvable dilemma? In I. Sigel, A. McGillicuddy‐DeLisi e J. Goodnow (Eds.), Parental belief systems: psychological consequences for the children (pp. 433‐455). Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates. Família, Saúde e Doença: Intervenção Dirigida aos Pais 221 Sigel, I. (1993). The centrality of a distancing model for the development of representa‐
tional competence. In R. Cocking e A. Renninger (Eds.), The development and meaning of psychological distance (pp. 141‐158). Hillsdale, N. J.: Erlbaum. Siegel, L. e Graham‐Pole,J. (1995). Psychoneuroimmunology. In M.Roberts (Ed.) Hand‐
book of Pediatric Psychology (2nd edition) (pp 759‐773). New York: Guilford. Tinsley, B. J., Castro, C. N., Ericksen, A. J., Kwasman, A., e Ortiz, R. V. (2002). Health promotion for parents. In: M. H. Bornstein (Ed.). Handbook of Parenting, (2nd edition), Volume 5. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Thompson, R. J., Gustafson, K. E., Hamlett, K. W., e Spock, A. (1992). Psychological ad‐
justment of children with cystic fibrosis: The role of child cognitive processes and maternal adjustment. Journal of Pediatric Psychology, 17, 741‐755. Thompson, R. J., Gil, K. M., Gustafson, K. E., George, L. K., Keith, B. R., Spock, A. et al. (1994). Stability and change in the psychological adjustment of mothers of chil‐
dren and adolescents with cystic fibrosis and sickle cell disease. Journal of Pedi‐
atric Psychology, 19, 171‐188. Tilson, E., McBride, C. Lipkus, I. e Catalano R. (2004). Testing the interaction between parent‐child relationship factors and parent smoking to predict youth smoking. Journal of Adolescent Health, 35, 182‐189. Turk; D. e Kerns, R. (1985). Health, illness and families: a life‐span perspective. N.Y.: John Wiley e Sons. Varni, J., Katz, E., Colegrove, R., Dolgin, M. (1993). The impact of social skills training on the adjustment of children with newly diagnosed cancer. Journal of Pediatric Psychology, 6, 751‐767. Varni, J. e Wallander, J. (1988). Pediatric chronic disabilities: Hemophilia and spina bi‐
fida as examples. In D. K. Routh (Ed.), Handbook of Pediatric Psychology (pp. 190‐221). New York: Guilford Press. ADOLESCENTES E COMPORTAMENTOS DE SAÚDE Celeste Simões Introdução Muitos jovens hoje, e segundo as tendências apontadas em diversos estudos, muitos mais no futuro, estão em risco de vida, de adquirir doenças, deficiências e incapacidades, entre outras consequências negativas para a saúde (DiClemente, Hansen, e Ponton, 1996; United States Department of Health and Human Services, 2000). Uma questão que se destaca neste cenário é a origem deste risco. Enquan‐
to que anteriormente as causas da mortalidade e morbilidade nos jovens estavam associadas a factores de ordem biomédica, hoje essas causas estão essencialmente associadas a factores de origem social, ambiental e comportamental (Irwin, Burg, e Uhler Cart, 2002; Steptoe e Wardle, 1996). Comportamento e estilo de vida são, então, determinantes cruciais para a saúde, doença, deficiência/incapacidade e mortalidade prematura. Dentro dos estilos de vida que colocam em risco a saúde, o bem‐estar e muitas vezes a própria vida dos jovens, encontra‐se um largo con‐
junto de comportamentos, nomeadamente o consumo de substâncias (álcool, tabaco, drogas, medicamentos), a violência, o suicídio, os acidentes, as desordens alimentares, a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmitidas. Como já foi referido, é evidente que estes comportamentos têm consequências negativas a nível pessoal. Para além deste tipo de consequências encontram‐se tam‐
bém as consequências a nível social que se poderão traduzir em diversas dimensões de desvantagem social, nomeadamente na integração social e na independência económica. Outros tipos de “custos” são os encargos económicos que a sociedade tem que suportar para cuidados de saúde, reabilitação e institucionalização dos jovens (Izumi, et al., 2001; Pronk, Goodman, O’Connor, e Martinson, 1999). A perspectiva de que a construção da saúde e do bem‐estar desde o início pode prevenir sérios e dispendiosos problemas para o indivíduo e para a sociedade tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Organismos como o Conselho da Europa (2003) ou a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003) salientam nas suas directrizes a prevenção primária como uma parte importante dos programas nacionais de saúde e educação. Neste âmbito torna‐se importante realçar três aspectos que se destacam nestas directrizes. Em primeiro, a necessidade de uma intervenção preventiva precoce, dado que a flexibilidade da criança e do jovem fazem deles alvos ideais para os programas de prevenção, a serem implementados em contextos vocacionados para a promoção do desenvolvimento do indivíduo, ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 223‐241. 224 Celeste Simões nomeadamente o contexto escolar. Em segundo lugar, a noção de que qualquer intervenção integrada num âmbito preventivo não se deve limitar aos momentos de crise ou a prevenir crises. Deverá para além disso promover e optimizar a capa‐
cidade de tomar decisões e, consequentemente, a autonomia do jovem. Em ter‐
ceiro lugar, a importância de incluir os principais contextos de vida e os seus inter‐
venientes nestes processos, dado estes constituírem uma das principais influências na vida dos adolescentes. Adolescência e adolescentes A infância e a adolescência nem sempre foram consideradas períodos especiais na vida do ser humano, como o são actualmente. A adolescência, tal como hoje é entendida, é um fenómeno recente. O termo adolescência tem origem na palavra latina adolescĕre, que quer dizer crescer para adulto. Sempre se cresceu para adul‐
to. Mas nem sempre foi dado a este crescimento um tempo de vida tão alargado como nos tempos vigentes. Nos dias de hoje, a adolescência é um período alongado, que se estende até à terceira década de vida, em que o adolescente vive com os pais. Para este facto são apontadas várias causas: culturais, como a maior liberaliza‐
ção, aceitação e tolerância dos costumes; sociais, onde se destaca o prolongamento dos estudos que leva consequentemente a uma maior dependência; e económicas, como o desemprego ou trabalho precário (Braconnier e Marcelli, 2000). Uma das questões que ao longo da curta história da adolescência se tem sis‐
tematicamente levantado, é a da turbulência e instabilidade que o jovem vive nes‐
ta fase da sua vida. Apesar de estarem um pouco de lado as perspectivas de “storm and stress”, continuam‐se a estudar os problemas da adolescência porque eles são reais e trazem consigo mal‐estar e novas dificuldades. No entanto, exis‐
tem hoje noções diferentes em relação a estes problemas que permitem ver a adolescência de outro modo. Sabe‐se hoje, que alguns jovens encontram na ado‐
lescência dificuldades, mas que tal não é verdade para todos. Sabe‐se também que, quando existem dificuldades, estes problemas não se generalizam a todas áreas de funcionamento do jovem ou atingem necessariamente graves propor‐
ções. Sabe‐se ainda, que muitos dos problemas da adolescência surgem como forma de adaptação do adolescente aos novos desafios que se lhe colocam (Sprin‐
thall e Collins, 1999). E são múltiplos os desafios a vencer: a adaptação a toda uma nova condição biológica, a conquista de uma nova autonomia, o estabelecimento de novas relações interpessoais próximas e duradouras, a progressão académica, entre outros. E como se isto não bastasse, o adolescente precisa ainda, tal como todo o ser humano, de sentir‐se valorizado como pessoa, estabelecer um lugar num grupo produtivo, sentir‐se útil para os outros, dispor de sistemas de suporte e saber usá‐los, fazer escolhas informadas e acreditar num futuro com oportunida‐
des reais. Ultrapassar estes desafios e preencher estas necessidades tornam‐se requisitos necessários para que os adolescentes se tornem adultos saudáveis e produtivos (Carnegie Corporation of New York, 1995). Um dos temas centrais da adolescência continua a ser a forma como se ultra‐
passam estas mudanças também denominadas de transições, desafios, crises ou necessidades. Para alguns autores a adolescência é um período de mudanças dra‐
máticas a nível familiar, a nível escolar, ao nível das amizades, a nível profissional. Adolescentes e Comportamentos de Saúde 225 É um período de confusão e de sentimentos paradoxais (excitação e ansiedade, felicidade e tristeza, certezas e incertezas) que não se limitam ao jovem, mas que se estendem também aos pais, professores e amigos dado que vivem também os seus problemas (Lerner e Galambos, 1998). Para outros, a maioria dos jovens está preparada para lidar com as mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais da adolescência e ultrapassá‐las com sucesso (Steinberg, 1998). De acordo com esta perspectiva, parte dos problemas que surgem na adolescência não têm con‐
sequências graves ou a longo prazo. Devem pois ser equacionados como fazendo parte do desenvolvimento normal, como formas exploratórias necessárias ao desenvolvimento, ou como reflexo de um desfasamento entre a maturidade bioló‐
gica e a maturidade social (Baumerind, 1987; Irwin, 1987; Moffitt e Caspi, 2000). A adolescência é essencialmente um tempo de crescimento, de desenvolvi‐
mento de uma progressiva maturidade a nível biológico, cognitivo, social e emo‐
cional. Nas sociedades modernas não existe um acontecimento único que marque o fim da infância ou o início da adolescência. Esta transição envolve um conjunto de mudanças graduais em múltiplas esferas da condição humana, que ocorrem durante um período mais ou menos alargado, e que preenchem toda a adolescên‐
cia (Steinberg, 1998). O adolescente tem pois de se adaptar às novas circunstân‐
cias, que lhe dão um novo olhar sobre o mundo e sobre si próprio. Várias teorias procuram explicar o desenvolvimento humano. Algumas delas, as chamadas teorias de estádio como, por exemplo, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget (Piaget, 1983), a teoria epigenética de Erikson (Erickson, 1982), a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg (Kohlberg, 1981), a teoria do desenvolvimento interpessoal de Sullivan (Sullivan, 1996) ou de Selman (Selman, 1980), salientam aspectos específicos na adolescência como motores de evolução: a aquisição das operações formais, a procura e estabelecimento de uma identida‐
de pessoal, a aquisição de uma moral convencional, uma maior orientação para os amigos ou a tomada de uma perspectiva mútua na relação com os outros. Outras teorias como, por exemplo, a da aprendizagem social (Bandura, 1986, 2001), apre‐
sentam um processo global de aprendizagem independente da etapa da vida do indivíduo, processo este responsável pela aquisição de grande parte do reportório comportamental individual. Outras falam de um conceito interessante, as “arenas de conforto”, como é o caso da teoria focal (Coleman, 1974), que refere que a adaptação às mudanças na adolescência será mais fácil se o adolescente se sentir bem nos contextos que lhe são significativos. E estes contextos são a família, os amigos e a escola. Apesar de recentemente ter surgido uma teoria que desvaloriza o papel da família no desenvolvimento do adolescente, a teoria da socialização de grupo (Harris, 1995), a maioria dos autores e da investigação realizada em torno do papel da família, mostra que a família ocupa um lugar de destaque na sociali‐
zação do adolescente (Braconnier e Marcelli, 2000; Sanders, 2000; Toumbourou, 2001). À família é atribuída a passagem de atitudes, valores e normas de conduta que irão guiar o adolescente na sua vida presente e futura. Os pais têm ainda a função de servir de apoio e suporte afectivo, constituindo assim um elemento faci‐
litador da adaptação do adolescente às novas circunstâncias de vida. Alguns jovens desenvolvem‐se em contextos familiares estáveis a nível emocional, social, eco‐
nómico, etc., o que faculta a passagem do jovem pela adolescência. Outros porém, pertencem a famílias em situação de desvantagem que muitas vezes constituem 226 Celeste Simões um risco adicional para além dos inerentes à própria adolescência. Os amigos constituem um outro importante espaço de desenvolvimento (Oldenburg e Kerns, 1997; Oliveira, 1999). Nesta fase da vida é atribuída uma especial importância aos amigos. Dada a sua similaridade em termos etários, estes são uma boa fonte para comparação social a nível de valores e atitudes relacionadas com formas de estar e de agir. Dados de estudos apontam a influência dos amigos como um factor determinante do comportamento desviante. No entanto, outros estudos apontam a falta de amigos como factor preditivo de problemas de saúde mental. Nestas relações parece existir um factor chave e que se traduz nas atitudes e comporta‐
mentos dos amigos, e que dependendo da sua posição e acção, positiva ou negati‐
va, poderão assim constituir uma fonte de influência positiva ou negativa. Tam‐
bém a escola apresenta, tal como os contextos anteriores, um forte impacto no ajustamento dos adolescentes (Bearman, 1998; Bonny, Britto, Klostermann, Hor‐
nung, e Slap, 2000; Braconnier e Marcelli, 2000). Dados de vários estudos têm mostrado que a ligação à escola é importante para o bem‐estar do adolescente e constitui um importante factor de protecção contra o comportamento desviante. A percepção de um bom ambiente escolar e de segurança, o sentimento de per‐
tença à escola e de ligação com os colegas e com os professores são factores importantes para o sucesso escolar. Saúde na adolescência A adolescência é um período crítico na cronologia da saúde. Muitas das esco‐
lhas com impacto na saúde, e que perduram por longo tempo, são feitas neste período de vida (McManus, 2002). Talvez esta constitua uma das razões para o facto do estudo dos problemas de comportamento continuar a dominar a literatu‐
ra do desenvolvimento do adolescente entre os anos 80 e 90 (Steinberg e Morris, 2001), quando se sabe actualmente que a maioria dos adolescentes ultrapassam este período sem desenvolverem dificuldades significativas em termos sociais, emocionais ou comportamentais. A adolescência é geralmente considerada como um período de saúde (Irwin et al., 2002), dada a menor vulnerabilidade dos jovens à doença (Bruhn, 1988; WHO, 2003). Esta visão dos jovens como um grupo saudável não é apenas externa, dado que a grande maioria dos jovens também se vê como saudável. Resultados do estudo HBSC, mostram que cerca de 90% dos estudantes referem sentir‐se saudáveis (Scheidt, Overpeck, Wyatt, e Aszmann, 2000). Apesar de experienciarem alguns sintomas de mal‐estar, a maioria dos adolescentes não parece traduzir esses sintomas em percepções de uma má saúde. Os dados deste mesmo estudo, relativos a Portugal, mostram que cerca de 95% dos jovens portugueses partici‐
pantes no estudo sentem‐se saudáveis, sendo que destes cerca de 32% dizem sen‐
tir‐se muito saudáveis (M. G. Matos, Simões, Carvalhosa, Reis, e Canha, 2000). Ainda que os adolescentes sejam menos susceptíveis à doença ou a outras condições negativas aliadas à saúde, por vezes também são confrontados com problemas de saúde mais ou menos graves e com a morte. Diomsina e Vyciniene (2002) referem que entre os problemas de saúde mental mais prevalentes na infância e adolescência se encontram as perturbações da ansiedade. Efectiva‐
mente, de acordo com os resultados do estudo HBSC (Health Behaviours in School‐
Adolescentes e Comportamentos de Saúde 227 ‐aged Children), os sintomas de mal‐estar psicológico afectam uma percentagem significativa de jovens. Uma vez por semana ou mais, cerca de 62% dos jovens referem sentir‐se nervosos, 44% referem irritabilidade, 38% referem sentir‐se deprimidos e uma percentagem similar com dificuldades em adormecer (M. G. Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000). Dado que os problemas de saúde tendem a aumentar ao longo da adolescência, quer a nível de sintomas psicológicos quer a nível de sintomas físicos, é importante que a prevenção seja precoce (Scheidt, et al., 2000; Sweeting e West, 2003). Também os dados do estudo HBSC realizado em Portugal, confirmam esta tendência de uma evolução negativa ao nível dos sinto‐
mas de mal‐estar nos adolescentes (M. G. Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000). Os jovens que apresentam sintomas físicos e psicológicos têm mais dificuldades no contexto familiar e escolar e com os amigos. Apresentam ainda um envolvimento mais frequente com o consumo de substâncias e violência, comparativamente com os jovens que não apresentam sintomas de mal‐estar. Tal como aumentam os sintomas de mal‐estar, diminuem as percepções de saúde, sendo neste caso os adolescentes mais velhos aqueles que se sentem menos saudáveis (Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000; Pedersen, 1998). Por outro lado, sentir‐se saudável está fortemente associado ao evitamento de comportamentos de risco, tais como o fumar, beber álcool e consumir drogas. Os adolescentes que reportam menos frequentemente sintomas físicos e psi‐
cológicos são também os que mais referem ser felizes. Para esta associação entre as percepções de felicidade e de saúde parecem contribuir a satisfação consigo próprio e a satisfação com os contextos de vida significativos. O suporte social constitui um factor que contribui para o bem‐estar e saúde dos adolescentes (Chen, Wang, Yang, e Liou, 2003; Yarcheski, Mahon, e Yarcheski, 2001). As rapari‐
gas mais felizes são as que melhor estão integradas socialmente, isto é, têm ami‐
gos, passam tempo com eles e têm facilidade de comunicação com estes (King, Wold, Tudor‐Smith, e Harel, 1996). Nem só a satisfação nas relações com os pares, são elementos importantes para o bem‐estar do adolescente. Também uma boa comunicação com os pais e a percepção de um bom relacionamento familiar estão positivamente associadas com o bem‐estar subjectivo e negativamente com sin‐
tomas de mal‐estar (Chou, 1999; Jackson, Bijstra, Oostra, e Bosma, 1998; Weitoft, Hjern, Haglund, e Rosen, 2003). Igualmente, uma atitude positiva em relação à escola e a percepção de um ambiente escolar positivo têm sido encontrados como factores significativamente associados ao bem‐estar dos adolescentes (Burns, Andrews, e Szabo, 2002). King et al. (1996) referem ainda outros factores associa‐
dos ao bem‐estar, tais como o estatuto socioeconómico, o estar satisfeito com a sua aparência e estar raramente de mau humor. Factores como a solidão e os sin‐
tomas depressivos, por outro lado, estão negativamente associados com o bem‐
‐estar (Mahon e Yarcheski, 2001; Whalen, Jamner, Henker, e Delfino, 2001). É ain‐
da importante referir que níveis mais baixos de bem‐estar psicológico constituem factores de risco para o desenvolvimento de problemas relacionados com o con‐
sumo de substâncias (Griffin, Scheier, Botvin, e Diaz, 2001; Pitkanen, 1999). Um dos aspectos que tem atraído a atenção dos investigadores nesta área é a diferença entre géneros. Os resultados de muitos estudos mostram que os rapazes e as raparigas diferem em termos de estatuto de saúde, comportamento de saúde, comportamentos de risco e factores de protecção. De um modo geral, são as rapa‐
228 Celeste Simões rigas adolescentes e pré‐adolescentes que apresentam percepções de bem‐estar mais baixas (Thomas e Brunton, 1997). As raparigas sentem‐se mais frequente‐
mente sós, pouco felizes e pouco saudáveis, comparativamente com os rapazes. São também as raparigas que dizem com maior frequência que não estão satisfei‐
tas com a sua imagem corporal, existindo como tal uma maior referência à inten‐
ção ou prática de dietas. São ainda as raparigas que mais frequentemente apon‐
tam sintomas de mal‐estar físico (dores de cabeça, costas e estômago), e psicológico (irritabilidade, nervosismo, sintomas de depressão e dificuldade em adormecer) (Matos, Simões, Canha, e Fonseca, 2000; Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000; Matos, et al., 2006). Em relação aos sintomas de depressão, os estu‐
dos mostram que estes apresentam uma maior prevalência nas raparigas (2,5 raparigas para 1 rapaz) e são também as raparigas que apresentam uma maior variedade de sintomas depressivos (Windle e Davies, 1999). Em relação à evolução da perturbação, verifica‐se que esta tem mais probabilidade de continuidade nas raparigas do que nos rapazes (Duggal, Carlson, Sroufe, e Egeland, 2001). Os rapa‐
zes geralmente sentem‐se mais felizes, mais saudáveis e menos sós (Matos, Simões, Canha, et al., 2000; Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000; Matos, et al., 2006). No entanto, apesar desta visão mais positiva ao nível do seu bem‐estar, os rapazes também apresentam diversos problemas com impacto na sua saúde. São os rapazes que apresentam maiores níveis de experimentação e consumo regular de substâncias, como o álcool, tabaco e drogas (Gabhainn e François, 2000; Matos, Simões, Canha, et al., 2000; Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000; Matos, et al., 2006; Reardon e Buka, 2002). Também Windle e Davies (1999) referem que os rapazes consomem mais álcool, comparativamente com as raparigas. São ainda os rapazes que apresentam mais problemas de externalização (problemas de com‐
portamento, défice de atenção e hiperactividade (Sells e Blum, 1996; Thomas e Brunton, 1997) e também um maior envolvimento em lutas (Matos, et al., 2006). De uma forma geral, poder‐se‐ia sintetizar o perfil comportamental de saúde das raparigas e rapazes adolescentes utilizando a expressão apresentada por Matos, Simões, e Canha (1999), que aponta os rapazes como “mais virados para o mundo” e as raparigas como “mais voltadas para elas próprias”. Os rapazes apre‐
sentam mais problemas de externalização (problemas de comportamento e con‐
sumos), enquanto que as raparigas apresentam mais problemas de internalização (problemas com a imagem corporal e sintomas de mal‐estar psicológico). Segundo Kolip e Schmidt (1999), é preciso entender estas diferenças em relação com o pro‐
cesso de socialização, não esquecendo no entanto o papel dos factores biológicos. Um outro factor com influência a este nível, poderá ser encontrado nos sistemas de cuidados de saúde e nas interacções que se estabelecem entre os profissionais de saúde e os utentes, que não são isoladas da questão do género. As autoras dão o exemplo das raparigas que, possivelmente, não têm mais queixas que os rapa‐
zes, mas percebem os seus sintomas de forma diferente ou é‐lhes mais fácil falar destes. Um outro exemplo são as queixas dos rapazes na infância que, de acordo com os estudos, são levadas mais a sério e consequentemente vão mais ao médi‐
co. Perante esta diferenciação em termos de necessidades e problemas, as autoras salientam a importância de estabelecer cuidados preventivos, curativos e reabilita‐
tivos especializados para rapazes e raparigas. Adolescentes e Comportamentos de Saúde 229 Comportamentos relacionados com a saúde Dentro dos múltiplos factores que afectam a saúde, encontram‐se os compor‐
tamentos com ela relacionados. Os estados de mal‐estar, perturbação ou doença são influenciados por um estilo de vida não saudável (Adler, 1995; Pattishall, 1994), que por sua vez é composto por padrões comportamentais não saudáveis, ou que envolvem algum risco para a saúde, mantidos ao longo do tempo e apre‐
sentados em vários contextos (Andrews e Dishion, 1994). Os comportamentos relacionados com a saúde, para além da influência que têm no continuum “saúde‐
‐doença”, têm também influência sobre os comportamentos futuros. De facto, vários estudos têm mostrado que o comportamento anterior constitui o principal preditor do comportamento futuro (Conner e Sparks, 1996; Ogden, 1996). O com‐
portamento anterior também parece ser um dos melhores preditores das inten‐
ções comportamentais futuras. Um estudo realizado com adolescentes portugue‐
ses, mostrou que o comportamento anterior constituía o melhor preditor das intenções relacionadas com comportamentos de saúde, nomeadamente, ter uma alimentação equilibrada, praticar desporto, não consumir bebidas alcoólicas e não fumar ou tomar drogas (Simões, 1997; Simões e Marques, 2000). Os comportamentos relacionados com a saúde geralmente surgem classifica‐
dos como comportamentos de saúde positivos e negativos. Os comportamentos de saúde positivos traduzem‐se em comportamentos que contribuem para a pro‐
moção da saúde, prevenção do risco e detecção precoce da doença ou deficiência. Como exemplos de comportamentos de saúde positivos temos o uso do cinto de segurança, os cuidados de higiene, alimentação equilibrada, realização de check‐
‐ups regulares, etc. Os comportamentos de saúde negativos referem‐se a compor‐
tamentos que, pela sua frequência ou intensidade, aumentam o risco de doença ou acidente. Como exemplos dos comportamentos de saúde negativos encontram‐
‐se o consumo de substâncias, a alimentação desequilibrada, a condução sob o efeito do álcool, etc. (Ogden, 1996; Steptoe e Wardle, 1996). De acordo com Røy‐
samb, Rise, e Kraft (1997), os comportamentos relacionados com a saúde (que abrangem os comportamentos promotores de saúde e comportamentos de amea‐
ça à saúde) podem ser conceptualizados em diferentes dimensões. Num estudo realizado pelos autores, a agregação de diferentes comportamentos relacionados com a saúde deu origem a categorias de comportamentos: adicção, alta acção, e protecção. A adicção engloba o consumo de álcool e tabaco, comportamentos de risco quando se está embriagado (como nadar, andar de barco, de bicicleta ou de mota), e andar de carro embriagado ou com alguém que está a conduzir sob o efeito do álcool. A alta acção engloba comportamentos como conduzir a velocida‐
des elevadas, andar de mota, desportos de risco (por exemplo, esquiar ou mergu‐
lho) e a actividade física. Este último comportamento faz também parte dos com‐
portamentos de protecção que incluem ainda, a utilização de equipamentos de segurança, a higiene oral e a dieta alimentar. Os comportamentos de saúde negativos, comportamentos de adicção ou de alta acção, são geralmente conhecidos por comportamentos de risco. Como já foi referido, os comportamentos de risco constituem a maior ameaça à saúde e bem‐
‐estar dos adolescentes. Segundo Igra e Irwin (1996), o termo risk‐taking (correr 230 Celeste Simões riscos) tem sido usado para ligar conceptualmente um conjunto de comportamen‐
tos prejudiciais à saúde, nomeadamente o consumo de substâncias, comporta‐
mentos sexuais de risco, condução imprudente, comportamento homicida ou sui‐
cida, desordens alimentares, e delinquência. Trimpop (1994) refere‐se ao risk‐
‐taking como um comportamento controlado, consciente ou não, com uma incerteza percebida acerca das suas consequências (possíveis benefícios ou custos) para o bem‐estar físico do próprio ou outros. Igra e Irwin (1996) referem também uma certa incerteza quanto aos resultados dos comportamentos de risco, no entanto, afirmam que estes comportamentos são voluntários. E o correr riscos (risk‐taking) leva os adolescentes a ficar em risco (at‐risk). Segundo Jessor (1991), o termo at‐risk tem dois significados dependendo da idade dos jovens, isto é, os adolescentes mais novos podem estar em risco para iniciar comportamentos de risco, enquanto os adolescentes mais velhos, que já praticam estes comportamen‐
tos, estão em risco de consequências negativas para a saúde. Uma das questões que nos últimos anos se tem levantado em torno dos com‐
portamentos de risco na adolescência é a diferenciação entre os diversos compor‐
tamentos de risco. Existem comportamentos de risco que envolvem algum perigo, mas que mais não são do que simples experiências construtivas, que fazem parte do crescimento normal (Michaud, Blum, e Ferron, 1997; Ponton, 1997) e compor‐
tamentos de risco que têm potencial para comprometer o desenvolvimento ajus‐
tado dos jovens. O desenvolvimento normal do adolescente envolve uma progressiva indepen‐
dência e autonomia da família, uma maior associação com os pares, a formação da identidade e a maturação fisiológica e cognitiva. Este turbilhão de mudanças per‐
mite ao jovem abrir novos horizontes e experimentar novos comportamentos. E dentro destes novos comportamentos estão incluídos comportamentos que se denominam de comportamentos de risco. Estes comportamentos servem para experimentar novas componentes da vida não descobertas até então, sem os limi‐
tes estabelecidos ou a protecção dada pelos pais. Podem servir para ganhar acei‐
tação e respeito dos pares, para ganhar autonomia dos pais, para manifestar rejei‐
ção pelas normas e valores convencionais, para lidar com a ansiedade, frustração e antecipação do fracasso, para confirmar para si próprio ou para os outros deter‐
minados atributos, para moldar a sua identidade, e ainda como prova de maturi‐
dade e transição para um estatuto mais adulto (Jessor, 1991; Ponton, 1997). Ten‐
do em conta estas importantes funções instrumentais, poder‐se‐á considerar que os comportamentos de risco são muitas das vezes normativos e saudáveis para os adolescentes (Ponton, 1997). No entanto, os comportamentos de risco podem também constituir uma séria ameaça à saúde dos adolescentes. Para Baumerind (1987), os comportamen‐
tos de risco tornam‐se destrutivos quando contribuem directa ou indirectamente para a alienação dos adolescentes. Assim, os comportamentos de risco são poten‐
cialmente perigosos quando levam o jovem a afastar‐se da sua comunidade, a não partilhar interesses com aqueles que lhe são próximos, quando levam o jovem ao desencontro com o seu papel na sociedade, ou a sentir‐se incompreendido e rejei‐
tado pela sociedade. Segundo Igra e Irwin (1996), os comportamentos de risco podem ser considerados não normativos devido ao momento em que têm lugar e à sua extensão ou gravidade. Determinados comportamentos podem ser conside‐
Adolescentes e Comportamentos de Saúde 231 rados de risco, devido ao facto de ocorrerem num momento em que não era à par‐
tida suposto terem lugar, como é o caso do consumo de álcool ou o comportamen‐
to sexual em idades precoces. Ambos os comportamentos se tornam normativos com o passar do tempo, quando o adolescente se aproxima da idade adulta. Tam‐
bém pela sua gravidade, alguns comportamentos podem ser entendidos como comportamentos de risco, como é o caso da delinquência e o consumo de subs‐
tâncias. Muitos adolescentes praticam actos delinquentes de menor gravidade e experimentam tabaco e álcool. No entanto, os actos delinquentes graves e o con‐
sumo de substâncias ilícitas são considerados comportamentos de risco devido à sua gravidade (Igra e Irwin, 1996). Lerner e Galambos (1998) falam de três critérios que podem ser úteis para distinguir estes dois tipos de comportamentos: a idade de início do comportamento, a duração do comportamento, e o estilo de vida do jovem. Quando os comportamentos de risco começam cedo têm mais probabili‐
dade de se tornar verdadeiros problemas. Se estes comportamentos ultrapassam a experimentação, isto é, se com o passar do tempo estes comportamentos são mantidos, encontra‐se mais um sinal de possíveis problemas futuros. Por último, se estes comportamentos surgem aliados a outros comportamentos de risco e, como tal, permitem categorizar o estilo de vida do jovem como um estilo de vida de risco, então os adolescentes podem já estar envolvidos em problemas significa‐
tivos. Também Braconnier e Marcelli (2000) falam da necessidade de estar atento aos aspectos quantitativos dos comportamentos de risco, até mais do que os qua‐
litativos, para que perante determinados sinais se realize uma intervenção preven‐
tiva de uma escalada nos comportamentos problema. Entre os sinais apontados pelos autores, encontra‐se a questão da repetição do comportamento de risco (consumos, violência, problemas escolares) da duração do comportamento (durante mais de 3 meses ou mesmo 6 meses ou mais), e a questão da acumulação de comportamentos de risco e acontecimentos de vida negativos. Um aspecto importante que tem influência sobre o risk‐taking é a percepção do risco. Se um risco não é percebido como tal, é provável que a resposta não seja a mesma que é dada a um comportamento que é percebido como sendo de risco (Trimpop, 1994). As percepções do risco traduzem‐se na percepção da vulnerabili‐
dade pessoal a um determinado acontecimento crítico (Schwarzer e Fuchs, 1995). Segundo Trimpop (1994), os factores mais determinantes na percepção do risco são as preferências pessoais, as experiências anteriores, e as interpretações indivi‐
duais do risco. Dentro das interpretações individuais do risco encontra‐se uma percepção comum entre os jovens, a percepção da invulnerabilidade. A percepção de invulnerabilidade é, segundo Schwarzer e Fuchs (1995), uma das potenciais causas dos comportamentos de risco. As percepções do risco são muitas vezes dis‐
torcidas e reflectem uma “pré‐disposição optimista”, o que conduz a uma subes‐
timação do risco objectivo. Weinstein (1987, cit. in Ogden, 1996) apresenta quatro factores que contribuem para as percepções incorrectas do risco, e da susceptibili‐
dade a este último, que constituem o chamado “optimismo irrealista”: a) falta de experiência pessoal com o problema; b) a crença de que é possível prevenir o pro‐
blema através de acções pessoais; c) a crença de que se o problema ainda não apareceu, também não irá aparecer no futuro; d) e a crença de que não se trata de um problema frequente. Os resultados de um estudo realizado por Moore e Rosenthal (1992), indicam que os adolescentes mais velhos subestimam os com‐
232 Celeste Simões portamentos de risco mas, no entanto, conseguem fazer julgamentos acerca da probabilidade de alguns acontecimentos ocorrerem. Tem sido ainda possível veri‐
ficar que grande parte dos adolescentes têm consciência dos potenciais perigos aliados aos comportamentos que praticam (que por vezes apenas surgem a longo prazo), mas preferem ignorá‐los devido ao facto de valorizarem mais outras con‐
sequências psicossociais (a curto prazo), possíveis de obter através destes compor‐
tamentos (Irwin, 1987; Schwarzer e Fuchs, 1995). Para Trimpop (1994), as pessoas ajustam o seu comportamento de acordo com o risco percebido. Este facto, visto da perspectiva do alto risco, parece algo normal, na medida em que se tomam mais precauções quando o perigo é elevado. No entanto, isto significa também que as pessoas aumentam a sua exposição ao perigo quando o risco percebido é baixo. Ou seja, de acordo com o autor, ao tornar‐se o envolvimento mais seguro as pessoas irão compensar este aumento de segurança correndo mais riscos. Schwar‐
zer e Fuchs (1995) referem que existem muitas razões, quer a nível pessoal quer a nível social, que suportam o facto dos comportamentos de risco serem atractivos e persistentes. Trimpop (1994) refere que a literatura mostra que correr riscos é essencial para a sobrevivência, é divertido, e permite obter recompensas por parte de outros, bem como auto‐recompensas. Assim, segundo o autor, não se deve ten‐
tar eliminar os comportamentos de risco dos jovens. Alternativamente poderão ser criadas actividades de risco, desenvolvidas num contexto de segurança, que permitam assim obter o prazer do risco, mas simultaneamente a garantia necessá‐
ria ao bem‐estar e desenvolvimento saudável. Um dos estudos realizados em território nacional que tem investigado a saúde na adolescência é o estudo “Health Behaviours in School‐aged Children (HBSC/OMS)”. Trata‐se de um estudo colaborativo da Organização Mundial de Saú‐
de, integrado na Rede Europeia, que está a ser realizado em mais de 40 países, e que recolhe dados de 4 em 4 anos de modo a monitorizar as evoluções neste campo. O objectivo geral deste estudo é conhecer os comportamentos ligados à saúde, os esti‐
los de vida e respectivos contextos nos jovens em idade escolar. Complementarmen‐
te, pretende‐se compreender a forma como os jovens percebem a sua saúde e desenvolver um sistema nacional de informação acerca da saúde e estilo de vida dos jovens. Os dados recolhidos neste estudo ao longo dos últimos anos têm mostrado que a maioria dos adolescentes portugueses atravessa este período das suas vidas sem apresentar grandes problemas. No entanto, uma (preocupante) minoria evi‐
dencia contextos, processos e comportamentos lesivos da sua saúde. Estes dados estão bem patentes num estudo desenvolvido por Simões (2005), que agregou os dados recolhidos no estudo HBSC/OMS em 1998 e 2002 (Matos e Equipa do Projecto Aventura Social, 2003; Matos, Simões, Carvalhosa, et al., 2000) bem como uma amostra de adolescentes institucionalizados nos Centros Educati‐
vos do Instituto de Reinserção Social, onde foi possível verificar a existência de quatro diferentes grupos de adolescentes no que diz respeito aos seus comporta‐
mentos relacionados com a saúde (consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas; sin‐
tomas psicológicos, satisfação com a escola; satisfação com a vida; comunicação com os pais; comunicação com os amigos; relacionamento com os colegas; e rela‐
cionamento com os professores). Assim um primeiro grupo, que agregou mais dois quintos dos sujeitos, é caracterizado por incluir adolescentes que apresentam valores médios na maioria das variáveis em estudo. Têm uma comunicação fácil Adolescentes e Comportamentos de Saúde 233 com a família e com os amigos, por vezes têm um relacionamento fácil com os colegas, a satisfação com a escola situa‐se também em valores medianos, sentem‐
‐se felizes, e ocasionalmente consomem tabaco e álcool e têm sintomas de mal‐
‐estar psicológico. O grupo 2, que agregou cerca de um quinto dos sujeitos, é composto por adolescentes que apresentam algumas dificuldades a nível pessoal e interpessoal. São adolescentes que referem dificuldades na comunicação com os pais e com os amigos ou mesmo não ter amigos, dificuldades na relação com os colegas, não estar satisfeitos com a escola, não se sentir felizes, ter frequentemen‐
te sintomas de mal‐estar psicológico e ocasionalmente consumos de tabaco e álcool. O grupo 3, que agregou cerca de um terço dos sujeitos, caracteriza‐se por incluir adolescentes que não apresentam problemas de relacionamento interpes‐
soal nos contextos avaliados, que referem ser muito felizes, estar bastante satisfei‐
tos com a escola, raramente ou nunca ter sintomas de mal‐estar psicológico e não estar envolvidos em qualquer tipo de consumo de substâncias. O grupo 4, que agregou cerca de um décimo dos sujeitos, caracteriza‐se por incluir adolescentes que apresentam dificuldades de relacionamento com os pais, algumas dificuldades com os colegas, mas por outro lado, facilidade no relacionamento com os amigos. São adolescentes que referem não ser felizes e estar insatisfeitos com a escola. Referem ter frequentemente sintomas de mal‐estar psicológico, bem como um forte envolvimento nos consumos de drogas lícitas e ilícitas. Considerando os valores obtidos neste estudo em cada um dos grupos, em termos de percentagem de sujeitos neles incluídos, parece poder dizer‐se que a maioria dos adolescentes apresenta um desenvolvimento saudável, o que reforça a ideia já existente de que a perspectiva de “storm and stress” não é a mais ajus‐
tada para caracterizar a adolescência. Contudo, uma análise dos grupos em função do género, idade, evoluções temporais, colocação escolar /percurso de desajus‐
tamento social, revela que, para alguns grupos, esta perspectiva poderá fazer sen‐
tido. É o caso dos grupos de jovens tutelados, quer os mais novos, quer os mais velhos, onde é possível verificar que a maioria dos sujeitos se encontra nos grupos 2 e 4, que corresponde aos grupos onde se encontra o maior número de proble‐
mas. Em relação aos outros grupos, parece ser necessário ter atenção a alguns fac‐
tores, especialmente à idade, dado que se verifica que o grupo que apresenta um maior nível de ajustamento é caracterizada pelos adolescentes mais novos, e que a classe que apresenta um maior nível de desajustamento é caracterizada por ado‐
lescentes mais velhos. Também o género surge como factor de destaque, dado que se verifica que o grupo onde surgem como característicos os problemas de internalização prevalecem as raparigas, e no grupo com maior nível de desajusta‐
mento prevalecem os rapazes (considerando na comparação com as raparigas o mesmo nível de idade). Estes resultados parecem ir ao encontro dos resultados de outros estudos, que mostram que os adolescentes mais velhos apresentam mais comportamentos problema e uma maior regularidade na prática desses compor‐
tamentos, e que os rapazes e os que estão fora do sistema escolar apresentam mais probabilidade de entrar em múltiplos comportamentos de risco, comparati‐
vamente com outros jovens (Mitchell, Novins, e HolmesIssue, 1999; Reardon e Buka, 2002; Sells e Blum, 1996; Swaim, Bates, e Chavez, 1998). Parece pois que os jovens mais novos se encontram mais ajustados, verifi‐
cando‐se uma tendência com a idade e com factor tempo para migrar para “espa‐
234 Celeste Simões ços” mais desajustados. Contudo, o factor idade parece também determinante de uma migração para um outro “espaço”, que envolve certos riscos e insatisfações próprias do desenvolvimento, mas que não se poderá caracterizar necessariamen‐
te como um “espaço problemático”. Esta migração parece ainda dependente do género, dado que as raparigas parecem ter mais tendência para “evoluir” para os problemas de internalização, enquanto que os rapazes surgem com mais tendên‐
cia para se polarizarem para os problemas de externalização. Tal como referem Wagner, Cohen, e Brook (1996), os acontecimentos de vida stressantes têm mais probabilidade de estar associados a problemas de comportamento nos rapazes e a sintomas de depressão nas raparigas. É possível pois, que os desafios e os proble‐
mas com que os adolescentes se defrontam ao longo desta fase constituam fonte de stress, e que esta “evolução” seja o reflexo da interacção entre os adolescentes e o envolvimento. Promoção da saúde na adolescência Os dados apresentados ao longo deste trabalho mostraram a existência de múltiplos factores de risco e de protecção que interagem e que têm como resulta‐
do um maior ou menor envolvimento dos jovens em comportamentos que podem ameaçar a sua saúde. Como se sabe, os comportamentos de risco apresentam fun‐
ções utilitárias importantes para os adolescentes, e este aspecto constitui um importante factor que leva os jovens a aderir a este tipo de comportamentos. Mas, também se sabe que estes mesmos comportamentos trazem consequências gra‐
ves a curto, médio e longo prazo em várias esferas da sua vida, nomeadamente pessoal, interpessoal, familiar, escolar e profissional. Perante este cenário urge prevenir. Como já se teve oportunidade de referir em outras abordagens (Simões, 2000, 2005, 2007), quatro questões importantes destacam‐se no cenário da prevenção: (1) a necessidade de uma intervenção pre‐
coce, (2) que promova os factores de protecção dos comportamentos de risco; (3) que envolva os principais contextos de vida; e (4) que seja delineada para vários comportamentos alvo. A necessidade de uma intervenção precoce é consubstanciada em vários estudos que mostram que o envolvimento em comportamentos problema aumen‐
ta com a idade. Para além deste aspecto, um outro factor que reforça esta posição é a verificação de que o comportamento anterior constitui um dos principais facto‐
res determinantes do comportamento futuro, e de que os comportamentos de ris‐
co constituem um dos principais factores de risco de outros comportamentos de risco. Torna‐se pois importante intervir em etapas precoces do desenvolvimento, de preferência em etapas onde ainda não tenha ocorrido estes comportamentos. É pois preciso estar atento, em etapas muito precoces, nomeadamente nos pri‐
meiros momentos na escola, a potenciais factores de risco, ou a lacunas na protec‐
ção, ou ainda a comportamentos que poderão indiciar futuros comportamentos problema. O segundo aspecto referido, a promoção de factores de protecção, deverá constituir a essência da intervenção. Para esta concepção actual de prevenção, contribuiu sem dúvida o conceito de resiliência, e a investigação em torno desta, que privilegiou a procura de factores e processos de protecção. De entre os vários Adolescentes e Comportamentos de Saúde 235 factores apontados na literatura, destacam‐se, por exemplo, as atitudes, a percep‐
ção do risco e as competências sociais. Em relação a este último aspecto muitos estudos (Farrington, 2001; Matos, 2005; Scheier, Botvin, Griffin, e Diaz, 2000; Simões e Matos, 1994; Simões, Rocha, Malho, e Matos, 2002; Webster‐Stratton, Reid, e Hammond, 2001), têm revelado que este tipo de competências é funda‐
mental para um melhor ajustamento dos indivíduos. Competências de comunica‐
ção interpessoal, competências para lidar com os sentimentos, competências para lidar com stress, competências alternativas à agressividade, competências de reso‐
lução de problemas, surgem na literatura como importantes factores de protecção dos comportamentos de risco, na medida em que os sujeitos que delas dispõem apresentam uma maior capacidade para se adaptar a diferentes situações e para lidar com as adversidades. Dado que a protecção, tal como o risco, se situam em diversos contextos, torna‐se importante que, tal como referem Matos, Gonçalves, Dias, Gaspar, e Simões (2003), qualquer trabalho preventivo de acção directa sobre o indivíduo aborde os seus contextos de vida e envolva os seus intervenientes, no sentido de se obter uma diminuição do risco e uma activação dos recursos de apoio. Muitos dos programas de promoção da saúde têm tido uma base escolar. A escola consti‐
tui um dos principais contextos na vida de um adolescente e tem, ou deve ter como objectivo a educação, na verdadeira acepção da palavra, pelo que esta tem de continuar a ser um contexto de referência para a implementação deste tipo de acções. Apesar das intervenções preventivas com base escolar serem fundamen‐
tais e constituírem um dos enquadramentos principais a este nível, é preciso não esquecer, no entanto, que os programas escolares podem não chegar àqueles que estão em maior risco, ou seja os jovens absentistas e os jovens que abandonaram a escola (Aveyard, Markham, Almond, Lancashire, e Cheng, 2003; Weinberg, Rah‐
dert, Colliver, e Glantz, 1998). Torna‐se assim fundamental, o desenvolvimento de acções que envolvam as componentes acima referidas em outros contextos, nomeadamente o comunitário. E a este nível alguns estudos mostram que este tipo de acções deve de aproveitar os recursos da comunidade, nomeadamente através do estabelecimento de ligações e colaboração com as instituições comuni‐
tárias, da criação de oportunidades de participação dos jovens na comunidade, do desenvolvimento de planos de vida futura e da ligação com o mundo do trabalho (Farrington, 2001; Rolf e Johnson, 1999). Para além destes dois contextos, a família constitui por excelência um contexto chave para a promoção da saúde. Aspectos como o apoio, a afectividade, a comunicação, as regras, a supervisão são aponta‐
dos como determinantes do bem‐estar e consequentemente do ajustamento dos jovens. Parece assim não existir dúvidas sobre a importância da inclusão dos pais em acções de base escolar ou comunitária, que visem o apoio e a formação dos mesmos em relação aos múltiplos aspectos aliados à vida dos jovens. Este tipo de apoio torna‐se ainda mais relevante para as famílias oriundas de contextos desfa‐
vorecidos e famílias disfuncionais. Finalmente, um último aspecto importante no cenário da prevenção, a implementação de programas delineados para vários comportamentos problema. A investigação e a intervenção realizadas neste campo têm mostrado que existem diversas razões que suportam esta directriz (DiClemente, Ponton, e Hansen, 1996; Lynskey, Fergusson, e Horwood, 1998; Michaud, et al., 1997; Windle e Davies, 236 Celeste Simões 1999). E uma das principais razões consiste no facto dos comportamentos proble‐
ma partilharem vários factores de risco, mas simultaneamente vários factores de protecção. Este dado parece reforçar, não apenas a questão da importância de programas multifocais, mas também a importância de se apostar preferencialmen‐
te em acções que visem a promoção de factores de protecção, visto a maior homogeneidade destes (comparativamente com os factores de risco) para diversos comportamentos de risco. Contudo, apesar das similaridades nos factores relacio‐
nados com os comportamentos de risco, é importante não esquecer que existem também diferenças nomeadamente em termos de género, de idade e de percurso de vida, pelo que estas mesmas diferenças devem ser equacionadas nos progra‐
mas de intervenção (Jessor, 1991; Kolip e Schmidt, 1999; Simões, 2007; Thomas e Brunton, 1997). Parece assim importante considerar aspectos determinantes, como são as diferenças a nível de crenças e valores, conhecimentos, ou necessida‐
des utilitárias e afectivas, aliados a diferentes grupos que poderão, por sua vez, constituir o resultado de diferentes processos desenvolvimentais, educacionais, culturais e sociais. Referências bibliográficas Adler, B. (1995). Psychology of health: Applications of psychology for health profes‐
sionals. Luxembourg: Harwood Academic Publishers. Andrews, D. W., e Dishion, T. J. (1994). The microsocial structure underpinnings of ado‐
lescent problem behavior. In R. D. Ketterlinus e M. E. Lamb (Eds.), Adolescent problem behaviors: Issues and research (pp. 187‐207). New Jersey: Laurance Erlbaum Associates. Aveyard, P., Markham, W. A., Almond, J., Lancashire, E., e Cheng, K. K. (2003). The risk of smoking in relation to engagement with a school‐based smoking interven‐
tion. Social Science e Medicine, 56 (4), 869‐882. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. New Jersey: Prentice‐
‐Hall. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology. Retrieved 20‐09‐2002, from www.findarticles.com Baumerind, D. (1987). A developmental perspective on adolescent risk taking in com‐
temporary America. In C. E. Irwin, Jr. (Ed.), Adolescent social behavior and health (pp. 93‐125). San Francisco: Jossey‐Bass. Bearman, P. (1998, July). Paper presented at the “What do we know about adolescent health? Findings from the national longitudinal study of adolescent health”, Consortium of Social Science Associations, Washington. Bonny, A. E., Britto, M. T., Klostermann, B. K., Hornung, R. W., e Slap, G. B. (2000). School disconnectedness: Identifying adolescents at risk. Pediatrics. Retrieved 20‐09‐2002, from www.findarticles.com Braconnier, A., e Marcelli, D. (2000). As mil faces da adolescência. Lisboa: Climepsi. Bruhn, J. G. (1988). Life‐style and health behavior. In D. S. Gochman (Ed.), Health be‐
havior: Emerging Research Perspectives (pp. 71‐86). New York: Plenum Press. Burns, J. M., Andrews, G., e Szabo, M. (2002). Depression in young people: what causes it and can we prevent it? Medical Journal of Australia, 177 Suppl., S93‐96. Carnegie Corporation of New York (1995). Great tansitions: Preparing adolescents for a new century. Retrieved 20‐09‐2002, from http://www.carnegie.org/sub/pubs/ reports/great_transitions Adolescentes e Comportamentos de Saúde 237 Chen, M. Y., Wang, E. K., Yang, R. J., e Liou, Y. M. (2003). Adolescent Health Promotion Scale: Development and Psychometric Testing. Public Health Nursing, 20 (2), 104‐110. Chou, K. L. (1999). Social support and subjective well‐being among Hong Kong Chinese young adults. Journal of Genetic Psychology, 160 (3), 319‐331. Coleman, J. C. (1974). Relationships in adolescence. Boston: Routledge e Kegan Paul. Conner, M., e Sparks, P. (1996). The theory of planned behaviour and health behav‐
iour. In M. Conner e P. Norman (Eds.), Predicting health behaviour: Research and practice with social cognition models (pp. 121‐162). Buckingham: Open University Press. Conselho da Europa (2003). Resolução do conselho sobre a importância da intervenção precoce para prevenir a toxicodependência, bem como os efeitos nocivos da droga e criminalidade entre os jovens consumidores de droga (1.4.35.). Boletim UE, 6. Retrieved 12‐10‐2003, from http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/pt/ 200306/p104035.htm DiClemente, R. J., Hansen, W. B., e Ponton, L. E. (1996). Adolescents at risk: A genera‐
tion jeopardy. In R. J. DiClemente, W. B. Hansen e L. E. Ponton (Eds.), Handbook of Adolescent Health Risk Behavior (pp. 1‐4). New York: Plenum Press. DiClemente, R. J., Ponton, L. E., e Hansen, W. B. (1996). New directions for adolescent risk prevention and health promotion research and interventions. In R. J. Di‐
Clemente, W. B. Hansen e L. E. Ponton (Eds.), Handbook of Adolescent Health Risk Behavior (pp. 393‐411). New York: Plenum Press. Diomsina, B., e Vyciniene, D. (2002). [Anxiety disorders in children and adolescents. Psychotherapeutic interventions]. Medicina (Kaunas), 38 (4), 466‐470. Duggal, S., Carlson, E. A., Sroufe, L. A., e Egeland, B. (2001). Depressive symptomatol‐
ogy in childhood and adolescence. Development and Psychopathology, 13, 143‐
‐164. Erickson, E. (1982). The life cicle completed: A review. New York: W.W. Norton e Com‐
pany. Farrington, D. P. (2001). Prevenção centrada no risco. Infância e Juventude, 3, 9‐29. Gabhainn, S. N., e François, Y. (2000). Substance use. In C. Currie, K. Hurrelmann, W. Settertobulte, C. A. Smith e J. Todd (Eds.), Health and health behaviour among young people (pp. 97‐114). Copenhagen: World Health Organization. Griffin, K. W., Scheier, L. M., Botvin, G. J., e Diaz, T. (2001). Protective role of personal competence skills in adolescent substance use: psychological well‐being as a mediating factor. Psychology of Addictive Behavior, 15 (3), 194‐203. Harris, J. R. (1995). Where is the child’s environment? A group socialization theory of development. Psychological Review, 102 (3), 458‐489. Irwin, C. E., Jr. (1987). Adolescent social behavior and health. San Francisco: Jossey‐
‐Bass. Irwin, C. E., Jr., Burg, S. J., e Uhler Cart, C. (2002). America’s adolescents: where have we been, where are we going? Journal of Adolescent Health, 31 (6 Suppl.), 91‐
‐121. Izumi, Y., Tsuji, I., Ohkubo, T., Kuwahara, A., Nishino, Y., e Hisamichi, S. (2001). Impact of smoking habit on medical care use and its costs: A prospective observation of National Health Insurance beneficiaries in Japan. International Journal of Epi‐
demiology, 30 (3), 616‐621; discussion 622‐613. Jackson, S., Bijstra, J., Oostra, L., e Bosma, H. (1998). Adolescents’ perceptions of communication with parents relative to specific aspects of relationships with parents and personal development. Journal of Adolescence, 21 (3), 305‐322. 238 Celeste Simões Jessor, R. (1991). Risk behaviour in adolescence: A psychosocial framework for under‐
standing and action. Journal of Adolescent Health, 12, 597‐605. King, A., Wold, B., Tudor‐Smith, C., e Harel, Y. (1996). The health of youth: A cross‐
‐national survey. Canada: World Health Organization. Kohlberg, L. (1981). The psychology of moral development: Moral stages and the ideia of justice. San Francisco: Harper e Row. Kolip, P., e Schmidt, B. (1999). Gender and health in adolescence. Copenhagen: World Health Organization. Lerner, R. M., e Galambos, N. L. (1998). Adolescent development: Challenges and op‐
portunities for research, programs, and policies. Annual Review of Psychology. Retrieved 15‐07‐2000, from www.findarticles.com Lynskey, M. T., Fergusson, D. M., e Horwood, L. J. (1998). The origins of the correla‐
tions between tobacco, alcohol, and cannabis use during adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39 (7), 995‐1005. Mahon, N. E., e Yarcheski, A. (2001). Outcomes of depression in early adolescents. Western Journal of Nursing Research, 23(4), 360‐375. Matos, M. G. (2005). Comunicação e gestão de conflitos e saúde na escola. Lisboa: CDI/FMH. Matos, M. G., e Equipa do Projecto Aventura Social (2003). A saúde dos adolescentes portugueses (Quatro anos depois). Lisboa: Edições FMH. Matos, M. G., Simões, C., e Canha, L. (1999). Saúde e estilos de vida em jovens portu‐
gueses em idade escolar. In L. Sardinha, M. G. Matos e I. Loureiro (Eds.), Promo‐
ção da saúde: Modelos e práticas de intervenção nos âmbitos da actividade físi‐
ca, nutrição e tabagismo (pp. 217‐240). Lisboa: Edições FMH. Matos, M. G., Simões, C., Canha, L., e Fonseca, S. (2000). Saúde e estilos de vida nos jovens portugueses: Estudo nacional da rede europeia HBSC /OMS (1996). Lis‐
boa: FMH/PPES. Matos, M. G., Simões, C., Carvalhosa, S. F., Reis, C., e Canha, L. (2000). A saúde dos adolescentes portugueses: Estudo nacional da rede europeia HBSC/OMS (1998): FMH/PEPT. Matos, M. G., Simões, C., Tomé, G., Gaspar, T., Camacho, I., Diniz, J. A., et al. (2006). A saúde dos adolescentes portugueses: Hoje em 8 anos. Retrieved 20‐12‐2006, from http://www.fmh.utl.pt/aventurasocial/pdf/191206/nacional.pdf McManus, R. P., Jr. (2002). Adolescent care: reducing risk and promoting resilience. Primary Care, 29 (3), 557‐569. Michaud, P.‐A., Blum, R. W., e Ferron, C. (1997). Bet you will: Risk or experimental be‐
havior during adolescence? Retrieved 30‐6‐1999, from www.familyreunion. org/health/blum/commentary.html Mitchell, C. M., Novins, D. K., e HolmesIssue, T. (1999). Marijuana use among American Indian adolescents: A growth curve analysis from ages 14 through 20 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Retrieved 28‐02‐2003, from www.findarticles.com Moffitt, T. E., e Caspi, A. (2000). Comportamento anti‐social persistente ao longo da vida e comportamento anti‐social limitado à adolescência: Seus preditores e suas etiologias. Revista Portuguesa de Pedagogia, XXXIV (1, 2, 3), 65‐106. Moore, S. M., e Rosenthal, D. A. (1992). Australian Adolescents’ perceptions of health‐
‐related risks. Journal of Adolescent Research, 7 (2), 177‐191. Ogden, J. (1996). Health psychology: A textbook. Buckingham: Open University Press. Oldenburg, C. M., e Kerns, K. A. (1997). Associations between peer relationships and depressive symptoms: Testing moderator effects of gender and age. Journal of Early Adolescence, 17 (3), 319‐337. Adolescentes e Comportamentos de Saúde 239 Oliveira, C. V. (1999). Os jovens e os seus pares: Estudo sociométrico e psicopatológico de uma população escolar. Dissertação de Doutoramento apresentada à Facul‐
dade de Medicina da Universidade de Coimbra, Não publicada. Pattishall, E. G., Jr. (1994). A research agenda for adolescent problems and risk‐taking behaviors. In R. D. Ketterlinus e M. E. Lamb (Eds.), Adolescent problem behaviors: Issues and research (pp. 209‐215). New Jersey: Laurance Erlbaum Associates. Pedersen, J. M. (1998). Well‐being among Greenlandic students. International Journal of Circumpolar Health, 57 Suppl. 1, 639‐641. Piaget, J. (1983). Piaget’s theory. New York: John Wiley. Pitkanen, T. (1999). Problem drinking and psychological well‐being: a five‐year follow‐
‐up study from adolescence to young adulthood. Scandinavian Journal of Psy‐
chology, 40 (3), 197‐207. Ponton, L. E. (1997). The romance of risk: Why teenagers do the things they do. New York: BasicBooks. Pronk, N. P., Goodman, M. J., O’Connor, P. J., e Martinson, B. C. (1999). Relationship between modifiable health risks and short‐term health care charges. Jama, 282 (23), 2235‐2239. Reardon, S. F., e Buka, S. L. (2002). Differences in onset and persistence of substance abuse and dependence among whites, blacks, and Hispanics. Public Health Re‐
ports, 117 Suppl 1, S51‐59. Rolf, J. E., e Johnson, J. L. (1999). Opening doors to resilience intervention for preven‐
tion research. In M. D. Glantz e J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: Positive life adaptations (pp. 229‐249). New York: Klumer Academic e Plenum Publishers. Røysamb, E., Rise, J., e Kraft, P. (1997). On the structure and dimensionality of health‐
‐related behaviour in adolescents. Psychology and Health, 12, 437‐452. Sanders, M. (2000). Family intervention and prevention of behaviour disorders in chil‐
dren and adolescents. In M. G. Matos, C. Simões e S. F. Carvalhosa (Eds.), Desenvolvimento de competências de vida na prevenção do desajustamento social (pp. 35‐55). Lisboa: IRS /MJ. Scheidt, P., Overpeck, M. D., Wyatt, W., e Aszmann, A. (2000). Adolescents’ general health and wellbeing. In C. Currie, K. Hurrelmann, W. Settertobulte, C. A. Smith e J. Todd (Eds.), Health and health behaviour among young people (pp. 24‐38). Copenhagen: World Health Organization. Scheier, L. M., Botvin, G. J., Griffin, K. W., e Diaz, T. (2000). Dynamic growth models of self‐esteem and adolescent alcohol use. Journal of Early Adolescence, 20 (2), 178‐209. Schwarzer, R., e Fuchs, R. (1995). Changing risk behaviors and adopting health behav‐
iors: The role of self‐efficacy beliefs. In A. Bandura (Ed.), Self‐efficacy in chang‐
ing societies (pp. 213‐239). Cambridge: Cambridge University Press. Sells, C. W., e Blum, R. W. (1996). Current trends in adolescent health. In R. J. Di‐
Clemente, W. B. Hansen e L. E. Ponton (Eds.), Handbook of Adolescent Health Risk Behavior (pp. 5‐34). New York: Plenum Press. Selman, R. L. (1980). The growth of interpersonnal understanding: Developmental and clinical analyses. New York: Academic Press. Simões, C. (1997). Factores e processos envolvidos nas intenções comportamentais: Análise das determinantes sócio‐cognitivas e do papel da influência social a nível das intenções comportamentais relacionadas com a saúde. Dissertação Apresentada com vista à Obtenção do Grau de Mestre em Psicologia na Espe‐
cialidade de Psicologia Social. Porto: F.P.C.E. – U.P. (não publicada). 240 Celeste Simões Simões, C. (2005). Comportamentos de risco na adolescência: Estudo dos factores alia‐
dos ao risco e à protecção na saúde em jovens em idade escolar em função dos diferentes cenários relevantes do seu quotidiano e do seu percurso de desajus‐
tamento social. Tese de Doutoramento (não publicada). Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. Simões, C. (2007). Comportamentos de risco na adolescência. Lisboa: Fundação Calous‐
te Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Simões, C., e Marques, J. (2000). Determinantes sócio‐cognitivas de intenções compor‐
tamentais relacionadas com a saúde. Revista de Educação Especial e Reabilita‐
ção, 7 (1), 25‐36. Simões, C., e Matos, M. G. (1994). Promoção das Competências Sociais como Estraté‐
gia de Facilitação do Desenvolvimento Pessoal e Social. Revista Educação Espe‐
cial e Reabilitação, 2, 47‐56. Simões, C., Rocha, E., Malho, M. J., e Matos, M. G. (2002). Prevenção primária: Acções de ligação à comunidade. Boletim do IAC, 65 (3). Sprinthall, N. A., e Collins, W. A. (1999). Psicologia do adolescente: Uma abordagem desenvolvimentalista (2.ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Steinberg, L. (1998). Adolescence. Gale Encyclopedia of Childhood and Adolescence Re‐
trieved 20‐03‐2000, from www.findarticles.com Steinberg, L., e Morris, A. S. (2001). Adolescent development. Annual Review of Psy‐
chology. Retrieved 06‐02‐2002, from www.findarticles.com Steptoe, A., e Wardle, J. (1996). The european health and behaviour survey: The de‐
velopment of an international study in health psychology. Psychology of Health, 11, 49‐73. Sullivan, H. S. (1996). Harry Stack Sullivan: Interpersonal theory and psychoterapy. London: Routledge. Swaim, R. C., Bates, S. C., e Chavez, E. L. (1998). Structural equation socialization model of substance use among mexican‐american and white non‐hispanic school dropouts. Journal of Adolescent Health, 23, 128‐138. Sweeting, H., e West, P. (2003). Sex differences in health at ages 11, 13 and 15. Social Science e Medicine, 56 (1), 31‐39. Thomas, H., e Brunton, G. (1997). Gender and healthy child/youth development: A syn‐
thesis of the current literature. Gender and Health: From Research to Policy, The Fifth national Health Promotion Research Conference. Retrieved 20‐06‐1999, from http://hiru.mcmaster.ca/OHCEN/groups/hthu/gender.htm Toumbourou, J. W. (2001). Working with families to promote health adolescent devel‐
opment. Family Matters Retrieved 15‐11‐2001, from www.findarticles.com Trimpop, R. M. (1994). The psychology of risk taking behavior. North‐Holland: Elsevier Science. United States Department of Health and Human Services (2000). Healthy People 2010: Understanding and Improving Health. Retrieved 16‐03‐2004, from http://www. healthypeople.gov/Document/tableofcontents.htm#under Wagner, B. M., Cohen, P., e Brook, J. S. (1996). Parent/adolescent relationships: Mod‐
erators of the effects of stressful life events. Journal of Adolescent Research, 11 (3), 347‐374. Webster‐Stratton, C., Reid, J., e Hammond, M. (2001). Social skills and problem‐solving training for children with early‐onset conduct problems: Who benefits? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42 (7), 943‐952. Weinberg, N. Z., Rahdert, E., Colliver, J. D., e Glantz, M. D. (1998). Adolescent substance abuse: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Retrieved 15‐11‐2001, from www.findarticles.com Adolescentes e Comportamentos de Saúde 241 Weitoft, G. R., Hjern, A., Haglund, B., e Rosen, M. (2003). Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in Sweden: a population‐based study. Lancet, 361 (9354), 289‐295. Whalen, C. K., Jamner, L. D., Henker, B., e Delfino, R. J. (2001). Smoking and moods in adolescents with depressive and aggressive dispositions: evidence from surveys and electronic diaries. Health Psychology, 20 (2), 99‐111. WHO (2003). The World Health Report. Retrieved 16‐03‐2004, from http://www.who. int /whr/2003/ Windle, M., e Davies, P. T. (1999). Depression and heavy alcohol use among adoles‐
cents: Concurrent and prospective relations. Development and Psychopa‐
thology, 11, 823‐844. Yarcheski, A., Mahon, N. E., e Yarcheski, T. J. (2001). Social support and well‐being in early adolescents: the role of mediating variables. Clinical Nursing Research, 10 (2), 163‐181. QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE: APLICAÇÕES DO WHOQOL Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Qualidade de vida na perspectiva da Organização Mundial de Saúde (OMS) O instrumento World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) destina‐
‐se à avaliação da qualidade de vida (QdV), tendo sido desenvolvido em coerência com a definição assumida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), isto é como a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sis‐
temas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL Group, 1994, p. 28). Trata‐se de uma definição que resulta de um consenso internacional, repre‐
sentando uma perspectiva transcultural, bem como multidimensional, que con‐
templa a complexa influência da saúde física e psicológica, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e das suas relações com características salientes do respectivo meio na avaliação subjectiva da QdV individual (WHOQOL Group, 1993, 1994, 1995, 1998). O projecto WHOQOL O interesse pelo conceito de QdV, aliado à sua crescente relevância no âmbito da saúde e à constatação da inexistência de um instrumento de avaliação de QdV que privilegiasse uma perspectiva transcultural e subjectiva, conduziu a OMS a reu‐
nir um conjunto de peritos pertencentes a 15 diferentes culturas (WHOQOL Group) com o objectivo de debater o conceito de QdV e, subsequentemente, construir um instrumento para a sua avaliação: o WHOQOL‐100. O desenvolvimento do WHOQOL partiu de três pressupostos centrais: (1) a essência abrangente do conceito de QdV; (2) que uma medida quantitativa, fiável e válida pode ser construída e aplicada a várias populações; e (3) qualquer factor que afecte a QdV influencia um largo espec‐
tro de componentes incorporados no instrumento e este, por sua vez, serve para avaliar o efeito de intervenções de saúde específicas na QdV (WHOQOL Group, 1993). A construção deste instrumento surgiu num contexto de simultânea relevân‐
cia e falta de precisão conceptual do conceito de QdV, caracterizado por uma proli‐
feração de instrumentos de avaliação, muitos deles sem base conceptual e na generalidade ancorados na cultura anglo‐saxónica. Para além desta preocupação ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 243‐268. 244 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes conceptual, do ponto de vista metodológico, a sofisticação que lhe está subjacente tem contribuído para a imagem de robustez conceptual e psicométrica que o WHOQOL apresenta. Desde a formalização do grupo de QdV da OMS, em 1991, e a apresentação das características psicométricas do estudo multicêntrico, o projecto estendeu‐se a praticamente todo o mundo estando, actualmente, o WHOQOL (nas versões lon‐
ga e abreviada) disponível em mais de 40 idiomas diferentes (Skevington, Sarto‐
rius, Amir, e WHOQOL Group, 2004) e sendo um dos instrumentos mais utilizados internacionalmente para avaliar a QdV. Em Portugal, as duas versões genéricas foram desenvolvidas pelo Centro Português para a Avaliação da QdV (para uma revisão do processo de desenvolvimento e aplicação destes instrumentos cf. Cana‐
varro et al., 2006; Rijo et al., 2006; Vaz Serra et al., 2006a, 2006b). Os instrumentos da família WHOQOL O primeiro instrumento de avaliação da QdV desenvolvido pelo WHOQOL Group foi o WHOQOL‐100. Trata‐se de uma medida genérica cuja estrutura assen‐
ta nos seguintes seis domínios: Físico; Psicológico; Nível de Independência; Rela‐
ções Sociais; Ambiente; e Espiritualidade. No âmbito de cada domínio, 24 facetas específicas sumariam o domínio particular em que se inserem. Adicionalmente, o instrumento contempla uma faceta geral que avalia a satisfação global com a QdV e a percepção geral de saúde. Cada faceta é avaliada através de quatro perguntas. Na versão portuguesa de Portugal foi acrescentada uma nova faceta à versão ori‐
ginal, designada por FP25: Poder Político (Rijo et al., 2006). A versão abreviada do WHOQOL é composta por 26 itens e está organizada em 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente, incluindo ainda uma faceta sobre QdV geral. Cada faceta é avaliada através de uma pergunta, cor‐
respondente a um item, à excepção da faceta sobre QdV em geral, que é avaliada através de dois itens, um correspondente à QdV em geral e outro sobre a percep‐
ção geral da saúde. A elaboração de módulos específicos precisou de esperar a conclusão do ins‐
trumento nuclear, na medida em que os módulos específicos seriam apenas necessários para cobrir aspectos não contemplados na medida genérica. A OMS, partindo da versão genérica, desenvolveu um módulo específico para avaliação da QdV em doentes infectados pelo VIH. Este novo instrumento tem igualmente em conta a definição de QdV assumida pela OMS e referida anteriormente. O WHO‐
QOL‐HIV tem em acréscimo um conjunto de itens que reflectem aspectos particu‐
lares da vida dos doentes infectados, e que derivaram de diversas sessões de gru‐
pos focais de experts internacionais organizadas pela OMS (WHOQOL‐HIV Group, 2003). De forma semelhante à medida genérica, este instrumento encontra‐se organizado nos mesmos seis domínios mencionados e em 29 facetas específicas (as 24 facetas que compõem o instrumento original mais 5 específicas: Sintomas dos Pleople Living with HIV AIDS (PLWHA); Inclusão social; Perdão e culpa; Preocu‐
pações sobre o futuro; e Morte e morrer) e uma faceta relativa à QdV geral e à percepção geral de saúde. O Grupo WHOQOL‐HIV desenvolveu igualmente uma medida abreviada, constituída por 31 perguntas, duas de âmbito mais geral e 29 representando cada uma das facetas específicas (WHO, 2002a; 2002b). Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 245 Qualidade de vida e doença crónica A partir dos anos 80 do século XX, o conceito de QdV começa a ganhar uma importância crescente no domínio da saúde e dos cuidados de saúde, aumentando a sua relevância no discurso e prática médica (Lowy e Bernhard, 2004; Naughton e Shumaker, 2003; Ribeiro, 1994; Stenner, Cooper, e Skevington, 2003). Para esse facto contribuiu o aumento da expectativa de vida, em virtude do progresso tecno‐
lógico da medicina (Fleck, 2008; Han, Lee, Lee, e Park, 2003), a mudança nas doen‐
ças, de predominantemente infecciosas a predominantemente crónicas (Bowden e Fox‐Rushby, 2003; Lowy e Bernhard, 2004), a insuficiência das medidas médicas objectivas e tradicionais na avaliação das limitações impostas pela doença e seus tratamentos nas diferentes dimensões de vida da pessoa doente (Bonomi, Patrick, Bushnell, e Matin, 2000; Ribeiro, 1994) e, por último, o movimento de humaniza‐
ção da medicina (Fleck, 2008). Estes factores conduziram, portanto, a que a QdV começasse a ser introduzida na investigação na área da saúde com o principal objectivo de avaliar o impacto específico não médico da doença crónica e como um critério para a avaliação da eficácia dos tratamentos médicos (Bowling, 1995; Ebrahim, 1995, cit. por Kilian, Matschinger, e Angermeyer, 2001). É no âmbito da doença crónica que se tem verificado um maior interesse em avaliar a QdV, sendo que a importância da conceptualização deste conceito está intimamente ligada à evolução das doenças prolongadas (Heinemann, 2000; Ribei‐
ro, 1994). A incerteza persuasiva que envolve o diagnóstico e prognóstico, a pro‐
gressão da doença e a imprevisibilidade que a caracteriza, bem como aos seus tra‐
tamentos, resultam inevitavelmente em algum grau de perturbação emocional, sem esquecer as limitações físicas e funcionais persistentes que conduzem à alte‐
ração do funcionamento e rotina diária, interferindo com a capacidade para traba‐
lhar, desempenhar papeis familiares e sociais e com o envolvimento em activida‐
des de lazer (Doka, 1993). Em virtude do seu diagnóstico ameaçador, dos seus tratamentos prolongados e muitas vezes agressivos e da incerteza do prognóstico, a doença crónica constitui‐se como um risco para a QdV do indivíduo. Compreende‐se, assim, o interesse de investigadores e clínicos em avaliar a QdV na doença crónica, bem como o facto de em praticamente todas estas enfer‐
midades a QdV ter sido estudada, desde as doenças cardiovasculares, infecção VIH, passando pelo cancro, artrite, doenças reumáticas em geral, doenças neuro‐
lógicas, entre outras (Ribeiro, 1994). Esta avaliação reveste‐se de especial impor‐
tância ao permitir i) identificar o impacto da doença e seu tratamento em diversas áreas de vida do doente; ii) melhorar o conhecimento acerca dos efeitos secundá‐
rios dos tratamentos; iii) avaliar o ajustamento psicossocial à doença; iv) medir a eficácia dos tratamentos; v) definir e desenvolver estratégias com vista a uma melhoria do bem‐estar dos doentes; e vi) proporcionar informação prognóstica relevante quer para a resposta ao tratamento quer para a sobrevivência. Qualidade de vida e infecção por VIH/SIDA A avaliação da QdV é central na compreensão da forma como vive uma pes‐
soa infectada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). As particulares carac‐
246 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes terísticas do processo de infecção pelo VIH e a inevitável progressão para Síndro‐
me de Imunodeficiência Humana (SIDA), os efeitos colaterais das terapêuticas uti‐
lizadas, bem como a conveniência em iniciar precocemente a terapêutica anti‐
‐retrovírica (TAR) nos portadores assintomáticos, convergem na necessidade imperativa, e cada vez mais generalizada, de avaliar a QdV. Esta importância deve‐
‐se sobretudo à natureza da própria doença, caracterizada pela imprevisibilidade e pelas múltiplas recorrências (Remple, Hilton, Ratner, e Burdge, 2004), e pela necessidade de avaliar os efeitos dos tratamentos no bem‐estar dos indivíduos infectados pelo VIH (Bing et al., 2000). A nível do cuidado individual, a optimização da QdV dos doentes infectados será essencial para aumentar a adesão aos regimes terapêuticos e, por conseguinte, prolongar o tempo de vida (Wu, 2000). Este instrumento tem tido uma aplicabilidade crescente na avaliação da QdV dos PLWHA. Em seguida apresentamos uma breve resenha de estudos, baseados no WHOQOL‐HIV, que salientam a influência dos determinantes sociodemográfi‐
cos e clínicos na QdV destes doentes. No estudo de campo do WHOQOL‐HIV (WHOQOL‐HIV Group, 2004), as comparações sociodemográficas e clínicas revela‐
ram efeitos significativos do género e idade. Concretamente, pior QdV entre as mulheres e entre os doentes com menos de 34 anos. No estudo de validação italiano (Starace et al., 2002), os autores não encon‐
traram associações significativas entre os factores sociodemográficos (idade; géne‐
ro; educação; estado civil; e situação profissional), clínicos (CD4+; carga vírica; e regime HAART – Higly Active Anti‐Retroviral Therapy) e QdV, com excepção da faceta 7 (Imagem corporal e aparência), na qual as mulheres registaram valores significativamente mais baixos, comparativamente aos homens. Na análise por estádio serológico (assintomático; sintomático; e SIDA), os domínios Físico, Nível de Independência e Espiritualidade mostraram poder discriminativo. No total, observaram‐se diferenças estatisticamente significativas em 10 facetas específicas. O estudo da versão em Português do Brasil (Zimpel, 2003; Zimpel e Fleck, 2007) revelou que em relação ao estádio de infecção, todos os domínios apresen‐
tam capacidade discriminativa sendo o maior poder observado nos domínios Físico e Nível de Independência. Neste mesmo estudo, encontraram‐se diferenças nos domínios relativamente às características sociodemográficas idade, género e esta‐
do civil. Os indivíduos com idade inferior a 35 anos, apresentaram piores scores nos domínios Psicológico, Ambiente e Espiritualidade. Em relação ao género, as mulheres apresentaram piores médias nos mesmos domínios, bem como no domínio das Relações Sociais. Em relação ao estado civil, os solteiros revelaram melhores resultados em todos os domínios quando comparados com os casados (ou vivendo em união de facto), mas com significação estatística nos domínios Físi‐
co e Relações Sociais. A influência dos indicadores económicos foi estudada atra‐
vés das variáveis escolaridade e nível sócio‐económico. Relativamente à variável educação (+/‐ 8 anos de estudo) verificou‐se que uma maior escolaridade está associada a uma melhor QdV em todos os domínios. O mesmo se verificou em relação ao nível socioeconómico, onde se observou que os níveis superiores apre‐
sentaram resultados significativamente mais elevados em todas as dimensões. Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 247 Qualidade de Vida em Oncologia O cancro é, actualmente, a segunda causa de morte nos países industrializa‐
dos, tendo a sua incidência e mortalidade vindo a aumentar nos últimos anos (Pimentel, 2006). Na Europa, é considerado um dos principais problemas de saúde, tendo sido registados em 2006 cerca de 3.2 milhões de novos casos e mais de 1.5 milhões de mortes (Ferlay et al., 2007). Em Portugal, representa também uma importante causa de morbilidade e mortalidade, diagnosticando‐se anualmente entre 40 a 45 mil novos casos (Pimentel, 2006). Este aumento generalizado da incidência do cancro deve‐se não só às mudanças de estilo de vida e envelhecimento da população, mas também ao aumento da sobrevivência e à evolução dos meios de diagnóstico. Com efeito, o progresso da medicina no diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas con‐
tribuiu para que o cancro tivesse evoluído de uma doença inevitavelmente fatal para uma doença crónica, ameaçadora do bem‐estar do indivíduo (Osoba, 1991; Bessel, 2001). Paralelamente, muitos dos tratamentos actualmente existentes estão associados a uma substancial morbilidade, física e psicológica, embora mui‐
tas vezes com ganhos mínimos em termos de resposta ao tumor e sobrevivência. Foi por estas razões que, a partir dos anos 80, a QdV começou a ser considerada e estudada no campo específico da Oncologia, passando a ser conceptualizada como um importante resultado quer da própria doença quer do seu tratamento, mas também como uma medida auxiliar na tomada de decisões clínicas (Koinberg et al., 2006; Osoba et al., 2005; Pimentel, 2006). Efectivamente, os profissionais de saúde têm vindo a aperceber‐se que a eficá‐
cia dos tratamentos ou das suas intervenções ou, de uma forma geral, o sucesso dos cuidados de saúde em oncologia, não podem apenas ser avaliados recorrendo a indicadores biomédicos, como o tempo livre de doença, as complicações médicas ou a toxicidade dos tratamentos. É essencial considerar também outras variáveis, como a percepção que o doente tem da doença e dos tratamentos e a forma como estes influenciam os diversos domínios da sua vida. Assim, na avaliação do impacto de uma doença crónica, como é o caso do cancro, onde muitas vezes o objectivo do tra‐
tamento não é a cura, mas sim a redução das limitações impostas pela doença a vários níveis, é fundamental avaliar e considerar a QdV do doente (Pimentel, 2006). Cancro da mama O cancro da mama é o tumor maligno com maior prevalência no mundo industrializado e o mais comum no sexo feminino, prevendo‐se que na Europa uma em cada onze mulheres seja diagnosticada com esta doença. Em Portugal, é também o tipo de cancro mais frequente na mulher, estimando‐se que em 2006 tenham sido registados aproximadamente 5600 novos casos e 1100 óbitos (Ferlay et al., 2007). Os avanços técnicos e científicos na detecção precoce e no tratamento do cancro da mama têm conduzido a uma diminuição muito significativa da mortali‐
dade o que, por sua vez, tem vindo a determinar um aumento importante do número de sobreviventes. Estima‐se que existam cerca de 4,4 milhões de mulhe‐
248 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes res em todo o mundo e 18265 em Portugal, a quem foi diagnosticado cancro da mama nos últimos cinco anos (Ferlay et al., 2004). O prolongamento da vida e a conceptualização desta doença como doença crónica, trazem consigo a questão da quantidade de vida sem qualidade (Pais‐Ribeiro, 2001), tornando‐se, deste modo, fundamental a consideração da QdV e da adaptação emocional da doente com cancro da mama ao longo de todo o percurso da doença (Kornblith, 1998). Nos últimos anos, muitos investigadores têm‐se dedicado ao estudo da QdV e da adaptação psicossocial da mulher com cancro da mama (Bardwell et al., 2004; Carver, 2005; Helgeson e Tomich, 2005; Knobf, 2007; Kornblith et al., 2007). Os estudos neste âmbito realizados têm mostrado que a maioria das doentes é resi‐
liente, conseguindo adaptar‐se bem ao diagnóstico e às exigências psicológicas, físicas e sociais associadas aos tratamentos (Bloom, Peterson, e Kang, 2007; Ganz et al., 1996; Helgeson, Snyder, e Seltman, 2004; Massie e Shakin, 1993). Embora seja frequente a presença de dificuldades de adaptação e uma diminuição da QdV numa fase inicial da doença (Barraclough, 1999; Veach, Nicholas, e Barton, 2002), alguns estudos têm apontado para uma prevalência de apenas 20% a 30% de sin‐
tomatologia psicopatológica clinicamente significativa ao longo do percurso da doença (Massie e Popkin, 1998; Nezu e Nezu, 2007). Globalmente, tem‐se consta‐
tado que a QdV geral, alguns anos depois do diagnóstico, é boa (Bloom et al., 2007; Ganz, Greendale, Petersen, Kahn, e Bower, 2003; Tomich e Helgeson, 2002), sendo por vezes comparável (Dorval, Maunsell, Deschenes, Brisson, e Masse, 1998; Tomich e Helgeson, 2005) ou mesmo superior (Peuckmann et al., 2007) à QdV de mulheres sem história pessoal de doença oncológica. Este estudo pretende, assim, analisar e comparar a QdV e a adaptação emo‐
cional de um grupo de mulheres recentemente diagnosticadas com cancro da mama e de um grupo de mulheres sobreviventes desta doença, por forma a detec‐
tar diferenças e similitudes entre estas duas fases da doença. Tumor do aparelho locomotor Os doentes diagnosticados com sarcomas do aparelho locomotor apresentam‐
‐se como um grupo bastante debilitado e incapacitado, que está vulnerável ao desenvolvimento de dificuldades psicossociais e que pode manifestar um compro‐
misso significativo na QdV global (Felder‐Puig et al., 1998). Esta vulnerabilidade para a manifestação de problemas psicológicas e ao nível social, assim como a QdV global diminuída, são compreensíveis se atendermos aos riscos que estão associados a este tipo particular de cancro e às consequências negativas dos seus sintomas e trata‐
mentos. Designadamente, o diagnóstico de um tumor maligno do aparelho locomo‐
tor coloca desde logo o risco de surgir uma restrição permanente na mobilidade e um funcionamento físico reduzido, o risco da perda de um membro e, eventualmen‐
te, de um desfiguramento físico, sem esquecer o risco da perda da própria vida (Cus‐
todio, 2007; Ginsberg et al., 2007). Por sua vez, estes doentes sofrem frequentemen‐
te de dor crónica e intensa, fracturas dos ossos, défices neurológicos e apresentam uma actividade física reduzida (Mercadante, 1997), para além de que os seus trata‐
mentos intensivos implicam habitualmente longos períodos de internamento, a administração de elevadas doses de quimioterapia e/ou radioterapia, daí resultando efeitos secundários significativos, e envolvem cirurgias extensas que podem reque‐
Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 249 rer a amputação de membros ou a mutilação de partes do corpo (Aksnes, Hall, Jeb‐
sen, Fossa, e Dahl, 2007; Felder‐Puig et al., 1998; Schreiber et al., 2006). O diagnósti‐
co de sarcoma do aparelho locomotor, a própria doença e os seus tratamentos fazem‐se portanto acompanhar de efeitos negativos que incluem alterações das competências físicas, funcionais e mentais, alterações dos papeis pessoais e sociais e alterações da aparência e imagem corporal, daí resultando um impacto na QdV. Atendendo às implicações deste tipo específico de cancro para as diversas áreas de vida do doente e à escassez de literatura que existe no nosso país acerca desta temática, procurámos no presente trabalho avaliar a QdV de doentes diag‐
nosticados com sarcomas do aparelho locomotor, assim como identificar os seus possíveis factores de variabilidade. Estudos Empíricos Considerações gerais Por questões de organização, optámos por apresentar uma secção destinada aos três estudos empíricos. Cada trabalho segue a estrutura básica dos estudos empíricos, incluindo síntese e discussão dos resultados. Com a finalidade de evitar a repetição da descrição dos instrumentos utilizados, na secção instrumentos ape‐
nas são referidas as características psicométricas do estudo de validação nacional. Qualidade de vida e infecção por VIH/SIDA Método Amostra As recomendações da OMS relativamente aos critérios de amostragem para a validação internacional do instrumento, preconizam um mínimo de 200 indivíduos, e a constituição do grupo clínico a partir dos seguintes critérios: (a) Idade: 50% da amostra deve ter menos de 30 anos de idade; (b) Género: 50% da amostra deve ser do sexo masculino; e (c) Estado de saúde. Este critério deve ter em conta uma distribuição equivalente pelos três estádios de infecção: assintomático; sintomáti‐
co sem SIDA e SIDA. A amostra total ficou constituída por 200 indivíduos, com uma idade média de 39,23 anos (DP=9,21 anos). A maior parte da amostra (60%) é do sexo masculi‐
no. No conjunto da amostra regista‐se que quase metade dos inquiridos são soltei‐
ros (47,5%) e a maioria (72,0%) pertence ao nível socioeconómico baixo (de acor‐
do com a tipologia de Simões, 1994). Relativamente às características associadas com a infecção VIH verificámos que a maioria dos sujeitos refere infecção por via sexual (66,5%) e estado serológi‐
co assintomático (43,7%). Chamamos a atenção para o facto de 18,1% dos inquiri‐
dos não ter conhecimento do seu estado serológico. Estes indivíduos não foram considerados nas análises relativas à influência desta variável na QdV dos doentes infectados. 250 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Instrumentos O WHOQOL‐HIV é um instrumento de auto‐avaliação da QdV que inclui um módulo específico para a infecção VIH e foi descrito anteriormente. A versão em português (de Portugal) encontra‐se validada (Canavarro, Pereira, Simões, Pintassil‐
go, e Ferreira, 2008) e apresentou boas características psicométricas. A consistência interna, avaliada através do de Cronbach apresenta valores aceitáveis, quer se analisem os seis domínios (.90) ou cada domínio individualmente [variando entre .86 (Espiritualidade) e .95 (Psicológico)]. O de Cronbach para as 120 questões foi de .98. Em relação à validade, o WHOQOL‐HIV mostrou‐se um bom discriminador quando considerados quer o estado serológico quer a percepção geral de saúde. Análises estatísticas Para o tratamento estatístico e análise dos dados utilizámos a versão 15.0 do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Em primeiro lugar, para a caracterização da amostra recorremos sobretudo à estatística descritiva (fre‐
quências relativas, médias, desvios‐padrão). Para outras análises, e com o objecti‐
vo de averiguar a existência de diferenças entre os diferentes grupos constituídos, recorremos à estatística inferencial, aceitando como estatisticamente significativas todas as diferenças às quais aparecesse um nível de significação inferior a 0.05. Neste sentido, e em função das variáveis consideradas, foram realizados: teste T de Student; Análises da Variância (ANOVA) e testes post hoc, bem como o seu equivalente não paramétrico, o teste de Kruskall‐Wallis. Resultados Determinantes sociodemográficos Género A análise por domínios não revelou diferenças estatisticamente significativas, no entanto, as mulheres apresentam pior QdV em quase todos os domínios, com excepção nos domínios Nível de Independência e Relações Sociais. Relativamente às facetas, três discriminam homens de mulheres, sendo que as mulheres apresentam piores scores na faceta Segurança física [t(1,197) = 2.307; p = .022]; e nas facetas específicas do módulo VIH: Preocupações sobre o futuro [t(1,197) = 2.112, p = .036] e Morte e morrer [t(1,197) = 3.191; p = .002]. No con‐
junto das 29 facetas específicas, as mulheres pontuam menos em 18 facetas. Idade No que diz respeito à idade, o critério de amostragem da OMS estabelece como ponto de corte os 30 anos. No presente estudo este critério não foi rigoro‐
samente cumprido. Como ponto de corte considerámos para efeitos de análise estatística, a medida de tendência central Mediana. Neste sentido, consideraram‐
‐se duas categorias de idade: inferior e superior a 39 anos. Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 251 Em relação aos domínios não se verificaram diferenças quando consideradas estas categorias. Os indivíduos mais velhos apresentam, em geral, pior QdV, com excepção dos domínios Ambiente e Espiritualidade. Relativamente às facetas, só na Actividade sexual se encontraram diferenças estatisticamente significativas [t(1,197) = 4.231; p = .000]. No total, os indivíduos mais velhos apresentam pior QdV em 21 das 29 facetas específicas, assim como na faceta que avalia a QdV glo‐
bal e percepção geral de saúde. Estado civil Na análise por estado civil não se encontraram diferenças com significação estatística entre os domínios da QdV, assim como na faceta que avalia a QdV geral. A análise por facetas específicas relevou uma diferença significativa na faceta Espi‐
ritualidade, Religião e Crenças pessoais (2 = 13.421; p = .004), apresentando melhor QdV os indivíduos Viúvos. Habilitações literárias A análise em função das habilitações literárias revelou diferenças significati‐
vas no domínio Ambiente (2 = 12.100; p = .007). Os testes post hoc registaram as diferenças entre os indivíduos com habilitações ao nível do Ensino Superior, relati‐
vamente aos indivíduos com escolaridade ao nível do 1º ao 3º ciclos do Ensino Básico. Por sua vez, na análise por facetas, registaram‐se diferenças em 6 das 29 facetas específicas: Pensamento, aprendizagem, memória e concentração (2 = 12.979; p = .005); Capacidade de trabalho (2 = 8.721; p = .033); Recursos económicos (2 = 12.100; p = .007); Oportunidades para adquirir novas informa‐
ções e competências (2 = 24.584; p = .000); Participação e/ou oportunidades de recreio e lazer (2 = 9.299; p = .026); e Transportes (2 = 9.949; p = .019). Como previsível, os piores resultados de QdV registam‐se entre os indivíduos com grau de instrução mais baixo. Nível socioeconómico (NSE) Nas análises relativas ao NSE utilizou‐se a tipologia de Simões (1994), que diferencia três níveis: baixo, médio e elevado. Os resultados revelaram uma dife‐
rença estatisticamente significativa no domínio Ambiente (2 = 13.596; p = .001). O NSE baixo apresenta piores valores de QdV neste domínio (Média = 55.16; DP = 12.76), comparativamente aos indivíduos do NSE médio (Média = 61.80; DP = 13.36) e elevado (Média = 74.09; DP = 15.90). Ambas as diferenças foram estatisticamente significativas. Por facetas, os resultados mostraram a existência de diferenças significativas em 6 das 29 facetas específicas: Apoio social (2 = 6.098; p = .047); Segurança físi‐
ca (2 = 6.998; p = .030); Ambiente no lar (2 = 6.999; p = .030); Recursos económi‐
cos (2 = 25.396; p = .000); Oportunidades para adquirir novas informações e com‐
petências (2 = 21.226; p = .000); e Transportes (2 = 13.192; p = .001). O maior poder discriminativo verificou‐se na faceta Recursos económicos. 252 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Determinantes associados à infecção por VIH Categoria de transmissão No que diz respeito aos determinantes associados com a infecção VIH, em primeiro lugar, procedemos à análise da função discriminativa da categoria de transmissão. Os resultados obtidos mostram a existência de diferenças estatisti‐
camente significativas, quando se considera esta variável, em dois domínios do WHOQOL‐HIV: Psicológico (2 = 10.892; p = .012) e Nível de Independência (2 = 9.142; p = .027) e na faceta geral da QdV (2 = 13.922; p = .003). De forma geral, apresentam piores scores de QdV os indivíduos infectados por via de drogas injectáveis. Ao invés, os indivíduos que especificam infecção através de contactos com sangue apresentam melhores resultados de QdV nos diferentes domínios. Na análise por facetas, observaram‐se diferenças estatisticamente significati‐
vas em 8 das 29 facetas específicas. Em particular, observaram‐se diferenças esta‐
tisticamente significativas nas seguintes facetas: Energia e fadiga (2 = 9.960; p = .019); Pensamento, aprendizagem, memória e concentração (2 = 9.493; p = .023); Imagem corporal e aparência (2 = 9.330; p = .025); Sentimentos negati‐
vos (2 = 9.295; p = .026); Capacidade de trabalho (2 = 7.925; p = .048); Recursos económicos (2 = 9.454; p = .024); Oportunidades para adquirir novas informações e competências (2 = 10.295; p = .016); e Perdão e culpa (2 = 8.726; p = .033). De forma geral, apresentam pior QdV os indivíduos infectados através de drogas intravenosas, comparativamente aos que referem infecção através de contacto com sangue. Nas facetas Recursos económicos e Perdão e culpa, a diferença regis‐
ta‐se relativamente aos sujeitos infectados através de relação sexual com um homem. Estado serológico Considerando o estado serológico dos inquiridos, observaram‐se diferenças estatisticamente significativas em cinco domínios do WHOQOL‐HIV, na faceta que avalia a QdV global e percepção geral de saúde e em 16 das 29 facetas específicas. No domínio da Espiritualidade não se encontraram quaisquer diferenças. Nesta aná‐
lise não se consideraram os indivíduos que referiram desconhecer o seu estado sero‐
lógico. O maior poder discriminativo, de acordo com o estado serológico observou‐
‐se, por ordem decrescente, nos domínios Nível de Independência (F = 16.699; p = .000); Físico (F = 8.597; p = .000); Relações sociais (F = 6.695; p = .002); e Psicoló‐
gico (F = 3.362; p = .029). No que se prende com as facetas específicas, a Dependên‐
cia de medicação ou tratamentos (F = 15.789; p = .000); Capacidade de trabalho (F = 10.071; p = .000) e Dor e desconforto (F = 9.340; p = .000). Síntese dos resultados e discussão O presente estudo teve como principal objectivo avaliar os determinantes da QdV dos doentes infectados pelo VIH. Para o efeito, consideraram‐se os determi‐
nantes sociodemográficos (género; idade; nível sócio‐económico; habilitações lite‐
rárias; e estado civil) e os associados com a infecção VIH (categoria de transmissão e estado serológico). Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 253 No que se prende com o género, verificámos que esta variável não se constituiu como um importante contexto de influência na avaliação da QdV dos doentes infectados, embora sejam consistentes menores pontuações nos domínios e facetas de QdV entre o sexo feminino. Este facto tem igualmente sido observado noutros estudos que utilizaram o WHOQOL‐HIV (WHOQOL‐HIV Group, 2004; Zimpel, 2003; Zimpel e Fleck, 2007). A idade não se revelou um importante determinante, embora uma menor pontuação nos domínios e facetas de QdV se encontrasse associada a uma maior idade. Estes dados dife‐
rem dos resultados encontrados nos centros Brasileiro (Zimpel, 2003; Zimpel e Fleck, 2007) e no estudo piloto do WHOQOL‐HIV Group (2004), que encontra‐
ram diferenças estatisticamente significativas considerando esta variável. O NSE e as habilitações literárias, dois dos principais indicadores sociais, reve‐
laram‐se os mais importantes determinantes da QdV nestes doentes, sendo que uma melhor QdV se encontra associada a um maior NSE e a níveis superiores de escolaridade. De forma previsível, verificaram‐se diferenças estatisticamente signi‐
ficativas no domínio Ambiente e, no total, em ambos os indicadores, 6 facetas dis‐
criminaram as diferentes categorias de cada variável. Estes indicadores têm sido igualmente referidos como centrais noutros estudos que utilizaram estes instru‐
mento (Zimpel, 2003; Zimpel e Fleck, 2007). Quando considerado o estado serológico, apenas o domínio da Espiritualida‐
de não apresentou poder discriminativo. Os resultados mostram ainda que entre os indivíduos infectados, e de forma consistente entre os grupos, são os domínios Físico e Espiritualidade, que apresentam piores scores, sugerindo que a infecção por VIH se estende para além dos aspectos directamente associados com a saúde física. Em relação à categoria de transmissão, na faceta geral e nos domínios Psico‐
lógico e Nível de Independência encontraram‐se diferenças com significação esta‐
tística e, de forma consistente, foram os indivíduos que especificam infecção por meio de drogas injectáveis que apresentaram piores índices de QdV. Em síntese, neste estudo, variáveis demográficas como as habilitações literá‐
rias e nível sócio‐económico e características associadas à infecção VIH (categoria de transmissão e estado serológico) revelaram‐se importantes determinantes da QdV dos doentes infectados. Assumindo uma abordagem mais vasta das questões relativas aos cuidados, o conhecimento destes dados poderá ser bastante útil para os profissionais de saúde, para que estes considerem não apenas as variáveis de natureza clínica, mas tenham igualmente em conta a presença de factores socioe‐
conómicos no planeamento de intervenções (e.g., clínicas; psicossociais) para melhoria da QdV dos doentes infectados. Qualidade de vida e cancro da mama Método Amostra A amostra é constituída por 70 mulheres recentemente diagnosticadas com cancro da mama (GD), 74 sobreviventes de cancro da mama, livres de doença (GS) e 78 mulheres saudáveis, sem história pessoal de doença oncológica (GC). 254 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes A idade média das participantes do GD é de 52.43 anos (DP = 7.82), do GS é de 52.72 anos (DP = 9.59) e do CG é de 44.53 anos (DP = 8.58), sendo a diferença entre as médias significativa, F(2, 211) = 21.34, p < .001. Relativamente ao estado civil, existe uma maior prevalência de mulheres casadas ou a viver em união de facto no GC (96.2%) do que nos restantes dois grupos (GD = 84.3% e GS = 80.8%), sendo esta diferença significativa, χ² (2, N = 221) = 8.87, p < .01. As sobreviventes estão maioritariamente não activas (65.8%), enquanto que as restantes participan‐
tes encontram‐se, na sua maioria, empregadas (GD = 68.1% e GC = 76.9%). A dife‐
rença na distribuição pelas categorias é significativa, χ² (2, N = 221) = 31.38, p < .001. Relativamente ao nível socioeconómico, a maioria das participantes dos três grupos pertence ao nível médio (GD = 59.4%, GS = 60.3%, GC = 56.4). No que diz respeito à escolaridade, as participantes do GD e do GC têm maioritariamente estudos secundários ou superiores (53.6% e 52.6%, respectivamente), enquanto que a maioria das sobreviventes tem apenas o ensino básico ou primário (55.4%). No que diz respeito às características clínicas do GD e do GS, a duração média da doença é de 1.35 meses (DP = 0.59; entre 1 e 3 meses) para o GD e de 93.84 meses (DP = 77.98; entre 15 a 384 meses) para o GS. O tipo de cancro mais fre‐
quente é o carcinoma ductal invasivo (79% no GD e 60% no GS). A maioria das sobreviventes realizou mastectomia (91.4%) e apenas 8.6% cirurgia conservadora; adicionalmente, 59.4% efectuaram esvaziamento ganglionar axilar; 44.1% realiza‐
ram apenas quimioterapia, 16.2% apenas radioterapia, 33.8% ambos os tratamen‐
tos e 5.9% não realizou qualquer tratamento. As participantes do GD não tinham ainda efectuado a cirurgia, nem nenhum tratamento neoadjuvante ou adjuvante no momento em que participaram no estudo. Procedimento O GD foi recrutado aquando o seu internamento para realização de cirurgia da mama (mastectomia ou cirurgia conservadora), no serviço de Ginecologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC). As doentes foram abordadas pelos investigadores no primeiro dia do internamento, tendo‐lhes sido explicados os objectivos do estudo e entregue o protocolo de avaliação. Foram incluídas neste grupo mulheres recentemente diagnosticadas com cancro da mama (no máximo há três meses), que não tivessem ainda realizado quimioterapia e sem história pessoal de cancro da mama. O GS foi igualmente recrutado no mesmo serviço des‐
te hospital, e também no Movimento Vencer e Viver do núcleo regional do centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro. As participantes do serviço de Ginecologia (n = 36) encontravam‐se internadas para realização de cirurgia reconstrutiva da mama, tendo a recolha dos dados seguido o procedimento anteriormente descri‐
to. O grupo de participantes pertencentes à associação de voluntariado (n = 35) foi contactado pessoalmente pelos investigadores, tendo preenchido o protocolo em casa e, posteriormente, devolvido por correio. Para participarem no estudo, estas mulheres deveriam ter já finalizado qualquer tratamento adjuvante de quimiote‐
rapia ou radioterapia, sendo a sua situação clínica estável e indicadora de remissão total da doença. O GC incluiu mulheres sem antecedentes oncológicos e foi recru‐
tado por conveniência. Todas as participantes deveriam ter idade superior a 18 anos e serem capazes de ler e escrever Português. Todas preencheram o consen‐
Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 255 timento informado, tendo os dados sido recolhidos de forma a manter‐se sempre a confidencialidade das informações obtidas. Instrumentos Qualidade de Vida. Foi utilizado como medida de avaliação da QdV o WHOQOL‐
‐Bref. Este instrumento apresenta valores aceitáveis de consistência interna, avalia‐
da pelo alpha de Cronbach de cada um dos quatro domínios. Esta medida, varia entre .66 (Domínio Relações Sociais) e .84 (Domínio Físico). Esta versão mostrou, tal como a versão longa, capacidade para discriminar indivíduos doentes de saudáveis. Sintomatologia depressiva e ansiosa. Para avaliar a presença de sintomatolo‐
gia depressiva e ansiosa foi utilizada a versão portuguesa da Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS (Pais‐Ribeiro et al., 2007; Zigmond e Snaith, 1983). Este instrumento é constituído por 14 questões, que se distribuem por dois factores (depressão e ansiedade), e pretende resolver o problema da sobreposição de sin‐
tomas decorrentes da doença física e da perturbação emocional, excluíndo todos aqueles que se relacionam simultaneamente com as duas situações. A versão por‐
tuguesa apresenta valores adequados de consistência interna (α = .76 para a esca‐
la de ansiedade e α = .81 para a escala de depressão). Análises estatísticas Todas as análises estatísticas foram realizadas com o pacote estatístico SPSS 15. Para a caracterização da amostra recorreu‐se à estatística descritiva (frequên‐
cias relativas, médias, desvios‐padrão), utilizando‐se o teste do qui‐quadrado e a ANOVA para análise das diferenças entre as características sociodemográficas e clínicas entre os grupos. Tendo em conta as diferenças significativas encontradas na idade, actividade profissional e estado civil, estas variáveis foram estatistica‐
mente controladas nas análises subsequentes. Para a análise das diferenças de médias na QdV e adaptação emocional entre os três grupos analisados, efectuou‐
‐se uma análise de covariância multivariada (MANCOVA). Quando o efeito multiva‐
riado era significativo, eram conduzidas análises de covariância univariada (ANCO‐
VA) para cada variável dependente, prosseguindo‐se com o teste post‐hoc de Bonferroni para detecção das diferenças entre os pares de médias. Resultados Adaptação emocional A MANCOVA revelou um efeito significativo do tipo de grupo [Pillai’s Trace = 0.68; F(4,388) = 3.43, p = .009, η² = .034] nos níveis de depressão e de ansiedade. As análises univariadas mostraram que na variável ansiedade existiam diferenças significativas entre os grupos [F(2,194) = 4.20, p = .016, η² = .041]. A partir dos tes‐
tes post‐hoc foi possível verificar que as mulheres com diagnóstico recente (M = 9.71, DP = 0.61) encontravam‐se significativamente mais ansiosas que as sobrevi‐
ventes (M = 7.21, DP = 0.63), não se distinguindo, contudo, da população geral (M = 9.04, DP = 0.57). 256 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Qualidade de vida Com o objectivo de explorar as diferenças entre os três grupos nos quatro domínios e na faceta geral da QdV foi efectuada outra MANCOVA, controlando igualmente o efeito das covariáveis referidas. Verificou‐se um efeito significativo do tipo de grupo na QdV [Pillai’s Trace = 0.198; F(10, 380) = 4.17, p = .000, η² = .099], tendo as análises univariadas posteriormente evidenciado que as diferenças significativas se situavam na faceta geral da QdV [F(2,198) = 4.18, p = .017, η² = .041] e no domínio relações sociais [F(2,198) = 4.64, p = .011, η² = .045]. Por meio dos testes post‐hoc constatou‐se que as mulheres recentemente diagnosticadas apresentam uma pior QdV geral (M = 58.08, DP = 1.96) comparativamente com o GC (M = 65.46, DP = 1.90), mas pontuações significativamente superiores no domínio relações sociais (M = 77.90, DP = 2.03) relativamente ao GS (M = 70.61, DP = 2.14) e GC (M = 69.93, DP = 1.96). Quadro 1: Médias ajustadas (desvios‐padrão) e testes F univariados para as diferenças entre os grupos na adaptação emocional e na qualidade de vida Diagnóstico Sobreviventes Controlo F η² M (DP) M (DP) M (DP) HADS Depressão 5.06 (.50) 4.90 (.52) 5.44 (.47) 0.29 .003 Ansiedade 9.71 (.61) a 7.21 (.63) b 9.04 (.57) ab 4.20* .041 WHOQOL‐bref Faceta geral 58.08 (1.96) a 64.71 (2.07) ab 65.46 (1.90) b
4.18* .041 Físico 65.94 (2.02) 66.80 (2.13) 71.59 (1.95) 2.19 .022 Psicológico 70.52 (1.75) 73.81 (1.85) 69.15 (1.70) 1.67 .017 Relações sociais
77.90 (2.03) a 70.61 (2.14) b 69.93 (1.96) b
4.64** .045 Ambiente 64.09 (1.79) 62.29 (1.89) 61.84 (1.74) 0.43 .004 a, b
as médias que na mesma linha não partilham a mesma letra são significativamente diferen‐
tes entre si, com p < .05 no teste post‐hoc de Bonferroni * p < .05; ** p < .01 Síntese dos resultados e discussão Os resultados obtidos mostraram que a QdV dos três grupos é, em quase todos os domínios, muito semelhante. Relativamente ao GD e, tendo em linha de conta todas as mudanças que caracterizam esta fase (Barraclough, 1999; Veach et al., 2002), seria, à partida, de esperar resultados inferiores nos diferentes domí‐
nios, tal como tem sido reportado em outros estudos (Bloom, Kang, Petersen, e Stewart, 2007; Ganz et al., 1996; Maguire, Lee, e Bevington, 1998). Já os resulta‐
dos obtidos no GS vão ao encontro do que é comummente referido na literatura, ou seja, de que a QdV nesta fase da doença é comparável à da população geral (Dorval, et al., 1998; Kornblith et al., 2007; Tomich e Helgeson, 2002) ou até mes‐
mo superior (Ganz, Rowland, Desmond, Meyerowitz, e Wyatt, 1998). Não obstante o facto de as mulheres recentemente diagnosticadas apresen‐
tarem pontuações inferiores na faceta geral de QdV, nos restantes domínios não se observou um padrão de resultados negativos. Não se distinguindo dos restantes grupos nos domínios físico, psicológico e ambiente, o GD mostrou resultados supe‐ Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 257 riores no domínio relações sociais, distinguindo‐se significativamente dos restan‐
tes dois grupos. Estes resultados reflectem, de certa forma, a importância que, na fase de diagnóstico, as relações interpessoais e a activação das redes de apoio social têm no confronto com a doença. Embora não seja possível, partindo somen‐
te destes resultados, retirar conclusões sobre o papel das redes sociais de apoio na adaptação à doença, estes dados parecem ir ao encontro do que tem sido encon‐
trado em outros estudos, nos quais se tem verificado a activação das redes de suporte social e enfatizado o papel, na adaptação a esta etapa da doença, do apoio social e da qualidade das relações estabelecidas com os outros (Helgeson e Cohen, 1996; Schroevers, Ranchor, e Sanderman, 2003). No que diz respeito aos resultados de adaptação emocional, verificou‐se que as participantes do GD estavam significativamente mais ansiosas que as sobrevi‐
ventes, não se distinguindo do GC. Efectivamente, a fase de diagnóstico de cancro da mama pode ser conceptualizada como um período de crise, durante o qual a doente sente a sua vida, o seu futuro e o seu corpo ameaçados, podendo, assim, experienciar níveis mais elevados de depressão e/ou ansiedade. Deste modo, a manifestação de níveis superiores de ansiedade, bem como de outras emoções negativas, é frequente e esperada neste período, podendo ser perspectivada como parte de um processo de adaptação normal a um acontecimento de vida tão adverso como o diagnóstico de cancro da mama (Moreira, Silva, e Canavarro, 2008). O facto de as sobreviventes apresentarem valores médios de depressão e ansiedade semelhantes aos do GC e, no caso da ansiedade, inferiores aos do GD, sublinha a adaptação positiva já evidenciada pelos resultados de QdV obtidos, indo assim ao encontro do que se tem verificado, de uma forma geral, na literatura (Kornblith, 1998; Kornblith e Ligibel, 2003). O presente trabalho aponta para a importância e necessidade de uma avalia‐
ção cuidada da QdV e da adaptação emocional da doente com cancro da mama nas diferentes fases da doença. Esta avaliação permitirá a distinção entre respos‐
tas normativas de adaptação e respostas caracterizadas por níveis clinicamente significativos de psicossintomatologia para que, deste modo, se possa intervir atempada e adequadamente nas situações apropriadas. A detecção e intervenção precoces poderão conduzir a melhorias substanciais na saúde mental da mulher, no seu ajustamento e, de uma forma global, na sua QdV. Efectivamente, conhecer a QdV destas doentes tem‐se transformado progressivamente numa necessidade fundamental, possibilitando aos vários serviços de saúde obter, para além de indi‐
cadores biomédicos do funcionamento físico das doentes, a percepção que estas têm do impacto da doença no seu bem‐estar físico e emocional. Desta avaliação poderá resultar o planeamento de intervenções de cariz preventivo e o desenvol‐
vimento de protocolos terapêuticos promotores da QdV e do bem‐estar das doen‐
tes com cancro da mama. Simultaneamente, conhecer as suas necessidades pode‐
rá promover uma prestação de cuidados mais adequada por parte dos diferentes profissionais de saúde, o que, por sua vez, se reflectirá numa maior satisfação por parte dos utentes com os serviços de saúde. 258 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Qualidade de vida e tumor do aparelho locomotor Método Amostra e Procedimento A metodologia usada neste estudo exploratório, transversal e comparativo envolveu o recrutamento de 81 doentes diagnosticados com sarcoma do aparelho locomotor, da Unidade de Tumores do Aparelho Locomotor, Serviço de Ortopedia B, dos HUC, que se encontravam a realizar tratamento cirúrgico ou tratamentos complementares de quimioterapia e/ou radioterapia. O protocolo de avaliação, composto por uma ficha de dados sociodemográficos e clínicos e pelo WHOQOL‐
‐100, foi administrado durante o período de internamento no caso dos doentes que se encontravam hospitalizados a receber quimioterapia ou que haviam sido submetidos recentemente a cirurgia e no momento da entrada na Unidade para os doentes que estavam a ser submetidos a quimioterapia em regime de hospital de dia. Os doentes a receberem radioterapia em regime de ambulatório foram avalia‐
dos imediatamente antes ou após a sessão de radiação e outros participantes foram recrutados nas consultas externas do Serviço de Ortopedia A dos HUC, tam‐
bém antes ou após a consulta médica. Foi ainda usado um grupo de controlo constituído por 81 indivíduos “saudá‐
veis” (sem doença) pertencentes à população geral, com características demográ‐
ficas comparáveis às do grupo clínico. Como critério de inclusão, estes sujeitos deveriam responder negativamente às seguintes três questões: (1) “tem alguma doença crónica?”, (2) “toma alguma medicação de forma regular?”, e (3) “consul‐
tou um médico ou profissional de saúde no último mês (excepção feitas às consul‐
tas de prevenção, e.g., revisões em ginecologia)?”. Todos os sujeitos, aquando o recrutamento para o estudo, apresentavam idades superiores a 18 anos ou exerciam o papel social de adulto e todos eles assi‐
naram o respectivo consentimento informado de participação. No que se refere às características sociodemográficas da amostra, quer no gru‐
po clínico quer no grupo de controlo, a maioria dos sujeitos tinha uma idade inferior a 45 anos (60.5% e 53.1%, respectivamente), era do sexo masculino (55.6% nos dois grupos), pertencia ao nível socioeconómico baixo (51.9% e 53.1%) e estava casada ou vivia em união de facto (56.8% e 63%). Também nos dois grupos a maior parte dos participantes apresentava habilitações literárias ao nível do Ensino Básico (59.3% no grupo de controlo e 60.5% no grupo clínico), sendo que no grupo de controlo a maioria tinha uma escolaridade ao nível do 2º e 3º Ciclos (30.9%) e no grupo clínico as habilitações situavam‐se ao nível do 1º Ciclo para a grande parte dos doentes (28.4%). O teste do qui‐quadrado de Pearson para a análise da comparabilidade entre os dois grupos em termos das variáveis sociodemográficas revelou valores que não foram estatisticamente significativos. Deste modo, grupo clínico e grupo de con‐
trolo apresentavam características sociodemográficas similares. A respeito das características clínicas do grupo de doentes, 48.1% dos sujeitos foram diagnosticados há mais de 1 ano e a maioria encontrava‐se a receber trata‐
mento em regime de internamento (53.1%). A respeito do tipo de tratamento rea‐
Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 259 lizado, a maior parte dos doentes foi submetida a cirurgia conjuntamente com tra‐
tamentos complementares, designadamente quimioterapia e/ou radioterapia neo‐
‐adjuvantes e adjuvantes (40.7%). De entre aqueles que realizaram cirurgia, a maior parte foi submetida a cirurgia de conservação/excisão (51.9%). Instrumentos No presente estudo foi usada a versão em português de Portugal do Instrumen‐
to de Avaliação da QdV da OMS – WHOQOL‐100 (Canavarro et al., 2006), já descrita anteriormente. Os estudos psicométricos conduzidos numa amostra da população portuguesa atestam as suas boas qualidades de consistência interna (valores de alpha de Cronbach entre .84 e .94 para os domínios individualmente, .81 para o con‐
junto dos seis domínios, .93 para o conjunto das facetas e .97 para as 100 perguntas) e de estabilidade temporal (coeficientes de correlação teste‐reteste entre .67 e .86). A validade de constructo foi demonstrada pelas correlações positivas e moderadas entre os diferentes domínios do instrumento, assim como pelas intercorrelações também positivas e moderadas entre os 6 domínios e a faceta geral, e a validade discriminante pela capacidade do instrumento em diferenciar indivíduos doentes daqueles que pertenciam à população normal. Análises estatísticas Para o tratamento estatístico e análise dos dados recorremos à versão 15.0 do SPSS. Foram determinadas estatísticas descritivas para a caracterização socio‐
demográfica da amostra, utilizando‐se o teste do qui‐quadrado de Pearson para a análise da homogeneidade entre os grupos clínico e controlo. Para a comparação da QdV em ambos os grupos e para a análise da associação entre variáveis socio‐
demográficas e clínicas e QdV do grupo de doentes, usámos o teste t de student e a análise da variância (ANOVA) seguida dos testes post‐hoc. Os resultados com um nível de significância inferior a .05 foram considerados como estatisticamente sig‐
nificativos. Resultados Qualidade de Vida em Doentes com Tumor do Aparelho Locomotor A avaliação da QdV de doentes diagnosticados com sarcoma do aparelho locomotor partiu da comparação de médias entre o grupo de controlo e o grupo clínico nos diferentes domínios e faceta geral do WHOQOL‐100 (quadro 2). Observando o quadro 2, verificamos a existência de diferenças estatistica‐
mente significativas entre os dois grupos no domínio físico (t = 5.37; p <.001) e domínio nível de independência (t = 8.91; p <.001) da QdV, assim como na faceta geral (t = 4.44; p <.001). Nestes domínios do WHOQOL‐100 e na faceta geral da QdV, o grupo clínico obtém pontuações médias inferiores comparativamente ao grupo de controlo, sugerindo que, de um modo geral, os doentes com tumor do aparelho locomotor apresentam uma pior percepção de QdV nas dimensões refe‐
ridas, assim como uma pior QdV global, quando comparados com indivíduos 260 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Quadro 2: Comparação de médias nos diferentes domínios e faceta geral do WHOQOL‐100 Domínios + Faceta Geral D1 (Físico) D2 (Psicológico) D3 (Nível de Independência) D4 (Relações Sociais) D5 (Ambiente) D6 (Espiritualidade) QOL GERAL Controlos Média (DP) 63.12 (13.30) 68.67 (11.55) 77.97 (11.88) 69.03 (12.39) 61.73 (10.14) 64.66 (18.46) 69.06 (13.62) Doentes Média (DP) 49.37 (18.58) 64.68 (14.28) 52.35 (22.42) 68.40 (14.09) 59.67 (10.96) 68.36 (17,00) 57.58 (18.73) t p 5.37 1.93 8.91 0.30 1.23 ‐1.32 4.44 .000 .055 .000 .764 .222 .188 .000 “saudáveis”. Nos domínios psicológico, relações sociais e ambiente, embora o gru‐
po clínico revele pontuações médias inferiores, as diferenças encontradas não se mostraram significativas. Contudo, verificamos que no domínio psicológico o teste t de Student revelou um resultado limítrofe (t = 1.93; p = .055). Para o domínio espiritualidade, encontramos pontuações médias inferiores no grupo de controlo, se bem que, mais uma vez, a diferença não se tenha revelado significativa. Factores de Variabilidade da Qualidade de Vida Neste estudo procuramos ainda identificar os possíveis factores de variabili‐
dade da QdV em doentes com tumor do aparelho locomotor. Para o efeito, fomos analisar a associação entre as variáveis sociodemográficas e clínicas e as diferentes dimensões da QdV e faceta geral avaliadas pelo WHOQOL‐100. Factores sociodemográficos Idade Em relação à idade, encontrámos no domínio nível de independência pontua‐
ções médias superiores no grupo de doentes com menos de 45 anos (t = 3.63; p<.01), sendo que, no domínio espiritualidade, são estes doentes que apresentam uma pior percepção de QdV (t = ‐2.52; p <.05). Género Para a variável género, verificamos a existência de diferenças estatisticamen‐
te significativas no domínio espiritualidade do WHOQOL‐100. Designadamente, os doentes do sexo feminino obtiveram, em média, pontuações superiores compara‐
tivamente aos doentes do sexo masculino (t = ‐2.12; p < .05). Habilitações literárias No que se refere às habilitações literárias, não considerámos a categoria “sem escolaridade” na medida em que esta é representada apenas por um sujeito. Os resultados da ANOVA revelaram um efeito significativo da variável escolaridade no domínio nível de independência da QdV [F(3,74) = 4.04; p < .05]. Ao realizarmos os testes Post‐Hoc constatámos que os doentes com estudos superiores e os doentes Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 261 com habilitações literárias ao nível do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico obtêm pon‐
tuações médias superiores comparativamente aos doentes com habilitações ao nível do 1º ciclo. Estado civil Em relação ao estado civil, a categoria “viúvo(a)” não foi igualmente conside‐
rada uma vez que também ela é representada apenas por 1 sujeito. Verificamos um efeito significativo desta variável demográfica no domínio físico [F(2,77) = 3.90; p < .05] e nível de independência [F(2,75) = 3.90; p < .05] do WHOQOL‐100. Mais especificamente, em ambos os domínios da QdV, os testes Post‐Hoc revelaram que os doentes solteiros obtêm pontuações médias superiores comparativamente aos doentes casados ou em união de facto. Factores clínicos Tempo desde o diagnóstico Em relação ao tempo desde o diagnóstico, verificámos um efeito significativo no domínio espiritualidade da QdV [F(2,71) = 4.62; p <.05], evidenciando os testes Post‐Hoc que os doentes diagnosticados há menos de 6 meses obtêm, em média, pontuações superiores quando comparados com os doentes que receberam o diagnóstico há mais de 1 ano. Regime de tratamento Relativamente ao regime de tratamento, o teste t de student revelou diferen‐
ças estatisticamente significativas no domínio nível de independência (t = ‐3.80; p <.001) e na faceta geral de QdV (t = ‐2.93; p < .01). Designadamente, os doentes em regime de internamento manifestaram uma pior percepção de QdV nessa dimensão do WHOQOL‐100, assim como uma pior QdV global. Tipo de tratamento Finalmente, para o tipo de tratamento, os resultados da ANOVA evidenciaram um efeito significativo desta variável clínica no domínio nível de independência da QdV [F(2,59) = 3.74; p < .05]. Os testes post‐hoc revelaram que os doentes subme‐
tidos a quimioterapia obtêm pontuações médias inferiores comparativamente aos doentes que realizaram cirurgia e tratamentos complementares (quimioterapia e/ou radioterapia) neo‐adjuvantes e adjuvantes. Síntese dos resultados e discussão O presente trabalho evidencia a existência de diferenças significativas entre um grupo de doentes diagnosticados com sarcoma do aparelho locomotor e um grupo de controlo composto por indivíduos “saudáveis”, pertencentes à população geral, numa medida de avaliação da QdV. Designadamente, os nossos resultados 262 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes revelam que os doentes com sarcomas apresentam pontuações médias inferiores nos domínios físico e nível de independência, assim como na faceta geral, compa‐
rativamente aos controlos. Com efeito, na nossa amostra, os doentes com tumor do aparelho locomotor percepcionam uma pior QdV nas dimensões física e nível de independência, bem como uma pior QdV global. A QdV diminuída no domínio físico era esperada na medida em que os doen‐
tes do nosso grupo clínico apresentam uma doença crónica somática que tem associadas várias e importantes implicações físicas, já referidas noutro ponto deste trabalho. Também outros estudos realizados em doentes de sarcomas, inclusiva‐
mente com tumores ósseos e dos tecidos moles das extremidades, evidenciam os significativos compromissos que ocorrem nas dimensões físicas (cf. Aksnes e Bru‐
land, 2007; Aksnes, Hall, Jebsen, Fossa, e Dahl, 2007; Punyko et al., 2007; Thijs‐
sens, Hoekstra‐Weebers, van Ginkel, e Hoekstra, 2006). Atendendo à natureza específica deste tipo de cancro e aos compromissos no funcionamento físico e limitações funcionais que resultam da doença e do seu tra‐
tamento, seria também de esperar um impacto negativo no domínio nível de inde‐
pendência da QdV. Com efeito, tratando‐se de um tumor maligno primário que se desenvolve no osso e nos tecidos moles conjuntivos (incluindo ligamentos, ten‐
dões, músculos, cartilagens, bainhas nervosas, veias, tecidos sinoviais, entre outros), que se localiza no aparelho locomotor e cujos tratamentos são habitual‐
mente agressivos (podendo envolver cirurgias extensas, a amputação de membros e elevadas doses de quimioterapia e radioterapia), uma das áreas que se encontra mais comprometida é sem dúvida a mobilidade do doente. Por sua vez, são tam‐
bém comuns as dificuldades em realizar as actividades da vida diária e a diminui‐
ção da capacidade de trabalho, para além de que os doentes com sarcomas do aparelho locomotor encontram‐se bastante dependentes de medicação e de outros tratamentos, como aliás acontece em qualquer tipo de doença oncológica. Os nossos resultados são coerentes com os estudos conduzidos em doentes de sarcomas, os quais têm revelado problemas ao nível do funcionamento físico e compromissos funcionais caracterizados por restrições na mobilidade, limitações no desempenho das actividades diárias e menor capacidade para trabalhar ou para prosseguir os estudos (Marchese et al., 2007; Punyko et al., 2007; Thijssens et al., 2006). No domínio psicológico da QdV, embora os doentes com tumor do aparelho locomotor tenham apresentado uma pontuação média inferior comparativamente aos indivíduos “saudáveis”, a diferença encontrada não se revelou estatisticamen‐
te significativa, tendo o teste t de student evidenciado um resultado limítrofe (p = .06). A literatura no domínio da oncologia tem demonstrado que a grande maioria dos doentes oncológicos manifesta reacções emocionais esperadas, comuns e até mesmo adaptativas, as quais fazem parte de um processo normal de ajustamento (Bishop, 1994; Fawy e Fawzy, 1994; Holland, Greenberg, e Hughes, 2006). Deste modo, é consensual que a maior parte dos doentes com cancro acaba por se ajustar relativamente bem à sua doença, sendo que apenas uma minoria de 30%‐40% desenvolve problemas psicológicos clinicamente significativos (Bishop, 1994; Holland et al., 2006; Moorey e Greer, 2002). Assim sendo, tem sido sugerido que as implicações psicológicas do cancro não devem ser sobrestimadas e que a doença oncológica pode afectar menos o domínio psicológico da QdV do que Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 263 geralmente se pensa (Andrykowski, Carpenter, e Munn, 2003; White, 2001). Estu‐
dos realizados em doentes de sarcomas e em sobreviventes deste tipo de cancro, nos quais foram usados como instrumentos para a avaliação da QdV o SF‐36, o RAND‐36 e o EORTC QLQ‐C30, não encontraram igualmente um impacto significa‐
tivo na dimensão psicológica (Asknes et al., 2007; Hoffmann, Gosheger, Gebert, Jurgens, e Winkelmann, 2006; Thijssens et al., 2006). Neste estudo, os doentes diagnosticados com sarcoma do aparelho locomo‐
tor percepcionaram uma pior QdV global quando comparados com os indivíduos da população geral. Tendo em conta as consequências e limitações físicas, as difi‐
culdades funcionais, vocacionais e de mobilidade, as implicações psicológicas e até mesmo as sequelas a nível social (e.g. dificuldades no funcionamento e actividade sexual) que acompanham a patologia tumoral do aparelho locomotor e os seus tratamentos, era de esperar que a sua QdV global se encontrasse comprometida. Finalmente, no presente trabalho encontrámos ainda uma associação entre algumas variáveis sociodemográficas e clínicas e a QdV dos doentes com este tipo de cancro. Nomeadamente, as variáveis demográficas idade, género, habilitações literárias e estado civil, assim como as variáveis clínicas tempo desde o diagnósti‐
co, regime de tratamento e tipo de tratamento, revelaram‐se factores de variabili‐
dade da QdV no nosso grupo clínico. Diversos autores (Aksnes et al., 2007, Schrei‐
ber et al., 2006; Thijssens et al., 2006) verificaram igualmente uma influência das variáveis demográficas e clínicas na QdV de doentes com sarcomas a receberem tratamento, assim como em sobreviventes deste tipo de cancro, incluindo pacien‐
tes com tumores ósseos e dos tecidos moles do aparelho locomotor. Em género de conclusão, é importante referir que, na prática clínica, uma especial atenção deve ser colocada na avaliação do impacto não médico deste tipo específico de cancro, assim como se revela necessário desenvolver programas de reabilitação e intervenção psicossocial multidisciplinares que ajudem a pessoa a lidar com a doença e seus tratamentos e que promovam a sua QdV. Tais progra‐
mas deverão ser adaptados ao contexto socioeconómico e clínico do paciente. Futuramente será importante realizar investigações que examinem os efeitos específicos das variáveis sociodemográficas e clínicas na QdV destes doentes onco‐
lógicos (e.g. a influência dos tratamentos actuais que os doentes se encontram a realizar) e que permitam replicar os resultados encontrados no presente estudo. Notas finais Os instrumentos de avaliação da QdV que suportam os presentes estudos foram desenvolvidos por um grupo de peritos da OMS, tendo como base, por um lado, uma preocupação conceptual, fundamentada numa assunção do conceito de QdV como subjectivo, transcultural e multidimensional, e, por outro, uma forte preocupação metodológica, da qual é reflexo o rigoroso protocolo desenvolvido. Estes contornos históricos constituem‐se como os pontos‐fortes dos instrumentos da família WHOQOL e reflectem‐se, essencialmente, nos diferentes aspectos da sua concepção e utilização. Estes aspectos, associados à solidez psicométrica que os ins‐
trumentos têm revelado na sua validação e utilização em diferentes culturas, é res‐
ponsável pela grande divulgação que o WHOQOL tem tido, sendo dos instrumentos mais utilizados para avaliar QdV. 264 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Referências bibliográficas Aksnes, L. e Bruland, O. (2007). Some musculo‐skeletal sequelae in cancer survivors. Acta Oncologica, 46, 490‐496. Aksnes, L., Hall, K., Jebsen, N., Fossa, S., e Dahl, A. (2007). Young survivors of malignant bone tumours in the extremities: A comparative study of quality of life, fatigue and mental distress. Support Care Cancer, 15, 1087‐1096. Andrykowski, M. A., Carpenter, J. S., e Munn, R. K. (2003). Psychosocial sequelae of cancer diagnosis and treatment. In L.A. Schein, H.S. Bernard, H.I. Spitz, e P.R. Muskin (Eds.), Psychosocial Treatment for Medical Conditions: Principles and Techniques (pp.79‐131). New York: Brunner‐Routledge. Bardwell, W. A., Major, J. M., Rock, C. L., Newman, V. A., Thomson, C. A., Chilton, N. A., et al. (2004). Health‐related quality of life in women previously treated for early‐stage breast cancer: For the women’s healthy eating and living (whel) study group. Psycho‐Oncology, 13 (595‐604). Barraclough, J. (1999). Cancer and Emotion: A Practical Guide to Psycho‐Oncology. Chichester: John Wiley e Sons Ltd. Bing, E. G., Hays, R. D., Jacobson, L. P., Chen, B., Gange, S. J., Kass, N. E., et al. (2000). Health‐related quality of life among people with HIV disease: Results from the Multicenter AIDS Cohort Study. Quality of Life Research, 9, 55‐63. Bishop, G. D. (1994). Health Psychology: Integrating mind and body. Boston: Allyn and Bacon. Bloom, J. R., Kang, S. H., Petersen, D. M., e Stewart, S. L. (2007). Quality of Life in Long‐
‐Term Cancer Survivors. In M. Feuerstein (Ed.), Handbook of Cancer Survivor‐
ship. Bethesda: Springer. Bloom, J., Peterson, D., e Kang, S. (2007). Multi‐dimensional quality of life among long‐
‐term (5+ years) adult cancer survivors. Psycho‐Oncology, 16, 691‐706. Bonomi, A., Patrick, D., Bushnell, D., e Matin, M. (2000). Validation of the United States’ version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) in‐
strument. Journal of Clinical Epidemiology, 53, 1‐12. Canavarro, M. C., Vaz Serra, A., Pereira, M., Simões, M. R., Quintais, L., Quartilho, M. J. et al. (2006). Desenvolvimento do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL‐100) para Português de Por‐
tugal. Psiquiatria Clínica, 27 (1), 15‐23. Carver, C. S. (2005). Enhancing adaptation during treatment and the role of individual differences. Cancer, 104 (11 Suppl.), 2602‐2607. Custodio, C. M. (2007). Barriers to rehabilitation of patients with extremity sarcomas. Journal of Surgical Oncology, 95, 393‐399. CVEDT (2007). Infecção VIH/SIDA: A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2006. Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis. Doka, K. J. (1993). Living with Life‐Threatening Illness: a guide for patients, their families e caregivers. New York: Macmillan. Dorval, M., Maunsell, E., Deschenes, L., Brisson, J., e Masse, B. (1998). Long‐term qual‐
ity of life after breast cancer: comparison of 8‐year survivors with population controls. Journal of Clinical Oncology, 16 (2), 487‐494. Fawzy, F. e Fawzy, N. (1994). A structured psychoeducational intervention for cancer patients. General Hospital Psychiatry, 16, 14‐192. Felder‐Puig, R., Formann, A.K., Mildner, A., Bretschneider, W., Bucher, B., Windhager, R. et al. (1998). Quality of life and psychosocial adjustment of young patients af‐
ter treatment of bone cancer. Cancer, 83, 69‐75. Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 265 Ferlay, J., Autier, P., Boniol, M., Heanue, M., Colombet, M., e Boyle, P. (2007). Esti‐
mates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Annals of On‐
cology, 18 (3), 581‐592. Ferlay, J., Bray, F., Pisani, P., e Parkin, D.M. (2004). GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. Lyon: IARC Cancer Base Nº 5, version 2.0, IARC Press. Fleck, M. P. (2008). Problemas conceituais em qualidade de vida. In M.P. Fleck et al. (Eds.), A Avaliação de Qualidade de Vida: Guia para Profissionais de Saúde (pp. 19‐28). Porto Alegre: Artmed. Ganz, P. A., Coscarelli, A., Fred, C., Kahn, B., Polinsky, M.L., e Petersen, L. (1996). Breast cancer survivors: Psychosocial concerns and quality of life. Breast Cancer Re‐
search and Treatment, 38 (2), 183‐199. Ganz, P. A., Greendale, G. A., Petersen, L., Kahn, B., e Bower, J. E. (2003). Breast cancer in younger women: reproductive and late health effects of treatment. Journal of Clinical Oncology, 21 (22), 4184‐4193. Ganz, P. A., Rowland, J. H., Desmond, K., Meyerowitz, B. E., e Wyatt, G. E. (1998). Life after breast cancer: understanding women’s health‐related quality of life and sexual functioning. Journal of Clinical Oncology, 16 (2), 501‐514. Ginsberg, J.P., Rai, S.N., Carlson, C.A., Meadows, A.T., Hinds, P.S., Spearing, E.M. et al. (2007). A comparative analysis of functional outcomes in adolescents and young adults with lower‐extremity bone sarcoma. Pediatric Blood e Cancer, 49, 964‐
‐969. Han, K., Lee, P., Lee, S., e Park, E. (2003). Factors influencing quality of life in people with chronic illness in Korea. Journal of Nursing Scholarship, 35 (2), 139‐144. Heinemann, A.W. (2000). Functional status and quality‐of‐life measures. In R.G. Frank e T.R. Elliott (Eds.), Handbook of Rehabilitation Psychology (pp. 261‐285). Wash‐
ington, DC: American Psychological Association. Helgeson, V., e Cohen, S. (1996). Social support and adjustment to cancer: Reconciling descriptive, correlational, and intervention research. Health Psychology, 15 (2), 135‐148. Helgeson, V., e Tomich, P. (2005). Surviving cancer: A comparison of 5‐year disease‐
‐free breast cancer survivors with healthy women. Psycho‐Oncology, 14 (4), 307‐317. Helgeson, V., Snyder, P., e Seltman, H. (2004). Psychological and physical adjustment to breast cancer over 4 years: Identifying distinct trajectories of change. Health Psychology, 23 (1), 3‐15. Hoffmann, C., Gosheger, G., Gebert, C., Jurgens, H., e Winkelmann, W. (2006). Func‐
tional results and quality of life after treatment of pelvic sarcomas involving the acetabulum. The Journal of Bone and Joint Surgery, 88‐4 (3), 575‐582. Holland, J.C., Greenberg, D.B., e Hughes, M.K. (2006). Quick Reference for Oncology Clinicians: The Psychiatric and Psychological Dimensions of Cancer Symptom Management. IPOS Press. Holzner, B., Kemmler, G., Kopp, M., Moschen, R., Scheweigkofler, H., Dunser, M., et al. (2001). Quality of Life in Breast Cancer Patients – Not Enough Attention for Long‐Term Survivors. Psychosomatics, 42 (2), 117‐123. Kilian, R., Matschinger, H., e Angermeyer, M.C. (2001). Assessment the impact of chronic illness on subjective quality of life: A comparison between general population and hospital inpatients with somatic and psychiatric diseases. Clini‐
cal Psychology and Psychotherapy, 8, 206‐213. Knobf, M.T. (2007). Psychosocial responses in breast cancer survivors. Seminars in On‐
cology Nursing, 23 (1), 71‐83. 266 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes Kornblith, A.B. (1998). Psychosocial Adaptation of Cancer Survivors. In J. Holland (Ed.), Psycho‐Oncology (pp. 223‐254). New York: Oxford University Press. Kornblith, A.B., e Ligibel, J. (2003). Psychosocial and sexual functioning of survivors of breast cancer. Seminars Oncology, 30 (6), 799‐813. Kornblith, A.B., Powell, M., Regan, M.M., Bennett, S., Krasner, C., Moy, B., et al. (2007). Long‐term psychosocial adjustment of older vs younger survivors of breast and endometrial cancer. Psycho‐Oncology, 16, 895‐903. Lowy, A. e Bernhard, J. (2004). Quantitative assessment of changes in patients’ con‐
structs of quality of life: An application of multilevel models. Quality of Life Re‐
search, 13, 1177‐1185. Maguire, G., Lee, E. G., e Bevington, D. J. (1998). Psychiatric problems in the first year after mastectomy. British Journal of Medicine, 63, 515‐519. Marchese, V.G., Rai, S.N., Carlson, C.A., Hinds, P.S., Spearing, E.M., Zhang, L. et al., (2007). Assessing functional mobility in survivors of lower‐extremity sarcoma: Reliability and validity of a new assessment tool. Pediatric Blood and Cancer, 49, 183‐189. Massie, M., e Popkin, M. (1998). Depressive Disorders. In J. Holland (Ed.), Psycho‐
‐Oncology (pp. 518‐540). New York: Oxford University Press. Massie, M., e Shakin, E. (1993). Management of depression and Anxiety in Cancer Pa‐
tients. In W. Breitbart e J. C. Holland (Eds.), Psychiatric aspects of symptom management in cancer patients. Washington: American Psychiatric Press. Mercadante, S. (1997). Malignant bone pain: Pathophysiology and treatment. Pain, 69 (1‐2), 1‐18. Moorey, S. e Greer, S. (2002). Cognitive Behaviour Therapy for People With Cancer. Oxford: Oxford University Press. Moreira, H., Silva, S., e Canavarro, M.C. (2008). Qualidade de vida e ajustamento psi‐
cossocial da mulher com cancro da mama: Do diagnóstico à sobrevivência. Psi‐
cologia, Saúde e Doenças, 9 (1), 165‐184. Naughton, M.J. e Shumaker, S.A. (2003). The case for domains of function in quality of life assessment. Quality of Life Research, 12 (1), 73‐80. Nezu, A., e Nezu, C. (2007). Psychological Distress, Depression, and Anxiety. In M. Feuerstein (Ed.), Handbook of Cancer Survivorship (pp. 323‐337). Bethesda: Springer. Pais‐Ribeiro, J. (1994). A importância da qualidade de vida para a psicologia da saúde. Análise Psicológica, 2‐3 (XII), 179‐191. Pais‐Ribeiro, J. (2001). Qualidade de vida e doença oncológica. In M. R. Dias e E. Durá (Eds.), Territórios da Psicologia Oncológica (pp. 75‐98). Lisboa: Climepsi Edi‐
tores. Peuckmann, V., Ekholm, O., Rasmussen, N.K., Moller, S., Groenvold, M., Christiansen, P., et al. (2007). Health‐related quality of life in long‐term breast cancer survi‐
vors: nationwide survey in Denmark. Breast Cancer Research and Treatment, 104 (1), 39‐46. Pimentel, F. (2006). Qualidade de Vida e Oncologia. Coimbra: Almedina. Punyko, J.A., Gurney, J.G., Baker, K.S., Hayashi, R.J., Hudson, M.M, Liu, Y. et al. (2007). Physical impairment and social adaptation in adult survivors of childhood and adolescent rhabdomyo‐sarcoma: A report from the Childhood Cancer Survivors Study. Psycho‐Oncology, 16, 26‐37. Remple, V.P., Hilton, B.A., Ratner, P.A., e Burdge, D.R. (2004). Psychometric assess‐
ment of the Multidimensional Quality of Life Questionnaire for Persons with HIV/AIDS (MQOL‐HIV) in a sample of HIV‐infected women. Quality of Life Re‐
search, 13, 947‐957. Qualidade de Vida e Saúde: Aplicações do Whoqol 267 Rijo, D., Canavarro, M.C., Pereira, M., Simões, M.R., Vaz Serra, A., Quartilho, M.J., et al. (2006). Especificidades da avaliação da Qualidade de Vida na população portu‐
guesa: O processo de construção da faceta portuguesa do WHOQOL‐100. Psi‐
quiatria Clínica, 27 (1), 25‐30. Schreiber, D., Bell, R.S., Wunder, J.S., O’Sullivan, B., Turcotte, R., Masri, B.A. et al., (2006). Evaluating function and health related quality of life in patients treated for extremity soft tissue sarcoma. Quality of Life Research, 15, 1439‐1446. Schroevers, M., Ranchor, A., e Sanderman, R. (2003). The role of social support and self‐esteem in the presence and course of depressive symptoms: A comparison of cancer patients and individuals from the general population. Social Science e Medicine, 57, 375‐385. Skevington S.M., Sartorius N., Amir M., WHOQOL Group (2004). Developing methods for assessing quality of life in different cultural settings. Social Psychiatry Epi‐
demiology, 39, 1‐8. Starace, F., Cafaro, L., Abrescia, N., Chirianni, A., Izzo, C., Rucci, P., et al. (2002). Quality of Life assessment in HIV‐positive persons: application and validation of the WHOQOL‐HIV, Italian version. AIDS Care, 14 (3), 405‐415. Stenner, P., Cooper, D., e Skevington, S. (2003). Putting the Q into quality of life; the identification of subjective constructions of health‐related quality of life using Q methodology. Social Science e Medicine, 57, 2161‐2172. Thijssens, K.M., Hoekstra‐Weebers, J.E., van Ginkel, R.J., e Hoekstra, H. J. (2006). Qual‐
ity of life after hyperthermic isolated limb perfusion for locally advanced ex‐
tremity soft tissue sarcoma. Annals of Surgical Oncology, 13 (6), 864‐871. Tomich, P.L., e Helgeson, V.S. (2002). Five years later: a cross‐sectional comparison of breast cancer survivors with healthy women. Psycho‐Oncology, 11 (2), 154‐169. Vaz Serra, A., Canavarro, M.C., Simões, M.R., Pereira, M., Gameiro, S., Quartilho, M.J., et al. (2006a). Estudos Psicométricos do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL‐100) para Português de Portugal. Psiquiatria Clínica, 27 (1), 31‐40. Vaz Serra, A., Canavarro, M.C., Simões, M.R., Pereira, M., Gameiro, S., Quartilho, M.J., et al. (2006b). Estudos Psicométricos do Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL‐Bref) para Português de Portugal. Psiquiatria Clínica, 27 (1), 41‐49. Veach, T., Nicholas, D., e Barton, M. (2002). Cancer and the Family Life Cycle: A Practi‐
tioner’s Guide. New York: Brunner‐Routledge. White, C.A. (2001). Cognitive Behaviour Therapy for Chronic Medical Problems: A Guide to Assessment and Treatment in Practice. Chichester: John Wiley e Sons. WHO (2002a). WHOQOL‐HIV Instrument: Users Manual. Scoring and Coding for the WHO‐
QOL‐HIV Instruments. Geneva: World Health Organization. WHO/MSD/MER/02.1. WHO (2002b). WHOQOL‐HIV Instrument: The 120 questions with responses scales e 38 importance items. Geneva: World Health Organization. WHO/MSD/MER/02.3. WHOQOL Group (1993). Study protocol for the World Health Organization project to develop a Quality of Life assessment instrument (WHOQOL). Quality of Life Re‐
search, 2, 153‐159. WHOQOL Group (1994). Development of the WHOQOL: Rationale and current status. International Journal of Mental Health, 23 (3), 24‐56. WHOQOL Group (1995). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science e Medicine, 41 (10), 1403‐1409. 268 Maria Cristina Canavarro, Marco Pereira, Helena Moreira, Tiago Paredes WHOQOL Group (1998). The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Development and general psychometric properties. Social Science e Medicine, 46 (12), 1569‐1585. WHOQOL‐HIV Group (2003). Initial steps to developing the World Health Organization’s Quality of Life Instrument (WHOQOL) module for international assessment in HIV/AIDS. AIDS Care, 15 (3), 347‐357. WHOQOL‐HIV Group (2004). WHOQOL‐HIV for quality of life assessment among people living with HIV and AIDS: Results from the field test. AIDS Care, 16 (7), 882‐889. Wu, A.W. (2000). Quality of life assessment comes of age in the era of highly active antiretroviral therapy. AIDS, 14, 1449‐1451. Zimpel, R.R. (2003). Avaliação da Qualidade de Vida em Pacientes com HIV/AIDS. Dis‐
sertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Manuscrito não publicado. Zimpel, R.R., e Fleck, M.P. (2007). Quality of life in HIV‐positive Brazilians: application and validation of the WHOQOL‐HIV, Brazilian version. AIDS Care, 19 (7), 923‐
‐930. REHABILITACIÓN COGNITIVA María Victoria Perea La rehabilitación de las personas con daño cerebral tiene como objetivo el restablecimiento del funcionamiento más óptimo posible a nivel cognitivo, psico‐
lógico y social, para que la persona pueda adquirir un desarrollo autónomo en su vida diaria. Para ello, es importante el trabajo conjunto entre el paciente y los pro‐
fesionales, en coordinación con los familiares y recursos externos. Los objetivos de la rehabilitación neuropsicológica han de coincidir con los objetivos de cualquier otro programa de intervención en que participe el paciente, y cuando la plena reintegración familiar, social y laboral no sea posible, el proceso de rehabilitación se centrará en facilitar a las personas afectadas los recursos necesarios que garanticen la mejor calidad de vida posible. El primer caso de rehabilitación neuropsicológica (RN) se debe a P. Broca en 1865, quien tras reconocer su imposibilidad para enseñar a leer a un paciente afá‐
sico, utilizó diferentes estrategias de lectura de letras, sílabas, palabras, hasta con‐
seguir la lectura. Las primeras aproximaciones a la RN de forma sistemática se hicieron en Alemania a principios del siglo XX (1ª guerra mundial). Walter Poppel‐
reuter en 1914 creó un centro de rehabilitación en Colonia, para la rehabilitación de pacientes con problemas visuales tras herida de bala, resaltó la importancia de la integración de equipos multidisciplinares en los procesos de RN, el apoyo social y el entrenamiento en actividades de la vida diaria. Kurt Goldstein en 1916 fundó el Instituto para la Investigación de los defectos del daño cerebral en Francfort. Puso de manifiesto la importancia de las pautas de ejecución en los test y no tanto los aspectos cuantitativos de los mismos. Resaltó el interés en los procesos de restauración y sustitución de funciones. A. R. Luria (1902‐1977) planteó una aproximación rigurosa y científica a la rehabilitación del daño cerebral. Destaca su modelo comprensivo del funciona‐
miento cerebral (Psicología Soviética); la aproximación individualizada de las técni‐
cas en cada caso; la utilización de las vías intactas; la reorganización de los Siste‐
mas Funcionales Cerebrales después de una lesión y la necesidad de proveer de feedback a los pacientes para aportarles información constante de su ejecución en las tareas. Las consecuencias de las lesiones cerebrales no permanecen estables, sino que sus efectos se modifican en el tiempo. El impacto de las enfermedades debe ser medido en función del deterioro, daño o incapacidad (impairment), discapaci‐
dad (disability) y de la minusvalía (handicap) que provocan, OMS (1980). Teniendo ALICERCES, Lisboa, Edições Colibri / Instituto Politécnico de Lisboa, 2010, pp. 269‐284. 270 María Victoria Perea en cuenta estos tres aspectos: el deterioro, considerado como los síntomas y sig‐
nos consecuencias del daño orgánico causado por la enfermedad; la discapacidad, referida a las limitaciones que aparecen para las actividades de la vida diaria (AVD) y la minusvalía, situación ambiental que limita a la persona discapacitada, deberán organizarse los programas de rehabilitación. El primer requisito a tener en cuenta en rehabilitación cognitiva es hacer explícito el objetivo de la intervención. ¿Que queremos re‐entrenar, o restaurar en un sistema cognitivo dañado? ¿O que intentamos entrenar en los pacientes para compensar sus déficit? y ¿a través del uso de que estrategias alternativas? El sis‐
tema dañado puede restaurarse o por lo menos mejorarse por los ejercicios estructurados y la práctica usando tareas que contengan elementos similares a la habilidad objetivo. A veces el sistema dañado no puede ser restaurado por la prác‐
tica exclusivamente y el objetivo de la RC debe ser proporcionar al sujeto las técni‐
cas y/o los dispositivos que le permitirán el máximo de independencia en las acti‐
vidades de la vida diaria. El acercamiento compensatorio ha ganado aceptación en los últimos años ya que la restauración de funciones no se generaliza en muchos casos. La restauración de funciones tiene algún éxito con las habilidades cognitivas básicas como la atención y la velocidad de procesamiento (Benedict y Harris, 1989). Ambos acercamientos presuponen algún grado de conciencia del déficit y consecuente la necesidad de usar las técnicas de aprendizaje. Para poder comprender los diferentes modelos de rehabilitación cognitiva, es necesario comprender el concepto de Sistema Funcional Cerebral (SFC). Un SFC es un sistema dinámicamente estable de vínculos o relaciones entre diferentes áreas corticales y subcorticales, cada una de las cuales aporta un determinado factor cognitivo, para el establecimiento de una determinada función psicológica. Los SFC son el resultado de la adquisición ontogenética, únicamente factible por la vía del aprendizaje (espontáneo y sistemático; práctico y lingüístico) que el individuo realiza en el curso de su vida en condiciones sociales de existencia (fami‐
lia, trabajo, estudios, etc.). Hay una especificidad de la información que está defi‐
nida anatómicamente y que es el resultado del proceso evolutivo del SNC (vías ópticas, acústicas, termoalgesia, etc.). A lo largo de la vida se organizan trayecto‐
rias específicas de circulación de la información, propias de cada sujeto. Por otra parte los componentes de una única función compleja, se represen‐
tan en lugares distintos del sistema nervioso, interconectados, constituyendo colectivamente una red integrada para esa función. Las áreas corticales individua‐
les contienen el sustrato neural de componentes de varias funciones complejas y pueden pertenecer a diferentes redes que, en parte, se solapan. De esta manera las lesiones confinadas a una única región cortical es probable que provoquen defectos múltiples. Los déficit neuropsicológicos restan autonomía al individuo y le discapacitan para llevar a cabo una serie de actividades que antes le resultaban rutinarias y que son necesarias o incluso fundamentales para desempeñar algunos de los roles ejercidos previamente a la lesión (marido, madre, estudiante, profesional) y que forman parte de su identidad y su proyecto de vida. Esta disminución o pérdida de autonomía e independencia del paciente, así como los posibles cambios conductuales y emocionales experimentados tras el daño cerebral adquirido tienen consecuencias importantes en la estructuración Rehabilitación Cognitiva 271 familiar. Tanto los roles como la situación económica y social de la familia pueden verse alterados y es muy importante que los cuidadores busquen apoyo y ayuda para poder, a su vez, ayudar mejor. La modalidad y severidad de los déficits cognitivos, así como la estimación de un pronóstico funcional, dependen esencialmente de la etiología, naturaleza, extensión y localización de la lesión. En el desarrollo de la rehabilitación cognitiva influye entre otros factores la forma de inicio, la instauración de la lesión. Hay que valorar si la lesión tuvo un inicio brusco, agudo o fue el resultado de una patología lentamente progresiva. Generalmente una lesión lenta producirá menos daños y más recuperación que una lesión rápida, con la misma extensión. No solo hay que valorar la localización de la lesión sino también como y cuando esa lesión se pro‐
duce. En los programas de rehabilitación hay que tener en cuenta que los trastor‐
nos severos y de larga duración de una función compleja individual, suponen por lo general la implicación simultánea de varios componentes de la red relevante. Otros indicadores importantes para la estimación del pronóstico son la dura‐
ción del período de coma y la duración de la amnesia post‐traumática. Sin embar‐
go, factores personales como la edad, el nivel educativo o la personalidad premór‐
bida, así como el grado de desorientación (personal, espacial y temporal), la presencia o ausencia de conciencia del déficit y alteraciones conductuales severas tras el DCA, son importantes en la determinación del nivel y ritmo de recuperación de las alteraciones neuropsicológicas. Además del tamaño de la lesión hay muchas variables que afectan a la tasa de recuperación. Esas variables son la edad, el sexo, la mano dominante, la inteligen‐
cia y la personalidad. En términos generales, se estima que la recuperación des‐
pués de una lesión cerebral sea mayor si el paciente es una mujer joven, inteligen‐
te, optimista y zurda. En cuanto a la edad se ha verificado, en diversos estudios que la recuperación de soldados con lesiones cefálicas fue mayor en el grupo que tenía entre 17 y 20 años que en el de 21 a 25 años, y ésta fue mayor que en el grupo mayor de 26 años. Que los pacientes mayores de 40 años a quienes se extirpó la zona del len‐
guaje en la región temporal posterior del hemisferio izquierdo tuvieron una recu‐
peración menor que los pacientes más jóvenes. Sin embargo, la edad no siempre es un factor significativo en la recuperación, porque contribuye al establecimiento de muchos tipos de lesiones cerebrales; los accidentes vasculares y otras enferme‐
dades cerebrales son más comunes en las personas mayores, y tienen más proba‐
bilidades de sufrir un detrimento de las funciones motora y cognitiva por los pro‐
cesos normales inherentes al envejecimiento. De ahí que la recuperación podría ser enmascarada por la senectud. La mano dominante y el sexo podrían influir en la evolución de la lesión cere‐
bral. Varias teorías afirman que el cerebro femenino y el masculino difieren tanto en el aspecto anatómico como en el de la organización funcional y los estudios por imágenes revelan menor lateralización funcional en las mujeres. Considerando los datos de los estudios por imágenes, las mujeres revelan mayor activación funcio‐
nal bilateral y, por tanto, también deberían mostrar una recuperación funcional más importante. De la misma manera, los individuos con mano izquierda dominante parecen tener una función menos lateraliza da que los diestros, lo cual vuelve a resultar 272 María Victoria Perea ventajoso en el reclutamiento de regiones indemnes después de una lesión cere‐
bral. Por lo general, se considera que los individuos más inteligentes se recuperan mejor que los menos inteligentes. No hay una razón obvia que explique esta dife‐
rencia, aunque las propiedades neurológicas que permiten que la inteligencia sea superior podrían ofrecer una ventaja después de la lesión. Por ejemplo, las perso‐
nas más inteligentes podrían tener más plasticidad cerebral y, en consecuencia, responderían mejor a la adaptación tras la lesión aunque esta posibilidad no es fácil de comprobar. Como alternativa, los individuos más inteligentes podrían ser capaces de desarrollar más estrategias para resolver problemas que los menos inteligentes. Una complicación es que, aunque la recuperación definitiva de un individuo muy inteligente pueda ser óptima en relación con la recuperación de otras personas, la deficiencia residual podría ser la misma porque el individuo muy inteligente requiere un nivel de funcionamiento superior. De hecho, los pacientes con inteligencia superior suelen quejarse más por los efectos negativos de las defi‐
ciencias residuales sobre la calidad de vida. El papel de la personalidad en la recuperación es difícil de evaluar, pero se piensa, por lo general, que los individuos optimistas, extravertidos y tranquilos tie‐
nen mejor pronóstico después de una lesión cerebral. Una razón de esto podría ser que los más optimistas respecto de su recuperación tienen más probabilidades de adaptarse a los programas de rehabilitación. Desafortunadamente, la lesión cere‐
bral puede ejercer una influencia negativa sobre la personalidad. Por ejemplo, los pacientes pueden volverse depresivos y, como consecuencia, su recuperación podría ser escasa o, cuando menos, lenta. Los organismos vivos poseen una habilidad para modificar su conducta a través de mecanismos complejos que constituyen la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral implica un ámplio rango de respuestas que el organismo pone en marcha para adaptarse a los requerimientos de su entorno (caminar, comer o resolver pro‐
blemas). Son respuestas individuales, diferentes en cada sujeto y que cada organis‐
mo desarrolla para responder a las demandas externas e internas. Constituye la suma de recursos que el organismo utiliza para cumplir sus objetivos. La plasticidad cerebral esta sujeta a posibles variaciones que pueden ocurrir en el desarrollo indivi‐
dual. Incluye los cambios estructurales y funcionales que se producen en el proceso de desarrollo o de cambio cuya finalidad es la modificación del funcionamiento con‐
ductual con el fin de adaptarse a las demandas de un contexto particular. El sistema nervioso no es un sistema estático, sino que cambia con el tiempo. Esta capacidad de cambiar, que es una de las características más importantes del sistema, puede observarse incluso en los organismos más simples. En el caso de lesiones cerebrales, los factores tróficos endógenos que se producen en zonas próximas a la lesión permiten la supervivencia de las neuronas y son la base de la llamada recuperación espontánea. Para que un animal aprenda un tipo de asociaciones, el sistema nervioso debe sufrir alguna forma de cambio que permita codificar esta asociación. Por lo tanto, como regla general, podemos afirmar que los cambios en el comportamiento, que se describen (de acuerdo con las circunstancias) como aprendizaje, memoria, hábitos, maduración, recuperación y otros, se asocian con los cambios correspondientes en el sistema nervioso. Para comprender procesos como la memoria y la adquisición de hábitos es necesario entender la naturaleza de la plasticidad cerebral. Rehabilitación Cognitiva 273 La plasticidad cerebral puede evaluarse a muchos niveles, desde los cambios observables en la conducta hasta mapas cerebrales, organización sináptica, orga‐
nización fisiológica, estructura molecular y mitosis. A continuación consideraremos cada uno de estos niveles. El aprendizaje y el recuerdo de la información nueva se vinculan con algún tipo de cambio en las células del sistema nervioso. Se considera que estos cambios constituyen el registro neurológico de la información aprendida. Deducción de la plasticidad a partir de los cambios en la conducta. Todos los sistemas sensitivos desarrollan muchos mapas que son las repre‐
sentaciones topográficas del mundo externo. Los homúnculos presentes en la cor‐
teza motora y somatosensitiva representan ejemplos de estas representaciones. Para determinar el tamaño y la organización de los mapas motores se puede esti‐
mular la corteza directamente, recurrir a la estimulación magnética para inducir movimientos o mediante la utilización de imágenes funcionales para elaborar mapas de las áreas activadas cuando el individuo realiza diferentes actividades. Los resultados de los estudios en ratas, monos y seres humanos demostraron que el entrenamiento motor específico podía aumentar el tamaño de los diversos com‐
ponentes de los mapas motores. Es la plasticidad en los mapas corticales. El estudio de la organización sináptica se llevó a cabo con tinciones similares a la de Golgi para mostrar las arborizaciones dendríticas y con microscopio electró‐
nico para examinar el número y el tamaño de las sinapsis. Jacobs y col. examinaron la estructura dendrítica de las neuronas en diferentes regiones corticales que intervenían en diversas tareas computarizadas. Estos autores trataron de determinar si existía una relación entre la complejidad de la ramificación dendrítica en un área determinada y la naturaleza de la tarea realizada en ella. Por ejemplo, cuando compararon la estructura de las neuronas presentes en la repre‐
sentación somatosensitiva del tronco con la estructura de las neuronas pertenecien‐
tes a la representación somatosensitiva de los dedos hallaron mayor complejidad en el segundo grupo de células. Así mismo, cuando compararon las células del área de los dedos con las de la circunvolución supramarginal, que es una región del lóbulo parietal asociada con procesos cognitivos superiores (o sea, con el pensamiento), hallaron que las neuronas situadas en éste eran más complejas. Estos autores postularon que las experiencias vitales predominantes, como la profesión de un individuo, debían alterar la estructura de los árboles dendríticos. Cuando compararon las células de las áreas torácica y digital y de la circunvolución supramarginal encontraron diferencias individuales llamativas. En todas las especies de animales evaluadas, se observaron cambios dependientes de la experiencia. Plasticidad en la organización fisiológica. La hipótesis general evaluada en los estudios fisiológicos de plasticidad cerebral es que el sistema nervioso puede modificarse por estimulación eléctrica. Dos ejemplos importantes de estos cam‐
bios son la potenciación a largo plazo y el encendido (kindling). Bliss y Lomo (1973) informaron que una estimulación eléctrica breve de alta frecuencia aplicada en el hipocampo producía un cambio duradero en la eficacia de las sinapsis activadas por la estimulación y denominaron a este fenómeno potenciación a largo plazo (PLP) o intensificación a largo plazo (ILP). Muchos autores adoptaron esa modificación sináptica como modelo general de la manera en que se podría desarrollar el aprendizaje simple (o, incluso, formas más 274 María Victoria Perea complejas de aprendizaje), aunque otros juzgan esta hipótesis con gran escepticis‐
mo. De todos modos, la PLP sigue siendo un ejemplo importante de plasticidad sináptica; considerado ahora como característica de las células de la neocorteza cerebral y del hipocampo, y se demostró una correspondencia con diversos cambios moleculares, así como con modificaciones en la morfología de las dendritas. El encendido se refiere a la aparición de actividad convulsiva persistente des‐
pués de la exposición repetida a un estímulo inicialmente subconvulsivante. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Graham Goddard, quien describió de manera casual que la estimulación de la amígdala, aunque al comienzo causaba un cambio conductual leve, llevaba luego al desencadenamiento convulsiones epilép‐
ticas. Al igual que la PLP, se considera que el encendido activa mecanismos simila‐
res a los activados, por lo menos, en algunas clases de aprendizaje. Este mecanis‐
mo se puede demostrar en la mayoría de las estructuras prosencefálicas y, al igual que la PLP, se asocia con una modificación de la organización sináptica y con una serie de procesos moleculares, como la producción de factores de crecimiento. Plasticidad en la estructura molecular. Los estudios que emplean mapas de Golgi o técnicas fisiológicas para demostrar los cambios cerebrales en respuesta a la experiencia son fenomenológicos, es decir describen y clasifican hechos pero no los explican. Si se desea conocer la razón por la cual el cerebro cambia o la manera en que esto se produce, es preciso evaluar los mecanismos que permiten estas modifica‐
ciones sinápticas. En el análisis final se debe considerar la forma en que se produ‐
cen las diversas proteínas, y esto, en definitiva, significa determinar los efectos de la experiencia sobre los genes. El desarrollo de técnicas nuevas para la detección de genes, como el sistema gene‐chip, permitió a los investigadores tomar fragmen‐
tos de tejido cerebral y usarlos para analizar los genes afectados por una experien‐
cia en particular. Si ciertos genes están presentes en el tejido, reaccionarán con una sustancia en uno de los sitios del chip. Esta técnica aporta gran cantidad de información acerca de los genes que se modifican cuando, por ejemplo, se coloca a un animal en un ambiente complejo en lugar de un ambiente privado de estímulos; sin embargo, todavía no se ha descubierto el significado de estos cambios en reacción con la función cerebral. Comprender la forma en la cual los genes son alterados por las experiencias es un paso importante para determinar la manera en que puede reforzarse (o ate‐
nuarse) el desarrollo de cambios plásticos en el cerebro, en especial, los que se producen después de una lesión. A fines de la década de 1990 se descubrió no sólo que el cerebro adulto era capaz de formar neuronas y glía nuevas, sino que además la generación de las células se veía afectada por la experiencia. Tanto el bulbo olfatorio como el hipo‐
campo de los mamíferos (incluso el ser humano) incorporan neuronas nuevas en su circuito. Es conocido el debate acerca de si las neuronas nuevas se generaban en la corteza cerebral normal no lesionada. En la corteza lesionada sí se producen pequeñas cantidades de neuronas nuevas, y esto hizo pensar que la lesión cortical podría tratarse por medio del in cremento de la producción de células corticales. Sin embargo, si la corteza cerebral indemne puede producir neuronas nuevas, Rehabilitación Cognitiva 275 éstas se forman en un número verdaderamente escaso. Rakic observó que, aun‐
que los tumores compuestos por astrocitos (astrocitomas), por ejemplo, se desar‐
rollan con frecuencia en la edad adulta, apenas aparecen tumores neuronales (neuromas), hecho que indica la rareza de la producción de neuronas nuevas durante esta etapa de la vida. Sugiere que si se comprendiera la razón por la cual las neuronas no se generan con mayor frecuencia, podría determinarse la forma de detener el crecimiento tumoral de otros tipos de células corporales, entre los que se hallan los astrocitos. Se considera que las neuronas nuevas que se producen en el bulbo olfatorio y en el hipocampo cumplen cierta función. Es probable que las neuronas nuevas sus‐
tituyan a otras viejas; sin embargo, la supervivencia de estas neuronas nuevas no es un hecho seguro y puede verse afectada por muchos tipos de experiencias. En especial destaca que cuando los animales activan el hipocampo para resol‐
ver algún problema neuropsicológico, la supervivencia de las células granulares nue‐
vas aumenta. Cabe especular que la supervivencia celular se relaciona con el desar‐
rollo eficaz de una tarea. Si esto es así implica que el aprendizaje podría verse influenciado si la proliferación o la supervivencia celular son alteradas. También se hay señalar que el estrés produce una disminución de la proliferación y de la super‐
vivencia de las células presentes en el hipocampo, hecho interesante a la luz de la evidencia de que el estrés reduce la eficiencia mental y, en especial, puede deterio‐
rar algunas formas de memoria. Tal vez sea incluso más importante mencionar que el estrés crónico se relaciona con depresión y que los antidepresivos que estimulan la producción de serotonina (o sea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS, como la fluoxetina) también incrementan la producción de neu‐
ronas en el hipocampo. Estas observaciones sugieren que la actividad terapéutica de los antidepresivos puede relacionarse con su capacidad de estimular la neurogénesis que, a su tiempo es susceptible de modificar la actividad mental. La neurogénesis es una forma selectiva de plasticidad que podría ser impor‐
tante en las conductas relacionadas con el bulbo olfatorio y con el hipocampo, aunque la función exacta de la producción y la supervivencia de las células hasta el momento es, en gran medida, un tema especulativo. Es conocido que es posible cierta recuperación de la función después de una lesión del sistema nervioso, pero todavía no se conoce bien la naturaleza y los mecanismos relacionados con estos procesos. Un problema importante es la falta de una definición de que se entiende por recuperación. Este término podría signi‐
ficar un retorno completo de la función, una mejoría observable de la misma o, en realidad, cualquier grado de progreso. Otro problema es la falta de conocimientos relacionados con los cambios plásticos que podrían producirse en el sistema nervioso después de la lesión. La naturaleza de estos cambios influirá sobre la manera de conceptualizar los proce‐
sos relacionados con la recuperación. Muchos autores sostienen que, en realidad, lo que se produce después de una lesión cerebral es que los pacientes no recuperan las conductas o las capaci‐
dades perdidas, sino que desarrollan una nueva forma de funcionamiento com‐
pensador. Pero no todos los progresos logrados después de la lesión cerebral representan una compensación, parte de estos adelantos son el resultado de una recuperación funcional. 276 María Victoria Perea Está claro que en el cerebro del lactante es posible cierta recuperación fun‐
cional, y el mejor ejemplo de ello es la recuperación parcial de las funciones del lenguaje después de la hemisferectomía izquierda. Pero, incluso esta “recupera‐
ción” no es completa e implica un mecanismo de compensación en el sentido de que el hemisferio derecho toma el control del habla, función que se desarrolla en detrimento de algunas de las tareas habituales de ese hemisferio. Algunos autores consideran que la verdadera recuperación solo es posible si se reemplaza y se estimula al cerebro lesionado para que funcione como el cere‐
bro original, pero esta hipótesis no parece representar una opción para el cerebro adulto en un futuro cercano. En consecuencia, un objetivo para quienes estudian la rehabilitación es encontrar maneras de estimular el desarrollo de respuestas plásticas en el cerebro para lograr la mejor compensación posible. Pocas veces la recuperación de la función es súbita. El examen de los estadios de la recuperación funcional y de las conductas asociadas, con frecuencia revela la reaparición lenta de las funciones recuperadas en forma similar a la secuencia de los estadios de desarrollo observados en los lactantes. La lesión produce alteraciones funcionales que son la consecuencia de la des‐
trucción del tejido cerebral. Solo en algunos casos la lesión conlleva efectos irre‐
versibles, en la mayoría de los casos la actividad del sistema puede ser rehabilitada y se produce la reorganización funcional. Si el daño sobre los sistemas neuronales es irreversible, la rehabilitación solo es posible creando un nuevo sistema funcio‐
nal sobre la base de las funciones que se mantienen indemnes. Para ello se utilizan varias estrategias, fundamentalmente se basan en dos mecanismos: intrasistémi‐
cos e intrasistémicos. Los intrasistémicos se basan en el entrenamiento del sujeto para realizar las tareas utilizando niveles más básicos o más elevados dentro del mismo sistema funcional. La intersistémica se basa en el entrenamiento del paciente para que utilice otros sistemas cerebrales. Se potencia la capacidad del sujeto para reorganizar las funciones cognitivas para minimizar o salvar una determinada incapacidad. En ocasiones es una recupe‐
ración espontánea y ocurre sin la participación explícita del paciente, pero en otros casos es necesaria la participación de expertos en rehabilitación cognitiva para que se produzca la recuperación funcional. En otros casos es la construcción de un método nuevo de respuesta el que reemplaza el daño producido por la lesión cerebral. Se habla entonces de Sustitu‐
ción. Por medio de la intervención se busca el aprendizaje de un nuevo tipo de respuestas, búsqueda de nuevas formas o vías para resolver un problema, sobre la base de las funciones que se mantienen indemnes. La reorganización no es siem‐
pre beneficiosa a veces las conexiones nerviosas que se reorganizan no son las adecuadas. La Plasticidad en estos casos no se produce de forma pertinente. De la misma manera que se puede investigar la plasticidad en el cerebro normal en sus diferentes niveles, es posible evaluarla en el cerebro lesionado. Hasta ahora, la mayor parte de la investigación se ha centrado en los cambios observados mediante estudios, diagnósticos por imágenes funcionales o de estimulación cerebral. Los cambios funcionales después de un accidente cerebro vascular constitu‐
yen una excelente ventana hacia la plasticidad cerebral. Si los pacientes pueden recuperarse después del accidente a pesar de haber perdido áreas significativas de la corteza cerebral, podemos llegar a la conclusión de que se ha producido algún tipo de cambio en las partes remanentes del cerebro. Rehabilitación Cognitiva 277 Las técnicas diagnósticas por imágenes funcionales, en especial la tomografía por emisión de positrones (PET), la resonancia magnética funcional (RMf) y la estimulación magnética transcraneal (EMT), se usan muchas veces durante sema‐
nas y meses posteriores al accidente vascular para documentar los cambios en la activación cerebral que podrían correlacionarse con los progresos funcionales. De las investigaciones realizadas se derivan las siguientes conclusiones: 1. Si la corteza sensitivomotora sobrevive al accidente vascular es probable que se produzca cierto grado de mejoría funcional con el paso del tiempo, incluso aunque se desarrolle hemiparesia inmediatamente después del accidente. 2. La activación de las áreas motoras durante los movimientos de las extremi‐
dades recluta áreas corticales a lo largo del margen de la lesión. Además, áreas grandes de la corteza motora son a menudo activadas por movimientos concretos. Por ejemplo, los movimientos de las manos o de las extremidades activan con fre‐
cuencia regiones de la cara, posiblemente, porque fibras piramidales indemnes abandonan esta área. 3. Los movimientos de los pacientes activan zonas corticales mucho más grandes, en especial de las áreas parietal y premotora, en comparación con movi‐
mientos similares en individuos del grupo control. Estas regiones activadas se extienden tanto a las funciones del lenguaje como a las motoras. 4. La reorganización no se limita a un hemisferio, sino que se producen cam‐
bios similares bilateralmente. Por lo tanto, aunque, en condiciones normales, la ejecución de una tarea motora sólo activa la corteza contralateral, el cerebro del paciente que ha sufrido un ictus muestra un aumento notable de la activación bila‐
teral. La activación incrementada en el hemisferio contralateral es más acentuada en pacientes con trastornos del lenguaje, en quienes las regiones opuestas a las áreas del lenguaje (denominadas áreas homólogas) muestran activación. 5. La capacidad de reorganización disminuye con el aumento de la extensión del ictus y con el avance de la edad. Es probable que la relación con el tamaño de la lesión se deba a que la presencia de regiones dañadas parcialmente, como el área de Wernicke, constituye un factor de buen pronóstico de la mejora funcional. Debe recordarse que, en la afasia, la gravedad de la deficiencia inicial se correla‐
ciona con la evolución posterior. Probablemente, la magnitud del déficit inicial esté relacionada con la extensión de la lesión. 6. Hay una variabilidad considerable entre los pacientes con ictus. Esta varia‐
bilidad se relaciona con las diferencias en el grado de activación antes del acciden‐
te y es, sobre todo, manifiesta en lo que refiere al lenguaje Los pacientes con mayor activación bilateral de las funciones relacionadas con el lenguaje después del ictus podrían ser los que ya presentaban cierta activación bilateral antes de la lesión como ocurre en los zurdos. Programas de rehabilitación neuropsicológica En los años 80 se incrementa el desarrollo de los programas multidisciplinares de rehabilitación neuropsicológica. Los programas de rehabilitación son procedimientos, que consisten en tera‐
pias conductuales y psicológicas diversas. Parecería lógico que los pacientes con lesiones cerebrales deban someterse a algún tipo de programa de rehabilitación. 278 María Victoria Perea Sin embargo, los neurocientíficos tienen tan información con respecto a la eficacia de las diferentes tipos de Programas de Rehabilitación, del momento óptimo para iniciarlos o, incluso, de la duración óptima del tratamiento. Un programa de reha‐
bilitación debe partir de modelos teóricos de referencia. Es necesario adoptar una perspectiva interdisciplinar y no olvidar a la persona y su contexto. Hay que establecer un orden de prioridades en el proceso de rehabilitación, llevando a cabo una planificación de las funciones cognitivas y problemas emocio‐
nales sobre los que se va a trabajar y el orden de dicha intervención. Ej: trabajar primero problemas atencionales o el control de pautas de comportamiento (agre‐
sividad). Hay que comenzar la intervención de forma precoz. Los avances más espectaculares se producen en los dos primeros meses y luego los procesos tien‐
den a estabilizarse. Pero años después de la lesión el paciente puede adquirir nue‐
vas pautas de conducta más adaptativos. Hay que emplear el tiempo suficiente de tratamiento. A veces fracasa la RN por un número insuficiente de sesiones para establecer nuevas estrategias, conso‐
lidar las habilidades entrenadas y generalizar su empleo en situaciones cotidianas. La rehabilitación debe estar centrada en la discapacidad. Es preciso ayudar a mejorar la calidad de vida, autocuidado, independencia, integración social y labo‐
ral mas que alcanzar mejor puntuación en los test o programas. A veces es necesa‐
ria la RN en su entorno natural donde se manifiestan los problemas con toda su intensidad. Por otra parte las habilidades conservadas deben ser la base del tratamiento y cuando no es posible restituir o reparar la función dañada habrá que plantearse la sustitución o la compensación de la misma. Es imprescindible considerar las variables emocionales ya que pueden ser consecuencia del impacto psicológico que la lesión provoca en el paciente (reac‐
ción catastrófica ante el déficit), o pueden deberse a la consecuencia directa de la lesión de estructuras cerebrales y de las alteraciones neuroquímicas asociadas. Los problemas más importantes a los que se enfrentan muchos pacientes con lesiones cerebrales no son estrictamente sensitivos o motores, sino que correspon‐
den a trastornos cognitivos más complejos, como diferentes modalidades de altera‐
ciones de la memoria o de desorientación espacial. En estos casos es necesaria algu‐
na forma de rehabilitación cognitiva. Sin embargo, un aspecto más amplio es la dificultad de adaptarse a las deficiencias cognitivas residuales fuera de la clínica. De hecho, un paciente con desorientación espacial podría beneficiarse en cierto modo con la práctica de diversas tareas con lápiz y papel, pero finalmente, deberá enfren‐
tarse a los problemas del mundo real para encontrar el camino a su casa. Los siste‐
mas de sustitución pueden ser eficaces en algunos pacientes. Por ejemplo, es posible registrar información visual con una cámara de vídeo y transformarla en un mensaje táctil como sustituto parcial de la visión. Pueden utilizarse diversos dispositivos o aparatos, en especial ordenadores, para realizar tareas específicas. Muchos programas de rehabilitación usan la tecnología informática, por lo que conviene revisar algunos aspectos sobre rehabilitación virtual. La historia temprana del reentrenamiento cognitivo por ordenador es paralela a la prolifera‐
ción de video‐juegos y de computadoras personales. Los clínicos en Nueva York, Indianapolis, Richmond, Fountain Valley, California y Palo Alto, estuvieron entre los primeros en usar el hasta entonces revolucionario “computador de casa” (el primer termino genérico para describir un pequeño PC de escritorio, especialmen‐
Rehabilitación Cognitiva 279 te aquéllos construidos con un procesador 8086 y sistema operativo de disco Microsoft o con plataforma MS‐DOS) para el tratamiento del daño cerebral trau‐
mático (DCT). Después, con la introducción del Macintosh PC en la mitad de los años ochenta, Chute, Conn, DiPasquale y Hoag (1988) demostraron las ventajas de la velocidad de esta máquina y la interfase gráfica del usuario en el diseño del software de rehabilitación. El Software para el re‐entrenamiento cognitivo basado en el ordenador tiene su origen en los juegos de video comerciales, en el software educativo, y especial‐
mente en los programas escritos de rehabilitación cognoscitiva (Lynch, 1986a). Lynch (1982) fue el primero en describir el uso de los video‐juegos como el Atari en la rehabilitación cognitiva como en el escenario del enfermo ambulatorio. La versión original de juegos como Pong, Breakout, Pac‐man y los Space Invaders estuvieron entre los programas seleccionados para el uso del re‐entrenamiento de pacientes que exhibieron problemas de atención, concentración, seguimiento o rastreo visual y de procesamiento simultáneo. Estos juegos exigían que el juga‐
dor/paciente manipulara un dispositivo de entrada para controlar el movimiento, posiciones y velocidad de los elementos en la pantalla. Todos los juegos requerían de un tiempo de reacción rápido, puesta en marcha de tareas de atención sosteni‐
da, de atención dividida, empleo fe estrategias de rastreo visual, capacidad de fijar un blanco y anticipar los efectos de las respuestas. Estos requisitos son a menudo las mismas habilidades comprometidas en el daño cerebral traumático, por lo cual, parecía apropiado utilizar los video‐juegos como alternativa al re‐entrenamiento cognitivo tradicional. La investigación inicial de la efectividad de los video‐juegos era anecdótica o usaba muestras pequeñas con un diseño pre‐post simple. A pesar del optimismo temprano y los éxitos, los problemas de generalización y validez ecológica de entrenamiento con video‐juegos nunca fueron satisfactorios. Las investigaciones demostrarón que la mejoría en los puntajes de los juegos y frecuentemente en los puntajes de las evaluaciones pre y post neurocognitivas, no se transfería a conduc‐
tas adaptativas o a actividades de la vida diaria. Permanecía un fracaso significati‐
vo en estos aspectos. El software escrito especialmente para la rehabilitación cognitiva por ordena‐
dor fue desarrollado por varios clínicos independientemente a finales de la década 1970s e inicios de la década de 1980s. (Bracy, 1983; Sbordone, 1986). El contenido de estos esfuerzos iniciales estuvo principalmente dirigido a re‐entrenar la aten‐
ción, la memoria (verbal y grafica–visual), y las habilidades perceptivo‐motoras. Debido a que el hardware y el lenguaje de programación mejoraron y los escrito‐
res de software para la rehabilitación cognitiva ganaron más experiencia, los pro‐
gramas se volvieron más detallados, desafiantes, flexibles, y pertinentes a los pro‐
blemas del mundo real de los pacientes dañados cognitivamente (McKittrick, Friedman, Rearman y Yesavage, 1997). Los diferentes estudios sobre la utilización de la realidad virtual en la rehabili‐
tación cognitiva sugieren su uso en esta área. Sin embargo, según otros autores, la efectividad de la rehabilitación cognitiva por ordenador, generalmente no se ha mostrado superior al re‐entrenamiento tradicional (sin computador) (Middleton, Lambert y Seggar, 1991). Se recomiendan también para la valoración de funciones cognitivas en personas con daños cerebrales adquiridos. En esta área, los instru‐
mentos de valoración usando realidad virtual son efectivos y tienen buenas pro‐
280 María Victoria Perea piedades psicométricas, un ejemplo de ello es el ARCANA, que usa el Wisconsin Card Sorting Test (WCST) como modelo de valoración neuropsicologica (Broeren, Bjorkdahl, Pascher y Rydmark, 2002; Piron, Cenni, Tonin y Dam, 2001; Zhang, Abreu, Mases, Scheibel, Christiansen, Huddleston et al., 2001). Se ha sugerido que las computadoras pueden ser dispositivos que sirvan de prótesis cognitivas a los pacientes y que puedan no sólo usarse para presentar un contenido terapéutico a los pacientes dañados cognitivamente, sino también para compensar directamente sus habilidades (Kirsch, Levine, Fallon‐Krueger y Jaros, 1987; Cole, 1999). La definición general de prótesis cognitiva es cualquier sistema basado en una computadora que ha sido diseñado para que un individuo concreto logre una o más tareas designadas, relacionadas con las actividades de la vida dia‐
ria, incluyendo el trabajo. Para minimizar las alteraciones neuropsicológicas y dotar al paciente con los recursos necesarios para un funcionamiento óptimo en la vida cotidiana, la rehabi‐
litación neuropsicológica se centra en: – El entrenamiento de los déficits cognitivos para minimizar la discapacidad que estos producen. – La modificación de las alteraciones conductuales. – La readaptación de los roles familiares a las capacidades del sujeto. – La reinserción laboral u ocupacional. A diferencia de los modelos clásicos de rehabilitación, centrados en la estimula‐
ción de las distintas funciones de manera aislada, actualmente se aboga por un modelo holístico de rehabilitación neuropsicológica, en el que se integran aspectos de diferentes modelos teóricos en un enfoque transdisciplinar, con una actuación que requiere un alto grado de coordinación de los diferentes profesionales implicados. Los programas de rehabilitación neuropsicológica se sirven de las habilidades y capacidades preservadas, así como de estrategias externas de compensación (libro de memoria, alarmas de aviso) para apoyar y fortalecer el proceso de restau‐
ración de las funciones que se han visto afectadas tras el daño cerebral. Si bien el programa de tratamiento debe ser individualizado y enfocado a las necesidades específicas de la persona afectada, no debemos descartar sesiones grupales de rehabilitación para trabajar habilidades tales como la comunicación o la asertividad y poner en práctica las estrategias trabajadas de forma individual (atención dividida, manejo de impulsividad, solución de problemas). Así mismo, el tratamiento no sólo deberá llevarse a cabo en un contexto clíni‐
co, sino que requiere de la participación de todas las personas que tienen contacto con el paciente para favorecer la generalización del aprendizaje a una amplia variedad de contextos y situaciones. Finalmente, los objetivos de tratamiento se formulan de forma concreta y operativa. Están enfocados al desempeño de actividades reales de cada paciente (contextualizados), son revisados de forma periódica y adaptados a las necesida‐
des cambiantes del individuo para fomentar la mejor recuperación De forma resumida en cuanto a la rehabilitación neuropsicológica, conside‐
ramos las diferentes orientaciones que asumen diferentes principios en relación con los mecanismos neurales que subyacen a los cambios cognitivos. Rehabilitación Cognitiva 281 1 – Restauración de la función dañada. 2 – Compensación de la función perdida. 3 – Optimización de las funciones residuales. 1 – La restauración de la función dañada parte de los procesos cognitivos deteriorados que pueden ser restaurados a través de la estimulación. Tareas y ejercicios de modo repetitivo para conseguir de nuevo la activación de los circuitos cerebrales y recuperar las funciones cognitivas afectadas por la lesión. 2 – La compensación de la función perdida parte de procesos cognitivos que apenas pueden ser recuperados. Se utilizan estrategias alternativas o ayudas externas que reducen o eliminan la necesidad de requisitos cognitivos. Es muy útil en daño cerebral extenso o deterioro cognitivo importante. Ej.: Sistemas de voz asistida por ordenador. Agendas, alarmas. 3 – La optimización de las funciones residuales parte de la teoria de que los procesos cognitivos no suelen eliminarse por completo tras la lesión, sino que quedan reducidos en su eficiencia, por lo que conviene desarrollar otras estructu‐
ras o circuitos cerebrales no afectados para garantizar la función (sustitución intra‐
sistémica e intersistémica). El objetivo de la rehabilitación es mejorar el rendi‐
miento de la función alterada a través de la utilización de otros SFC conservados (sustitución intersistémica) y no tanto mediante ayudas o dispositivos externos. Un tema muy debatido por todos los autores que trabajan en rehabilitación cognitiva es la capacidad del sujeto para generalizar lo aprendido. Es decir el nivel de competencia que el sujeto adquiere para aplicar los principios y habilidades aprendidas en las sesiones de rehabilitación a situaciones de la vida diaria. La generalización puede referirse a otros sujetos, es decir a la aplicación de los princi‐
pios aprendidos en el entrenamiento de habilidades sociales; a otros comporta‐
mientos, aplicando una estrategia aprendida para remediar un problema, para resolver otro, o generalizarse a otros ambientes, implicando la capacidad para desarrollar una estrategia ensayada en un contexto, en otros distintos. Podemos describir tres niveles de generalización de la intervención neuropsi‐
cológica. En el nivel 1, la rehabilitación debe demostrar que se mantienen los resultados del entrenamiento de una sesión a otra empleando los mismos mate‐
riales y situaciones (la observación y el registro de la conducta constituyen los mejores procedimientos para valorar los logros obtenidos). En el nivel 2, los pro‐
gresos conseguidos se han de ver reflejados en tareas similares a las que han sido adiestradas, pero que requieren la puesta en marcha de las mismas habilidades. Esto demostraría una transferencia cercana o próxima de los efectos de la rehabili‐
tación (aplicar pruebas de evaluación neuropsicológica). En el nivel 3, la transfe‐
rencia de las habilidades adquiridas en las sesiones de entrenamiento al funcio‐
namiento en las actividades diarias (aplicar pruebas de evaluación funcional). Los programas de rehabilitación deben incluir en el diseño de tratamiento tareas encaminadas a favorecer la generalización. Deben identificar los reforzado‐
res en el ambiente natural y emplear en el tratamiento materiales y situaciones similares a las utilizadas en el contexto real. Deben hacer uso de un número importante de ejemplos durante el entrenamiento de la habilidad y acudir a medi‐
das de seguimiento que valoren los tres niveles de generalización (evaluación neu‐
ropsicológica y funcional). 282 María Victoria Perea Sin embargo hemos de considerar que es poco habitual que la generalización de una habilidad se dé de forma espontánea, por lo que es necesario planificar des‐
de las fases iniciales del tratamiento actividades que favorezcan la generalización. Es imprescindible valorar el apoyo de otros profesionales o familiares y cuidadores, que puedan implementar en el entorno natural, las habilidades aprendidas. Una habilidad nueva o reaprendida rara vez se mantiene en el ambiente natu‐
ral si no es suficientemente reforzada, por ello es necesario identificar los posibles reforzadores en el contexto habitual, para que la nueva destreza se consolide. El éxito real de la rehabilitación, se consigue solo cuando es posible generali‐
zar lo entrenado a situaciones similares de la vida diaria. En la mayoría de los casos no es posible llevar a cabo el entrenamiento en el entorno natural, o bien no es deseable, porque pueden aparecer situaciones de mayor complejidad o poco pre‐
decibles que sobrepasan los recursos cognitivos actuales del paciente. Aún en estos casos deben utilizarse materiales y situaciones semejantes a las de la vida cotidiana. El fracaso de la generalización del aprendizaje puede estar en el desco‐
nocimiento de la importancia de los procesos que se entrenan; en el desconoci‐
miento de las situaciones en que pueden emplearse las habilidades adquiridas; en un número insuficiente de sesiones o en la falta de práctica. Las técnicas de rehabilitación se aplican preferentemente mediante diseños de tratamiento de caso único de forma individual. Esta forma de actuación permite analizar de forma detallada los errores y conocer las estrategias utilizadas y las no utilizadas. La intervención en grupo es muy útil en personas con daño cerebral, cuando el objetivo del tratamiento se centra en conductas sociales. La propia situación de gru‐
po es una situación real, que favorece el aprendizaje y facilita la reproducción de situaciones sociales ficticias role‐playing. El profesional puede y debe evaluar el ren‐
dimiento en ambientes grupales, semejantes a contextos sociales o laborales. La presencia de otras personas con dificultades similares ayuda a los pacientes a adqui‐
rir una perspectiva mas real sobre sus problemas (conciencia de enfermedad). La observación de otros compañeros puede motivar y estimular las expectati‐
vas de mejora “refuerzo social”. Las personas con dificultades pueden estar más predispuestas a imitar el comportamiento de otros compañeros con menos dificul‐
tades, que el del terapeuta que dirige el grupo. La intervención en grupo permite trabajar la necesidad emocional de entender y compartir problemas con otras per‐
sonas que atraviesan circunstancias similares. Por otra parte el trabajo en grupo permite un importante ahorro de tiempo, atención simultanea a varios pacientes, y es más económico. Sin embargo la intervención en grupo plantea algunos inconvenientes. Así hay que tener especial precaución en pacientes con trastornos atencionales, pues la dinámica de grupo favorece las distracciones. Los pacientes con conductas pro‐
blemáticas, escasa tolerancia a la frustración, irritabilidad o deshinibición pueden no beneficiarse del trabajo en grupo. Además estos pacientes pueden perturbar o interferir en el rendimiento de otros compañeros. Es necesario valorar la idonei‐
dad de la persona con daño cerebral para participar en programas de rehabilita‐
ción en grupo. Rehabilitación Cognitiva 283 Referencias Andrewes, D. (2001), Neuropsychology. From Theory to Practice, Hove: Psychology Press. Baddeley, A. D. (1990), Human memory: Theory and practice, London: Lawrence Erlbaum. Baddeley, A. D. (1999), Memoria Humana. Teoría y Práctica, Madrid: McGraw‐Hill. Baddeley, A. D., Wilson, B., y Watts, F. N. (1995), Handbook of Memory Disorders, Chichester: John Wiley. Barkley, R. A. (2001), “The executive functions and self‐regulation: An evolutionary neuropsychological perspective”, Neuropsychology Review, 11(1), pp. 1‐29. Bear, M. F., Connors, B. W., y Paradiso, M. A. (1998), Neurociencia. Explorando el cerebro, Barcelona: Masson‐Williams & Wilkins España. Beaumont, G., Kenealy, P., y Rogers, M. (1999), The Blackwell Dictionary of Neuropsychology, Malden: Blackwell. Bush, S. S., y Drexler, M. L. (2002), Ethical Issues in Clinical Neuropsychology, USA: Swets & Zeitlinger. Cicchetti, D. V., y Rourker, B. P. (2004), Methodological and Biostatiscal Foundations of Clinical Neuropsychology and Medical and Health Disciplines, New York: Swets & Zeitlinger. Damasio, A. R. (1995), “Toward a neurobiology of emotion and feeling: Operational concepts and hypotheses”, The Neuroscientist, 1 (1), pp. 19–25. Eslinger, P. J. (2002), Neuropsychological Interventions: Clinical Practice and Research, New York: The Guilford Press. Goldstein, L. H., y McNeil, J. E. (2003), Clinical Neuropsychology: A practical Guide to Assessment and Management for Clinicians, New York: John Wiley & Sons. Grafman, J., y Jeannerod, M. (2003), Handbook of Neuropsychology (2nd ed.), New York: Elservier Science. Grafman, J., y Robertson, I. H. (2003), Handbook of Neuropsychology: Plasticity and Rehabilitation (2nd ed.), New York: Elservier Science. Graham S., y Harris, K. R. (1996), “Addressing problems in attention, memory, and executive functioning: an example from self‐regulated strategy development”, in G. R. Lyon y N. A. Krasnegor (eds.), Attention, Memory, and Executive Function, Baltimore: Paul H Brookes Publishing, pp.349‐365. Haines, D. E. (2003), Neuroanatomy: An Atlas of Structures, Sections, and Systems, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Halligan, P. W., y Marshall, J. C. (2003), Handbook of Clinical Neuropsychology, New York: Oxford University Press. Hugdahl, K. (2002), Experimental Methods in Neuropsychology, UK: Kluwer Academic. Joseph, R. (2004), Neuropsychiatry, Neuropsychology, Clinical Neuroscience, New York: Oxford University Press. Kolb, B., y Whishaw, I. Q. (2006), Neuropsicología Humana, Madrid: Editorial Médica Panamericana. Lezak, M. (2004), Neuropsychological Assessment (4ª ed.), New York: Oxford University Press. Morris, R. (2004), Cognitive Neuropsychology of Alzheimer’s Disease, New York: Oxford University Press. Naveh‐Benjamin, M., et al. (2002), Perspectives on Human Memory and Cognitive Aging, New York: Psychology Press. Parkin, A. L. (2003), Exploraciones Neuropsicología Cognitiva, Madrid: Editorial Médica Panamericana. 284 María Victoria Perea Perea, M. V. (1991), Fundamentos de Neuropsicología. Psicobiología de la Sensorialidad, Salamanca: Ediciones Amarú. Perea, M. V., y Ardila, E. (2005) (coord.), Síndromes Neuropsicológicos, Salamanca: Ediciones Amarú. Perea, M. V., Ladera, V., y Echeandía, C. (2006), Neuropsicología. Libro de Trabajo (3.ª ed.), Salamanca: Ediciones Amarú. Stuss, D. T., Shallice, T., Alexander, M. P., y Picton, T. W. (1995), “A multidisciplinary approach to anterior attentional functions”, Annals of the New York Academy of Sciences, 769, pp. 191–209. Vilkki, J. (1995), “Neuropsychology of mental programming: an approach for the evaluation of frontal lobe dysfunction”, Applied Neuropsychology, 2 (3), p. 93. Execução Gráfica Colibri – Artes Gráficas Faculdade de Letras Alameda da Universidade 1600‐214 Lisboa Telef. / Fax 21 796 40 38 www.edi‐colibri.pt colibri@edi‐colibri.pt
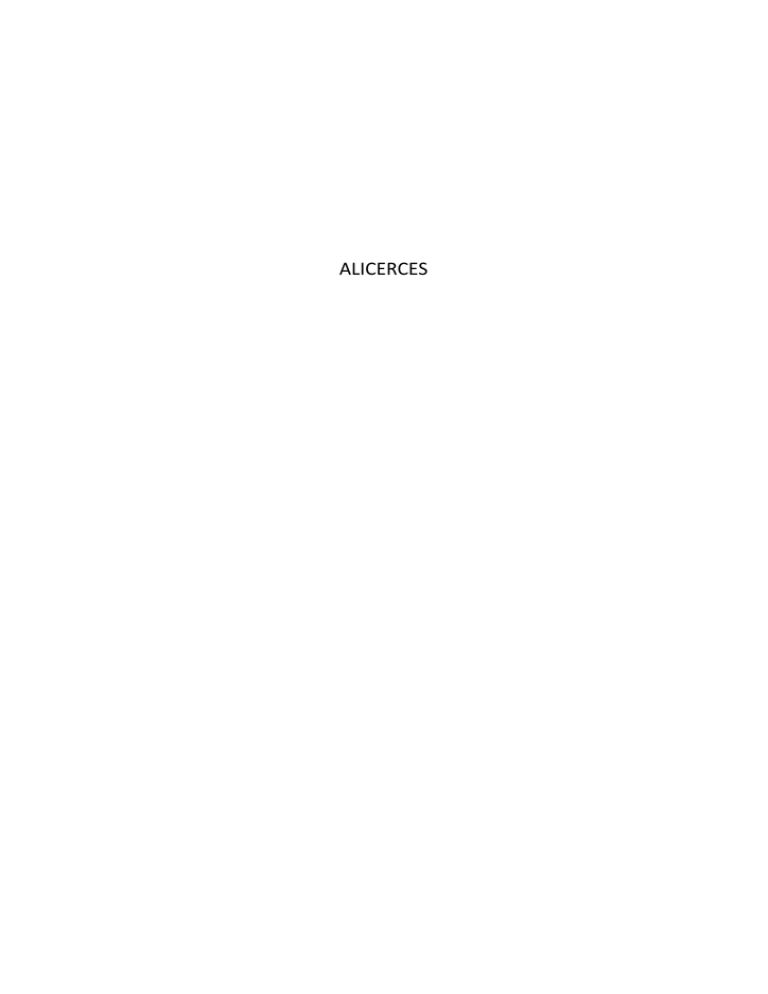
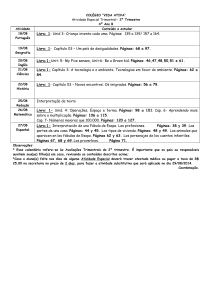
![(Conteúdos P4 - 6º ANO [2012])](http://s1.studylibpt.com/store/data/001441427_1-f77105d4780d7efb2e8f3779ebc28b10-300x300.png)