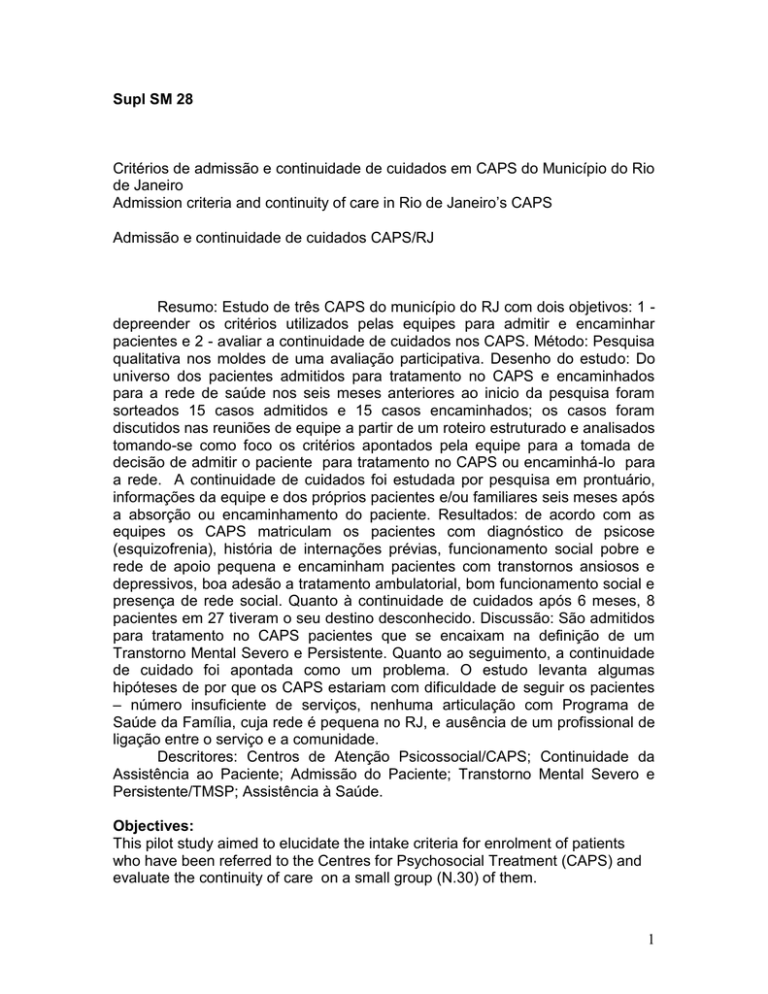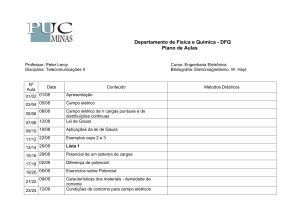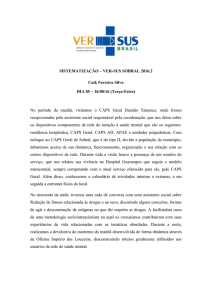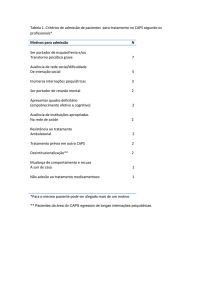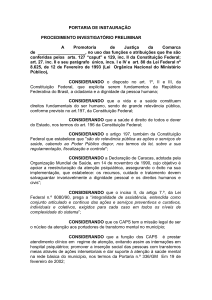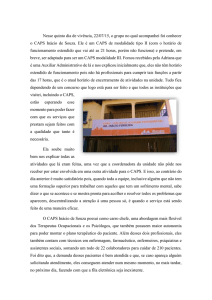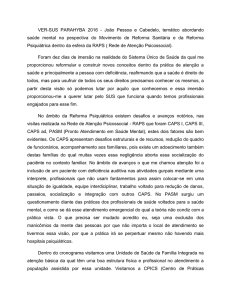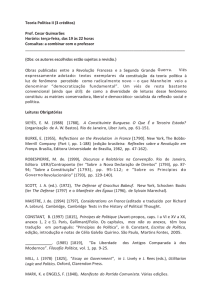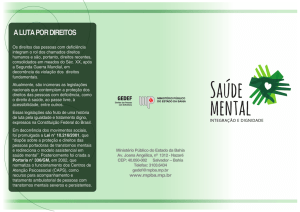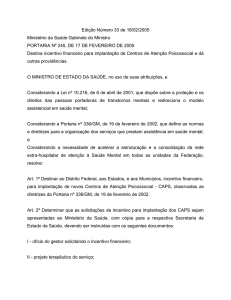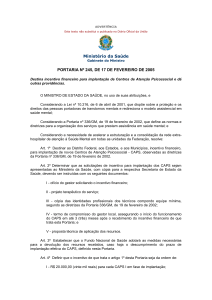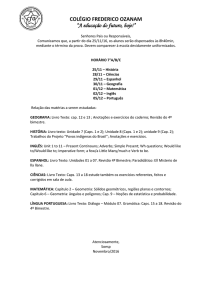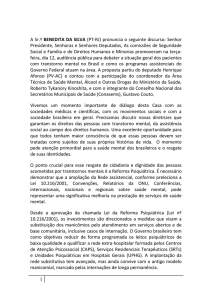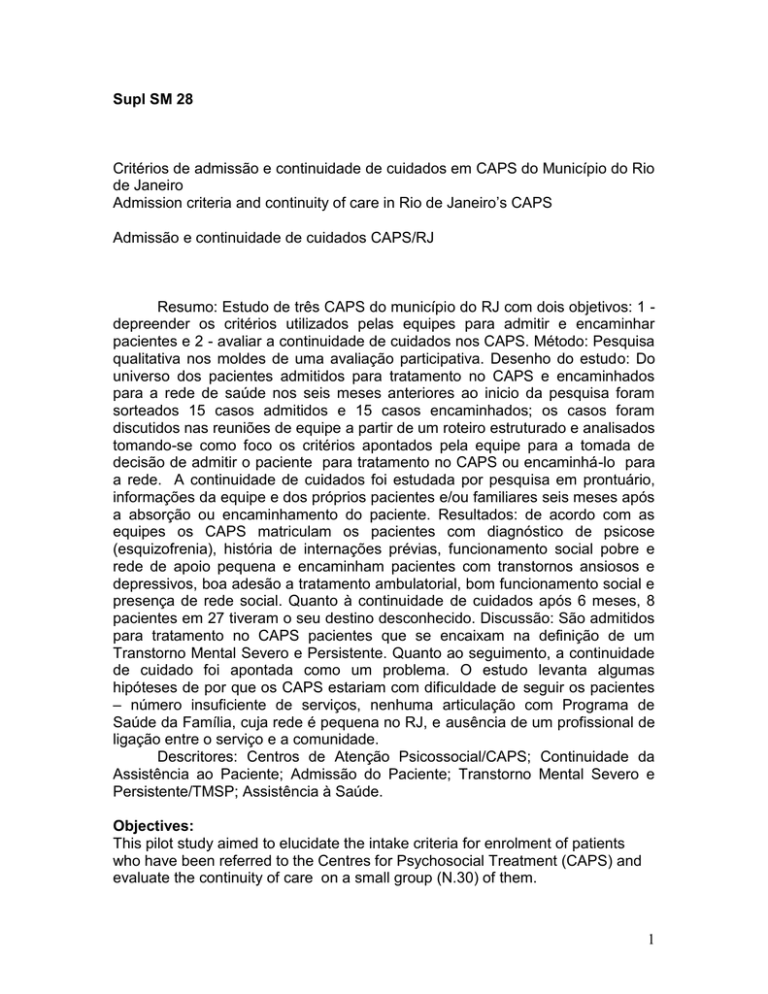
Supl SM 28
Critérios de admissão e continuidade de cuidados em CAPS do Município do Rio
de Janeiro
Admission criteria and continuity of care in Rio de Janeiro’s CAPS
Admissão e continuidade de cuidados CAPS/RJ
Resumo: Estudo de três CAPS do município do RJ com dois objetivos: 1 depreender os critérios utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar
pacientes e 2 - avaliar a continuidade de cuidados nos CAPS. Método: Pesquisa
qualitativa nos moldes de uma avaliação participativa. Desenho do estudo: Do
universo dos pacientes admitidos para tratamento no CAPS e encaminhados
para a rede de saúde nos seis meses anteriores ao inicio da pesquisa foram
sorteados 15 casos admitidos e 15 casos encaminhados; os casos foram
discutidos nas reuniões de equipe a partir de um roteiro estruturado e analisados
tomando-se como foco os critérios apontados pela equipe para a tomada de
decisão de admitir o paciente para tratamento no CAPS ou encaminhá-lo para
a rede. A continuidade de cuidados foi estudada por pesquisa em prontuário,
informações da equipe e dos próprios pacientes e/ou familiares seis meses após
a absorção ou encaminhamento do paciente. Resultados: de acordo com as
equipes os CAPS matriculam os pacientes com diagnóstico de psicose
(esquizofrenia), história de internações prévias, funcionamento social pobre e
rede de apoio pequena e encaminham pacientes com transtornos ansiosos e
depressivos, boa adesão a tratamento ambulatorial, bom funcionamento social e
presença de rede social. Quanto à continuidade de cuidados após 6 meses, 8
pacientes em 27 tiveram o seu destino desconhecido. Discussão: São admitidos
para tratamento no CAPS pacientes que se encaixam na definição de um
Transtorno Mental Severo e Persistente. Quanto ao seguimento, a continuidade
de cuidado foi apontada como um problema. O estudo levanta algumas
hipóteses de por que os CAPS estariam com dificuldade de seguir os pacientes
– número insuficiente de serviços, nenhuma articulação com Programa de
Saúde da Família, cuja rede é pequena no RJ, e ausência de um profissional de
ligação entre o serviço e a comunidade.
Descritores: Centros de Atenção Psicossocial/CAPS; Continuidade da
Assistência ao Paciente; Admissão do Paciente; Transtorno Mental Severo e
Persistente/TMSP; Assistência à Saúde.
Objectives:
This pilot study aimed to elucidate the intake criteria for enrolment of patients
who have been referred to the Centres for Psychosocial Treatment (CAPS) and
evaluate the continuity of care on a small group (N.30) of them.
1
Methods:
In this qualitative study, we randomly selected 15 cases which were enrolled in
CAPS and 15 cases which were referred for treatment elsewhere. We discussed
with CAPS all the cases selected from an assessment outline prepared by the
team research. We discussed the criteria used to decide whether to enrol or to
refer a patient elsewhere for treatment. We ascertained the status of all selected
cases at 6-month by reviewing the medical records, carrying out personal
observation of the patients and contacting their family members, as well as
elucidating the daily workings of the CAPS teams.
Results:
The CAPS intake criteria called for patients diagnosed with psychosis
(schizophrenia), having history of previous hospitalizations, poor social
functioning and small support network to be enrolled in their services. On the
other hand, patients with anxiety disorders and depression, good adherence to
outpatient treatment and having good social network were to be referred to
alternative services. At six months follow-up of our sample, we found that 8
patients out of 27 had not either been enrolled or referred to alternative services.
Concluding remarks:
The CAPS teams assessed in this study used a narrow definition of mental
health disorders in their intake. They enrol patients who fit the definition of people
with severe and persistent mental illness. Continuity of care is identified as a
problem in the studied sample. This might be due, first, to the insufficient number
of community mental health services and, second, to a lack of a liaison and
interconnection with family health programs and the community at large.
Key-words: Community Mental Health Center; Continuity of Care; Patient
Admission; Severe and Persistent Mental Illness; Community Care Networks;
Patients Dropouts; Delivery of Health Care.
Introdução
A Reforma psiquiátrica brasileira baseia-se em uma rede de cuidados na
comunidade composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de
Saúde Mental e Hospitais Gerais e caracteriza-se por ser essencialmente
pública e de base municipal. Os CAPS são articuladores estratégicos desta rede
e da política de saúde mental num determinado território. Têm como função
organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais prestando
atendimento clínico em regime de atenção diária, promovendo a inserção social
de pessoas com transtornos mentais através de ações inter-setoriais, regulando
a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de
atuação e dando suporte à atenção à saúde mental na rede básica.
2
O nosso estudo dos CAPS do município do Rio de Janeiro teve como
proposição inicial a integração dos mesmos com a rede de assistência à saúde e
de serviços sociais de sua área de atuação. No entanto, o trabalho exploratório
do campo nos levou a questões anteriores à própria integração e que diziam
respeito à identidade do CAPS. A que paciente o CAPS se destina? O que
ocorre quando um paciente chega ao CAPS? Que destino o paciente tem em
termos de tratamento a partir de sua vinda ao CAPS? Assim, focamos a
pesquisa na porta de entrada do CAPS, objetivando conhecer os critérios
utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar pacientes que chegam aos
CAPS, considerando que através da explicitação desses critérios poderíamos
definir o perfil do paciente considerado um paciente de CAPS pelas equipes.
Uma vez feito isso, estudamos o destino dos pacientes seis meses após serem
admitidos ou encaminhados para outros serviços da rede, a fim de verificar as
conseqüências da admissão ou encaminhamento dos pacientes ao longo do
tempo. A pesquisa cumpriu portanto dois objetivos: conhecer os critérios
utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar pacientes que chegam aos
CAPS e conhecer o destino dos pacientes seis meses após serem admitidos ou
encaminhados para outros serviços da rede.
O município do Rio de Janeiro
No município do Rio de Janeiro, o Programa de Saúde Mental, iniciado na
década de 1990, tem privilegiado ações dirigidas ao cuidado do paciente com
transtornos mentais severos e persistentes através da implantação de CAPS e
serviços residenciais. Em 1995, foi realizado no município o 1º Censo da
População dos Internos em Hospitais Psiquiátricos, estabelecendo- se a partir
de então uma política de reversão do modelo hospitalar para o comunitário. No
ano seguinte, foi criado no bairro de Irajá o primeiro CAPS da cidade, iniciando o
processo de implantação dos CAPS nas regiões com notória deficiência de
serviços de saúde mental no município
No Município do Rio de Janeiro existem hoje ativos (credenciados e em
credenciamento) 10 CAPS II, 3 CAPSi e 1 CAPSad. Em dezembro de 2007,
3.246 usuários estavam regularmente matriculados nos CAPS II da rede de
atenção, sendo em sua maioria uma clientela jovem, homens e mulheres, entre
20 e 50 anos, com uma concentração maior entre 30 e 49 anos, a maior parte
(63,83%) com diagnóstico de Transtornos do Espectro Esquizofrênico (F20-29
CID 10).1
O projeto de pesquisa
Em 2005, a FAPERJ, em parceria com o MS e o CNPq, lançou um edital
para pesquisas vinculadas a avaliação e melhoria do Sistema Único de Saúde
(SUS) do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto de Psiquiatria da UFRJ, a
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e o Instituto Franco Basaglia
se reuniram para a realização do estudo descrito a seguir.
1
Terto, Adilson; Sávio, Domingos; Almeida, Neli de; Processi, Verônica (Org.) Relatório Técnico
dos centros de Atenção Psicossocial (CAPS II) – Secretaria Municipal de Saúde – SMS/Rio –
Gerencia de Saúde Mental – ano 2007, consolidação da rede de atenção psicossocial –
Convênio n. 027/06 – IFB/SMS, Instituto Franco Basaglia, mimeo, 2008.
3
O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética em pesquisa do
Instituto de Psiquiatria do Rio de Janeiro, tendo sido obtida aprovação para a
sua realização (n.1406).
Objetivos
Conhecer os critérios utilizados pelas equipes para admitir e encaminhar
pacientes que chegam aos CAPS e conhecer o destino dos pacientes seis
meses após serem admitidos ou encaminhados para outros serviços da rede.
Método
O método consistiu em uma pesquisa de avaliação participativa. Na
avaliação participativa, “os pesquisadores colaboram de forma integrada com os
indivíduos, grupos ou comunidades que desempenham um papel no programa
que está sendo avaliado” (Cousins 2 (1998)) e o curso da avaliação pode ir se
modificando na medida do avanço do próprio processo avaliativo (Guba 3
(1989);). Esta participação se deu em dois eixos distintos: 1 - reuniões semanais
de equipe dos serviços, que foram utilizadas pelos pesquisadores como espaço
de coleta de dados; 2 – reuniões do conselho consultivo, constituído pelos
pesquisadores e por um representante de cada um dos CAPS tipo 2 do
município do RJ, que reuniu-se a cada três meses para partilhar os rumos da
pesquisa, validar dados encontrados pelos pesquisadores e discutir futuros
encaminhamentos.
Foram seguidos os seguintes passos metodológicos:
1 –Convocação do conselho consultivo e definição do(s) serviço(s) a
ser(em) tomado(s) como objeto de investigação. A escolha recaiu sobre três
CAPS: CAPS Rubens Corrêa (Irajá), CAPS Pedro Pelegrino (Campo Grande) e
CAPS Simão Bacamarte (Santa Cruz), por serem os CAPS mais antigos e por
suas equipes terem se oferecido como campo de investigação;
2 – Participação na reunião de equipe na qual foi preenchida uma ficha
elaborada pela equipe de pesquisa com dados da estrutura, processo e missão
do serviço;
3 – Sorteio de 5 pacientes admitidos para tratamento no CAPS e 5
pacientes encaminhados para rede de saúde em cada um dos três CAPS
estudados, perfazendo um total de 30 pacientes sorteados, 15 admitidos para
tratamento no CAPS e 15 encaminhados para a rede de saúde. Este sorteio se
deu a partir do universo de todos os pacientes admitidos para tratamento no
CAPS ou encaminhados para tratamento na rede de saúde nos seis meses que
antecederam o inicio da pesquisa;
4 – Discussão de cada um dos casos sorteados nas reuniões de equipe a
partir de um roteiro elaborado pela equipe de pesquisa;
5 – Retorno aos CAPS, seis meses depois, para conhecer o destino dos
pacientes inicialmente matriculados e encaminhados, através de pesquisa em
prontuário, informações da equipe e dos próprios pacientes e/ou familiares.
4
Análise dos dados: todas as reuniões de equipe foram gravadas,
transcritas e seus conteúdos posteriormente analisados. Na discussão dos
casos sorteados o foco da análise foram os critérios apontados pela equipe
como aqueles utilizados para a tomada de decisão de matricular o referido
paciente para tratamento no CAPS ou encaminhá-lo para a rede de saúde.
Resultados
Conforme descrito acima, dos 30 casos selecionados aleatoriamente dos
CAPS de Santa Cruz, Campo Grande e Irajá, 3 foram excluídos da amostra final,
pois ao longo das discussões destes casos verificou-se que ainda não havia um
encaminhamento final dos mesmos, não tendo sido possível alocá-los em
nenhum dos dois grupos de desfecho de nossa amostra de análise – admitido
para tratamento no CAPS ou encaminhado para tratamento na rede de saúde.
Dos 27 restantes, 13 foram encaminhados para a rede de saúde e 14
matriculados nos CAPS. O que teria levado às equipes a se decidirem pela
admissão ou encaminhamento dos pacientes?
Na primeira visita aos CAPS verificamos a existência de diferentes
concepções sobre os objetivos do serviço e sobre a constituição da clientelaalvo, havendo, no entanto, um ponto de concordância entre as três equipes
estudadas, qual seja, o de que o CAPS é o local mais apropriado para o
acolhimento da clientela “grave”. O que seria, entretanto, essa clientela “grave”?
Os motivos alegados pelas equipes dos serviços para admitir ou
encaminhar os pacientes encontram-se expostos nas tabelas 1 (critérios para a
admissão) e 2 (critérios para encaminhamento).
Em relação à continuidade de cuidado seis meses após a decisão de
admissão ou encaminhamento do pacientes, os resultados também estão
apresentados nas tabelas 3 (pacientes admitidos para tratamento nos CAPS) e 4
(pacientes encaminhados para outros serviços da rede de saúde).
Discussão:
Critérios para admissão ou encaminhamento de um paciente avaliado
pelos CAPS – a clientela alvo dos CAPS
Podemos classificar os critérios utilizados pelas equipes para a admissão
ou encaminhamento dos pacientes referidos aos CAPS em critérios ligados ao
diagnóstico (diagnósticos de esquizofrenia, por exemplo, tendem a levar a
admissão para tratamento no CAPS, enquanto diagnósticos de transtornos
dissociativos, de ansiedade ou depressivos leves, tendem a gerar um
encaminhamento para a rede de saúde); critérios ligados a sintomatologia
(paciente em quadro psicótico agudo ou com sintomatologia negativa importante
– empobrecimento – tendem a ser admitidos e pacientes estabilizados, sem
sintomatologia psicótica no momento tendem a ser encaminhados); critérios
relacionados a melhor ou pior prognóstico (história de “inúmeras internações
anteriores”, “uso de álcool e drogas”, “não adesão a tratamento” ambulatorial
tendem a gerar admissão do paciente, enquanto que “boa resposta ao
5
tratamento clínico”, “estabilização com o tratamento”, “boa adesão ao tratamento
medicamentoso”, “boa adesão ao ambulatório” tendem a gerar encaminhamento
do paciente para a rede); critérios ligados ao grau de suporte social/autonomia
do paciente tais como “afastamento da família”, “afastamento social”, “saída do
sistema penitenciário” ou “alta após
uma longa internação”
(desinstitucionalização) gerando admissão e “bom suporte social e familiar” e
“boa autonomia” gerando encaminhamento; critérios ligados a constituição da
própria rede de saúde – a ausência de serviços na rede para acompanhamento
dos pacientes ou a indisponibilidade de vagas, gerando admissão independente
do diagnóstico ou situação sintomática e de suporte do paciente naquele
momento.
Portanto, a admissão ou encaminhamento dos pacientes nos três CAPS
da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro estudados baseou-se em um
entrecruzamento destes cinco aspectos – diagnóstico,
sintomatologia,
indicadores de prognóstico, suporte social/autonomia, rede de serviços de saúde
disponível.
Como a literatura internacional define um paciente com Transtorno Mental
Severo e Persistente (TMSP), paciente identificado pelas portarias do Ministério
da Saúde como um paciente elegível para o CAPS (portaria 226 e 336/MS)?
Estariam os técnicos dos CAPS estudados no Município do Rio de Janeiro,
elencando como critérios para absorver para tratamento critérios semelhantes
aos da literatura internacional?
Schinnar e cols 10 (1990), em um artigo de revisão levantaram 17
definições de TMSP ao longo dos anos 80. Nos concentraremos para nossa
discussão na definição do National Institute of Mental Health (NIMH). Esta
definição foi criada a partir de um grupo de trabalho instituído em 1987 com o
objetivo de chegar a um consenso a respeito dessa categoria. Ela leva em conta
três aspectos – diagnóstico, incapacidade e duração do transtorno. Em relação
ao diagnóstico, são considerados os diagnósticos de Psicose não orgânica ou
Transtorno de Personalidade; em relação as incapacidades, devem estar
presentes pelo menos três das seguintes disfunções – comportamento social
demandando intervenção pelo sistema de saúde ou judiciário, prejuízo leve nas
atividades da vida diária ou necessidades básicas, déficit moderado no
funcionamento social, déficit moderado na performance de trabalho, déficit
moderado nas performances não ligadas ao trabalho; em relação a duração,
leva-se em conta uma história de doença mental com hospitalizações prévias ou
tratamento ambulatorial para acompanhamento de uma doença ou incapacidade
a longo prazo. (A operacionalização desse critério foi feita levando-se em conta
uma história de dois anos de doença mental ou de tratamento por dois anos ou
mais).
Em 2000, Ruggeri e cols 9 publicaram um outro artigo também a respeito
da definição e prevalência dos Transtornos Mentais Severos e Persistentes.
Neste artigo, os autores apresentam e testam uma segunda definição de TMSP
do NIMH, em relação à primeira. A primeira mantém os três critérios que vimos
acima – diagnóstico de psicose, tempo de contato com serviços de saúde igual
ou maior que dois anos e GAF (Global Assessment of Function) igual ou menor
6
que 50, e é chamada de definição estreita (neste caso, priorizou-se o
diagnóstico de psicose, sem incluir os transtornos de personalidade). A segunda
utiliza apenas os dois últimos critérios, excluindo a dimensão do diagnóstico da
definição e por isso é considerada “ampla”.
O maior interesse desse artigo para a nossa discussão é a constatação
dos autores de que a definição estreita de TMSP, aquela que leva em conta o
diagnóstico de psicose para considerar o paciente como portador de um TMSP,
deixa de lado grande parte dos pacientes que entrariam na definição caso
fossem utilizados apenas os critérios de tempo de contato com serviços e
incapacidade (definição mais ampla). Quando foi considerada a definição bidimensional (definição ampla), 58% dos pacientes da amostra tinham
diagnóstico de psicose e 42 % não. Portanto cabe a pergunta se é legitimo
deixar de considerar uma proporção tão grande de pacientes quando estamos
planejando serviços para portadores de TMSP. Na análise exploratória dos
dados, os diagnósticos de não psicose que surgiram com maior freqüência
foram os de transtorno de personalidade, alcoolismo e uso de outras drogas.
A partir do que vimos na discussão acima sobre os TMSP podemos dizer
que os CAPS que estudamos estão acolhendo para tratamento pacientes com
TMSP?
Verificamos a partir da fala dos profissionais dos CAPS que os critérios
para a admissão dos pacientes podem ser classificados a partir de cinco
aspectos: diagnóstico, sintomatologia, indicadores de prognóstico, suporte
social/autonomia, rede de serviços de saúde disponível na área. A definição
estreita (tri-dimensional) do NIMH leva em conta o diagnóstico, o tratamento de
dois anos ou mais em serviços de saúde e GAF menor ou igual a 50, enquanto
que a definição ampla (bi-dimensional) leva em conta apenas os dois últimos
fatores. Em relação, portanto, a definição do NIMH podemos dizer que os
profissionais dos CAPS estão utilizando parte da definição estreita, pois levam
em conta o diagnóstico (e em nosso caso principalmente o diagnóstico de
transtornos do espectro da esquizofrenia) e incapacidade (GAF menor ou igual a
50, uma vez que o GAF contempla aspectos da sintomatologia, indicadores de
prognóstico, suporte social e autonomia). Não há referencia formalizada entre os
profissionais do CAPS a respeito do tempo de tratamento, muito embora surjam
nas falas a idéia de um paciente com história de longo tratamento psiquiátrico,
várias internações prévias etc. O que ocorre é que não há sistematização
desses critérios, por um lado, e por outro lado a literatura estudada demonstra
que a questão do diagnóstico pode limitar a absorção de um contingente
importante de pacientes considerados como portadores de TMSP quando se
utiliza a definição bi-dimensional. No Brasil, temos, na verdade, dois tipos de
serviços para os portadores adultos de TMSP, os CAPS e os CAPS ad.
Poderíamos talvez supor, mas isso demandaria a realização de pesquisas
futuras para a confirmação, que os CAPS estariam selecionado os pacientes a
partir de uma definição estreita de TMSP, ou seja, levando em conta o
diagnóstico de psicose, enquanto que os CAPS ad ficariam com os pacientes
alcoolistas e em uso de outras drogas. Permanece a questão de onde estariam
7
se tratando os portadores de transtornos de personalidade sem co-morbidade
com uso de álcool e drogas.
Cabe ainda a questão, também para próximos estudos, se valeria a pena
sistematizarmos os critérios de absorção dos pacientes nos CAPS levando em
conta a definição ampla do NIMH – tratamento de dois anos ou mais em
serviços de saúde e GAF menor ou igual a 50. Estudos prévios são controversos
quanto aos benefícios dessa sistematização (Phelan 8 (2001), Parabiaghi 6
(2006)), mas nossa pesquisa nos indica que este poderia ser um desdobramento
interessante deste estudo.
Em relação à continuidade de cuidado nos CAPS, o que o nosso estudo
teria a nos dizer?
Apesar da nossa amostra não ser representativa, encontramos entre 27
pacientes, 8 (29,62%) dos quais não conseguimos qualquer informação a
respeito de seu destino e/ou tratamento. De fato, na literatura brasileira
observamos uma taxa ainda maior de abandono de tratamento nos CAPS em
estudos prévios, como no estudo de Melo e Guimarães 5 (2005) realizado
através de revisão de 295 prontuários médicos no CERSAM Pampulha em
Belo Horizonte, no qual encontraram uma taxa de 39,2% de abandono de
tratamento e o estudo de Pelisoli e Moreira 7 (2005) que encontraram uma
taxa de 54% de não retorno ao tratamento entre os pacientes que tiveram
uma primeira consulta no CAPS Casa Aberta da cidade de Osório no Rio
Grande do Sul.
Na literatura internacional, em uma revisão sistemática, Simmonds et al
11 (2001) encontraram uma taxa de 33% de abandono de tratamento entre
pacientes recebendo cuidado por uma equipe comunitária em saúde mental
(community mental health team management), definindo-se esse cuidado
comunitário como aquele oferecido por equipes multidisciplinares localizadas
fora do espaço hospitalar e oferecendo uma gama de intervenções dirigidas
às necessidades especificas dos pacientes.
Em nosso estudo, 8 pacientes em 27, tinham o seu destino desconhecido
em um seguimento de seis meses. Embora não representativo pelo tamanho
pequeno da amostra, é uma dado significativo e que nos questiona quanto a
necessidade de melhorar esse seguimento dos pacientes nos CAPS.
Levantamos algumas hipóteses dos motivos que poderiam estar subjacentes
a esta dificuldade de acompanhamento dos pacientes, baseadas no trabalho
de observação participante nos CAPS desenvolvido ao longo da pesquisa.
Como vimos na introdução, os CAPS são serviços de base territorial
imbuídos de inúmeras funções, que vão desde o acompanhamento dos
pacientes com TMSP até a organização da rede de saúde mental de seu
território.
Essa diversidade é própria de um serviço com características de atenção
psicossocial no território, mas em um grande centro como o Rio de Janeiro, essa
lógica de funcionamento no território implicaria em uma rede de atenção à saúde
mental estruturada e bem articulada, inclusive e sobretudo com a atenção
8
primária. Nos 27 casos estudados não houve articulação com PSF ou PACS em
nenhum deles.
Além disso, a ausência de outros serviços de saúde mental na área que
possam absorver pacientes que não necessitam de tratamento nos CAPS é de
fato um problema importante na cidade do Rio de Janeiro, na qual uma rede de
serviços de saúde mental e uma cobertura de equipes de saúde da família
(atenção primária) insuficientes em relação a densidade populacional acaba
gerando uma sobrecarga nos serviços de saúde disponíveis. O próprio MS
instituiu o indicador CAPS/100.000 habitantes, no qual seria considerada
satisfatória uma cobertura de 0,46 a 0,60. O Estado do Rio de Janeiro apresenta
um índice de 0,31 a 0,45, abaixo, portanto do satisfatório e se formos analisar a
cidade do Rio de Janeiro, com seus 13 CAPS (10 tipo 2 adultos, 2 CAPSis e um
CAPS ad) para 6 milhões de habitantes2 teremos uma insuficiência de pelo
menos 17 CAPS, levando-se em conta a cobertura de um serviço comunitário de
saúde mental para uma área de 150.000 a 200.000 habitantes, preconizada por
Thornicroft e Tansella. 12
Para além do número de serviços, há a questão da própria metodologia de
acompanhamento do paciente na comunidade.
A literatura internacional trabalha com a idéia do agenciador de caso (case
manager), um profissional, não necessariamente de nível superior, e que
acompanha o paciente em sua trajetórias na comunidade (família, trabalho,
estudo, tratamento etc.), facilitando as suas ligações e a sua inserção, inclusive
e sobretudo com o sistema de tratamento. (Bandeira 1 (1998); Machado 4
(2007)).
Seria o técnico de referência dos CAPS o agenciador de cuidados no
território para o paciente e seu articulador com os serviços e necessidades
básicas? Aqui constatamos um problema. O técnico de referência dos CAPS
está em geral bastante sobrecarregado com o número de pacientes que deve
acompanhar e nem sempre consegue dar conta de todos eles. Assim, se lhe
couber também fazer a articulação desse paciente em sua rede de apoio formal
e informal no território, dificilmente ele poderá fazer os atendimentos que estão
sob sua responsabilidade no CAPS. Assim sendo, verificamos em nossa
pesquisa, a falta de um profissional que chamaríamos de um profissional de
ligação entre o CAPS e o território e que ficaria responsável pelo trabalho com o
paciente no território (família, amigos, atividades que o paciente porventura
execute, adesão à medicação etc.) e por sua vinculação ao CAPS. Talvez esse
profissional possa ser o agente comunitário de saúde vinculado às equipes de
PSF, inclusive levando-se em conta a recente portaria instituindo os Núcleos de
Apoio à saúde da família (NASFs)3 que prevêem a presença de profissionais da
área de saúde mental, incluindo psiquiatras. O que fica evidente a partir de
nossos dados, apesar de limitados pela sua pouca representatividade, é que em
um grande centro urbano como o Rio de Janeiro, por enquanto mostrou-se
2
3
IBGE, Revisão 2004 de projeção da população, 2004, www.ibge.gov.br
MS, Portaria GM n. 154 de 24 de janeiro de 2008.
9
inviável pensar que o profissional vinculado ao CAPS tenha como dar conta do
atendimento no serviço e na comunidade de forma satisfatória.
Referências Bibliográficas:
1 - Bandeira M, Gelinas D, Lesage A “Desinstitucionalização: o programa de
acompanhamento intensivo na comunidade”. J bras Psiq 47(12): 627-640,
1998
2 - Cousins J B, Whirmore, E. Framing participatory evaluation. In E. Whitmore
(Ed.) Understanding and practicing participatory evaluation, n.80, San Francisco,
1998.
3 – Guba E G, Lincoln, Y S Fourth generation evaluation, Newbury Park, Sage,
1990.
4 - Machado, L; Dahl, C; Araujo, MCC; Cavalcanti, MT. Programa Assertivo de
Tratamento na Comunidade (PACT) e Agenciamento de Caso (Case
Management): revisão de 20 anos de literatura, J bras Psiq; 56 (3): 208-218,
2007
5 - Melo, APS; Guimarães, MDC Factors associated with psychiatric treatment
dropout in a mental health reference center, Belo Horizonte. Rev Bras Psiquiatr,
2005; 27(2): 113-8
6 - Parabiaghi, A., Bonetto, C., Ruggeri, M., Lasalvia, A., Leese M. Severe and
persistent mental illness: a useful definition for prioritizing community – based
mental health service interventions. Soc Psychiatry Psychiatry Epidemiol (2006)
XX:1-7.
7 - Pelisoli, C. L.; Moreira A.K. Caracterização epidemiológica dos usuários do
CAPS Casa Aberta. Rev Bras RS set/dez 2005; 27(3): 270-277.
8 - Phelan, M., Seller, J. Leese, M. The routine assessment of severity amongst
people with mental illness. Soc Paychiatry Psycahiatry Epidemiol (2001) 36:200206
9 - Ruggeri M., Lees, M., Thornicroft, G., Bisoffi, G., Tansela, M. Definition and
prevalence of severe and persistent mental illness. British J ournal of Psychiatry
(2000), 177, 149-155
10 - Schinnar, Arie P; Rothbard, Aileen B; Kanter, Rebekah; Yoon Soo Jung An
Empirical Literature Review of Definitions of Severe and Persistent Mental
Illness. Am J Psychiatry; 1990; 147 (12): 1602-1608.
10
11 - Simmonds S., Coid J., Joseph P., Marriot S., Tyrer P. Community mental
health team management in severe illness: a systematic review. British Journal
of Psychiatry (2001), 178, 497-502.
12 - Thornicroft G, Tansella M. The mental health matrix: a pragmatic guide to
service improvement 1st Ed. Cambridge: Cambridge University press, 1999.
Apud Andreoli, SB; Ronchetti, SS; Miranda, ALP; Bezerra, CRM; Magalhaes,
CCPB, Martin, D; Pinto, RMF – Utilização dos centros de atenção psicossocial
na cidade de Santos, São Paulo Brasil. Cad Saúde Publica, Rio de Janeiro,
20(3); 836-844, mai-jun, 2004.
11