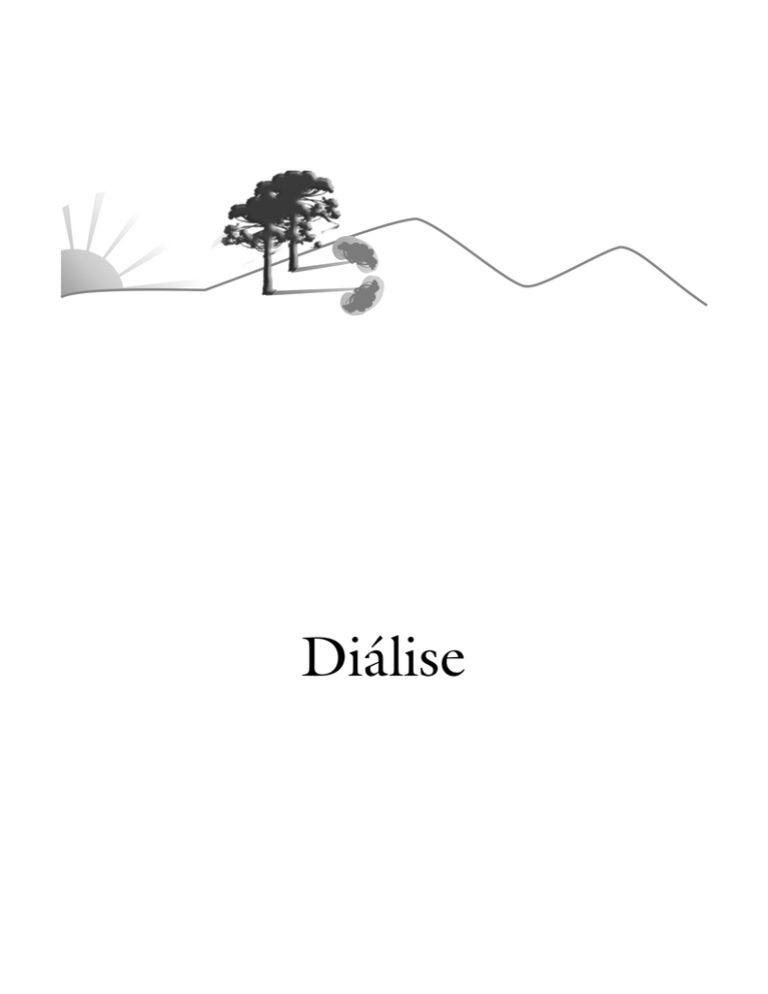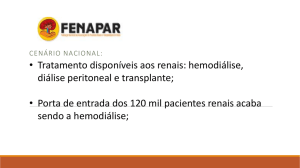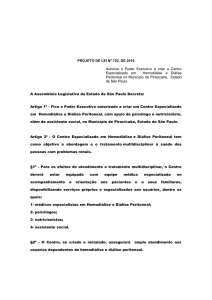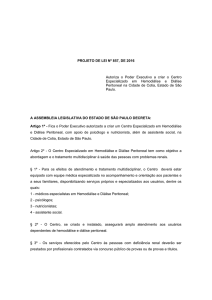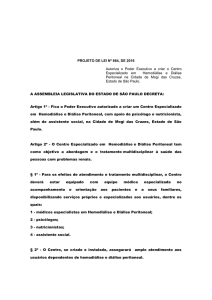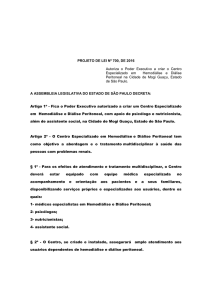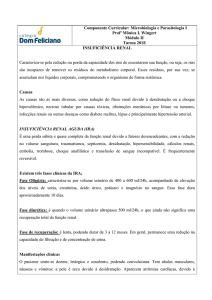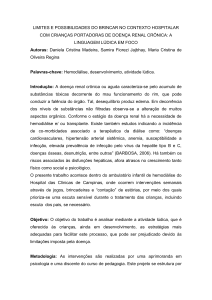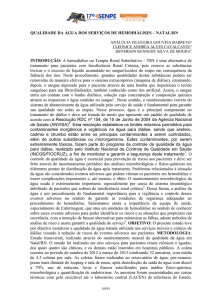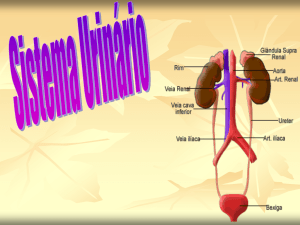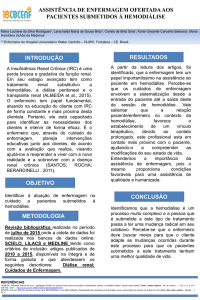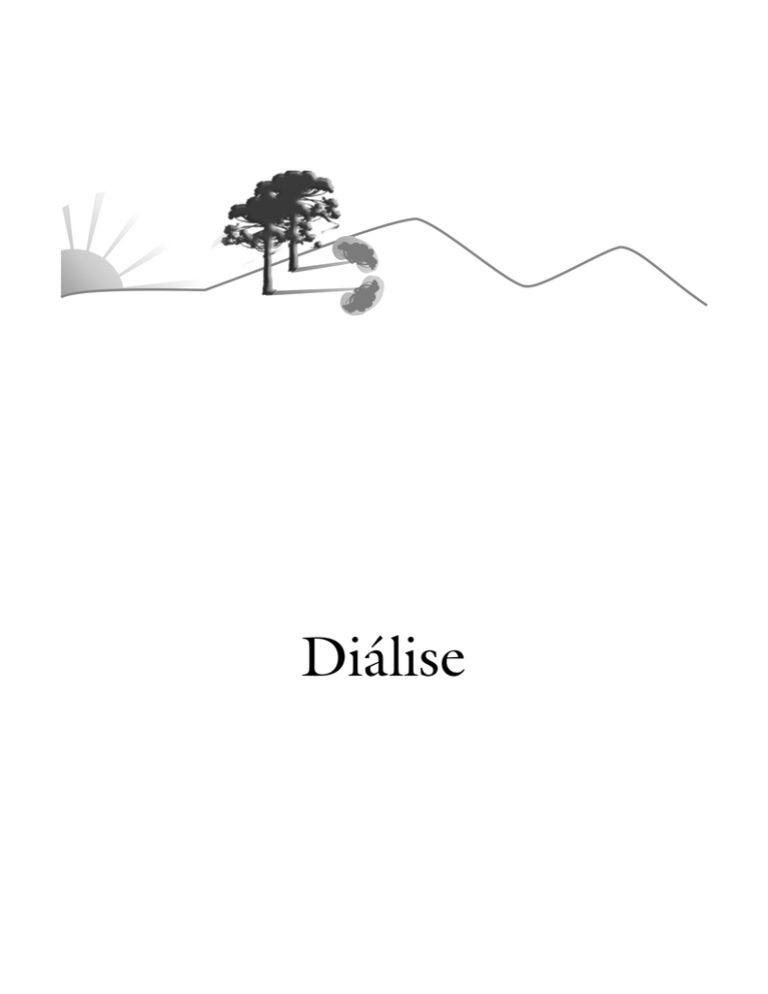
Diálise
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 001
DC 002
MORBIDADE E MORTALIDADE CARDIOVASCULARES EM PACIENTES
SUBMETIDOS AO PROGRAMA DE DIÁLISE PERITONEAL
RAPHAEL PEREIRA PASCHOALIN; CASSIANO AUGUSTO BRAGA SILVA,
MIGUEL MOYSES NETO, SUSANA ZANARDO CHIOZI, BEATRIZ NAKAGAWA,
MARIA ESTELA P. NARDIM, MARIA TEREZINHA I. VANNUCCHI, JÚLIO
CÉSAR WESTPHAL
SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO
OCORRÊNCIA DE FÍSTULA PERITÔNEO-PLEURAL E FÍSTULA
PERITÔNEO-ESCROTAL NOS PACIENTES EM DIÁLISE PERITONEAL
RAPHAEL PEREIRA PASCHOALIN ; MIGUEL MOYSES NETO, SUSANA
ZANARDO CHIOZI, BEATRIZ NAKAGAWA, OSVALDO MEREGE VIEIRA
NETO, EDMUNDO OCTÁVIO RASPANTI, CASSIANO AUGUSTO BRAGA SILVA
SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO
Objetivo: Verificar as causas de morbidade cardiovasculares que necessitaram de
internação, bem como a mortalidade cardiovascular em pacientes submetidos à diálise
peritoneal. Pacientes e Métodos: Foram avaliados todos os pacientes que iniciaram
tratamento em CAPD (Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua) e APD (Diálise
Peritoneal Automatizada) no período de julho de 2001 a dezembro de 2006, totalizando
66 meses de observação. Foram registradas todas as internações, suas causas e a evolução
dos pacientes. Resultados: Nos 66 meses de observação foram admitidos no Serviço 177
pacientes. Dos 177 pacientes observados, 63 (35.6%) foram internados por problemas
cardiovasculares. Desse total de 63 pacientes, 42 (66.6%) foram submetidos a CAPD e
21 (33.4%) a APD; a idade média foi de 63 anos, variando de 21-93 anos; 33 (52.4%)
pacientes eram do sexo masculino e 57 (90.5%) eram brancos. 55.5% dos pacientes que
internaram por problemas cardiovasculares eram diabéticos. O tempo em diálise variou
de 1 a 51 meses, com média de 24 meses de tratamento. Foram computadas 119
internações por problemas cardiovasculares. As principais causas foram Edema Agudo
de Pulmão (31.9%), Crise Hipertensiva (16.0%), Acidente Vascular Cerebral (14.3%),
Arritmias (10.9%), Insuficiência Cardíaca Congestiva (5.9%), Infarto Agudo do
Miocárdio (5.9%) e outras causas (15.1%). Dos 177 pacientes avaliados no período, 71
foram a óbito, destes 21 (29.5%) por eventos cardiovasculares: 7 por Infarto Agudo do
Miocárdio, 5 por Acidente Vascular Cerebral, 4 por Insuficiência Cardíaca Congestiva e
5 por outras causas; 12 (16.9%) pacientes foram a óbito por morte súbita no domicílio, o
que também é sugestivo de problemas cardiovasculares. Dos 71 pacientes que foram a
óbito no período, 45% eram diabéticos. Conclusões: Há um alto índice de internação e
mortalidade por problemas cardiovasculares entre os pacientes submetidos a diálise
peritoneal. Metade dos pacientes internados e que foram a óbito por causas
cardiovasculares eram portadores de diabetes melitus.
Objetivo: Verificar a ocorrência de fístula Peritôneo-Pleural (PP) e Peritôneo-Escrotal
(PE) em pacientes submetidos à diálise peritoneal. Pacientes e Métodos: Foram
avaliados todos os pacientes em CAPD (Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua) e
APD (Diálise Peritoneal Automatizada) que apresentaram fístula Peritôneo-Pleural e
fístula Peritôneo-Escrotal no período de julho de 2001 a dezembro de 2006, totalizando
66 meses de observação. Relato dos Casos: Nos 66 meses de observação foram
admitidos no Serviço 177 pacientes. Destes, 5 (2.8%) apresentaram fístula peritôneopleural e 3 (1.7%) apresentaram fístula peritôneo-escrotal, totalizando 8 pacientes. A
idade média dos pacientes foi de 56.9 anos, variando de 28 a 88 anos, com tempo médio
de tratamento na época do diagnóstico de 9.7 meses (variando de 1 a 29 meses). A
etiologia da Insuficiência Renal Crônica (IRC) mais prevalente foi a Nefropatia
Diabética 87.5% (7/8 pacientes), seguida por Nefropatia Hipertensiva 12.5% (1/8
paciente); 75% dos pacientes (6/8) eram da raça branca e 62,5% (5/8) eram do sexo
feminino. No momento da descoberta, os 3 pacientes que apresentaram fistula PE
encontravam-se em CAPD: em 1 dos pacientes, a terapia foi suspensa por 3 dias e ele foi
encaminhado para APD, onde permaneceu até o final do estudo sem recidiva (35 meses);
1 paciente foi transferido para hemodiálise (HD) por contra-indicação cirúrgica; e em
outro paciente o CAPD foi suspenso por 4 dias e reiniciado após esse período, sem
recidiva até o final do estudo (7 meses). Dos que apresentaram fístula PP, 2 encontravamse em CAPD e 3 em APD. O diagnóstico das fístulas PP foi feito com os pacientes
internados, através do teste de azul de metileno: em 2 pacientes, o tratamento foi
suspenso por 15 dias e em seguida eles foram transferidos para APD e continuaram no
método até o final do estudo, sem recidiva (1 paciente por 23 meses e o outro por 3
meses); em 3 pacientes o tratamento foi suspenso e eles foram transferidos para HD.
Nenhum dos pacientes que foi submetido à HD voltou ao programa de diálise peritoneal.
Conclusões: Houve uma prevalência grande dessas alterações em pacientes diabéticos, e
em 50% dos pacientes esse tipo de morbidade dificultou ou encerrou a possibilidade do
paciente se manter em programa de diálise peritoneal.
DC 003
DC 004
A PROFUNDIDADE DA CÂMARA ANTERIOR DURANTE SESSÃO DE
HEMODIÁLISE
CAROLINA PELEGRINI BARBOSA1,2, FRANCISCO R STEFANINI1, FERNANDO
M PENHA1, MIGUEL ÂNGELO GÓES2, AUGUSTO PARANHOS JUNIOR1
1 DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA, 2 DISCIPLINA DE NEFROLOGIA
UNIFESP, BRASIL; DISCIPLINA DE NEFROLOGIA, UNIFESP, SÃO PAULO,
BRASIL
ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS EM PACIENTES MANTIDOS
EM HEMODIÁLISE
PATRÍCIA BRANDÃO DA SILVA, CM PELOSO, SM SOUZA E SOUZA, GF
FAZANARO, JZ MAIOLINO, OJ RODRIGUES, NA SANTOS, ELB MARTINS, RR
RIBEIRO E FR LELLO SANTOS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO - HUAV
Introdução: O glaucoma agudo durante a sessão de hemodiálise não é incomum.
Contudo, os resultados de estudos que demonstraram alteração na pressão intraocular
(PIO)durante sessão de hemodiálise são controversos. Objetivo: Avaliar a PIO e a
profundidade da câmara anterior (PCA) em pacientes com IRC Terminal durante a sessão
de hemodiálise. Materiais e métodos: Realizado um estudo prospectivo durante sessão
de hemodiálise. Foram avaliados trinta e sete olhos de vinte pacientes em três (3)
diferentes tempos durante simples sessão de hemodiálise. O Diâmetro Axial e a
profundidade da câmara anterior foram medidas utilizando biometria ultra-sonográfica.
PIO foi avaliada usando tonômetro de Tonopen. Ultrafiltração (UF) e pressão arterial
(PA) foram observadas. Análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas, análises
univariadas e multivariada foram realizadas. Resultados: Não houve diferença no
diâmetro axial entre as 3 medidas durante a sessão de hemodiálise (p=0,08), como na
análise multivariada (p>0,05). Os mesmos resultados foram também observados para a
PCA (p=0,105, p>0,05). Contudo, um paciente teve uma flutuação de mais que 25% na
PCA. PIO não alterou significativamente durante o exame (p=0,73). A PIO e a PCA não
apresentaram correlações significantes com UF e PA (p>0,05). Conclusão: Não
observamos alterações significantes na profundidade da câmara anterior, com isto não
justificando alguns casos de glaucoma agudo durante a sessão de hemodiálise, o que
sugere que este fenômeno acontece em alguns pacientes específicos com ângulos de
câmara anterior estreito.
Introdução: As complicações cardiovasculares constituem a principal causa de
mortalidade em pacientes com DRC. Para detecção de alterações morfofisiológicas
cardíacas dispõe-se do eletrocardiograma (ECG) que, apesar de baixa especificidade, é
um exame não invasivo e disponível nos centros de diálise. Com a finalidade de detectar
alterações eletrocardiográficas em pacientes assintomáticos mantidos em hemodiálise
(HD), foi proposta a realização do ECG durante a sessão dialítica dos pacientes da TRS
do HUAV. Material e métodos: Foi realizado o ECG convencional, com 12 derivações,
durante a sessão dialítica de 51 pacientes no centro de TRS do HUAV. Resultados:
Trinta homens e vinte e uma mulheres com idade variando de 22 a 82 anos (52,4±14,7),
mantidos em HD entre 2 e 94 meses (32,3±24,2), com hemoglobina de 10,0±2,1,
apresentaram os seguintes achados ao ECG: Sobrecarga atrial esquerda, 43,2%;
hipertrofia ventricular esquerda, 39,3%; alteração de repolarização, 37,3%; alteração de
ritmo (BDASE, BRE), 27,5%; alteração isquêmica, 19,7%; normal, 15,7%; sobrecarga
ventricular direita em 1 paciente. Discussão: As sobrecargas de câmaras, SAE e HVE,
foram as principais alterações encontradas. A HVE correlaciona-se a um alto risco de
morte súbita nesta população e o ECG mostrou-se sensível à detecção dessas
alterações. Somente em oito pacientes (15,7%) não encontramos alterações ao ECG. O
ambiente urêmico apresenta vários fatores de risco para o desenvolvimento de doença
cardiovascular, incluindo os tradicionais e os não tradicionais. A HAS e a sobrecarga
hídrica, comumente encontrada nessa população dialítica, são os principais
responsáveis por estes achados. No grupo em estudo, a presença da anemia comportase como um fator não-tradicional de risco que contribui para o desenvolvimento e
progressão de anormalidades estruturais no coração. Esta condição deve ser corrigida
inclusive na fase pré-dialítica. Conclusões: O ECG é um importante instrumento para
estratificação de risco de anormalidades miocárdicas. A anemia pode contribuir para as
alterações cardíacas.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
3
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 005
DC 006
ESTUDO DO ENFRENTAMENTO DA HEMODIÁLISE (HD): RELATOS DE
PACIENTES ANTE A NOVA NECESSIDADE.
ANTONIO CARLOS ROSSI; ROGÉRIO BARBOSA DE DEUS, LÍLIAN
GANDOLPHO
NUPSIQ – NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA
TRANSPLANTE RENAL (TXR): POSSIBILIDADE DE MELHORA NA
QUALIDADE DE VIDA ?
ANTONIO CARLOS ROSSI ;LÍGIA FLORIO, ROGÉRIO BARBOSA DE DEUS
NUPSIQ – NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA
Introdução: Dentre as terapias de substituição da função renal, a hemodiálise ocupa
lugar de destaque. É um tratamento que consiste no uso de um filtro dialisador acoplado
a uma máquina de diálise que proporciona um tratamento eficaz no controle da doença
renal crônica dialítica (DRC5) e permite ao paciente melhora no seu estilo de vida.
Objetivo: Analisar em entrevistas semi dirigidas, as alterações que influenciam a
aceitação do tratamento hemodialítico. Pacientes e Métodos: Selecionamos,
aleatoriamente 23 pacientes (idade: 25 a 54 anos, 12M/11F), no mínimo há 6 meses em
HD, sem alterações visuais, auditivas ou vocais e boa adesividade ao tratamento de HD.
Foram realizadas 2 entrevistas semi dirigidas com duração de 50 minutos, na HD.
Resultados: 38,5% fizeram tratamento conservador, 69,2% com medo de morrer, 92,3%
dificuldades de aceitação da dieta hídrica, 84.6% medo da máquina, 92,3% desânimo,
mudanças na vida, 46,2% mudanças corporais, 84,6% mudanças cotidiano, 46,2%
deixaram de trabalhar, 92,3% pararam de estudar, 53,9% sensação de isolamento familiar
e amigos, 76,9% piora da vida sexual (06 pacientes não relataram sobre vida sexual).
Conclusão: O estudo mostra necessidade de avaliação prévia (tratamento conservador)
em pacientes pré-dialíticos e a possibilidade de acompanhamento psicológico destes
pacientes.
Introdução: O transplante renal (TXR) é um método de tratamento para pacientes com
doença renal crônica classe 5 (DRC5) que apresenta melhora da qualidade de vida dos
pacientes. Objetivo: Analisar as alterações de comportamentais que influenciam as
expectativas para o TXR. Metodologia: Foram levantados prontuários de 23 pacientes
(12M/11F, idade 54 ± 16 anos, média ± desvio padrão, X±DP) em terapia renal
substitutiva, sem outras co-morbidades e com deambulação preservada. Responderam a
um questionário.
Questionamento individual (n=23)
Deseja fazer TXR
Prefiro DVR (doador vivo relacionado)
Prefiro DC (doador cadáver)
Voltar a trabalhar
Voltar a estudar
Medo de morrer no TXR
Deixar de ter restrições hídricas/alimentares
Ficar livre da máquina de diálise
Ter uma vida sexual mais saudável
Deixar de ir até a unidade de diálise
Sim (%)
92,3*
30,8
69,2*
53,9
23,1*
53,9
92,3*
92,3*
23,1*
84,6*
Não (%)
7,7
53,9
15,4
7,7
-
Outros (%)
15,4
15,4
46,2
76,9
38,5
7,7
7,7
76,9
7,7
Resultados: Observou-se que o nº de pacientes que querem fazer TXR e com doador
cadáver são significantemente maiores. Também observamos que ficar livre da máquina
de diálise, de comparecer ao centro de diálise liberar das restrições alimentares
apresentaram diferenças significativas entre as respostas. Conclusões: Observamos que
os pacientes deslocam, suas expectativas de melhora da qualidade e retorno as atividades
da vida com a realização do TXR.
DC 007
DC 008
ASPECTOS SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS DE PACIENTES EM
HEMODIÁLISE (HD) EM CLÍNICA SATÉLITE DE SÃO PAULO.
ANTONIO CARLOS ROSSI ; LÍGIA FLORIO, ROGÉRIO BARBOSA DE DEUS
NUPSIQ – NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA
M-EDTA NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO EM CATETER DE
HEMODIÁLISE : ASPECTOS FARMACOLÓGICOS.
JOSÉ ROSITO FILHO; PEDRO ROSITO, JOSÉ ROSITO NETO, JOÃO CARLOS
BIERNAT E MARCELA SANTIAGO BIERNAT
CLINIRIM PORTO ALEGRE -RS
Objetivo: Avaliar as características sócio-demográficas dos pacientes que iniciaram HD
em hemodiálise. Pacientes e métodos: Foram selecionados 77 pacientes (50M,27F com
idade de 56 ± 14 anos, X±DP) que iniciaram HD há pelo menos 6 meses em unidade
satélite. Foram avaliados, retrospectivamente, o prontuário destes pacientes deste o início
da HD com ênfase em tempo de tratamento, idade, condições sócio-familiares, emprego,
interesse em transplante renal.
sexo
F
M
T
Estado civil
S C D V
07 15 00 05
06 37 02 05
13 52 02 10
B
14
32
46
Etnia
N A
04 00
08 01
12 01
P
09
09
18
Trabalho
inativo ativo
01
08
17
24
18
32
TXcomorbidades
Cad DVR HAS DM
13
07
09 04
36
08
25 21
49
15
34 25
Resultados: Etnia: B: branco, N: negra. A: amarelo, P: parda. Estado civil: S: solteiro.;
C: casado; D: separado; V: viúvo. No grupo total 9 pacientes apresentavam hepatite B e
13 pacientes sem condições clínicas (médico-laboratoriais) para TXR. Os pacientes para
HD que eram do sexo masculino, com atividade profissional, raça branca e com
preferência para transplante para doador cadáver foram significativamente maiores
quando comparados com o grupo feminino, e o grupo masculino apresentava-se com
maiores índices de co-morbidades. Conclusões: Observamos que houve um maior
interesse em TXR nos indivíduos que iniciam HD e não houve influencia das etnias, no
mesmo sexo.
4
Introdução: a contaminação bacteriana e fúngica, com formação de biofilmes em
cateteres de hemodiálise, representa alto risco para pacientes por ser quelante de cálcio,
magnésio e ferro o edetato dissódico (edta) mostrou-se eficaz contra bactéria, fungo e
biofilme. Objetivo: propor uma nova formulação e estudar a fármaco-técnica
(estabilidade, doseamento de edta, minociclina e m-edta) e análise microbiológica da
mistura de minociclina com edta. Métodos: avaliou-se a estabilidade e doseamento de
m-edta por cromatografia líquida e espectrofotometria de absorção atômica dos
componentes em separado e de m-edta; a formulação testada foi: cloridrato de
minociclina 9,0 mg;edta 90 mg;veículo 3 ml, sendo 3,0g% a concentração de edta e de
0,3 g% da minociclina as mensurações foram trimestrais avaliou-se a compatibilida de
do m-edta com a embalagem primária e a esterilidade com thioglicolathe broth, tryptic
soy broth, ts agar e sabouroud. Resultados: a estabilidade de minociclina, edta e do
produto-teste m-edta foi:
tempo
zero mês
três meses
seis meses
minociclina (%)
99,2
99,2
99,2
edta ( % )
98,8333
98,3333
98,3333
m-edta ( mg )
99,3333
99,3333
99,0000
o coeficiente de variação foi de 0% para minociclina, de 0,04496% para edta e de
0,4474% para o produto m-edta a solução de m-edta manteve as características de
compatibilidade com embalagem e cor, não surgindo precipitados ou turvação ou
alterações nas características físicas, químicas e biológicas, por ação de fatores
ambientais do ponto de vista microbiológico as amostras dos lotes analisados foram
estéreis. conclusões: observou-se estabilidade, compatibilidade e esterilidade adequadas
do m-edta, mantendo-se as características farmacológicas originais dos seus
componentes.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 009
DC 010 (TL 001)
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CATETER DE HEMODIÁLISE (HD) COM
SOLUÇÃO DE M-EDTA
JOÃO CARLOS BIERNAT, J. ROSITO Fº, J. ROSITO NETO, P. ROSITO, F. DOS
SANTOS, A.M.G. SANTOS, M.S. BIERNAT, D. KOCHHANN E M.S. DEMIN
CLINIRIM –PORTO ALEGRE -RS
DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS EM CLÍNICA DE DIÁLISE
ALESSANDRA VIEGAS CORRÊA; MÔNICA N.S.CASTRO; MARIA DA GLÓRIA
S.LIMA; MARIA A SINQUINI
GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA LTDA-GAMEN
Introdução: Heparina em cateter não protege de infecção,havendo alta incidência de
sepse por cateter. Edetato dissódico (EDTA) é um forte quelante de cálcio, magnésio e
ferro, com conhecida ação anti-biofilme e bactericida, além de ser anticoagulante.
Objetivo: Verificar a eficiência de solução de Minociclina eEDTA na prevenção de
infecção de cateter de HD. Metologia: Hemoculturas seriadas, prospectivas, foram
coletadas de 2 em 2 dias, antes de sessão de HD, através de 15 cateteres duplo lúmen.
Após a sessão, a luz de 8 cateteres foi preenchida com Heparina (grupo A), e com MEDTA (grupo B) em 7 cateteres. Usou-se técnica estéril; havendo oclusão, retirada de
cateter ou uso de antibióticos encerrava-se a observação. A solução de M-EDTA
continha 3,0 mg/ml de Minociclina e 30 mg/ml de EDTA. As hemoculturas foram
encuba das por 5 dias em caldo BHI (Brain Heart Infusion ) e a identificação bacteriana
feita com provas bioquímicas usuais e sistema Bactray. Resultados: Realizaram-se 160
hemoculturas, sendo 84 no Grupo A (heparina) e 76 no Grupo B (M-EDTA). No Grupo
A, o tempo acumulado de observação foi de 248 dias e o tempo médio de permanência
do cateter foi 31 dias. No Grupo B, a observação foi de 203 dias e o tempo médio de
permanência no estudo foi de 29 dias, por cateter. Hemoculturas foram positivas em 8
exames no Grupo A , com incidência de 9,52% de contaminação contra 1 hemocultura
positiva no Grupo B, que teve 1,31% de contaminação (p<0,05). Identificaram-se
Staphylococcus aureus em 4 amostras, Kleb-siella pneumoniae em 4 amostras e
Streptococcus pneumoniae em 1 hemocultura. Quanto à contaminação específica de
cateteres, ocorreu em 4 do Grupo A e em 1 do Grupo B. Conclusões:: solução de MEDTA, comparada com Heparina, previne de modo significativo a contaminação de
cateter de Hemodiálise; estes resultados sugerem que M-EDTA seja um importante
aliado na efetiva prevenção de infecção em cateter.
Introdução: Este trabalho tem a finalidade de demonstrar os desafios encontrados durante
a criação e implementação do plano de gerenciamento de resíduos em serviço de diálise.
Objetivo: O objetivo do trabalho é compartilhar com demais profissionais da área de
saúde, os desafios para criar e implementar um gerenciamento de resíduos de forma que
sejam obedecidas as normas vigentes, além de cumprir com a responsabilidade sócioambiental. Método: O primeiro passo dado foi a elaboração do plano de gerenciamento,
com coleta de todos os dados da empresa, número de funcionários, número de pacientes,
localização e identificação das fontes geradoras, nomeação de responsáveis pela
elaboração e implementação do plano, interrelação dos grupos (Cipa-comissão interna de
prevenção de acidentes, CCIH-comissão de controle de infecção e PCMSO-programa de
controle médico e saúde ocupacional). A partir daí seguiu-se para a fase de formação de
grupos multiplicadores para adquirir comprometimento das lideranças; etapa de compra
de materiais, contato com empresas compradoras de produtos recicláveis, coleta seletiva,
convivência e adequação das rotinas por parte de todos os funcionários e confecção de
folhetos informativos. Devido a grande rotatividade de funcionários no estabelecimento
elaborou-se um questionário para quantificar o percentual de profissionais com
treinamento no referido assunto. Foram distribuídos 100 questionários, dos quais 76 foram
respondidos. Resultados: As etapas do gerenciamento de resíduo na clínica puderam ser
concretizadas em um período de três anos, aproximadamente. Dentre os quais foi de
fundamental importância a educação continuada. Em 2005, criou-se a primeira semana de
gerenciamento de resíduo da clínica, com continuidade nos anos posteriores. Neste ano foi
criado o jornal informativo e já conseguimos, através do processo de coleta seletiva de
materiais recicláveis, evitar que fosse vazado em aterro sanitário em apenas um mês,
aproximadamente 1,1 tonelada de resíduo reciclável, bem como a capacitação de 70,58%
do total de funcionários, tendo ainda como meta a capacitação de toda a equipe. Discussão
e Conclusão: Em 2004 e 2005 foi elaborado e implementado o plano de gerenciamento
do estabelecimento, onde através dos gráficos acima pode-se visualizar que o grupo dos
resíduos infectantes era consideravelmente superior aos demais grupos (comum,
reciclável ou não, químicos e perfurocortantes). Durante a implementação do plano e o
trabalho com a coleta e separação de materiais recicláveis, que foi contemplado em 2006,
percebeu-se a redução gradativa do percentual de resíduo infectante, aumento do resíduo
comum e consequentemente do resíduo reciclável. Foi constatado que não houve nenhum
acidente relacionado ao manuseio e descarte incorreto dos resíduos. O sucesso do projeto
deve-se a intensa colaboração e incentivo da instituição em promover a educação
continuada. Portanto, conclui-se que, foi vencido um dos maiores, senão o maior, desafio
para implementação de um projeto, a mudança de pensamentos, discurso e atitude.
DC 011
DC 012 (TL 001)
CONHECIMENTO DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
LIA CONRADO; TUFIK J M GELEILETE, MARIA THEREZINHA I VANNUCCHI,
JULIANA QUEIRÓS, ROSEMEIRE A LOUSADA, ELIANA SUKADOLNIK.
SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO
USO DE ÁCIDO NICOTÍNICO (AN) NO TRATAMENTO DA
HIPERFOSFATEMIA (HF) NOS PACIENTES EM HEMODIÁLISE.
ANACARLA SYDRONIO DE SOUZA, ANA HELENA AIRÃO, PRISCILA
LUSTOZA, SOLANGE BARUKI, LEONARDO LEIROZ, ELIZABETE ARAUJO,
GLADYS DA MATTA.
ASSISTENCIA RENAL TOTAL, RIO DE JANEIRO
Introdução: pacientes em hemodiálise (HD) possuem alto risco cardiovascular (RCV),
sendo a HAS um dos fatores mais fortes deles. O tratamento destes baseia se
principalmente no controle dos fatores de risco modificáveis, como pressão arterial,
hábitos alimentares inadequados, dieta rica em sal, sedentarismo, tabagismo, consumo de
álcool e obesidade. Objetivo: Avaliar o conhecimento dos pacientes a respeito dos
fatores de RCV e seu controle, em pacientes que estão em HD. Pacientes e Métodos:
foram avaliados 119 pacientes em HD em serviço de nefrologia de grande porte em
Ribeirão Preto através questionários estruturados abordando conhecimento da PA,
hábitos de vida e dietéticos. Resultados: Dos 119 pacientes avaliados 29,4% (n=35)
apresentavam PA controlada (PAc) sendo que destes 45,7% tinham real conhecimento
deste controle, enquanto que dos 70,6% dos hipertensos não controlados (PAn) 25% não
tinham conhecimento da inadequação. Apresentavam IMC >25; 48 pacientes, sendo que
42% destes consideravam seu peso adequado. Apenas 2 pacientes não identificam o sal
como ruim para controle de sua PA, porem 13 reconhecem não o restringir na dieta. Dos
pacientes com PAc 8,6% ingerem álcool contra 20,2% dos com PAn, embora 91% nos
dois grupos o identifiquem como indesejável. No grupo PAc 8,5% são tabagistas contra
15,5% no PAn, mas 89% nos 2 grupos o reconhecem como fator RCV. Apenas 78% dos
pacientes sabem que a atividade física regular é protetiva. Conclusão: para uma
população de alto RCV, e tão intensivamente monitorizada, o grau de conhecimento dos
próprios fatores de RCV é insuficiente. Além disto, alguns pacientes não melhoram seus
hábitos apesar do conhecimento.
Introdução: A tendência a retenção de fosfato se inicia cedo na doença renal, devido a
redução de sua filtração. A hiperfosfatemia é um evento tardio, estando intimamente
relacionada ao hiperparatireoidismo secundário, que promove um papel importante no
desenvolvimento da osteodistrofia renal e suas complicaões. Por isso a prevenção da
hiperfosfatemia tem sido buscada em todas as fases da doença renal. A restrição ao
fósforo na dieta e o uso de diferentes agentes para se ligar ao fósforo ingerido são as duas
modalidades de tratamento usadas. Objetivo: Observar o efeito do acido nicotínico no
tratamento da hiperfosfatemia em pacientes em hemodiálise. Material e Métodos:
Estudo prospectivo, por três meses, em três pacientes com fósforo acima de 7,5 em HD.
Utilizamos inicialmente 250mg de AN, à noite e observamos cálcio, fósforo,
paratormônio, colesterol, triglicerideos, creatinofosfoquinase e LDH, mensalmente, ou
na presença de queixa relacionada à lise muscular. Resultados: Total de três pacientes,
duas mulheres (66%) um homem ( 34%), 100% da cor parda, com idade média de 45
anos (41-50), tempo médio em HD 152 meses (111-192), tendo como doença de base
hipertensão arterial, pielonefrite crônica e GESF. A média do fósforo inicial foi de 10,30
mg/dl(7,5-14,2 mg/dl) e do produto cálcio fósforo foi de 93,37 (70,5-124,20), após
noventa dias de tratamento a média da redução do fósforo foi de 37,66% (16-58%).
Apenas 1(34%) paciente apresentou discreto aumento na cratininofosfoquinase(CK) sem
clínica para rabdomiólise, 100% dos pacientes apresentaram queda do colesterol e
triglicerideos. 66,66% dos pc necessitaram do aumento da dose do AN para melhor
resposta da queda do fósforo. A dose máxima utilizada foi de 750 mg a noite.
Conclusão: A amostra apesar de pequena, revela que o ácido nicotínico pode ser eficaz
e seguro no tratamento da hiperfosfatemia em renais crônicos em hemodiálise,
auxiliando também no controle do colesterol e triglicerideos, sem aparente risco de
rabdomiólise, podendo ser uma alternativa no controle do fósforo nesta população.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
5
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 013
DC 014 (TL 002)
PERITONITE POR RHODOCOCCUS SPP. EM DIÁLISE PERITONEAL:
RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
MATTA, GJ ; SAMPAIO, PLG; COSTA, S; ARAÚJO, E; STANISCK, SF; SANTAROSA, AH; BARUKI, S; LEIROZ, LK; SYDRÔNIO, AC.
ART- ASSISTÊNCIA RENAL TOTAL
A AVALIAÇÃO DAS COMORBIDADES NA ADMISSÃO DOS PACIENTES EM
HEMODIÁLISE É UM FORTE PREDITOR DE SUA SOBREVIDA
ANA CRISTINA CARVALHO DE MATOS; CRISTIANE MOCELIN, CAMILA
SARDENBERG, MARIA CLAUDIA ANDREOLI, ERIKA RANGEL, MOACIR DE
OLIVEIRA, OSCAR F. P. SANTOS, MIGUEL CENDOROGLO, BENTO F. SANTOS
CENTRO DE DIÁLISE EISNTEIN – INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E
PESQUISA
Introdução: Rhodococcus equi, anteriormente denominado Corynebacterium equi, tem
sido reconhecido como um agente causador de broncopneumonia em eqüinos a partir do
isolamento em potros infectados em 1923. Esse agente emergente é descrito como
causador de infecções em humanos, especialmente em pacientes imunocomprometidos e
portadores do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV). Entretanto, o
relato de infecções extrapulmonares e em pacientes imunocompetentes é infrequente.
Objetivos: Relato de caso de peritonite associada a diálise peritoneal automatizada
causada por Rhodococcus sp. e revisão da literatura. Relato de caso: Paciente masculino,
70 anos, portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica há 20 anos,
evoluindo com perda progressiva da função renal e azotemia, sendo indicado tratamento
dialítico em julho de 2005 via cateter de duplo lúmen e posterior inclusão em programa
de diálise peritoneal automatizada, sem história prévia de peritonite. Paciente evoluiu em
novembro de 2005 com quadro de peritonite e abscesso peritoneal, com indicação de
laparotmia exploradora, drenagem de secreção purulenta e retirada do cateter de
Tenckhoff. Cultura de líquido peritoneal evidenciou crescimento de Rhodococcus sp.
Iniciada antibioticoterapia com vancomicina, rifampicina e ciprofloxacina, evoluindo
com dor abdominal e drenagem espontânea de secreção purulenta pela ferida operatória.
Tomografia computadorizada do abdome evidenciou abscesso supravesical com fístula
cutânea. Paciente evoluiu para cura clínica e microbiológica após 3 meses de
antibioticoterapia específica Conclusão: A descrição de um caso de peritonite associada
a diálise com a formação de coleção intraperitoneal e abdominal e o pequeno número de
relatos descritos na literatura demonstram a importância desse patógeno emergente.
Devido ao caráter insidioso do quadro infeccioso, a demora no estabelecimento do
diagnóstico etiológico e as dificuldades terapêuticas, o diagnóstico deve ser considerado
em pacientes com suspeita de peritonite associada a diálise causada por difteróides ou
Nocardia sp.
Objetivos: Identificar os fatores que influenciam a sobrevida dos pacientes em programa
crônico de hemodiálise em um Hospital Privado do Brasil. Materiais e métodos: Foram
avaliados, retrospectivamente, 99 pacientes que estiveram em programa crônico de
hemodiálise por pelo menos 3 meses, no período de 02/2000 a 10/2006. As
características dos pacientes que foram avaliadas quanto a possível influência na
sobrevida foram: causa da IRC (diabete melito ou não), sexo, idade, níveis de albumina,
proteína C reativa (PCR), hemoglobina e o Índice de Doenças Coexistentes, o ICED, da
admissão. Análise estatística: As curvas de sobrevida foram calculadas pelo método de
Kaplan-Meier e as diferenças entre as curvas foram avaliadas pelo teste log-rank.
Resultados: A idade dos pacientes foi de 63.14±16.18 anos, 34% deles eram do sexo
feminino e 40% apresentavam DM como causa da IRC. A distribuição dos pacientes de
acordo com o nível de ICED foi: 25 (25%) pacientes apresentavam ICED leve, 36 (36%)
ICED moderado e 38 (38%) ICED grave. Trinta e três pacientes (33%) foram a óbito, 24
(24%) foram submetidos a transplante renal, 5 (5%) foram transferidos para outra
unidade de diálise, 36 (36%) continuaram em hemodiálise e 1 (1%) paciente recuperou
a função renal. A sobrevida em 1 ano foi de 80%. Na análise univariada, os fatores que
se associaram à sobrevida foram o nível de PCR na admissão (RR=1.39 IC 95%: 1.041.85; p=0.026), a idade do paciente (RR=1.049 IC 95%: 1.017-1.082; p=0.028) e o nível
de ICED 3 em relação ao nível de ICED 1 (RR=9,25 IC 95%: 1.23-69.48; p=0.03). Na
análise multivariada, os fatores que se associaram à sobrevida foram a idade (p=0.0025)
e o ICED grave em relação ao ICED leve (p=0.0341). Conclusão: A utilização do ICED
na admissão dos pacientes em hemodiálise identifica aqueles com maior risco de óbito e
auxilia na otimização de seu tratamento e dos recursos necessários.
DC 015 (TL 002)
DC 016
RELAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA COM A SOBREVIDA DE PACIENTES
EM HEMODIÁLISE
PAULO RICARDO MOREIRA; PRISCILA BUNDCHEN, NARA MARISCO,
SILVANA KEMPFER, RODRIGO PLENTZ.
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA, CLÍNICA RENAL SANTA LÚCIA.
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO VO2 MÁX NA SOBREVIDA DE
PACIENTES EM HEMODIÁLISE
PAULO RICARDO MOREIRA, PRISCILA BUNDCHEN, NARA MARISCO,
SILVANA KEMPFER, RODRIGO PLENTZ.
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA, CLÍNICA RENAL SANTA LÚCIA
Introdução: Muitas variáveis têm valor preditivo de mortalidade entre pacientes em
hemodiálise. Entre elas incluem-se parâmetros bioquímicos, antropométricos,
nutricionais, cardiovasculares e comorbidades. A capacidade de exercício, avaliada pelo
consumo de oxigênio (VO2 máx), embora influenciada por muitos dos fatores acima
citados, tem sido demonstrado como um fator independente de mortalidade ou sobrevida,
em um número de doenças crônicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da
capacidade física na sobrevida dos pacientes em hemodiálise. Métodos: Cento e nove
pacientes foram avaliados para a realização de teste ergométrico em esteira no ano de
1996. Cinqüenta e dois pacientes foram considerados aptos e 57 pacientes apresentaram
alguma contra-indicação ao teste e serviram de grupo controle para um ensaio dos efeitos
do treinamento físico em pacientes de hemodiálise. Onze anos após, a sobrevida destes
pacientes foi analisada e examinada a relação dos valores estimados da capacidade física
com a ocorrência de óbito. Os dados foram apresentados como média e desvio-padrão.
As médias das variáveis com distribuição normal foram comparadas pelo teste t de
Student e das variáveis não paramétricas pelo teste de Mann-Whitney. Utilizou-se o
programa Epiinfo 2000 para a análise estatística. Resultados: Cinqüenta e dois pacientes
realizaram o teste ergométrico. Quarenta e nove pacientes tiveram seguimento completo,
tendo uma sobrevida média de 121,9±58,3 meses, significativamente superior (p =0,000)
do que os 54 pacientes que não realizaram o teste ergométrico, os quais obtiveram uma
sobrevida média de 83,8±54,4 meses. As médias dos Questionários de Duke, Índice de
Severidade da Doença Renal (ISDR) e Karnovski dos pacientes que realizaram o teste
ergométrico foram, respectivamente, 26,1±5,9, 7,3±5,7, 85,3±9,36, significativamente
(p=0,000; p=0,000; p=0,000) distintos dos pacientes que não realizaram o teste, que
foram, respectivamente, 18,7±6,1, 14,4±9,5, 75,2±13,9. A chance de um paciente ter
feito o teste ergométrico e permanecer em hemodiálise após 11 anos é de 15,23 vezes (p=
0,003) maior do que o paciente inapto para realizar o teste ergométrico. Por outro lado
ter capacidade física para realizar o teste ergométrico tem um efeito protetor de morte de
0,59 (p=0,000). Em conclusão, os pacientes que fizeram o teste ergométrico eram
significativamente mais jovens e apresentavam uma capacidade física e um grau de
reabilitação maior, que deve ter contribuído para a permanência em programa de
hemodiálise significativamente superior aos pacientes inaptos para a realização do teste.
Por outro lado, a presença de maiores comorbidades nos pacientes inaptos deve ter
contribuído para a diminuição da capacidade física e menor tempo de hemodiálise.
Introdução: Muitas variáveis tem valor preditivo de mortalidade entre pacientes em
hemodiálise. Entre elas incluem-se parâmetros bioquímicos, antropométricos,
nutricionais, cardiovasculares e comorbidades. A capacidade de exercício, avaliada pelo
consumo de oxigênio (VO2 máx), embora influenciada por muitos dos fatores acima
citados, tem sido demonstrada como um fator independente de mortalidade ou sobrevida,
em um número de doenças crônicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do
VO2 máx na sobrevida dos pacientes em hemodiálise. Métodos: Cinqüenta e dois
pacientes em tratamento hemodialítico foram submetidos a teste ergométrico no ano de
1996. A sobrevida destes pacientes foi avaliada, decorridos 11 anos, até abril 2007. Onze
pacientes permaneciam em hemodiálise, dez foram transplantados, vinte e quatro foram a
óbito e 7 transferidos de unidade. Três pacientes foram excluídos por perda de
seguimento. Para a análise estatística, os pacientes foram divididos em 2 grupos (grupo 1
– óbito, grupo 2 – vivos). Os dados foram apresentados como média e desvio-padrão. As
médias das variáveis com distribuição normal foram comparadas pelo teste t de Student e
das variáveis não paramétricas pelo teste de Mann-Whitney. Utilizou-se o programa
Epiinfo 2000 para a análise estatística. Resultados: Dos 49 pacientes, com seguimento
completo, 24 foram a óbito e 25 continuam vivos. As média de VO2 máximo e tempo de
HD do grupo 1 foram, respectivamente, 18,4±8,6 mL/min/Kg, e 129,2±51,9 meses, não
havendo diferença significativa (p=0,34; p=0,30) dos pacientes do grupo 2, que foram,
respectivamente, 20,6±8,2 mL/min/Kg e 114,8±64,1 meses. Houve uma tendência de um
número maior de pacientes do grupo 2 terem sido submetidos a transplante renal, tendo
uma saída de hemodiálise mais precoce do que o grupo 1. Já, a média de Índice de
Severidade da Doença Renal (ISDR) do grupo 1 foi 10,6±5,9, sendo significativamente
maior (p=0,000) que no grupo 2, que foi 4,8±3,7. As médias de FC repouso e FC máxima
no grupo 1 foram, respectivamente, 79,6±11,0 bpm e 142,4±25,6 bpm, significativamente
menor (p=0,04; p=0,03) que no grupo 2, que foram 85,8±12,0 bpm e 157,1±21,1 bpm,
respectivamente. Conclusão: Os nossos dados demonstram que a capacidade física
avaliada pelo VO2 máx não foi significativamente diferente entre ambos os grupos de
pacientes. Por outro lado, a presença de comorbidades avaliada pelo ISDR, foi mais
prevalente no grupo 1 (óbito), confirmando outros autores, que afirmaram que a presença
de comorbidades afeta a sobrevida . Entretanto, nos nossos pacientes, o fator mais
importante para distinguir ambos os grupos foi o valor médio da freqüência cardíaca em
repouso e a resposta da freqüência cardíaca em exercício. A resposta bloqueada da FC em
exercício tem sido relatado em cardiopatas como fator de risco para morte e de prejuízo
no desempenho físico. A neuropatia autonômica deve desempenhar um papel importante
nesta resposta bloqueada da FC, merecendo estudos específicos.
6
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 017
DC 018
“PREVALÊNCIA DE DEMÊNCIA EM IDOSOS PORTADORES DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM PROGRAMA DE HEMODIÁLISE”
OLIVEIRA, CAF, RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; OLIVEIRA, RRD; PESSOA, MCA; QUEIROZ, SAGVV;
SOUTINHO, LW
FHAIAA-AL
“PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO EM IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA
RENAL CRÔNICA EM PROGRAMA DE HEMODIÁLISE”
OLIVEIRA, CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; OLIVEIRA, RRD; QUEIROZ, SAGVV; SOUTINHO, LW;
MARANHÃO, CEC.
FHAIAA-AL
Introdução: A demência é hoje o problema de saúde mental que mais rapidamente
cresce em importância e número. Sua prevalência aumenta exponencialmente com a
idade. Objetivos: O presente estudo tem por objetivo estimar a prevalência de demência
em idosos portadores de insuficiência renal crônica em programa de hemodiálise.
Metodologia: Foi realizado estudo descritivo transversal, entre os meses de março e
junho de 2007, com idosos de idade igual ou superior a 60 anos, submetidos a
hemodiálise crônica no setor de Nefrologia do Hospital do Açúcar, em Maceió, AL. Os
idosos responderam ao Mini-Exame do Estado Mental (FOLSTEIN et al), o qual consta
de perguntas relacionadas com orientação; memória imediata; atenção e cálculo;
evocação e linguagem. A escala apresenta uma pontuação máxima de 30 pontos. O
diagnóstico de possível demência é interpretado de acordo com a escolaridade:
analfabeto (<14 pontos, possível demência), ginásio (< 18 pontos, possível demência),
altamente escolarizado (< 24 pontos, possível demência). Resultados: O estudo
envolveu 31 pacientes de ambos os sexos, predominância do sexo masculino (77,41%),
com idade acima de 60 anos (média de 67,1 ± 6,25 anos). A pontuação média foi de 23,39
pontos. Três pacientes apresentaram resultados compatíveis com demência (9,7%).
Conclusão: Encontramos neste estudo uma prevalência bastante elevada de sintomas de
demência em pacientes idosos portadores de insuficiência renal crônica submetidos à
hemodiálise.
Introdução: Depressão é a doença psiquiátrica mais comum entre os idosos,
freqüentemente sem diagnóstico e sem tratamento. A prevalência de depressão nos
idosos é relevante na prática clínica, tendo como objetivo intervenção adequada.
Objetivo: Determinar a prevalência de depressão em idosos com insuficiência renal
crônica em programa de hemodiálise. Metodologia: Foi realizado estudo descritivo
transversal, entre os meses de março e junho de 2007, com idosos de idade igual ou
superior a 60 anos, submetidos à hemodiálise no setor de Nefrologia do Hospital do
Açúcar, em Maceió, AL. Os idosos responderam à Escala de Depressão Geriátrica de
Yesavage, versão simplificada com 15 perguntas, sendo enquadrados como apresentando
suspeita de depressão aqueles cujos testes resultaram em uma pontuação maior que 5.
Resultados: O estudo envolveu 30 pacientes, com idade acima de 60 anos (média de 66,8
+ 5,87 anos), dos quais 13 (43,33%) apresentaram resultados compatíveis com depressão.
Conclusão: Encontramos no presente estudo uma prevalência bastante elevada de
sintomas de depressão, em pacientes idosos portadores de insuficiência renal crônica
submetidos à hemodiálise, chegando a duas vezes a prevalência de depressão na
população geriátrica não institucionalizada observada por Duarte & Rego, 2007 na
Cidade de Rio de Janeiro.
DC 019
DC 020
“PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E
HIPERTROFIA DE VENTRÍCULO ESQUERDO EM PACIENTES EM
HEMODIÁLISE.”
OLIVEIRA, CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; COSTA, FA; PESSOA, MCAP.
FHAIAA-AL
“QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS
COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE, AVALIADA
ATRAVÉS DO INSTRUMENTO GENÉRICO SF-36”
OLIVEIRA, CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; MARANHÃO, CEC; SIQUEIRA, GSM; RIBEIRO, YJP.
FHAIAA-AL
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a co-morbidade mais freqüente em
pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), além de uma das principais causas de
IRC em diálise. Objetivo: Estabelecer a prevalência de HAS em pacientes portadores de
IRC em programa de hemodiálise no serviço de nefrologia do Hospital do Açúcar em
Maceió-AL. Verificar a prevalência de hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE) nesta
mesma população. Metodologia: Um total de 100 pacientes foi submetido a questionário
específico e exame ecocardiográfico. HAS foi definida como presente nos pacientes com
relato espontâneo de HAS e/ou em uso de medicação hipotensora. HVE foi definida
como presente naqueles pacientes com diâmetro diastólico de Parede Posterior de VE
(dDPp) e/ou Septo (dDS) maior que 11 mm. Os resultados são relatados em números
absolutos, percentuais, médias e desvio padrão. Resultados: Dos 100 pacientes
estudados, 90 (90%) eram portadores de HAS, nestes a idade média foi de 46,97 +13,57
anos, o dDPp foi 11,91+2,36 e dDS 12,7+2,88. Nos pacientes sem HAS a idade média
foi 39,70 + 17,44 e o dDPp foi 9,95+1,50 e dDS 10,65+2,30. A prevalência de HVE na
população estudada foi de 65%, sendo maior na população com HAS: 62 pacientes
(68,89%) que na população sem HAS: 3 pacientes (30%). Conclusão: Concluímos que
HAS é uma patologia de prevalência extremamente elevada em pacientes com IRC em
Hemodiálise, com grande repercussão de órgão alvo (não rim) estudada neste caso por
HVE.
Introdução: A necessidade de avaliação da qualidade de vida dos pacientes está cada dia
mais presente na área da saúde. Para os pacientes em hemodiálise, isto é mais imperativo
visto que novas tecnologias e terapêuticas têm favorecido o aumento da expectativa de
vida destes. O diabetes tem extrema relação com a Insuficiência renal crônica e seu
impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise necessita ser
esclarecido. Objetivos: Verificar se há diferença na qualidade de vida entre pacientes
diabéticos e não diabéticos submetidos a hemodiálise crônica. Métodos: O estudo
constou de entrevista através do questionário genérico SF-36 e coleta de dados
demográficos de pacientes em programa de hemodiálise em um serviço de nefrologia de
Maceió-AL. Os valores são expressos em números absolutos, médias e desvio padrão, a
análise estatística foi realizada com teste exato de Fisher e teste t de Student quando
apropriados. Os pacientes foram divididos em diabéticos (grupo A) e não diabéticos
(grupo B). Resultados: Ambos os grupos constaram de 23 pacientes sem diferença
significante em relação à gênero e idade média entre si. Foi evidenciada uma diferença
bastante significativa entre a qualidade de vida dos dois grupos estudados (p=0,003),
onde o grupo B apresentou os melhores resultados. Os aspectos nos quais foi evidenciada
maior relevância foram: funcionalidade física (p=0,002), ânimo/cançaso (p=0,018), bemestar emocional (p=0,033) e funcionalildade social (p<0,0001). Conclusão: Constatou-se
que o questionário SF-36 foi um bom instrumento para avaliação da qualidade de vida na
população estudada. O diabetes foi confirmado como um fator de impacto negativo na
qualidade de vida em pacientes em programa de hemodiálise.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
7
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 021
DC 022
“QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL
CRÔNICA EM HEMODIÁLISE PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E POR
CONVÊNIOS PRIVADOS, AVALIADA ATRAVÉS DO INSTRUMENTO
GENÉRICO SF-36”
OLIVEIRA, CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; MARANHÃO, CEC; PESSOA, MCA; RIBEIRO, YJP
FHAIAA-AL
“TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM
PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM
PROGRAMA DE HEMODIÁLISE.”
OLIVEIRA, CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; COSTA, FA; PESSOA, MCA; SOUTINHO, LW
FHAIAA-AL
Introdução: A avaliação da qualidade de vida na assistência à saúde humana tem sido
alvo de inúmeros estudos nos últimos anos, visando adequar e implementar medidas
trilhando sempre o caminho de melhor bem estar. Objetivos: Comparar a qualidade de
vida entre pacientes submetidos à hemodiálise crônica que possuem plano de saúde
privado (PSP) e os que a realizam pelo sistema único de saúde (SUS). Métodos: O
estudo constou de entrevista através do questionário genérico SF-36 e coleta de dados
demográficos de pacientes em programa de hemodiálise em um serviço de nefrologia de
Maceió-AL. Os valores são expressos em números absolutos, médias e desvio padrão, a
análise estatística foi realizada com teste exato de Fisher e teste t de Student quando
apropriados. Resultados: Foram estudados 17 pacientes que possuem PSP e 17 que têm
assistência do SUS. Dos pacientes com PSP, 12 (70,6 %) eram do sexo masculino, com
uma média de idade de 51,3 anos. Dos pacientes do SUS, 10 (58,8 %) eram do sexo
masculino com média de idade média de 51,5 anos. Foi observado que os pacientes com
acesso a PSP têm uma melhor qualidade de vida global em relação aos pacientes do SUS
(p=0,031) e os aspectos que mais evidenciaram diferença foram saúde geral (p=0,009) e
bem-estar emocional (p=0,046). Conclusão: O questionário genérico SF-36 foi um bom
parâmetro para avaliar a qualidade de vida nos dois grupos. Foi constatado que a
qualidade de vida entre os pacientes em programa de hemodiálise é influenciada pelo
melhor acesso aos serviços de saúde de pacientes portadores de PSP.
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é, sem dúvida, a co-morbidade mais
freqüente em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC), além de uma das
principais causas de IRC em diálise. Objetivos: Relatar o tratamento empregado em
pacientes com HAS em programa de hemodiálise, com ênfase no tratamento
medicamentoso. Metodologia: Foram avaliados 100 pacientes em programa crônico de
hemodiálise no serviço de nefrologia no Hospital do Açúcar em Maceió-AL, aplicandose questionário específico para obtenção de dados demográficos e uso de medicação
hipotensora. Resultados: Dos 100 pacientes avaliados, 90 (90%) eram portadores de
HAS, destes 16 (17,78%) não relataram uso de medicação hipotensora alguma. 74
(82,22%) faziam uso de uma ou mais classes de medicações hipotensoras (média de
1,46+1,01 classes/paciente). As classes de hipotensores mais utilizadas foram: Inibidores
da Enzima Conversora de Angiotensiva (IECA): 38 (61,29%); beta-bloqueadores: 27
(43,54%); Diuréticos: 19 (30,64%); Inibidores Adrenérgicos de Ação Central: 17
(27,42%); Bloqueadores dos canais de Cálcio: 15(24,19%); Vasodilatadores Diretos: 9
(14,52%) e bloqueadores do receptor da angiotensiva II: 5 (8,06%). Conclusão: Na
população estudada, com elevada prevalência de HAS, encontramos grande
diversificação no tratamento hipotensor, sendo os IECA a classe de medicação
hipotensora mais utilizada.
DC 023 (TL 004)
DC 024
AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA E RISCO DE DESNUTRIÇÃO EM PACIENTES
EM HEMODIÁLISE
CASTRO MCM; CHIARADIA F, SILVEIRA ACB, GONZAGA KBC, SANTOS GE,
CENTENO JR, XAGORARIS M, SOUZA JAC
INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE TAUBATÉ – SP, BRASIL
EVOLUÇÃO DO PADRÃO DE DEPRESSÃO EM PACIENTES EM UM
PROGRAMA DE HEMODIÁLISE
SILVA MV; CENTENO JR, XAGORARIS M, SOUZA JAC, CASTRO MCM
INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE TAUBATÉ – SP, BRASIL
Objetivos: A desnutrição (D) é complicação freqüente em pac em HD. O objetivo deste
estudo foi investigar a utilidade dos exames mensais realizados por esses pac e
correlacioná-los com o padrão nutricional (PN). Métodos: 252 pac foram submetidos a
avaliação nutricional (AN) através do IMC, avaliação subjetiva global e avaliação
objetiva global e classificados em: desnutridos (D), risco nutricional (RN), eutróficos
(E), sobrepeso (SP) e obesos (O). Durante 4 meses consecutivos, os valores de uréia préHD (Upré), fósforo (PO4), creatinina (Cr), potássio (K), hemoglobina (Hb), cálcio (Ca)
e do Kt/V foram registradas para cálculo das médias. Neste estudo a concentração de K
no dialisato foi de 2,0mEq/L. Resultados: As médias de idade, tempo em HD, Hb e Ca
não foram diferentes nos diversos PN. A Tabela mostra os principais resultados
observados.
D
n
Upré(mg/dl)
PO4(mg/dl)
Cr(mg/dl)
K(mEq/L)
Kt/V
31
94,9±23,7
6,7±3,0
8,1±2,5*
4,4±0,6
1,51±0,22
1,36±0,25†
RN
68
108,3±25,9*
4,5±1,2
5,3±1,3†
E
72
SP
53
113,3±22,0#
110,2±28,7*
5,5±1,4#
5,7±1,5#
9,8±2,9#
10,2±3,1#
O
28
114,6±26,7†
6,2±1,7#
10,2±3,2#
4,5±0,4
4,7±0,5*
1,35±0,22†
4,5±0,5
4,7±0,5*
1,29±0,21#
1,28±0,25#
* p<0,05; †p<0,01; # p<0,001 vs D
Conclusões: Os resultados mostram que pacientes D apresentam menor valor de Upré,
PO4 e Cr, e maior valor de Kt/V em relação aos demais PN. Os resultados sugerem que
pac com Upré<90mg/dl, PO4<4,2mg/dl, Cr<6,5mg/dl, K<4,2mEq/L e Kt/V>1,6 devem
ser avaliados para presença de D.
8
Objetivos: A prevalência de depressão (D) é elevada nos pac em HD e esta diretamente
relacionada com a qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi avaliar o padrão
evolutivo da D em um grupo de pac em HD crônica. Métodos: Em 45 pac foi aplicado
o Inventário de Beck (IB) de D em duas ocasiões. D foi considerada se IB≥15. Entre as
avaliações os pac foram acompanhados por psicóloga. Acompanhamento individual foi
realizado em alguns pac por procura espontânea. Durante o estudo qualquer evento
marcante (EM) na vida do pac foi registrado. Resultados: A idade foi de 55,1±16,5 anos,
do tempo de HD 48,8±20,3 meses e o intervalo entre a 1ª e 2ª aplicação do IB foi de
10,2±1,7 meses. Na 1ª avaliação 16 pac (35,6%) apresentavam IB≥15 e na 2ª 12 pac
(26,7%) (p=NS). A Tabela mostra o padrão evolutivo da D e a presença ou não de um EM.
Evolução
nD – nD
D–D
D – nD
nD – D
Totais
n (%)
26 (58)
9 (20)
7 (15)
3 (7)
45 (100)
EM + (%)
8 (31)
7 (78)
5 (71)
3 (100)
23 (51)
EM – (%)
18 (69)
2 (22)
2 (29)
0 (0)
22 (49)
nD = ausência de D
Conclusões: Nosso estudo mostra que: 1) D é freqüente no pac em HD; 2) variações no
padrão D / nD são pouco freqüentes (22%); 3) um EM está associado com a persistência
da D ou o surgimento de novos casos de D; entretanto, 4) pac com D podem se tornar nD
mesmo na presença de EM; 5) os dados reforçam a necessidade do psicólogo no
acompanhamento dos pac em HD.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 025
DC 026 (TL 004)
VARIAÇÃO DO PADRÃO NUTRICIONAL (PN) NOS PACIENTES EM
HEMODIÁLISE
CHIARADIA F; SILVEIRA ACB, GONZAGA KBC, SANTOS GE, CENTENO JR,
XAGORARIS M, SOUZA JAC, CASTRO MCM.
INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE TAUBATÉ – SP, BRASIL
MARCADORES SÉRICOS DO TURNOVER ÓSSEO NO DIAGNÓSTICO DA
OSTEODISTROFIA RENAL.
BARRETO FC1; BARRETO DV1, NEVES KR2, MOYSES RMA2, DRAIBE SA,
JORGETI V2, CANZIANI MEF1, CARVALHO AB1.
1UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO E 2UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO
Objetivos: Avaliar o PN de pac em HD submetidos a duas avaliações nutricionais (NA)
após orientação nutricional (ON) individualizada e periódica. Métodos: 158 pac foram
submetidos a AN através do IMC, avaliações subjetiva e objetiva global sendo
classificados em: desnutridos (D), risco nutricional (RN), eutróficos (E), sobrepeso (SP)
e obesos (O). De acordo com a AN inicial o pac recebia a ON. Resultados: A idade foi
de 54,1±14,9 anos, o tempo de HD 43,5±19,8 meses. 58,9% eram masc e 32,3%
diabéticos (Diab). O intervalo entre as AN foi de 6,1±1,7 meses. A Tabela mostra os
principais resultados observados.
2ª AN
1ª AN
D
RN
E
SP
O
Totais 2ªAN
D
RN
E
SP
O
16
5
0
0
0
21
0
35
14
0
0
49
0
4
37
2
0
43
0
2
2
25
0
29
0
0
0
0
16
16
Totais 1ª AN
16
46
53
27
16
158
P<0,0001; χ2 = 446, GL 16
29 pac (18,3%) mudaram de PN, sendo que em 19 (12%) ocorreu uma piora. Para Diab
e não Diab os resultados não foram diferentes daqueles observados na Tabela.
Conclusões: A ON após AN não é suficiente para melhorar o PN dos pac com D ou RN.
A ON não impede o surgimento de novos casos de D e RN, indicando que medidas
adicionais devem ser incorporadas. Pac com SP ou O são menos sujeitos a variações
no PN.
Introdução: A confiabilidade do PTH intacto (PTHi) para o auxílio diagnóstico da
osteodistrofia renal (OR) tem sido questionada. O uso de novos marcadores séricos do
turnover ósseo ainda não está bem estabelecido. Objetivo: Avaliar a acurácia de
marcadores séricos do turnover ósseo para o diagnóstico da OR em pacientes renais
crônicos em hemodiálise. Métodos: Noventa e oito pacientes em hemodiálise foram
submetidos à biópsia óssea transilíaca com marcação prévia pela tetraciclina, seguida de
análise histomorfométrica. Os marcadores séricos analisados foram PTHi,
deoxipiridinolina (DPD), fosfatase alcalina total (FAT) e óssea (FAO). Resultados: A
maioria dos pacientes era do sexo masculino (64%) e da raça branca (57%). A idade
média foi de 48 ± 13 anos. O tempo médio em HD foi de 37 ± 25 meses. Noventa e cinco
pacientes apresentaram algum tipo de OR à biópsia óssea. Três pacientes apresentaram
histologia óssea normal. De acordo com a taxa de formação óssea, a doença óssea de
baixa remodelação foi detectada em 60% dos pacientes, enquanto que a de alta
remodelação foi diagnosticada em 37%. PTHi (r=0,49; p=0,001), DPD (r=0,47;
p=0,001), FAT (r=0,40; p=0,007) e FAO (r=0,53; p<0,0001) correlacionaram-se
significantemente com a taxa de formação óssea. A área sobre a curva ROC foi calculada
para cada um dos marcadores. De modo geral, eles demonstraram um excelente poder
para discriminar os pacientes com doença de baixa (AUC: FAO=0,869; DPD=0,882;
PTHi=0,805 e FAT=0,809) e de alta remodelação (AUC: FAO=0,880; DPD=0,862;
PTHi=0,837 e FAT=0,822). Conclusões: Os marcadores bioquímicos com maior
acurácia para o diagnóstico da OR foram a FAO e a DPD. Esses resultados indicam que
novos marcadores, isto é, FAO e DPD, podem contribuir para o diagnóstico e manuseio
da OR nos pacientes em hemodiálise.
DC 027
DC 028
DUAS FORMAS DISTINTAS DE APRESENTAÇÃO DE AMILOIDOSE
LINGUAL EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE. RELATO DE CASO.
BARRETO FC; BARRETO DV, LIBÓRIO AB, JÚNIOR JBE, DAHER EF, ARAÚJO
SMHA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CONSUMO ALIMENTAR E SEU IMPACTO NA DOENÇA ÓSSEA EM
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE.
JANAÍNA SILVA SOUSA, NORMA GONZAGA GUIMARÃES, LILIAN BARROS
SOUSA MOREIRA REIS, MARIA LETÍCIA CASCELLI AZEVEDO REIS
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA-DF E CLÍNICA DE DOENÇAS
RENAIS DE BRASÍLIA-DF
Introdução: A amiloidose secundária a β2-microglobulina (Aβ2m) afeta
predominantemente o aparelho osteoarticular dos pacientes renais crônicos em
hemodiálise. Embora depósitos sistêmicos possam ocorrer, o acometimento da língua é
uma condição rara. Objetivo: Relatar dois casos de pacientes em hemodiálise com
amiloidose lingual com apresentação distinta. Relato de caso: O primeiro caso é de uma
paciente do sexo feminino, 50 anos, em hemodiálise desde 1981, apresentando múltiplos
nódulos na superfície da língua. Antecedente de cirurgia descompressiva para síndrome
do túnel do carpo (STC) em 2002. Logo após, a paciente começou a queixar-se de
aparecimento de micro nódulos dolorosos na língua que aumentaram progressivamente
em número e tamanho. O segundo caso é de um paciente masculino, 49 anos, em
tratamento dialítico há 23 anos, incluindo quatro em CAPD. Antecedente de artralgia
crônica em ombros e cirurgia para STC. Queixa de nódulo único em língua de
aproximadamente 2 cm em seu maior diâmetro. A análise histológica dos nódulos de
ambos os pacientes revelou material amorfo eosinofílico. A coloração com vermelho
Congo foi positiva e sob luz polarizada apresentou a característica birrefrigência verdemaçã confirmando que o material amorfo observado representa depósitos de amilóide.
Conclusões: Aβ2m não se restringe ao sistema osteoarticular. Uma vez que o tratamento
dialítico tem permitido uma maior sobrevida para os pacientes com insuficiência renal
crônica, é importante manter-se atento a essas manifestações pouco comuns e
relacionadas ao tempo prolongado em terapia dialítica.
Introdução: Diferentes autores mostram a importância de um bom controle metabólico
e nutricional em pacientes dialisados, para prevenir ou retardar complicações inerentes à
progressão da doença renal, tal como a doença óssea. Objetivo: Avaliar a influência do
consumo alimentar sobre a doença óssea em pacientes submetidos à hemodiálise.
Métodos: O estudo foi do tipo transversal, analítico e descritivo. Foram avaliados 111
pacientes adultos, de ambos os sexos, com média de idade de 50 ± 15,35 anos em
tratamento hemodialítico há mais de 3 meses e estáveis. Para análise dos dados
bioquímicos, foram utilizados os resultados referentes ao último exame realizado pelos
pacientes que constava do prontuário. A ingestão alimentar foi avaliada pelo inquérito
alimentar denominado Recordatório 24 horas, com o auxílio de um registro fotográfico.
Resultados: Houve correlação positiva entre o valor energético total da dieta e os valores
séricos de PTH (r=0,41; p= 0,02). Em relação à média da ingestão alimentar, o teor
protéico da dieta estava abaixo das recomendações para a população estudada (21,61%1,08±0,66g/kg/dia), o teor de lipídio (30,98%) estava adequado, enquanto que o valor
energético total da dieta (20,22±9,32 kcal/kg/dia), o teor de carboidrato (47,38%), de
cálcio (357,70 mg) e de fósforo (729,29 mg) da dieta encontravam-se reduzidos. O nível
de fósforo sérico estava adequado em 43% dos pacientes e 54% da amostra apresentavam
nível de cálcio sérico abaixo das recomendações. O nível de PTH estava elevado em 52%
dos pacientes. Conclusão: Apesar da prevalência de nível sérico normal de fósforo,
observa-se uma tendência a população à doença óssea, pois a maioria da amostra
apresentou PTH sérico elevado e Cálcio sérico reduzido.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
9
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 029
DC 030
CONFRATERNIZAÇÃO DO PACIENTE RENAL CRÔNICO COM SEUS
CUIDADORES EM FESTA TÍPICA. ÊNFASE NA PARTICIPAÇÃO.
ANGÉLICA GALHARDO ; SHEILA ARAÚJO COSTA, RODRIGO MATOS GOMES
DA CUNHA, ROSILENE DE MORAES SILVA, MARIA BEZERRA, ROGÉRIO
BARBOSA DE DEUS
CINE – CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA S/C LTDA
FATORES DE RISCO E PREVALÊNCIA DA HIPERCALEMIA NOS
PACIENTES EM PROGRAMA CRÔNICO DE HEMODIÁLISE.
RENATO WATANABE, ELSA ALIDIA PETRY GONÇALVES, LILIAN CUPPARI,
SILVIA REGINA MANFREDI, MARIA EUGÊNIA FERNANDES CANZIANI.
FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS – HOSP. RIM E HIPERTENSÃO
Introdução: A insuficiência renal crônica, seus tratamentos e co-morbidades, na maioria
das vezes são assuntos estigmatizantes. Desta forma, sentimentos como: medo, angústia,
apreensão e tristeza mostram-se de maneira marcante na vida destas pessoas. A
participação em eventos pode ser uma ferramenta que auxilia na mudança da
instabilidade emocional do paciente, deixando-o mais tranqüilo. Objetivos: Promover
uma festa típica – junina, com intuito de avaliar participação, integração, cooperação e
observação. Metodologia: Foi realizado um trabalho em grupo com participação de 10
funcionários técnicos e da equipe multidisciplinar composta por 01 nutricionista, 02
enfermeiras, 01 assistente social, 01 psicólogo e foram convidados todos os pacientes da
clínica (195 pacientes), A demanda para participar da festa foi espontânea, onde
pacientes e familiares podem participar. Foram divididos em diferentes “brincadeiras”,
que aconteciam durante o evento, como: corrida de coelhos, bola no palhaço, jogo de
argolas e correio elegante; vale dizer que todas as participações foram agraciadas com
prêmios participativos. Houve banda de música com pista de dança. Resultados:
Observamos que 86 pacientes (44,5% de participação efetiva) compareceram, houve 0%
de urgência/emergência, não houve necessidade de intervenção médica em nenhum
momento. A fala da paciente MSAV “hoje estou me sentindo bem, leve e feliz...” nos
mostra com clareza a satisfação desta paciente. Conclusão: Vivenciar experiências
práticas foi benéfico para a equipe de funcionários e principalmente para os pacientes e
também propiciou captação de recursos e mudanças de comportamento.
Introdução: Apesar dos avanços no tratamento dialítico e da melhora na orientação
dietética por nutricionistas especializados, a hipercalemia ainda constitui uma
complicação comum, sendo uma freqüente indicação para diálise de urgência e causa de
óbitos em pacientes submetidos à hemodiálise crônica. O objetivo deste estudo foi
avaliar a prevalência da hipercalemia, definida por potássio sérico (K) maior ou igual a
5,5 mEq/L, assim como investigar os fatores associados a sua ocorrência. Método:
Foram avaliados 103 pacientes em programa crônico de hemodiálise, nos meses de Junho
e Julho de 2006, através dos exames da rotina mensal, gasometria venosa, conteúdo de
K na alimentação, ritmo intestinal, medicações em uso, dose de heparina, adequação da
diálise e tipo de acesso vascular. Resultados: A hipercalemia esteve presente em 53
(51,5%) pacientes. Comparados aos normocalêmicos, os pacientes com hipercalemia
apresentaram uma menor concentração de bicarbonato sérico (17,3 ± 2,6 vs. 19,6 ± 4,2
mEq/L; p = 0,001) e maior freqüência de pacientes com ingestão elevada de K (49 vs
24%; p = 0,015). Não houve diferenças significativas em relação ao sexo, idade, etiologia
da doença renal crônica, acesso vascular, presença de constipação, uso de inibidores da
enzima de conversão, beta bloqueadores, diurético, bicarbonato de sódio, dose de
heparina e adequação de diálise entre os grupos. Em análise multivariada, o bicarbonato
sérico e a ingestão elevada de K foram determinantes independentes da ocorrência de
hipercalemia. Conclusão: A hipercalemia foi um achado freqüente, sendo que a dieta e
a acidose metabólica foram os únicos fatores associados a sua ocorrência na população
estudada. Apesar da gasometria venosa não fazer parte dos exames de rotina das clínicas
de diálise, esses resultados reforçam a importância da monitorização periódica do
equilíbrio ácido-básico nessa população.
DC 031
DC 032
USO DE PESQUISA QUALITATIVA NA CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO
PARA AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA CLIENTELA EM CLÍNICA DE
DIÁLISE
MARCELLA ABUNAHMAN FREITAS; LEONARDO JUSTIN CARÂP, DENYS
CARVALHO DUARTE PEREIRA
QUALIMED – PLANEJAMENTO & GESTÃO DE SAÚDE
ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS PRELIMINARES OBTIDOS COM A
MONITORIZAÇÃO DO VOLUME SANGUÍNEO EM PACIENTES
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE CONVENCIONAL
ÉRIKA BEVILAQUA RANGEL; MARIA CLÁUDIA C ANDREOLI, ANA
CRISTINA C MATOS, NÁDIA K GUIMARÃES, FABIANA D CARNEIRO, ANA
CLÁUDIA MALLET, JESIANE A ALMEIDA, MOACIR DE OLIVEIRA, BENTO FC
SANTOS
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN-CENTRO DE DIÁLISE EINSTEIN
Uma forma de mensurar qualidade nos serviços é elaborar pesquisas de cunho qualiquantitativo objetivando medir a satifação dos clientes externos. Ambas abordagens
complementam-se, melhorando o entendimento do fenômeno pesquisado. Chama-se
“triangulação sequenciada” quando resultados de um método servem de base para o
planejamento do outro, incrementando a consistência. Partindo do modelo de
‘’triangulação sequenciada’’, identificamos necessidades e expectativas dos pacientes
renais crônicos em diálise, permitindo, sequencialmente, a construção para futura
aplicação de questionário de avaliação da satisfação da clientela. Coletamos opiniões
positivas e negativas sobre os serviços (Incidentes Críticos). Como provocação para o
discurso, os grupos foram indagados com 7 perguntas abertas referentes ao seu
relacionamento com a clínica e equipe profissional. Os Incidentes Críticos, cujos
conteúdos expressavam a mesma idéia, foram agrupados em Item de Satisfação. Este,
reescrito em forma de declaração neutra, foi agrupado com outros que refletiam a mesma
dimensão da qualidade, gerando a Necessidade do Cliente. Do resultado da pesquisa
qualitativa foram criadas 49 perguntas. O resultado final foi um questionário escalar tipo
Likert (perguntas de número 1-45) e um Checklist (número 46-49), complementando-o.
A pesquisa qualitativa baseou-se na identificação de Incidentes Críticos, Itens de
Satisfação e Necessidades dos Clientes, tendo como produto final um questionário
customizado para o paciente em TRS. A avaliação será semestral, tempo suficiente para
que possamos examinar os dados colhidos e levá-los à direção da Organização,
confrontando-os com a sua Missão Institucional, Valores e Crenças, promovendo o
Desenvolvimento Organizacional e adotando ações para a melhoria e Garantia da
Qualidade.
10
Introdução: O BVM (Blood Volume Monitor) está associado à redução das
intercorrências intradialíticas. Métodos: Análise preliminar de 177 registros gráficos do
RBV (Relative Blood Volume) gerados pelo BVM de 14 pacientes com insuficiência
renal em hemodiálise convencional. Realizados ajustes no “peso seco” e no perfil de
ultrafiltração e comparação dos valores do RBV crítico obtidos empiricamente (redução
de 1-2% nos valores do RBV) e por fórmula preestabelecida: 97.8 - 0.08 (pressão
diastólica média no início da diálise, em mmHg) – 1.4 (volume de ultrafiltração, em litros
/peso do paciente, em quilogramas) + 0.05 (idade, em anos) + 1.5 (arritmia) + 0.2
(insuficiência cardíaca congestiva), onde é atribuído o valor “0” se arritmia ou
insuficiência cardíaca congestiva estão ausentes e “1”, se presentes. Resultados:
Realizados 12,2 ± 9,3 registros do RBV por paciente. As médias de idade e de tempo de
hemodiálise foram 68 ± 16,8 anos e 31,5 ± 18,5 meses, respectivamente. Houve redução
do “peso seco” em média de 2,6 ± 1,7 kg em 12 pacientes e mudança no perfil de
ultrafiltração em quatro pacientes diabéticos. Os valores interindividuais do RBV crítico
obtidos empiricamente e pela fórmula variaram de 83,2% a 99,5% (média de 89,7 ±
5,3%) e de 90,6% a 99% (média de 96,1 ± 2,1%), respectivamente. Em 65% dos
pacientes o RBV definido empiricamente foi menor (p < 0,0001). Hipotensão arterial
sintomática e câimbras ocorreram em 3% das sessões de hemodiálise durante o ajuste do
RBV crítico. Conclusões: A determinação empírica do RBV crítico foi mais fidedigna
para ajuste do “peso seco” do que aquela definida pela fórmula. A monitorização não
invasiva do volume sanguíneo com o BVM permitiu o controle do “peso seco” em
pacientes com elevado risco de complicações intradialíticas. Com o BVM, o ajuste do
“peso seco” é realizado de forma segura nos pacientes em hemodiálise convencional.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 033
DC 034
ESTUDO
EPIDEMIOLÓGICO
DE
PARASITOSES
INTESTINAIS
POTENCIALMENTE CAUSADORAS DE ABSCESSOS EXTRA-RENAIS,
REALIZADO COM PACIENTES HEMODIALIZADOS EM UBERLÂNDIA-MG.
DANILO MARTINS DE SÁ; EVANDRO BATISTA NUNES, JULIANA SANTOS
PARREIRA SOARES, SILVIA MAMPRIM PADOVESE, PAULO CÉSAR
OLIVEIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA FILHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, FACULDADE DE MEDICINA,
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA, MONITORIA DE NEFROLOGIA.
DIÁLISE PERITONEAL COMO TRATAMENTO DE PACIENTE COM
CIRROSE HEPÁTICA CHILD C ASSOCIADA À INSUFICIÊNCIA RENAL
CRÔNICA TERMINAL: RELATO DE CASO.
ARRUDA, CR; ABRÃO, JMG; FONSECA, DP; CARAMORI, JT; BARRETTI, P;
PEREIRA, ERPC; BERBEL, MN; ANTUNES, AA; GABRIEL, DP
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP
Introdução: A doença renal crônica é associada a uma maior susceptibilidade às
infecções, devido à disfunção do sistema imunológico, à doença de base responsável pela
insuficiência renal crônica e ao processo de hemodiálise. Em relatos prévios, abscessos
extra-renais foram identificados em pacientes submetidos à terapia hemodialítica
crônica, nos quais a sintomatologia da Síndrome Urêmica pode mascarar o diagnóstico
de um abscesso, sobretudo hepático. Numa região em que infecções enteroparasitárias
são freqüentes e que certos parasitas são potencialmente causadores de abscessos, o
objetivo do projeto é realizar um inquérito epidemiológico enteroparasitário, para uma
futura avaliação dos pacientes infectados. Objetivo: Determinar a prevalência de
comensais e parasitas intestinais em pacientes submetidos à hemodiálise. Material e
Métodos: Todos os 110 pacientes selecionados são procedentes de Uberlândia ou região,
submetidos ao tratamento hemodialítico três vezes por semana (em dias alternados),
durante quatro horas diárias. Os exames parasitológicos das três amostras de fezes foram
avaliados pelo método de Hoffman. Resultados: Dos 110 pacientes analisados, 69 eram
do sexo masculino e 41 do sexo feminino, com idade média de 52,1 anos e tempo médio
de terapia hemodialítica de 3,17 anos. Em 11 pacientes (10%) foram encontrados os
seguintes parasitos intestinais: larvas de Strongyloides stercoralis em 1 paciente (0,9%),
Entamoeba histolytica em 8 pacientes (7,3%), Giardia lamblia em 1 paciente (0,9%) e 1
biparasitismo por Entamoeba histolytica e larvas de Strongyloides stercoralis (0,9%).
Conclusão: Este trabalho identificou parasitos intestinais potencialmente causadores de
abscessos extra-renais, sendo a Entamoeba histolytica o mais encontrado. O abscesso
amebiano do fígado é a forma mais comum da localização extra-intestinal da infecção
amébica. Por conseguinte, as clínicas de hemodiálise devem se atentar aos riscos dessas
parasitoses e solicitar exames parasitológicos para acompanhar a avaliação dos pacientes.
Não há dados comparativos a respeito de terapia renal substitutiva (TRS) em pacientes
com Cirrose Hepática Child C (CHCC) com Insuficiência Renal Crônica terminal (IRCt).
Diálise Peritoneal (DP) parece ser melhor em relação à Hemodiálise, por promover
menos instabilidade hemodinâmica e sangramento. Relatamos um caso de paciente com
CHCC e IRCt tratado por DP. Homem, 58 anos, branco. Desde 1996 com diagnóstico de
ICC isquêmica classe IV e CHCC alcoólica, com internações freqüentes devido à
descompensação cardíaca e/ou hepática e conseqüentes episódios de alteração da função
renal por hipoperfusão, com recuperação parcial. Admitido em 09/2005 com
descompensação hepática secundária a infecção urinária, oligúrico, Creat=7,5,
Uréia=140 e K=5,6. Evoluiu sem resposta ao tratamento conservador e com necessidade
de TRS. Iniciou-se DP Noturna Intermitente (NIPD) tipo Tidal. Após 5 meses,
encontrava-se ainda hipervolêmico (5Kg acima do peso inicial; derrame pleural bilateral;
dispnéia em repouso; edema em MMII 4+/4+), hipotenso (90X50mmHg) e
extremamente hipoalbuminêmico (Alb=1,5mg/dl). Optou-se por mudança para DP
Contínua por Cicladora (CCPD) e administração de Albumina Humana 20% 30g
semanais nos primeiros 2 meses e quinzenais após; justificada pela ascite e paracenteses
crônicas diárias através da DP sem reposição de albumina. Dois meses após o início deste
tratamento, encontrava-se com melhora dos sinais e sintomas de hipervolemia. No
decorrer de 1 ano e meio não necessitou internação hospitalar e observou-se ganho de
peso às custas gordura, confirmado pela Bioimpedância, e manteve albumina sérica
estável em torno de 2,5mg/dl. Desta forma, DP é uma alternativa de TRS para pacientes
com CHCC e IRCt e a reposição periódica de albumina pode diminuir os efeitos
deletérios da expoliação que ocorre durante este tratamento nos pacientes formadores
crônicos de ascite.
DC 035 (TL 005)
DC036
INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE HORMÔNIO DA PARATIREÓIDE NA
TRANSFERÊNCIA DE MASSA DE CÁLCIO E FÓSFORO DURANTE
HEMODIÁLISE
CRISTINA KAROHL1,2, JULIANA P PASCHOAL1, MANUEL CM CASTRO1,
ROSILENE ELIAS1, JOÃO EGÍDIO ROMÃO1, VANDA JORGETTI1, ROSA MA
MOYSÉS1.
1 DIVISÃO DE NEFROLOGIA, USP, SP E 2DIVISÃO DE NEFROLOGIA, HCPA,
UFRGS, RS, BRASIL.
NÓDULOS LINGUAIS – APRESENTAÇÃO NÃO USUAL DE AMILOIDOSE
RELACIONADA À ß-2 MICROGLOBULINA: RELATO DE CASO
ANTONIO CARLOS CORDEIRO; FABIANA GOUVEIA ALVES TABEGNA,
RENATO BERTAGNA, CLEITON ALVES, HUGO ABENSUR, ALUÍZIO
BARBOSA DE CARVALHO
CENTRO DE NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO – SANTO ANDRÉ
Introdução: O balanço de cálcio (Ca) e fósforo (P) durante hemodiálise (HD) pode
influenciar o metabolismo mineral e vice-versa. No entanto, o remodelamento ósseo
(RO) não é usualmente considerado quando modelos cinéticos são aplicados para
calcular o balanço de Ca e P. Objetivo: Avaliar a cinética do Ca e P durante HD com
diferentes concentrações de Ca no dialisato (Cad) em 2 grupos de acordo com os níveis
de hormônio da paratireóide (PTH) (GI: PTH<150; GII: PTH>500 pg/ml). Metodologia:
10 pacientes (idade 37,9±12,7 anos) em HD por 67,5±16,3 meses foram dialisados por 4
h em uma máquina Genius com dialisador FX60 (Fresenius) em uma taxa de fluxo de
sangue e dialisato de 350 ml/min com 4 diferentes Cad (2.0, 2.5, 3.0 e 3.5 mEq/L). Ca e
P foram coletados do sangue e do dialisato a cada 30 min. Resultado: O balanço de Ca
variou de acordo com o nível de Cad. Com Cad de 2.0, a remoção de Ca foi
significativamente maior no GII comparado com o GI, correlacionando com PTH basal
(r=0.72;p=0.01). Em todos os níveis de Cad, a remoção de P foi maior no GII comparado
ao GI. No entanto, quando a remoção de P foi ajustado para o P basal, nenhuma diferença
foi observada. Remoção de P correlacionou positivamente com o nível basal de P
(r=0.62;p<0.0001) e PTH (r=0.61;p<0.0001) e negativamente com Ca iônico (r=0.48;p=0.001). Na análise de regressão múltipla, P e PTH foram determinantes
independentes da remoção de P (p<0.0001).
Tabela 1. Balanço de Ca e P durante HD com diferentes Cad
Balanço de Ca (mg/dl)
Balanço de P (mg/dl)
Cad
Total
GI
GII
Cad
Total
GI
GII
2.0 -139,8±107,8 -98±22 -758±319*
2.0 941±101 722±92 1338±158*
2.5
-140±108
-134±24 -477±27
2.5 1101±146 743±113 1370±68*
3.0
-47±30,7
-43±194 164±11
3.0 1049±109 795±101 1421±121*
3.5 150±±84** 556±22
98±22
3.5 1101±119 779±48 1368±69*
Paciente MAMD, sexo feminino, 58 anos, negra, com doença renal crônica (DRC) de
etiologia indefinida, em programa regular de hemodiálise desde 1986. Tem sorologia
positiva para hepatite “C”, bem como antecedentes de doença óssea mista e intoxicação
por alumínio. Há aproximadamente dez anos teve o diagnóstico clínico de amiloidose
relacionada à ß-2 Microglobulina. Não tem antecedentes pessoais e/ou familiares que
indiquem outra causa de amiloidose. Há um ano, percebeu o surgimento de lesões
nodulares na língua, sem sintomatologia associada. Ao exame, observavam-se múltiplas
lesões linguais, de aspecto nodular e consistência fibrosa, com coloração amarelada e
distribuição difusa, preponderando em bordas (direita e esquerda), sem macroglossia
associada. Foi submetida à biópsia incisional que revelou a deposição difusa de material
eosinofílico amorfo em lâmina própria e submucosa, o qual na coloração “vermelhocongo” exibiu birrefringência verde-maçã, diagnosticando-se amiloidose. Os exames
laboratoriais revelaram níveis normais do amilóide sérico “A”, bem como não
identificaram a presença de gamopatias monoclonais ou proteínas anômalas no sangue.
A ß-2 Microglobulina sérica era de 55µg/ml (aproximadamente 30 vezes acima do valor
de referência). A amiloidose relacionada à ß-2 Microglobulina é uma doença sistêmica,
que acomete pacientes com DRC em qualquer tipo de terapia substitutiva renal, bem
como no período pré-dialítico. É mais freqüente, contudo, naqueles pacientes com mais
de dez anos de hemodiálise. O acometimento lingual da amiloidose relacionada à ß-2
Microglobulina é uma complicação bastante rara destes pacientes, acometendo 20%
daqueles com mais de 20 anos de hemodiálise e parecendo ser inexistente naqueles em
terapia dialítica por menor período de tempo.
*p<0.05: GIIxGI; **p<0.05: Cad 3.5 x todos
Conclusão: Cad alto e baixo foram associados com balanço positivo e negativo de Ca,
respectivamente. Pacientes com alto RO parecem perder mais Ca e P. O estudo sugere
que a transferência de massa de Ca e P é influenciado pelo RO, uma variável que deveria
ser considerada em futuros modelos de cinética.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
11
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 037
DC 038
AVALIAÇÃO DA CEFALÉIA RELACIONADA À HEMODIÁLISE NA SANTA
CASA DE MARINGÁ
JANAINA DA SILVA MARTINS; JANAINA PADULA, RAFAEL F.RADAELI,
DANIEL BOLONHESE, PAULO R. A. TORRES, LETÍCIA S. DANTAS, ROSELI
ORDIG E SERGIO S YAMADA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ-PR
AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMODINÂMICO ATRAVÉS DO CATETER DE
ARTÉRIA PULMONAR EM PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE NA
UTI DO HU DE MARINGÁ
JANAINA DA SILVA MARTINS; JANAINA PADULA, BRUNO A, NESTOR A. S.
RUEDA, ALMIR GERMANO, SERGIO S. YAMADA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ-PR
Introdução: A cefaléia relacionada à hemodiálise (CRH) influencia a qualidade de vida
dos pacientes, com incidência de até 70% segundo a literatura, e está relacionada
fortemente a sintomas depressivos e ao abuso de drogas. A sociedade internacional de
cefaléias revisou em 2004 os critérios da CRH auxiliando o seu diagnóstico. Objetivo:
Foi avaliar as características da CRH na Unidade de Diálise da Santa Casa de
Misericórdia de Maringá. Pacientes e Métodos: Os pacientes com mais de 6 meses de
hemodiálise foram submetidos a questionário dirigido, aplicado por um dos co-autores.
A intensidade da cefaléia foi avaliada com escala analógica de 0 a 10. Para análise
estatística foi usado o teste não paramétrico (Mann-Whitney U- teste). Resultados: 75
pacientes em hemodiálise, 42 homens, com media de idade de 56 anos, e 33 mulheres
com media de 49,6 anos. A media de meses em tratamento foi de 55,5 nos homens, e 54,3
nas mulheres, (p=0,94). Das 33 mulheres, 31 (93,9%) apresentavam cefaléia. Vinte e
quatro pacientes (77,4%), com critérios de CRH, e 18 (58%) tinham dor na última hora
da sessão. Dos homens, 31 (74,4%) apresentavam quadro doloroso, 16 (53,1%)
portadores de CRH, e apenas 10 (32,2%) tinham cefaléia iniciada na última hora, sendo
a cefaléia iniciada mais precocemente, nos homens que nas mulheres (p=0,01). A dor
entre as mulheres, teve índice igual 5,57; e nos homens igual a 3,07. (p=0,01). Das
mulheres, 17 (54,8%) solicitavam com freqüência medicação, e 13 (41,9%) dos homens
o faziam. Os pacientes foram avaliados por neurologista, e orientados a fazer profilaxia
da dor devido à intensidade e freqüência, em 03 homens e 03 mulheres. Conclusões:
Cefaléia é comum em pacientes submetidos à hemodiálise e até o momento não há
consenso sobre a fisiopatologia dos fatores desencadeantes, mas é importante o
reconhecimento dessa patologia entre nefrologistas.
Introdução: O cateter de artéria pulmonar (CAP) é usado para avaliar perfil
hemodinâmico de pacientes em UTI. Com base nos dados do CAP, Mimoz et el
classificaram os perfis hemodinâmicos de pacientes críticos. A hemodiafiltração venovenosa contínua (CVVHDF) vem se tornando modalidade dialítica de eleição, por menor
tendência à instabilidade hemodinâmica. Objetivos: Conhecer o perfil dos pacientes que
usaram CAP, e sua relação com a indicação de diálise, além da possível interferência da
hemodiálise sobre o perfil hemodinâmico. Pacientes e Métodos: Foram analisados
prontuários dos pacientes que usaram CAP na UTI adulto do Hospital Universitário
Regional de Maringá-PR de junho de 2005 a junho de 2006, descartando-se os pacientes
cujos dados era imprecisos. Foram extraídos dados em 3 momentos diferentes em relação
a terapia dialítica. Resultados: Foram avaliados 13 pacientes, sendo 10 homens e 3
mulheres, a mediana de idade foi de 43 (16-75) anos. Desses, 8 eram cirúrgicos, com
APACHE II médio de 22, e 5 pacientes clínicos, com APACHE II médio de 19. Em
relação à indicação de diálise, ocorreu na admissão de 3 pacientes cirúrgicos (37,5%) e
nos 5 pacientes clínicos (100%), sendo 7 submetidos a CVVHDF e 1 paciente submetido
à hemodiálise intermitente, 5 não tiveram necessidade de diálise. A mediana de horas
de CVVHDF foi de 78,5 horas e a taxa de ultrafiltração (UF) foi em média de 125ml/h.
Não houve pacientes com choque séptico puro, de acordo com dados do CAP, 11 tinham
choque distributivo misto, e 2 tinham choque cardiogênico e todos pacientes estavam
normo ou hipervolêmicos . Foi utilizada dobutamina em 12 de 13 pacientes com redução
da dose utilizada em 2 pacientes durante a CVVHDF, e não houve influência da diálise
sobre a necessidade de noradrenalina. Conclusão: Podemos concluir que os pacientes
que apresentam indicação de uso de CAP em grande parte também evoluem para diálise,
e que a CVVHDF não acarretou necessidade de maior dose aminas vasoativas, podendo
em alguns casos, facilitar o manejo hemodinâmico.
DC 039
DC 040
PERITONITE ESCLEROSANTE E ENCAPSULANTE EM DIÁLISE
PERITONEAL AMBULATORIAL CRÔNICA: RELATO DE DOIS CASOS
RAPHAEL PEREIRA PASCHOALIN;CASSIANO AUGUSTO BRAGA SILVA,
BEATRIZ NAKAGAWA, SUSANA ZANARDO CHIOZI, OSVALDO MEREGE
VIEIRA NETO, MIGUEL MOYSÉS NETO
SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - SENERP
EVOLUÇÃO DA SENSIBILIDADE IN VITRO DE BASTONETES GRAM
NEGATIVOS EM PERITONITES DE PACIENTES EM DIÁLISE PERITONEAL
PEREIRA,DF; MARTIN LC, CARAMORI JCT, GABRIEL DP, CASTRO JH, BALBI
AL, RIBEIRO DA CUNHA ML, MONTELLI AC, ABRÃO JMG, ARRUDA CR,
BARRETTI P.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU- UNESP
Introdução: A peritonite encapsulante e esclerosante é uma complicação grave e rara da
CAPD, caracterizada pela fibrose progressiva do peritônio parietal e visceral. Sua
prevalência gira em torno de 0.54 a 7.3% dos pacientes. Resulta em redução da
capacidade de ultrafiltração, disfunção da peristalse intestinal devido às bridas que são
formadas, principalmente no intestino delgado, e/ou obstrução do lúmen. No presente
trabalho, descrevemos a história de dois pacientes em CAPD que apresentaram tal
patologia. Pacientes: Caso 1: 66 anos, masculino, em CAPD há 6 anos, referia quadro
súbito de dor em cólica, associado a vômitos e diarréia, sugestivo de sub-oclusão
intestinal. Os exames evidenciaram dilatação importante de alças intestinais. Durante o
período de tratamento com CAPD apresentou 8 episódios de peritonite, sendo o S. aureus
o germe mais prevalente. Na laparotomia exploradora, foram encontradas múltiplas
aderências e loculações, envolvendo principalmente o intestino delgado, com aspecto
fibrosante. Evoluiu com piora do estado geral, sendo necessária a retirada do cateter de
Tenckhoff. Paciente foi transferido para a hemodiálise. Caso 2: 68 anos, feminino, em
CAPD há 6 anos, referia dor abdominal difusa e constante há 3 meses, de caráter
progressivo; associada à distensão abdominal importante. Os exames de imagem
evidenciaram presença de liquido na cavidade abdominal. Realizada paracentese com
saída de grande quantidade de secreção purulenta. Apresentou previamente, durante o
período de tratamento com CAPD, 08 episódios de peritonite, sendo o germe mais
prevalente a P. aeruginosa. Em um dos episódios o agente etiológico foi a C.
parapsilosis. A paciente fazia uso freqüente de bolsas concentradas. Foi necessária a
retirada do cateter de Tenckhoff, sendo transferida para hemodiálise. Conclusão: nos
dois casos relatados os pacientes apresentavam fatores de risco importantes para o
desenvolvimento da peritonite encapsulante e esclerosante, tais como o tempo
prolongado em diálise peritoneal, episódios freqüentes de peritonite e o uso constante de
soluções com alta concentração de glicose. Essa patologia resultou na retirada dos
pacientes do programa de diálise peritoneal e no aumento da morbidade pelo quadro de
suboclusão intestinal.
Introdução: Peritonite é a principal causa de falência da diálise peritoneal. A redução da
incidência de episódios por bactérias Gram positivas não foi observada para os Gram
negativos sendo estes os agentes mais freqüentes em muitos centros e relacionados a pior
prognóstico e à elevada resistência antimicrobiana dos bastonetes gram negativos não
fermentadores (BGN). Tem sido recomendado que a terapia empírica inicial seja
orientada pelo perfil de sensibilidade em cada centro. Objetivos: avaliar a sensibilidade
in vitro dos bastonetes gram negativos isolados em culturas de líquido peritoneal de
pacientes com peritonites. Material e métodos: foram avaliadas 95 culturas de episódios
de peritonites ocorridos entre fevereiro/1998 e janeiro/2007 em pacientes em diálise
crônica. A sensibilidade in vitro foi avaliada pela concentração inibitória mínima para:
Gentamicina (G), Ceftazidima (Cft), Cefepime (Cfp), Ofloxacina(Ofl) e Imipenem
(Imp). A evolução da sensibilidade foi comparada em dois períodos: fevereiro/1998 a
março/2002 (1° período) e abril/2002 a janeiro/ 2007 (2° período). Os dados foram
analisados pela estatística baysiana. Resultados: No 1º período foram identificadas33
Enterobactérias e 15 BGN e no 2º, 28 Enterobactérias e 19 BGN. A sensibilidade dos
BGN à G, Cft Cfp, Ofl e Imp no 1º período foi respectivamente, 60%, 74%, 67%, 54%
e 87% e no 2º período 53%, 53%, 42%, 48% e 74%. Quando comparados os 2 períodos,
a chance de aumento da resistência foi de 66% para a G, 92% para a Cft, 93% para o Cfp,
65% para a Ofl e 97% para o Imp, valores superiores aos observados para as
Enterobactérias. Conclusões: No 2º período a sensibilidade dos BGN à G foi semelhante
à Cft. A probabilidade de aumento da resistência foi menor para G que para as
cefalosporinas de 3ª geração. Estes resultados dão suporte ao uso dos aminoglicosídeos
na terapia inicial das peritonites em DP.
12
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 041
DC 042 (TL 006)
A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA BUTTONHOLE PARA PUNÇÃO DO ACESSO
VASCULAR EM HEMODIÁLISE
CLÁUDIA M.C.OLIVEIRA;CLÁUDIA M.A. FRANCO, M. KUBRUSLY, PAULA F.
FERNANDES, SONIA H. ARAÚJO, MARCO A. COSTA, HIARLENE G. SILVA,
GRAZIELA M. SAMPAIO, J.B. EVANGELISTA
CLÍNICA PRONTORIM - FORTALEZA - CEARÁ
AVALIAÇÃO DAS PERITONITES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE
DIÁLISE PERITONEAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA NOS
ANOS DE 2000 A 2006.
EWANDRO LUIZ REY MOURA, SOFIA NASCIMENTO FERRO, EDUARDO VAZ
CORREA DA SILVA, ELINETE SOARES DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS
VIEIRA, PATRÍCIA P.SERAFIM, FLÁVIO DUTRA DE MOURA, LUCIANA
VASCONCELOS, JOEL R. VEIGA.
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE –NEFROLOGIA– HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA, UNB.
Introdução: A técnica de buttonhole (canulação da FAV nos mesmos sítios
repetidamente, levando à formação de um túnel) foi utilizada inicialmente há cerca de 30
anos na Europa e Japão e associou-se com redução da dor associada à punção, menor
risco de hematomas, não estando associada à maior formação de aneurismas. É
recomendado que a mesma pessoa crie o túnel, o que leva cerca de 3-4 semanas, e pode
representar uma dificuldade da técnica. Objetivo: Os autores relatam a experiência
inicial com a técnica buttonhole em uma unidade de diálise que atende 200 pacientes.
Métodos: Foram avaliados 20 pacientes que utilizaram essa técnica desde a primeira
punção do acesso vascular atual, sendo as punções realizadas pelo mesmo profissional de
enfermagem até a formação do túnel, com registro das complicações observadas.
Resultados: A idade média dos pacientes foi de 53 ± 16,6 anos (22-81), sendo 15 do sexo
masculino, com tempo médio em diálise de 35,3 ± 59,6 meses (3-225). A doença renal
primária foi indeterminada em 9 pacientes, seguida por diabetes (3), nefrite lúpica (2),
glomerulopatia (2), HAS (1) e outras (3). O tempo de seguimento com a técnica foi de
4,6 ± 2,6 meses (1-10). A localização da FAV foi radio-cefálica em 16 pacientes (80%)
e braquio-cefálica em 4 (20%). Foram realizadas 3 sessões semanais de diálise durante 4
horas, com capilar de polissulfona, solução de diálise com bicarbonato e fluxo sanguíneo
de 300-350 ml/min, sendo obtido ktveq de 1,32 ± 0,29. Os pacientes referiram menor
intensidade da dor (em relação à técnica de rotação dos sítios de punção), e apenas 3
pacientes apresentaram sangramento em volta da inserção da agulha. Conclusão: Com
maior experiência, o número de pacientes em uso dessa técnica pode aumentar na
unidade de diálise, considerando-se que está associada com a redução de dor /
hematomas e não formação de aneurismas, podendo aumentar a sobrevida do acesso
vascular.
Introdução: As peritonites são complicações freqüentes nos pacientes em programa de
diálise peritoneal podendo levar a complicações que determinem a retirada do cateter e
saída do programa. Objetivo: Avaliar no período de 6 anos (2000 a 2006) a incidência
de peritonites, sua etiologia , e os aspectos de sua evolução. Material e Método: Foram
coletados os dados dos prontuários dos pacientes inscritos no programa de diálise
peritoneal de janeiro de 2000 a dezembro de 2006, que apresentaram um ou mais
episódios de peritonite diagnosticados e tratados no serviço. Foram analisados a idade,
gênero, tempo de diálise, modalidade de diálise, etiologia, e evolução do quadro.
Resultado: Do total de 67 pacientes do programa, 29(43%) eram do sexo masculino e
38(57%) eram do sexo feminino. Foram registrados 67 episódios de peritonite, sendo 48
em mulheres (72%) e 19 em homens (28%). 43 pacientes estavam Diálise Peritoneal
Ambulatorial Contínua (DPAC) e 24 em Diálise Peritoneal Automática( DPA). A média
das idades foi de 52 anos. Os sintomas mais comuns foram dores abdominais e dialisato
turvo. Todos os pacientes tiveram cateter de Tenckhoff com dois cuffs implantado pelo
nefrologista e usaram o sistema Ultra-bag. O índice peritonites/pacientes/ano (PPA)
global foi de 0,17. O PPA foi de 0,20 para a DPA e 0,13 para a DPAC. O catéter foi
retirado em 3 pacientes em DPAC e em 1 em DPA. O perfil microbiológico foi
semelhante nas duas modalidades: 40% culturas negativas, 30% S.aureus, 15%
S.epidermidis, 7% E.coli, 4% Staphylococos coagulase-negativos, 2% Proteus
mirabilis,2% fungicas. Conclusão: Foi observado baixo índice de peritonites quando
comparado com os dados da literatura, observando-se maior incidência na modalidade
DPA.
DC 043
DC 044 (TL 005)
LEVANTAMENTO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA RENAL
POLICÍSTICA AUTOSSÔMICO DOMINANTE EM PACIENTES EM
HEMODIÁLISE EM GOIÂNIA
LUDMILA FERREIRA VIEIRA; HEBERT MONTEIRO FERRO, MAURI FÉLIX DE
SOUSA
FACULDADE DE MEDICINA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CALCIFICAÇÃO CORONARIANA (CAC) EM PACIENTES DIALISADOS
PORTADORES DE DOENÇA ÓSSEA ADINÂMICA OU OSTEÍTE FIBROSA
FABIANA R. HERNANDES1, FELLYPE C. BARRETO1, DANIELA V. BARRETO1,
ROSA MARIA A. MOYSÉS2, VANADA JORGETTI2, MARIA EUGÊNIA F.
CANZIANI1, ALUÍZIO B. CARVALHO1.
1 DISCIPLINA DE NEFROLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO E
2 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
Introdução: Estudos epidemiológicos sobre a Doença Renal Policística Autossômica
Dominante (DRPAD) têm contribuído para a investigação da fisiopatologia da doença e
da caracterização de fatores ambientais e heredofamiliares que atuam no seu fenótipo. Na
literatura, ainda não existem dados referentes a Goiânia. Objetivos: Caracterização
clínica e epidemiológica dos pacientes com DRPAD em hemodiálise (HD) em Goiânia.
Métodos: Em 9 centros de hemodiálise de Goiânia os pacientes com doença cística renal
foram identificados e aqueles que obedeciam aos critérios diagnósticos de DRPAD foram
submetidos a um questionário. Resultados: Foram submetidos ao questionário 41
pacientes portadores de DRPAD em hemodiálise (prevalência de 5,1%). Sexo: 36,6%
feminino e 63,4% masculino; 44% entre 50 e 60 anos; 41,5% com origem étnica atlantomediterrânea. A busca do diagnóstico ocorreu por história familiar em 7,3% dos
pacientes e por manifestações clínicas em 68,4%. A dor abdominal em 56,1%. A nota da
dor variou numa escala de 1 a 10, sendo a nota máxima presente em 34%. Dor contínua
em 43%; localização principal: lombar e flancos. Hematúria em 73% dos casos, infecção
do trato urinário em 48,8%, hérnias em 31% e cefaléia em 31%. Ausência de história de
aneurismas. Cistos extra-renais em 44%, com maior freqüência em fígado (26,8%).
História de tabagismo em 53,8%. Uso regular de cafeína em 94,9%, sendo a dose inferior
a 700mg/semana, em sua maioria. Conclusões: A prevalência de DRPAD em pacientes
em hemodiálise em Goiânia é corresponde à literatura. A dor abdominal nestes pacientes
é de alta prevalência e intensidade. O diagnóstico da doença ocorreu na maioria dos
pacientes após o aparecimento de sintomas clínicos e não por sugestão de informações
familiares.
Objetivos: Avaliar a CAC e seus fatores de risco, em pacientes dialisados e com doença
óssea adinâmica (DOA) ou osteíte fibrosa (OF) diagnosticadas através de
histomorfometria óssea. Métodos: Estudo retrospectivo utilizando pacientes em diálise
que haviam sido submetidos concomitantemente à biópsia óssea e à tomografia
coronariana. Foram pareados por idade e sexo 48 pacientes de acordo com o diagnóstico
histomorfométrico. Os pacientes com DOA (43±11 anos; 10F/14M) e com OF (41 ± 13
anos; 10F/14M) já haviam sido submetidos a exames laboratoriais para avaliação do
metabolismo ósseo, inflamação e perfil lipídico. Foram calculados o Risco de
Framingham e o ìndice de massa coroporal (IMC). Resultados: Os parâmetros
demográficos, laboratoriais e tomográficos (escore de calcificação – CaS) encontram-se
na tabela. Com relação ao perfil lipídico, não houve diferença entre os grupos.
Tempo de diálise (meses)
IMC (Kg/m2)
Risco de Framingham
Cálcio iônico (mmol/L)
Fósforo (mg/dL)
Fosfatase alcalina (U/L)
PTHintacto (pg/mL)
OPG (pg/mL)
sRANK-L (pg/mL)
PCR (mg/dL)
CaS (AU)
CaS > 30 AU
CaS > 400 AU
DOA (n=24)
36,8 ± 21,9
23,9 ± 4,5
3,29 ± 4,3
1,23 ± 0,06
7,2 ± 1,5
213 ± 114
242 ± 331
151,2 ± 57
3,3 ± 6,9
0,85 ± 0,77
483 ± 1230
11 (46%)
4 (17%)
OF (n=24)
74,9 ± 44,8
23,1 ± 4,3
4,7 ± 5,3
1,28 ± 0,06
7,4 ± 1,8
593 ± 596
1434 ± 762
267,6 ± 184
34,7 ± 42
0,66 ± 0,93
423 ± 917
13 (54%)
7 (29%)
p
< 0,001
NS
NS
0,01
NS
< 0,001
< 0,001
0,03
0,002
NS
NS
NS
NS
Conclusão: A prevalência e severidade da calcificação coronariana são similares entre
pacientes dialisados, portadores de DOA ou OF.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
13
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 045 (TL 005)
DC 046
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÕNICA SUBMETIDAS À DIÁLISE.
GIOVANNA BRUNELLI; PAULO KOCH, DENISE HPM DINIZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- SETOR DE PSICONEFROLOGIA
IMPACTO DO KT/V NO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA DE PACIENTES EM
DIÁLISE PERITONEAL COM SOBREPESO E OBESIDADE.
MARISTELA SILVA TALAMONI; ALEXANDRE HABITANTE, CLAUDIA M.
ALTEMANI, MARIA CECÍLIA A.B. DE OLIVEIRA, FÁTIMA C.C.M.B. SALLES,
MARILDA MAZZALI, GENTIL ALVES FILHO.
DISC. NEFROLOGIA FCM/UNICAMP
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (QV) de crianças portadoras de insuficiência renal
crônica (IRC) submetidas à diálise. Metodologia: Desenho do estudo: caso-controle.
Foram estudadas 66 crianças, sendo que 33 delas submetidas à diálise (22 em
hemodiálise e 11 em diálise peritoneal) e as outras 33 crianças eram saudáveis. Os grupo
de pacientes foi constituído por crianças portadoras de IRC assistidos em três unidades:
Ambulatório de Pré Transplante do Hospital do Rim e Hipertensão da Universidade
Federal de São Paulo, Centro de Diálise do Hospital Samaritano de São Paulo e Serviço
de Nefropediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Casos e
controles foram pareados por sexo, idade e nível social. O principal instrumento utilizado
para avaliação da QV foi a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida (AUQEI)
Resultados: Verificou-se que existem diferenças significantes entre os dois grupos nas
respostas da questão referente ao grau de satisfação na prática de esportes. Neste quesito,
29/33 crianças sem IRC referiram ser muito felizes, enquanto no grupo com IRC apenas
17/33 responderam dessa forma. Além disso, houve tendência de diferença na questão
que se refere à satisfação das crianças à mesa com a família. Nas demais questões, não
foram observadas diferenças significantes. Constatou-se, ainda, alto índice de abstenção
às respostas referentes à escola. Conclusão: O conjunto de dados obtidos demonstra que
a IRC esteve ligada a índices mais baixos de QV no aspecto do lazer (especificamente
aos esportes) e nos hábitos alimentares.
Introdução: O sobrepeso e a obesidade vem apresentando um aumento crescente de
prevalência, tornando-se um problema de saúde pública. Estão associadas a um maior
risco cardiovascular, a um aumento de morbidade e de mortalidade na população geral e
em pacientes em terapia renal substitutiva. O impacto do Kt/V neste âmbito ainda não
está totalmente definido. Objetivo: Avaliar a eventual correlação do índice de massa
corpórea(IMC) e o Kt/V em pacientes com sobrepeso e obesidade submetidos a diálise
peritoneal crônica. Métodos: Realizado estudo transversal com 20 pacientes submetidos
a diálise peritoneal crônica (DPAC ou DPA), tendo sido divididos em três grupos de
acordo com o IMC(Kg/m2): normal(20-24.9), sobrepeso(25-29.9) e obeso(30 ou mais).
Foi realizado avaliação estatística dos seguintes parâmetros clínicos e laboratoriais:
Kt/V, IMC, Albumina, Potássio, Cálcio, Fósforo, Glicemia de jejum, Perfil Lipídico e
tempo de diálise peritoneal. Resultados: Na análise univariada, não houve correlação
estatisticamente significativa entre o Kt/V e os outros parâmetros avaliados (inclusive
Kt/V com o IMC). Houve correlação significativa do IMC com o fósforo (R= 0.45,
p=0.04) e tendência de correlação significativa entre o IMC e Albumina sérica. Os
parâmetros que apresentaram diferença estatística significativa (p<0.05) no teste de
ANOVA foram:
Média IMC
Média kt/V
Fósforo (média)
Albumina (média)
Tempo de diálise
Normal (n=10)
23,1± 0,46
1,8 ± 0,08
5,14 ± 0,8
3,66 ± 0,09**
4.5 ± 2.7**
Sobrepeso(n=5) Obesidade(n=5)
26,7 ±0,50
34,1±0,97
1,98 ± 0,12
1,74 ± 0,15
5,78 ± 0,48
6,06 ± 0,44*
3,53 ± 0,7**
4,04 ± 0,10
3.4 ± 1.0**
2.9 ± 1.19
*0,05 versus normal, ** p<0,05 versus obeso
Conclusão: Neste estudo, o Kt/V não apresentou correlação com o IMC. Foi observado
correlação do IMC com o fósforo sérico e uma tendência de correlação com a albumina
sérica.
DC 047 (TL 006)
DC 048
PREVALÊNCIA E GENOTIPAGEM DO HCV EM UMA UNIDADE DE
HEMODIALISE
JOÃO FERNANDO PICOLLO DE OLIVEIRA; F. AGUIAR, B.C. GONÇALVES, H.J.
RAMALHO, R.C.M.A. SILVA, P.S.F. PEREIRA
HOSPITAL DE BASE – FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM PACIENTES
RENAIS CRÔNICOS DURANTE O PROCESSO DIALÍTICO
OSWALDO A. GUTIÉRREZ-ADRIANZÉN; MARIA E. A. DE MORAES, JOSÉ
MARIA S. S. JÚNIOR, LUCAS N. BARROS, ELIZABETH F. DAHER, MARIA DE J.
F. MARINHO, CARLOS R. M. R. SOBRINHO, ANTONIO P. DE ALMEIDA, OTONI
C. DO VALE
SERVIÇOS DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
WALTER CANTÍDIO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. FORTALEZA,
CEARÁ.
Introdução: O vírus da hepatite C (HCV) é um causador de doença hepática e podem
evoluir para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Sua prevalência na população
geral é de 3%. Porém, nas unidades de diálise sua prevalência é maior (10%-Censo SBN
2006). A determinação da genotipagem é relevante para avaliar a resposta ao tratamento
destes pacientes, com o genotipo 2 e 3 apresentando resposta sustentada maior que o
genotipo 1. Objetivo: Avaliar a prevalência e o genotipo do HCV entre os pacientes em
tratamento dialítico em uma unidade hospitalar de terapia renal substitutiva. Métodos:
Foram avaliados os pacientes em tratamento dialítico no Hospital de Base no mês de abril
de 2007. Os pacientes com anti-hcv reagente foram triados para PCR e posteriormente
genotipagem. Resultados: Do total de 250 pacientes em tratamento dialítico, 20
pacientes tinham anti-hcv reagente (8%), sendo 7(35%) soroconversões ocorridas há
mais de 7 anos. Apenas um paciente realiza diálise peritoneal. Um paciente apresentava
co-infecção com HIV. Dos pacientes com anti-hcv reagente, 3 tinham PCR qualitativo
negativo e 17 positivo. Entre estes pacientes, a maioria é do sexo masculino 15/20(75%),
com idade média 48(±12) anos, tempo de diálise com mediana 60,5 meses, doença de
base GNC (45%), diabetes mellitus (35%) e HAS (20%). Foram realizadas genotipagem
em 17 pacientes, e encontrado: 1a (64,7%), 1b (17,6%) e 1a/1b(11,7%) e 2a (5,8%).
Conclusões: A prevalência de HCV foi menor que a nacional, provavelmente devido ao
uso de sala e máquinas dedicadas, implementadas na unidade após surto de
soroconversão. O genótipo mais freqüente foi o 1, que é o mais prevalente entre os
pacientes em tratamento dialítico.
14
A patogenia da hipertensão intradialítica é complexa e é atribuída em parte à sobrecarga
de volume, ao aumento no débito cardíaco, ativação do sistema renina-angiotensina e
sistema nervoso simpático, aumento sérico de substâncias vasoativas, entre outros. Não
existe na literatura estudos que mostrem a prevalência e a importância prognóstica da
hipertensão intradialítica em nosso meio. Foi realizado estudo prospectivo com 38
pacientes em tratamento dialítico no Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC, no
período de novembro de 2006 a março de 2007. Foram realizadas três mensurações de
base antes do início da diálise a intervalos de 5 minutos. Iniciada a sessão foram
realizadas mensurações a cada 15 minutos. Para análise dos dados utilizou-se a pressão
arterial média como base de comparação entre os pacientes, que foram separados em 2
grupos: Grupo I - pacientes que apresentaram elevação da pressão e Grupo II - pacientes
que não apresentaram tal elevação. Observou-se que, apesar da retirada de volume, 20
pacientes apresentaram elevação da pressão arterial em relação à pressão de base obtida
antes do procedimento evidenciando que o nível pressórico desses pacientes não é
dependente somente da sobrecarga de volume. Outros fatores envolvidos no controle
sistêmico da pressão arterial devem ser levados em consideração, como, por exemplo, o
óxido nítrico e a endotelina 1, que têm sido relatados em estudos como fatores de
fundamental importância no controle de pressão intradialítica. Outro fator relevante é o
sistema nervoso simpático, que ainda não tem seu papel bem estabelecido. Evidencia-se
a necessidade de estudos mais aprofundados para avaliar as variações da pressão arterial
sistêmica em pacientes renais crônicos durante o processo dialítico.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 049
DC 050
COMPARAÇÃO DA MORTALIDADE ENTRE DIÁLISE PERITONEAL
AMBULATORIAL CONTÍNUA (DPAC) E DIÁLISE PERITONEAL
AUTOMÁTICA (DPA)
MCC ANDREOLI; MA NADALETTO, CB SILVA, SR MANFREDI, DMM
FERREIRA, MA DALBONI, MEF CANZIANI, M CENDOROGLO, SA DRAIBE
DISCIPLINA DE NEFROLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
(UNIFESP), SÃO PAULO-SP, BRASIL.
IMPACTO DA FIBROMIALGIA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE
PACIENTES EM HEMODIÁLISE
CLÁUDIO I COUTO1; JAMIL NATOUR2, ALUIZIO B CARVALHO1
Introdução: A DPA simplifica o processo de diálise, permite aumento da dose e melhora
a qualidade de vida de muitos pacientes. Objetivo: Comparar a mortalidade entre
pacientes em DPA e DPAC. Métodos: Foram avaliados 89 pacientes incidentes
admitidos de 1/Jan/2003 a 31/Abr/2005. Os pacientes foram censorados se transferência
para hemodiálise, transplante, óbito ou término do período de seguimento. Curvas de
Kaplan-Meier e log-rank test foram utilizados para comparar a mortalidade nos 2
primeiros anos de tratamento. O modelo proporcional de Cox (análise uni e multivariada)
foi utilizado para comparar o risco relativo (RR) de morte entre as modalidades e as
variáveis preditoras. Resultados: Os pacientes em DPAC (n=34; 62±14 anos; 56% sexo
masculino; 32% diabéticos; Kt/V total semanal: 2.3±0.7; ritmo de filtração glomerular
[RFG]: 3.2±3.4mL/min) eram similares aos em DPA (n=55; 57±16 anos; 53% sexo
masculino; 31% diabéticos; Kt/V total semanal: 2.3±0.5; RFG: 1.9±2.4mL/min) em
relação aos parâmetros clínicos e demográficos. Após 2 anos, a mortalidade geral e
cardiovascular (CV) foi de 21% para DPA e 44% para DPAC (p=0.02), e 9% para DPA
e 28% para DPAC (p=0.03), respectivamente. Após análise ajustada para idade, DM,
Kt/V, RFG e teste do equilíbrio peritoneal (PET): a) o risco de óbito foi
significativamente maior na DPAC comparada à DPA (RR, 2.52 [IC, 1.09 a 5.83],
p=0.03), nos diabéticos (RR, 2.56 [IC, 1.11 to 5.9], p=0.03) e nos mais velhos (RR, 1.05
[IC, 1.01 a 1.09], p=0.003); b) o risco de óbito CV foi significativamente maior na DPAC
comparada à DPA (RR, 3.92 [IC, 1.2 a 13.1], p=0.03) e nos diabéticos (RR, 3.9 [IC, 1.2
a 12.3], p=0.02). Conclusão: Observamos maior mortalidade geral e CV na DPAC
comparada à DPA, a despeito de RFG e dose de diálise semelhantes entre os grupos.
Talvez um viés na seleção dos pacientes para cada modalidade possa justificar estes
resultados.
1 DISCIPLINAS DE NEFROLOGIA E
FEDERAL DE SÃO PAULO
2
REUMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE
Introdução: Pacientes em diálise apresentam redução da qualidade de vida (QV)
comparada a da população geral. A fibromialgia (FM), síndrome caracterizada por dor
crônica, difusa, associada a pontos dolorosos, anatomicamente determinados,
acompanha-se de fadiga, distúrbio do sono, rigidez matinal, depressão, ansiedade e claro
comprometimento da QV. Objetivo: Avaliar o impacto da FM na QV de pacientes em
hemodiálise (HD). Métodos: 311 pacientes, em HD há pelo menos 6 meses, foram
avaliados e classificados como portadores ou não de FM. Foi constituído um grupo
controle, na proporção 1:2, de pacientes em HD, emparelhados para idade, sexo e tempo
de HD. Os pacientes do grupo FM e controle foram submetidos a exames laboratoriais e
responderam a questionários de QV (FIQ, SF-36), de avaliação de depressão (BECK),
ansiedade (IDATE) e nível de dor (VAS). Resultados: Dos 311 pacientes, 12 (3,8%)
foram classificados como portadores de FM (83,3% mulheres, 66,6% de raça não-branca,
tempo de HD= 70±42,6 meses, índice de massa corporal= 23,6±4,2 kg/m2 e
Kt/V=1,5±0,3). Os exames laboratoriais revelaram o cálcio iônico= 1,30±0,03 mmol/L,
fósforo= 4,7±0,4 mg/dL, fosfatase alcalina= 294±230 U/L, PTH-intacto=679±232
pg/mL, TSH=4,3±0,8 mUI/L, PCR= 0,8±0,7 mg/dL e alumínio= 69,9±15 µg/L. Exceto
pelo cálcio iônico, maior no grupo FM (1,30±0,03 vs 1,23±0,01 mmol/L; p<0,05),
nenhum outro parâmetro demográfico ou laboratorial foi diferente entre os grupos. O FIQ
do grupo FM foi pior do que o controle (9,1±1,0 vs. 5,5±1,0; p=0,006), assim como o SF36 [capacidade funcional (18,5±4,6 vs. 25,8±5,1), dor (6,6±0,3 vs. 3,0±0,2), vitalidade
(10,2±0,5 vs. 13,9±0,6), aspectos sociais (5,0±0,7 vs. 5,6±0,7), aspectos emocionais
(3,5±1,0 vs. 5,5±0,8) e saúde mental (17±1,1 vs. 21,9 ±0,5); p<0,05]. O BECK foi pior
no grupo FM (20,3±2,4 vs. 5,3±1,0; p<0,0001), assim como o IDATE [estado (70,1±8,1
vs. 32±4,8) e traço (78,6±7,4 vs. 28±3,0); p<0,001]. O VAS foi maior no grupo FM
(6,9±0,4 vs. 2,7±0,4; p<0,0001). Conclusão: A FM está associada à piora da QV e
maiores graus de depressão e ansiedade em pacientes em HD.
DC 051
DC 052
PREDITORES DE PERITONITE EM RENAIS CRÔNICOS EM PROGRAMA
DE DIÁLISE PERITONEAL
BASTOS K.A.1,2; LÔBO J.V.1, VILLAR K.R.1, BARBOSA L.M.M.1, ANDRADE JR.
M.P.2
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE; 2 CLINESE – CLÍNICA DE
NEFROLOGIA DE SERGIPE
USO DA SERTRALINA NO TRATAMENTO DA HIPOTENSÃO ARTERIAL
REFRATÁRIA EM DOIS PACIENTES EM HEMODIÁLISE(HD).
ANA CARLA SYDRONIO DE SOUZA; ANA HELENA AIRÃO, PRISCILA
LUSTOZA, SOLANGE BARUKI, ELIZABETH ARAUJO, PEDRO PINHEIRO,
RENATA C. SANTOS, GLADYS J. MATTA
Introdução: Peritonite é a principal complicação da diálise peritoneal (DP). Reconhecer
os fatores de risco é essencial para o sucesso de um programa de DP. Objetivo: Avaliar
possíveis preditores do desenvolvimento de peritonites em pacientes em DP. Métodos:
Estudaram-se retrospectivamente 229 pacientes (53,21±19,28 anos) ativos em DP entre
janeiro/2003 e dezembro/2005. Obtiveram-se dados demográficos, sócio-econômicos e
clínicos e estes foram comparados entre os grupos com (84 pacientes) e sem (145
pacientes) peritonite. Relizou-se a análise estatística através dos testes “t”de student, quiquadrado e regressão logística (p<0,05). Resultados: Ocorreram 127 episódios de
peritonite em 84 pacientes (36,7%), com índice global de 0,46 episódios/paciente/ano.
Eram mulheres 47 pacientes (56%); 57 (67,9%) tinham ≥50 anos ao iniciar o tratamento;
34 (40,5%) residiam na capital; 67 (80,7%) eram no máximo alfabetizados. Organismos
gram positivos foram responsáveis por 29 episódios (22,8%) e gram negativos, por 30
(23,6%). O Staphylococcus aureus foi o agente mais frequentemente isolado (38,9%).
Através de regressão multivariada, observou-se que quem iniciou tratamento dialítico
com idade ≥50 anos e pela DP apresentou risco de peritonite 1,9 vezes maior.
Hipoalbuminemia ao início do tratamento e infecções prévias do sítio de saída do cateter
(ISSC) aumentaram o risco em 2 e 3 vezes, respectivamente. Conclusões: ISSC,
hipoalbuminemia e idade ≥50 anos mostraram-se como preditores independentes de
peritonite. Suporte nutricional e profilaxia de ISSC são recomendadas.
Introdução: A disfunção autonômica (DA) ocorre em 50% dos pacientes em HD
prejudicando a capacidade de manter a pressão arterial (PA) durante a retirada de
volume, causando hipotensão e arritmias. O defeito principal está na via aferente dos
barorecptores. Feito o diagnostico da DA há atualmente dificuldade para tratá-la e
reverter os episódios de hipotensão na HD e fora dela. Estudos com Sertralina, mostram
que por inibir a reutilização da serotonina, reduzindo a liberação simpática, pode ajudar
no tratamento da DA. Objetivo: Observar o efeito da Sertralina na pressão arterial na HD
e fora dela em pacientes em uma clínica de diálise ,com hipotensão refratária. Material
e Métodos: Estudo prospectivo em dois pacientes em HD. Utilizamos 50mg de Setralina,
a noite e avaliamos a PA e pressão arterial média (PAM) pré, durante e após HD,
episódios de hipotensão sintomática e necessidade de intervenção na HD e comparamos
com o período de dois meses anteriores ao inicio da droga. Resultados: Duas mulheres
brancas com idade média de 50,5 anos, tempo médio em HD 78 meses, tendo como
doença de base hipertensão arterial e pielonefrite crônica.A primeira paciente usou a
droga por 10 meses e a segunda por três meses. A PAM mínima pré droga foi de
117,5mmHg( 117,5-161,66) equivalendo a 70/40mmHg e após a droga de 124,44mmHg
(124,44-146,41) equivalendo a 90/50. O numero de eventos que necessitaram
intervenção pré droga foi de 3,6 eventos/mês, caindo para 0,95 eventos/mês após a droga.
A xerostomia foi o principal efeito colateral, ocorrendo em 50% das pacientes e 100%
delas notou melhora do humor. Conclusão: A sertralina se mostrou eficaz no controle da
PA em 100% dos pacientes que a utilizaram, principalmente após a quarta semana de
uso. A amostra foi pequena, mas há concordância com a literatura onde a droga foi
eficiente na prevenção da hipotensão e na redução dos episódios de hipotensão com
necessidade de intervenção terapêutica.Como efeito colateral observamos xerostomia em
uma paciente.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
15
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 053
DC 054
ESTUDO DE 6 PACIENTES EM HEMODIÁLISE (HD) SUBMETIDOS A
TRATAMENTO ENDOVENOSO COM VITAMINA D PARA TRATAMENTO
DE PARATORMÔNIO (PTHI) ELEVADO.
ROGÉRIO BARBOSA DE DEUS; MARIE JANINE SABLONSKA
RELATO DA VISÃO DO PACIENTE FRENTE A ESCOLHA TERAPÊUTICA
ENTRE HEMODIÁLISE (HD) OU TRANSPLANTE RENAL (TXR).
ANTONIO CARLOS ROSSI ; LIGIA FLORIO, ROGÉRIO BARBOSA DE DEUS
NUPSIQ – NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA
Introdução: A osteodistrofia renal é uma complicação comum em pacientes em HD e
compreende importantes alterações do metabolismo de cálcio e fósforo, e elevação dos
níveis de PTHi. Objetivo: Avaliação da resposta a tratamento com vitamina D (calcitriol)
endovenoso em altas doses (pulsoterapia) em pacientes com PTHi alto. Casuística e
métodos: Foram avaliados 38 pacientes em HD com fístula arterio-venosa e destes foram
selecionados 6 pacientes por apresentarem níveis de PTHi maior que 400 pg/mL, sendo
3M/3F, com idade de 48,3 ± 15,5 anos, (média ± desvio padrão, X±DP). A água da
hemodiálise foi tratada por osmose reversa. Resultados: Foi observado que a idade,
creatinina sérica e clearance de creatinina não foram diferentes, que é condizente com a
literatura. As dosagens de alumínio sérico se mostraram dentro dos padrões da
normalidade. não há diferença nas diferentes etiologias deste grupo. Pacientes em uso de
calcitriol injetável (aplicado logo após HD), sendo:
Introdução: Freud destaca a importância das reações de ansiedade e baseado nisso
pode-se levantar considerações sobre o desamparo original e de que forma essa relação
se estende no ato aceitar ou não o TXR. Objetivo: Avaliar a assistência psicológica para
elaboração de escolhas entre hemodiálise ou TXR. Método: Assistência psicológica com
abordagem psicodinâmica através de entrevistas não diretivas, durante 50 minutos,
realizada 2 vezes por semana por 6 meses e em consultório. Relato de caso: MGS,31a,
F, branca, católica, do lar. Há 5 anos com Insuficiência renal crônica (IRC), iniciou HD
em jan/00 e chamada para TXR em dez/02 e se recusou. MGS viveu com seus pais e
irmãos até os 16 anos em condições precários. Relata que pai era muito bom e a mãe,
malvada. “Minha mãe era muito rude, não gostava de mim...ela me batia muito, eu era
a ovelha negra da família”. Sua infância foi marcada por aspectos que poderiam levá-la
a morte: “quando tinha 4 anos cai dentro do rio, quase morri, graças a Deus alguém
me salvou”, “um escorpião tinha me picado no mato. O pessoal correu para o médico e
me salvei.” A decisão em fazer HD vem da responsabilidade de cuidar de seu filho. O
medo e a dificuldade de aceitar o TXR cadáver: “O pessoal lá da clínica me disse que
fiz uma tremenda burrada, saiu o rim de cadáver pra mim, mas acabei não indo fazer o
TXR, será que fiz certo?” “ao receber a noticia do TXR pensei em morrer“.A partir
destas elaborações MGS aceitou o TXR de sua irmã. Conclusões: Neste contexto resignificamos elementos impedidores e de interferência decisiva para que essa paciente
escolhesse a modalidade terapêutica (HD ou TXR).
n Tempo em HD
Clcr
(meses)
(mL/min)
1
2
3
4
5
6
40 - 48
47 - 54
35 - 58
47 - 63
26 - 72
54 - 78
11,17
8,38
6,65
11,20
7,32
4,95
Dosagens séricas de PTHi
(pg/mL)
1ª
2ª
3ª
4ª
1648 801,9 792,7
--760
323,7 153,9
--472
261,5 174,0
--1400 546,0
160
179,0
2224
2243
1458 961,0
1453
1454
675,2
---
Dose calcitriol
(mcg/HD)
4
2
2
4
4
4
Conclusão: A doença óssea, acomete diferentes idades e geralmente em adiantada fase
do tratamento hemodialítico. Observamos que os pacientes com PTHi alto estavam com
+ de 4 anos em HD. O uso do calcitriol injetável nestes 6 pacientes mostrou importante
queda dos valores do PTHi, sendo benéfico em reduzir os valores de PTHi sérico e do
produto cálcio-fósforo.
DC 055
DC 056
A PSICOLOGIA DO PÓS-TRANSPLANTE RENAL, NOTAS SOBRE O
HOMEM GRÁVIDO – RELATO DE CASO.
ANTONIO CARLOS ROSSI; ROGÉRIO BARBOSA DE DEUS, LÍGIA FLORIO
NUPSIQ – NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA
PREVALÊNCIA DA DOENÇA DE FABRY EM PACIENTES PORTADORES DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE EM
NATAL-RN
R GO, JULIANA FLORINDA DE MENDONÇA; ALVES, TATIANA MARIA
SABÓIA; MARINHO, LUIS ALCIDES DE LUCENA; RAMOS, THIAGO CARLOS
DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Introdução: A concretização cirúrgica do transplante mobiliza grande atenção. O ato
médico bem sucedido não põe fim a todas as preocupações. Relato de caso: VAM, 62 a,
sexo masculino, procedente da Bahia, casado, submetido a hemodiálise durante 5anos e
transplantado há 4 anos (doador cadáver) em Psicoterapia de Orientação
Analítica.Apresentou a fantasia de que estaria grávido, devido aos movimentos
sucessivos produzidos em seu abdome pelo seu enxerto. As sensações de impotência,
angústia e descontrole de seu corpo provocaram vários sentimentos, desde disforia
(alegria exacerbada) com o novo órgão, raiva dos medicamentos pelos efeitos
secundários e a sensação da modificação do seu esquema corporal, envolvido na
experiência de perda de uma parte do corpo. Quando uma nova parte é adicionada no
corpo, a imagem corporal expande-se e um lugar psicológico tem que ser encontrado. Há
que integrar psicologicamente o novo esquema corporal, esta integração é lenta e
gradual. Quando se fala de alteração da imagem corporal no individuo transplantado é a
questão da afetação do narcisismo, o que inevitavelmente tem implicações na autoestima. A perturbação narcísica aqui envolvida, ameaçadora da coesão do eu, se trata da
perda de um pedaço do corpo e o ganho com representações psicológicas de rim e de feto.
Pôde-se considerar que o acompanhamento psicológico, o processo de receber, passou
pela dinâmica individual do receptor, ativando conflitos até então inconscientes, mas que
influenciaram no equilíbrio emocional do paciente. As fantasias puderam ser respeitadas
e trabalhadas como um elo vital entre a perturbação narcisica e a resposta adaptativa a
ela, o que levou nosso paciente a uma melhor assimilação do novo órgão.
16
Introdução: Doença de Fabry é uma doença genética de depósito lisossômico
caracterizada pela deficiência da enzima α-galactosidase A, gerando acúmulo de
globotriaosilceramida (GL-3) em diferentes tecidos, notadamente no endotélio vascular,
podendo ocasionar complicações renais, cardíacas e cerebrovasculares. Diante da terapia
de reposição enzimática, torna-se essencial o diagnóstico desta doença, o que pode ser
conseguido através de um rastreamento de pacientes em hemodiálise. Objetivo: O
presente estudo objetiva determinar a prevalência da Doença de Fabry em pacientes
portadores de insuficiência renal crônica em hemodiálise na cidade de Natal-RN,
avaliando as principais co-morbidades associadas. Métodos: Foram selecionados
indivíduos do sexo masculino em hemodiálise, entre 18 e 65 anos, excluindo-se pacientes
cuja etiologia da falência renal foi: Diabetes Mellitus, Lupus Eritematoso Sistêmico,
Nefropatia Obstrutiva, Pielonefrite Crônica e Doença Renal Policística. Amostra
sanguínea foi coletada para avaliação da atividade da α-galactosidase A em papel de
filtro; os que apresentaram valores inferiores a 2,5 µmol/L/h tiveram a atividade
enzimática testada em leucócitos e, a estes pacientes, aplicou-se questionário sobre
manifestações clínicas relacionadas. Resultados: Dos 191 pacientes, 16 (8,3%) cursaram
com atividade enzimática em papel de filtro inferior a 2,5 µmol/L/h. Apenas 01 paciente
(0,52%) apresentou dosagem da atividade enzimática em leucócitos inferior ao valor da
normalidade, sendo compatível com Doença de Fabry. Neste não foram encontradas as
manifestações clínicas típicas da doença. Conclusão: Observou-se uma prevalência de
Doença de Fabry de 0,52% dentre os pacientes estudados nos centros de hemodiálise da
cidade de Natal em outubro de 2006.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
Diálise
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
DC 057
DC 058
“COMPARAÇÃO ENTRE ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS E PERFIL DE
FERRO ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS E NÃO-DIABÉTICOS,
PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM PROGRAMA DE
HEMODIÁLISE.”
OLIVEIRA, CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; MARANHÃO, CEC; SIQUEIRA, GSM; QUEIROZ, SAGVV
FHAIAA-AL
“QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL
CRÔNICA EM HEMODIÁLISE ACIMA DE 60 ANOS E ABAIXO DE 50 ANOS
DE IDADE, AVALIADA ATRAVÉS DO INSTRUMENTO GENÉRICO SF-36”
OLIVEIRA CAF; RESURREIÇÃO, FAMS; GOUVEIA, EA; MACEDO, JP; COSTA,
AFP; BARROS, AAS; OLIVEIRA, RRD; QUEIROZ, SAGVV; SIQUEIRA, GSM;
SOUTINHO, LW
FHAIAA-AL
Introdução: Anemia é certamente um marcador de doença renal crônica, estando
presente em 70% ou mais dos pacientes em início de programa dialítico. Objetivos:
Avaliar se existe diferença nos índices hematimétricos e perfil de Ferro entre os pacientes
diabéticos e não diabéticos submetidos a hemodiálise crônica. Métodos: Foram
analisados os resultados de hematócrito (Ht), hemoglobina (Hb) e dose semanal de
eritropoetina (EPO), extraindo-se destes a média dos últimos três meses. Os valores de
ferro e ferritina foram extraídos da última coleta mensal. Os valores são expressos em
números absolutos, médias e desvio padrão. A análise estatística foi realizada com teste
exato de Fisher e teste t de Student quando apropriados. Os pacientes foram divididos em
diabéticos (grupo A) e não diabéticos (grupo B). Resultados: Ambos os grupos
constaram de 23 pacientes, sem diferença significativa em relação a gênero e idade entre
si. Não houve diferença estatística significativa entres os índices hematimétricos dos
dois grupos (p=0,87 para Ht e p=0,81 para Hb), bem como não houve diferença
estatística em relação a os níveis de Ferro (p=0,11) e Ferritina (p=0,24), assim como a
dose de eritropoetina utilizada. Porém evidenciaram-se diferentes médias de níveis de
ferro (54,66 e 65,04 µg/dL) e ferritina (375,47 e 503,42 µg/dL) nos grupos A e B
respectivamente e ainda, maiores doses de EPO ultilizadas pelos diabéticos. Conclusão:
Embora não tenha havido diferença estatística entre os grupos, há tendência em existir
menores níveis de ferro e ferritina no grupo de pacientes diabéticos que dialisam,
necessitando os mesmos de maiores doses de eritropoetina.
Introdução: O fenômeno de envelhecimento populacional no Brasil é fato incontestável
nos dias de hoje, mas também na população de pacientes em programa de diálise este
fenômeno acontece. Objetivos: Analisar a qualidade de vida e sua relação entre pacientes
idosos e não idosos submetidos a hemodiálise crônica em um centro de nefrologia em
Maceió-AL. Métodos: O estudo constou da aplicação do questionário genérico SF-36 em
pacientes com idade superior a 60 anos (grupo A) e pacientes com idade inferior a 50
anos (grupo B). Os resultados são expostos em números absolutos, médias e desvio
padrão, a análise estatística foi realizada com teste exato de Fisher e teste t de Student
quando apropriados. Resultados: O grupo A composto por 31 pacientes teve idade média
de 67,1± 6,05. O grupo B composto por 30 pacientes com idade média de 38,5 ± 9,17
anos. Foi constatado que os pacientes do Grupo B têm uma melhor qualidade de vida em
relação aos pacientes idosos (p=0,001). Conclusão: O questionário genérico SF-36 foi
um bom parâmetro para avaliar a qualidade de vida nos dois grupos. Foi constatado que
a qualidade de vida entre os pacientes em programa de hemodiálise é influenciada pela
idade.
DC 059
DC 060
EDEMA CEREBRAL INDUZIDO POR CYCLOSPORINA EM PACIENTE COM
IRCT EM HEMODIÁLISE
MIGUEL ÂNGELO GÓES; MARIANA G ADAS, SUEMY C IZO, HELIO TOSHIO
OUKI, JOÃO FERNANDO PAVÃO DE FARIA ROMÃO, MARIA A DALBONI,
MAURICIO G PEREIRA, OSCAR F PAVÃO DOS SANTOS, MIGUEL
CENDOROGLO E ME CANZIANI
DISCIPLINA DE NEFROLOGIA- UNIFESP-BRASIL
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL EM HEMODIÁLISE
RENATA MONEDA ALBERTO DO SANTOS; VIRGÍNIA PAVESI MIGUEL.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO-USP.
Relato de Caso: Paciente feminina, de 34 anos, portadora de insuficiência renal crônica,
que, após 10 anos de transplante renal evolui com nefropatia cronica do enxerto,
necessitando hemodiálise de manutenção, e aplasia de medula óssea (MO). Estava sendo
tratada com corticóide e cyclosporina A (CsA) para a aplasia de MO, quando apresentou
quadro de cefaléia holocraniana progressiva associada com fraqueza em membros e
alteracao visual, mas com a pressão arterial controlada com enalapril e amlodipina,
quando foi internada no Hospital do Rim e Hipertensão para investigação etiológica. Na
internação a fundoscopia revelou edema de papila bilateral associada a elevada pressão
do LCR foi realizada punção do liquido cefalo raquidiano (LCR) e observado elevada
pressão liquorica (PI 30 mmHg), com celularidade normal. Tomografia computadorizada
(TC) e ressonância nuclear magnética de encéfalo não evidenciaram alterações. Após 12
dias houve piora da cefaléia e sonolência, sendo transferida para unidade de terapia
intensiva(UTI). Na UTI evoluiu com convulsões generalizadas e coma. A pressão do
LCR continuava elevada (PI 31 mmHg). A TC revelou edema cerebral difuso com
coleções subdurais frontais. Após 36 horas, a CsA foi suspensa. Evoluindo com melhora
do quadro clinico, normalização da pressão do LCR (PI 14 mmHg) e da TC de encéfalo.
Sendo suspensa a ventilação mecânica após 16 dias. Recebendo alta da UTI após 22 dias,
sem qualquer seqüela neurológica. Conclusão: No nosso conhecimento este é o primeiro
relato de caso de edema cerebral induzida por CsA em paciente submetido a hemodiálise
crônica de manutenção. Um diagnóstico precoce, com suspensão da utilização de CsA
são importantes para um bom curso clinico e prognóstico, já que na sua completa
suspensão evolui para melhora completa sem qualquer seqüela.
J.C.O.M., sexo masculino, 23 anos, solteiro com diagnóstico de subnutrição e IRC em
hemodiálise (HD) (4 h 3vezes/semana) desde ano de 2000, devido à Síndrome de Prune
Belly. Os estudos mostram alta incidência de subnutrição em pacientes HD ( 6 a 8%
grave e 33% de leve a moderada). A primeira avaliação nutricional revelou que o
paciente encontrava-se em desnutrição grau moderado com déficit de 8 kg de seu peso
corporal usual e com depleção importante dos tecidos adiposo e muscular. Os parâmetros
utilizados para essa avaliação foram: peso seco, usual, padrão e ajustado, IMC,
circunferências do braço e muscular, área muscular do braço, dobras cutâneas triciptal e
subescapular e bioimpedância elétrica. Os exames laboratoriais reforçaram o estado de
subnutrição: albumina, CTL, uréia, creatinina, colesterol, triglicérides, PNAn
encontravam-se abaixo da normalidade (3,5g/dl; 1500ml/m3; 120; 6,9; 88; 61mg/dl e
0,9g/kg/d, respectivamente). Os níveis elevados de PTH contribuíram para o catabolismo
protéico. A avaliação da dieta detectou ingestão insuficiente de energia, proteína, cálcio,
ferro, zinco, vitaminas do complexo B, ácido fólico e vitamina C. O paciente foi
orientado com dieta contendo 40kcal/kg e 1,3g de proteína/kg de peso ajustado através
de um exemplo de cardápio e listas de substituição de alimentos e iniciado a suplemento
alimentar 300ml (1,5 Kcal/ml, 350mOsm, isento de fibras, contendo 450Kcal, 16% de
proteína, 51% de carboidratos, 33% de lipídio; 391mg de Na, 558 de K, 301mg de P e
Ca, 5,4mg de Fé, 6,3 de Zn, dentre outros nutrientes) 3 vezes/semana, após cada sessão
de hemodiálise, para recuperação do estado nutricional. Foram realizadas avaliações
nutricionais posteriores que indicaram boa adesão à dieta orientada, uso regular do
suplemento, melhora dos parâmetros nutricionais e bioquímicos: ganho de peso, tecido
adiposo e muscular.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia
17
J Bras Nefrol - Volume 29 - nº 3 - Supl. 2 - Setembro de 2007
Diálise
DC 061
DC 062
RELATO DE CASO: USO DO MICOFENOLATO MOFETIL (MMF) NA
NEFRITE TUBULO-INTERSTICIAL AGUDA
RENATO M. SIMÕES; JOSÉ FERNANDO S. GUILHEN, LUIZ C. PAVANETTI,
MAURÍCIO B. ZANOLLI, VITOR L. ALASMAR, IVAN M.ARAÚJO. FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA
COMPLICAÇÃO EM CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
HEMODIÁLISE – RELATO DE CASO
LUCIANO, E.P ; ALEXANDRINO, M.B.G ; PORTELA, J.E.L ; MORAES, J.L.R ;
CUENCA, L.C.F ; IDHELSON, K.B ; KORN, DAVI
HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS
Paciente feminina de 32 anos, previamente hígida, evoluiu em 1 semana com quadro de
náuseas, vômitos e fraqueza e perda aguda de função renal. Relatava uso de Ciclosporina
(CsA) para tratamento de psoríase, interrompido há 1 ano. Negava uso de quaisquer
outras medicações além da exposição caseira a inseticida. Ao exame de entrada:
Taquipnéia, euvolêmia, descorada+/4, PA=120x80mmHg, sem edema. Uréia:106mg%;
Creatinina:9,2 mg%; K+sérico:5,7mEq/l;HCO3-=16mEq/l; Urina: densidade1010,
glicose+, proteína+, sangue++, leucócitos: 70.000/ml, hemácias: 90.000/ml; Hemograma:
Hb:8,9 g%, leucócitos: 10100/mm3, eosino:3%; Albumina: 4,2g%; Urocultura: negativa;
Proteinúria: 803 mg/d; Lúpus e ANCA negativos; Complemento normal;
ultrassonografia: rins aumentados de volume com hiper-refringência cortical. Biópsia
renal: MO: glomérulos preservados, fibrose intersticial moderada com infiltrado
intersticial e tubular linfo-monocitário e eosinofílico , atrofia tubular e cilindros hialinos;
IFD: negativa. Com o diagnóstico de nefrite túbulo-intersticial (NTI) aguda, feita
Metilprednisolona IV, 1 mg/kg/dia/ 5 dias, convertida a Prednisona oral. A creatinina
regrediu até 1,4 mg%. Com a elevação de creatinina 15 dias após, optou-se por associar
MMF 2g/dia com redução progressiva do esteróide. Após 90 dias de evolução a
creatinina é 1mg%, sedimentoscopia urinária normal, densidade urinaria 1019,
proteinúria negativa. Discussão: a NTI é frequentemente atribuída a fatores infecciosos,
imunológicos, tóxicos e medicamentosos, sendo a lista desses últimos sempre crescente.
O presente caso poderia ser relacionado em fase aguda à exposição casual ao inseticida,
bem como à CsA em se considerando a fibrose residual freqüente com o uso dessa
última. A reversão do quadro com o MMF sugere a ação do mesmo no quadro agudo,
pois se vem mostrando ineficaz para a reversão das alterações renais crônicas da CsA.
As complicações com cateteres de longa permanência em hemodiálise são freqüentes e
importante causa de piora na qualidade da terapia e conseqüente aumento da
morbimortalidade. Esse relato de caso tem como objetivo descrever uma importante e
incomum complicação do cateter de longa permanência com cuff, quando inserido de
maneira inadequada dentro da cavidade atrial cardíaca – arritmia e trombo na ponta do
cateter; A.G.M, 61 anos, branca, diabética e hipertensa há quase 20 anos, em programa
de hemodiálise há 03 meses no HPEV; após duas tentativas de confecção de FAV em
membros superiores sem sucesso devido infecção local, optou-se por colocação de
cateter com cuff tipo Permcath em veia jugular interna esquerda há 01 mês e
concomitante tratamento antibiótico; há 15 dias evoluiu com adinamia e queda do estado
geral; há 04 dias foi internada para investigação do quadro, quando no exame inicial
notou-se arritmia cardíaca tipo flutter com condução variável; Foi então proposta a
anticoagulação e reversão elétrica da arritmia aguda, quando foi solicitado
Ecocardiograma transesofágico pré tratamento, que evidenciou o cateter adjacente à
parede posterior do átrio direito, intracavitário em 2 cm com presença de trombo grande
na ponta do mesmo; Portanto concluiu-se que o cateter era a fonte arritmogênica e
trombogênica; foi iniciada anticoagulação plena com heparina não fracionada e posterior
retirada do cateter sem intercorrências e com reversão espontânea da arritmia
DC 063
DC 064
DEPRESSÃO E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE
BARBOSA L.M.M.1; MORALES M.C.2, ANDRADE JR. M.P.2, BASTOS K.A.1,2,
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE; 2 CLINESE – CLÍNICA DE
NEFROLOGIA DE SERGIPE.
FATORES QUE INFLUENCIAM NA ABSORÇÃO DE GLICOSE DO
DIALISATO EM DIÁLISE PERITONEAL CRÔNICA
ANTUNES AA; BARRETTI P, MARTIN LC, BALBI AL, GABRIEL DP,
RODRIGUES LS, CEZÁRIO R, CARAMORI CA, PEREIRA ERP, CARAMORI JCT
FMB-UNESP/BOTUCATU
Introdução: As terapias de caráter crônico apresentam três objetivos básicos: aumentar
a longevidade, reduzir a morbidade e melhorar a qualidade de vida (QV) dos pacientes.
Possíveis associações entre dados demográficos e clínicos objetivos e a QV podem
assegurar estratégias para melhoria do bem-estar em portadores de doença renal crônica.
Objetivo: Identificar fatores associados à QV de pacientes em hemodiálise (HD).
Metodologia: Foram entrevistados 114 renais crônicos em HD, utilizando-se o SF-36
para medida da QV, e o Beck Depression Inventory para identificar a presença de
depressão. A relação entre o nível de QV, depressão e outras variáveis clínicas,
laboratoriais e sócio-demográficas foi analisada através da aplicação de modelo de
regressão, com ajuste para as diversas co-variáveis. O método de Backward foi utilizado
para seleção dos preditores de QV mais significativos (p<0,05). Resultados: Os
pacientes tinham em média 46,3 ± 13,9 anos, sendo 59,7% homens. Depressão esteve
significativa e independentemente associada a pior QV em todas 8 as dimensões do SF36. Outras co-morbidades (diabetes e doença vascular periférica), acesso vascular por
cateter, gênero masculino, idade mais avançada, ausência de ocupação e baixa
escolaridade também estiveram associados a menores pontuações em pelo menos uma
das dimensões do SF-36 após múltiplos ajustes. Conclusão: Depressão foi o maior
preditor de QV. Esta associação de pior QV com variáveis modificáveis ou preveníveis
ressalta a importância de intervenções psicossociais e médicas para melhoria do bemestar de pacientes em HD.
18
Na diálise peritoneal (DP), cerca de 60-80% da glicose presente no dialisato infundido
pode ser absorvida, variando entre 100 e 300g/dia, contribuindo com 4,1 a
13,4kcal/kg/dia. Essa absorção depende das características do transporte peritoneal (TP)
e da prescrição dialítica, entretanto o impacto da modalidade de DP nem sempre é
considerado nos cálculos. Objetivou-se quantificar a absorção de glicose do dialisato de
pacientes em DP, identificando a contribuição energética, considerando as diferentes
características dos pacientes e modalidades de DP. Avaliados 27 pacientes adultos, no
mínimo há 4 meses em DP e livres de peritonite há mais de 3 meses. Estratificou-se a
amostra em DP automatizada (DPA) e DP ambulatorial contínua (DPAC); e quanto ao
tipo de TP, baixo/ médio-baixo e médio-alto/ alto. Determinou-se a glicose infundida
(GI) e drenada (GD) para obter o percentual de glicose absorvida (GA = GI - GD) e sua
contribuição energética (GA X 3,4) no valor calórico total diário (VCTD). Considerouse o volume e a concentração de glicose de todas as bolsas infundidas e as dosagens feitas
no efluente peritoneal drenado em 24 horas. O VCTD foi estimado por registro alimentar
de 3 dias. Dados expressos em média e desvio-padrão, comparados por teste T. Na
população, 48% dos pacientes eram masculinos, 33,3% portadores de Diabetes Mellitus,
idade de 57,6±19 anos, tempo em DP de 23,6±19,8 meses, IMC de 26,7±5,7kg/m2. A GI
foi de 199±92g/dia e a GA foi 110,5±50,3g/dia (56,1±12,6%) fornecendo
375,9±171kcal, correspondendo a 21,04±8,03% do VCTD e a 5,87±2,38kcal/kg/dia.
Quanto ao tipo de TP observou-se que nos alto/ médio-alto transportadores a quantidade
de GI e GA (g/dia) foi maior (p=0,01), revelando que nesses pacientes o fornecimento de
calorias foi superior (p=0,01), correspondendo a 25% do VCTD e a 7kcal/kg/dia
(p=0,006), mas não discriminou diferenças no percentual de GA. Entretanto, quanto à
modalidade de DP, o percentual de GA em DPA foi de 48,64% e em DPAC de 65,48%
(p<0,0001). Para adequação energética em DP a GA do dialisato difere quando se
estabelece o tipo de TP, permitindo ajustes diretos no aporte calórico; mas foi a
interpretação da modalidade de DP que permitiu estimar de forma mais simples os
percentuais de absorção.
XI Encontro Paulista de Nefrologia e XI Encontro Paulista de Enfermagem em Nefrologia