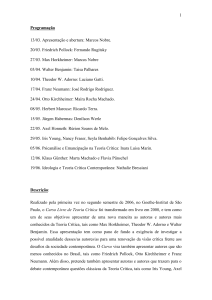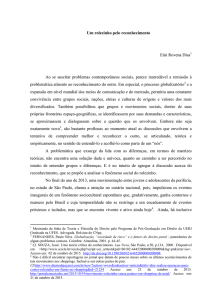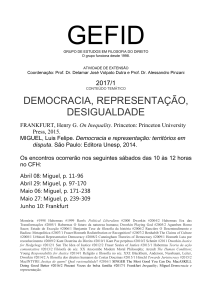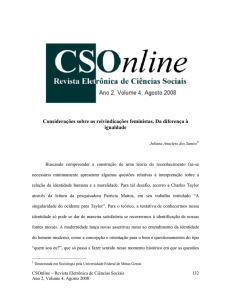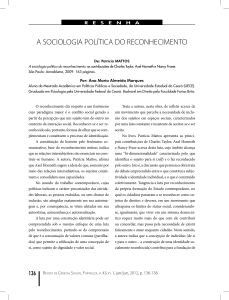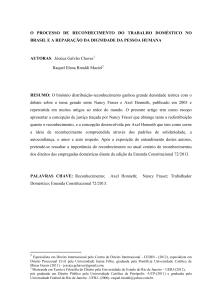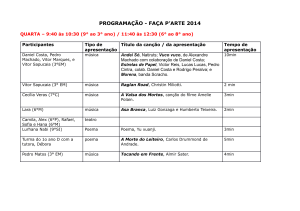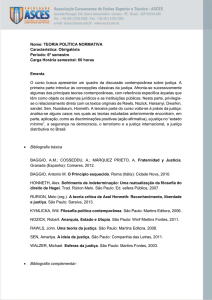33o Encontro Anual da ANPOCS
GT 39: Teoria Política: para além da democracia liberal?
Coordenadores: Álvaro de Vita (USP)/ Bernardo Ferreira (UERJ)
(ALG)UMA(S) TEORIA(S) DA JUSTIÇA:
a teoria política nos rastros da luta pela justiça social
Marlise Matos (UFMG)
Breno Cypriano (UFMG)
Resumo: A teoria política contemporânea, como uma das ferramentas analíticas da
política, depara-se com a temática da justiça social evocada por condições de
desigualdade, pobreza e não-reconhecimento das diferenças no cenário político e na nova
ordem global. O presente artigo, através de um esforço meta-teórico, desenvolve os
seguintes pontos de análise: (i) a formatação do triângulo do “estudo da política”,
demonstrando a relação entre ciência, teoria e filosofia política, a fim de demonstrar o
atual estado da arte da teoria política contemporânea e os desdobramentos e impactos
observados na história deste campo para o estudo de temáticas como a justiça social; (ii)
a relação e formatação das teorias dedicadas aos estudos da justiça com a teoria política
contemporânea; (iii) a corrente redistributiva da justiça; (iv) o enfoque da filosofia do
reconhecimento e da política da diferença; (v) o paradigma redistribuiçãoreconhecimento; e, por fim, (vi) os novos desafios de escala colocados às teorias da
justiça, frente à nova ordem global.
Palavras-chave: Teoria política contemporânea; teorias da justiça; redistribuição;
reconhecimento; representação.
1
Introdução – A teoria política frente às reivindicações pela justiça social
As reivindicações por justiça social, hoje, mobilizam diversas organizações e
movimentos sociais e tornaram-se, indiscutivelmente, tema central na agenda dos
teóricos políticos. Deparamo-nos em diversos noticiários e observamos os inúmeros
fóruns, passeatas, músicas e gritos que marcam a celebração das lutas ativistas na busca
por justiça social, onde, cada vez mais, os ativistas “estão convencidos de que as
instituições existentes e seus procedimentos normais somente reforçam o status quo”
(Young, 2001, p. 670, tradução nossa).
Após os sucessivos eventos no final da década de 80 no Leste Europeu, com a
derrocada do socialismo, o mundo se rendeu à “vitória” do capitalismo, associando a sua
expansão ao fenômeno da globalização financeiro-capitalista. O Estado capitalista
moderno e democrático viu-se, então, no papel de desempenhar a função geral de manter
a coesão e o contrato social numa sociedade atravessada por perversos sistemas de
desigualdade e de exclusão: manter as desigualdades nos limites “aceitáveis” (inclusão
social através das políticas estatais compensatórias), e estabelecer distinções entre
“diferenças” “aceitáveis” e “não aceitáveis”.
Antes mesmo destas ocorrências, a teoria política se deteve diante da emergência
e interferência do Estado de Bem-Estar Social na cena política, simultânea ao fervor das
lutas de classe e ao modelo fordista de produção, o que gerou inúmeras publicações
preocupadas com a questão (re)distributiva, visto que em circunstâncias de escassez,
egoísmo (como a negação do altruísmo perfeito) e pluralismo (como a negação da
homogeneidade perfeita) apresentaram-se demandas por bens, tanto materiais quanto
imateriais, que podiam suprimir as necessidades ou os desejos de todos. Portanto, “as
‘circunstâncias da justiça’ são sem dúvida as circunstâncias nas quais vivemos” (van
Parijs, 1997, p. 207).
Acontece que atualmente nos confrontamos com problemas modernos da
democracia (a exemplo das disputas contemporâneas travadas, sobretudo, nas questões
da igualdade, da liberdade, da fraternidade e da paz) para os quais não existem soluções
modernas. Neste sentido, o estágio atual do liberalismo inerente à teoria democrática
construído até aqui seria inadequado ou mesmo insuficiente para resolver tais problemas,
por pautar-se ainda em fundamentos epistemológicos incompatíveis com a realidade
apresentada.
2
A constatação de que a democracia liberal se perpetua como “a” forma de
governo legítima nessa mudança de milênio precisaria ser repensada na perspectiva de
uma inflexão em direção à sua própria radicalização. Destarte, o que Chantal Mouffe
propõe, por exemplo, é questionar o consenso sobre tal legitimidade, levando-se em
conta que alguns poucos teóricos radicais cumpririam esse papel (Mouffe, 2005, p. 12).
Cláudia Faria (2008, p. 2) aponta que esse período de radicalização da tradição
democrática moderna é marcado pelo abandono da “idéia de substituição completa da
ordem política vigente”.
Com tanto, salienta-se o papel decisivo das ciências sociais na formatação da
normatividade social e na contribuição para a definição e delimitação de políticas
públicas, acrescido do questionamento ao “melhor regime”, já que se deve considerar
relevante para a construção democrática a presença das “diferenças” e do pluralismo real
no processo político. Desta forma Foucault (2001) contribui para a compreensão desse
papel a ser desempenhado pela ciência, já que para ele o surgimento das ciências sociais
e humanas acontece “quando o homem se constitui na cultura Ocidental assim como ele
deveria ser idealizado e como deveria ser entendido” (Foucault, 2001, p. 376, tradução
nossa), e “como a arqueologia do nosso saber claramente mostra, o homem é uma
invenção de data recente. E talvez esteja aproximando-se de seu fim” (Idem, p.422,
tradução nossa), apontando-nos o caráter eminentemente “construído” das ciências.
Além disso, outra questão que hoje se coloca como apresenta-nos Eleni Varikas
(2006), é que os contornos das nossas formas de pensamento já não coincidem com as
nossas fronteiras do território nacional. Ela apresenta-nos a importância da dimensão ou
mesmo da expressão da contingência. Tomamos por referência aqui a constatação da
presença de um momento pós-Westhphaliano (Fraser, 2005) nas relações político-sociais
atuais, ou mesmo a constatação de processos transnacionais experimentados pela e
através da globalização (Young, 2007). E mais, acenam-se várias outras escalas: subnacionalismos, regionalismos, localismos, só para citar algumas.
Todas estas questões apontadas levam ao aprofundamento e engajamento da
teoria política e da ciência da política em se dedicarem à análise de tais conjunturas e
contextos históricos, além de definirem rumos diferenciados ao campo acadêmico. É
possível perceber a crescente aposta em dimensões critico-emancipatórias, muitas vezes
pretendidas por uma vertente acadêmica que se propõe radical e ancorada na interação
3
com a militância social. E, desta forma, ao campo referente aos estudos da política é
demandado novos modelos epistemológicos e apostas em novos modelos teóricos.
O pano de fundo da discussão meta-teórica aqui desenvolvida é o tratamento
especial dado à dimensão da justiça, seja ela pensada pelas demandas por redistribuição
de bens materiais e não-materiais (Rawls, 2002; Dworkin, 2001; 2005; Sen, 2001), com
base na “política de diferença” e lutas por reconhecimento (Honneth, 1992; 2003; Young,
2002; Fraser & Honneth, 2003), ou mesmo aliando o esforço analítico de conjugar ambas
as percepções (Fraser, 2001).
O triângulo1 que compõe o “estudo da política”: filosofia, teoria e ciência
De maneira geral, o que entendemos como o “estudo da política”, “que é a mais
antiga e a mais recente das Ciências Sociais” (Lipset, 1972, p. 11), corresponderia à
teoria política e à disciplina da política, originários da clássica obra aristotélica A
República, e também à ciência política, quando esta é institucionalizada como campo
acadêmico na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em 1880 (Flammanng,
1992, p. 4). As análises históricas apontam que antes de assumir o caráter “científico”, o
estudo voltado à política esteve presente em campos como a sociologia, psicologia e
economia. Em conseqüência dessta transdisciplinaridade, as primeiras décadas do recém
criado campo da ciência política, principalmente a década de 20, voltaram-se
intensivamente para os métodos comportamentalistas ou psicológicos da análise política.
Já na década de 30, houve “um retorno às considerações filosóficas de natureza
normativa” (Lipset, 1972, p. 14).
Entre as décadas de 50 e 70, os comportamentalistas celebravam o “declínio da
Teoria Política”. Segundo Ball (2004), neste período “o positivismo forneceu critérios
para a demarcação entre ciência e não-ciência (...) a Ciência Política deveria distinguir
entre ‘fatos’ e ‘valores’. Em segundo lugar, ela deveria ser ‘empírica’ ao invés de
‘normativa’. E, por fim, ela deveria ser explicativa” (Ball, 2004, p. 13). Tal concepção
científica converge com o projeto, que ao longo dos séculos XV até o XVIII foi sendo
construído: o sistema cartesiano de racionalidade, que adota como elementos fundantes o
“realismo metafísico”, o “objetivismo”, o “individualismo epistemológico” e o “sujeito
1
A idéia de triangulação está presente em Therborn (2007) para se tratar das vertentes teóricas (os
“ismos”), correlacionando ciências sociais, filosofia e política.
4
cartesiano” (racional, calculador, objetivo, neutro, universal, transcendental). E ao o viés
racionalista se acrescentam alguns “ismos” inexoravelmente influentes no pensamento e
nas ciências ocidentais: o “racionalismo”, o “empirismo”, o “universalismo” e o
“fundamentalismo” (Cf. Matos e Cypriano, 2008, p. 1-2).
A visão cartesiana e racionalista, sob o domínio do positivismo e behaviorismo na
ciência política, no período pós-guerra, colaborou, então, para reforçar as separações
abissais entre os três vértices do triângulo do “estudo da política”. Sob este prisma,
conseguimos, então, visualizar esses três campos: de acordo com Giovanni Sartori (1997)
a noção de “ciência” seria per se de difícil definição, mas um parâmetro minimamente
adequado seria a sua completa distinção da filosofia, que não pressupõe nenhum tipo de
método, ao contrário da ciência que supõe o método científico. Por isso, “filosofia
política pode ser definida com a reflexão filosófica sobre como organizar melhor nossa
vida coletiva – nossas instituições políticas e nossas práticas sociais, como nosso sistema
econômico e o nosso padrão de vida familiar” (Miller, 1998, tradução nossa). Já a
compreensão de teoria política pauta-se fortemente nas relações que esta tem tanto com a
filosofia quanto com a ciência política. Segundo Will Kymlicka (2006, p. 9), “teorias
diferentes recorrem às nossas conceituadas convicções de maneiras diferentes”, por isso,
o objetivo central da filosofia seria avaliar teorias rivais “para avaliar a força e a
coerência dos seus argumentos a favor da correção de suas visões” (Idem, p. 10). Por
outro lado, coloca-se que “a teoria não é um campo separado ou uma subdisciplina, uma
forma de pensamento livre, de pesquisa, mas uma bússola guia para a investigação
empírica” (Therborn, 2007, p. 127), mas que é limitada, já que “o olho teórico da ciência
política é bastante fiel ao objeto, mas só percebe o objeto (estático ou fugidio?) desde que
coadunado com o processo de percepção dos mecanismos sistemáticos” (Kiraly, 2008,
s/n).
Mais recentemente, sabe-se que a ciência política como disciplina passa por uma
fase de maturação profissional, na qual cada vez mais há a especialização em subdisciplinas e que, ao mesmo tempo, ocorre uma integração entre os vértices do triângulo
do estudo da política (Goodin and Klingemann, 1998). Mas restava, até então, como nos
aponta Lipset, a dúvida “se a ciência política pode ou deve tentar formular um sistema
teórico analiticamente distinto” (Lipset, 1972, p. 26). O que responderia esta questão é a
própria delimitação do objeto desta ciência e teoria. Pela dificuldade de se qualificar o
conceito de “ciência”, como também “política”, “[a] noção de ‘ciência política’ varia,
5
portanto, em função do que se entende por ‘ciência’ e por ‘política’”(Sartori, 1997: 157).
Todavia, a definição do que é política mostra-se fundamental para a localização da teoria
política no campo da Ciência Política.
A concepção weberiana de “política como dominação” pautou várias das
discussões acadêmicas sobre a política, que segundo Weber poderia ser entendida como
“o conjunto de esforços feitos visando a participar do poder ou a influenciar a divisão do
poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado” e, “o Estado consiste em
uma relação de dominação do homem pelo homem, com base no instrumento da
violência legítima” (Weber, 2006, p. 59-60). Mas, atualmente, a teoria política
contemporânea, para Iris Young (1998), se caracterizaria, adversamente por sua adesão a
alguns princípios arendtianos sobre a noção de política. Diferentemente da noção de
política como uma competição entre elites por votos e influência2, sendo os cidadãos
meramente consumidores primários e expectadores, a política para Hannah Arendt é
entendida como ação participativa na vida pública. A política seria a expressão mais
nobre da vida humana, por ser mais livre e original, culminando no espaço público toda a
dimensão da pluralidade e os aspectos da vida coletiva. No entanto, para Arendt, um
aspecto adverso à esfera política foi a própria emergência da era moderna, já que neste
período histórico adveio a “destruição” do espaço político com a decorrente expansão da
esfera do social (cf. Arendt, 2007).
Como Young (1998) aponta, a discordância dos teóricos políticos quanto à visão
pessimista de Hannah Arendt – que pondera sobre a emergência dos movimentos sociais
de massa e sobre a separação do social do político – faz com que se destaque a
“politização do social”, atentando para o fato de que o ativismo cívico politiza o social
(cf. Fraser, 1989). Iris Young discorre que essa noção da “politização do social”
aparentemente organiza a recente produção da teoria política, já que “reflete sobre as
condições da justiça social, ou expressa e sistematiza as políticas dos recentes
movimentos sociais, ou teoriza sobre correntes de poder dentro e fora das instituições, ou
questiona sobre as bases sociais da unidade política” (Young, 1998: 481). Sob estas
condições apresentadas a teoria política, atualmente, estaria divida, então, em seis
2
Um exemplo é Schumpeter (1984), que aborda pontos como: a “visão da incompetência dos cidadãos
médios para assuntos públicos e a necessidade de criação de partidos políticos no lugar da democracia
direta” (Nóbrega Jr., 2005, pp. 2-3), além defender que é uma democracia em que os cidadãos são passivos,
descapacitados para a vida pública, além de serem responsáveis em somente “produzir um governo” e nada
mais (cf. Schumpeter, 1984).
6
diferentes formas de se expressar a “politização do social”: (i) teoria da justiça social e
direitos de bem-estar social; (ii) teoria democrática; (iii) teoria política feminista; (iv)
pós-modernismo; (v) teoria dos movimentos sociais e sociedade civil, e; (vi) debate entre
liberalismo e comunitarismo.
A teoria política contemporânea, da forma como foi heuristicamente colocada por
Iris Young, deve ao seu ressurgimento, ao longo dos anos 70, a condição de estar “em
adição e estreitamente relacionado com o movimento contra a guerra, [e com] os
movimentos pelos direitos civis e feminista anteriores e contemporâneo a ele” (Ball,
2004, p. 15) e a sua prosperidade se deu “na medida em que ela lidou com problemas
políticos reais e com os movimentos que eles suscitaram e originaram” (Idem, ibidem).
A ascensão dos “novos movimentos sociais”, por produzirem uma “pluralidade de
centros”, deslocou os processos de identidades sociais do determinismo monista classista
para novas “bandeiras” relacionadas com questões de gênero, raça, ambientalistas,
questões enfim relegadas a um segundo plano, ou não significativas politicamente, que de
vez asseguraram um espaço no cenário político nacional (Cf. Doimo, 1995). Klaus Eder
(2002) apontou que uma possível explicação para o desenvolvimento dos “novos
movimentos sociais”, a partir da experiência dos movimentos operários na Europa, é que “a
ênfase principal mudou da emancipação política para a justiça distributiva” (Eder, 2002, p.
181).
Se para uma vertente acadêmica hegemônica, a cientificidade se vale pela
“neutralidade”, para outras não. A partir do momento em que a fronteira entre a academia
e a militância em novos movimentos sociais tornou-se mais fluida, devido ao cenário
revolucionário da década de 70, o positivismo foi suplantado por uma ciência crítica,
reflexiva. Diante dessa discussão sobre a validade científica, a objetividade (e não a
neutralidade) e o poder de controle que a ciência pode ter sobre o objeto que passou a
entender, a ciência política passou a ser, então, co-responsável pela delimitação da
natureza dos sistemas políticos e da padronização ideal dos “cidadãos disciplinados”, da
mesma forma como as ciências humanas tentam fixar o que deve ser o “humano” (como
nos apontou Foucault). Terrell Carver (1996) assinala que na teoria política, sob o viés da
“política da interpretação”, deve-se criticar o “eu” e o “um” da posição autoral e o “nós”
da posição do leitor, além do universal e abstrato “homem” onipresente do discurso.
A aposta que se tem feito, mesmo às resistências positivistas e tradicionais no
interior da teoria e ciência política, é a aliança destas com um novo projeto
7
epistemológico. Linda Nicholson (1990) enfatiza que o feminismo, como uma das
correntes que influenciou as mudanças correntes na academia, contestou a suposta
neutralidade e objetividade da ciência, apontando que o que era supostamente “universal”
correspondia, e era válido, aos homens de determinada cultura, raça e classe particulares.
A aliança entre feminismo e pós-modernismo contribuiu para surgirem novos princípios
do conhecimento, isto é, observou-se a emergência de uma nova epistemologia, que, por
sua vez, deveria se ajustar aos seguintes princípios:
No lugar do “objetivismo” teríamos a afirmação da reflexividade, de uma
forma de pensamento relacionante e relacional, construído e construtor. Em
acréscimo ao “individualismo metodológico” se propõe a afirmação da
perspectiva multidimensional e, em alguns pontos, multicultural, focado sobre
processos e processualidades dependentes de redes interdisciplinares, da
conversação, da heterogeneidade e da dialogia. No lugar do “viés
racionalista”, a afirmação da ciência (da empiria e das teorias) como mais um
dos muitos discursos de verdade sobre o mundo, ciências que necessitam se
rever constantemente para (re)incorporar outras dimensões éticas e estéticas
de conhecimentos múltiplos, complexos com a necessária inclusão da maior
participação democrática e pluralismo social, multicultural possível. No lugar
da “neutralidade axiomática”, apresentamos a afirmação da contingência, da
objetividade que só se torna possível através da (con)centração na percepção
da pluralidade dos sentidos e significados que compõem complexamente
todos os indivíduos/coletivos (inclusive e sobretudo os e as cientistas) que
emitem enunciados com pretensões à verdade. E, finalmente, em
contraposição ao “fundamentalismo”, a ênfase sobre o pluralismo, o
multiculturalismo emancipatório das ciências, a prudência do conhecimento
conseqüente, a diversidade, a complexidade e a multiplicidade dos estilos
como alternativas, permanentemente em aberto, de sua própria resignificação. (Matos e Cypriano, 2008, p. 8-9)
O caminho que à teoria política se apresenta como um grande desafio é o de
estimular a aposta na possibilidade de se construir uma “nova cultura política” baseada,
conforme define Santos (2008: 16), numa “racionalidade mais ampla e mais cosmopolita
que a racionalidade moderna ocidental”; ou mesmo uma nova cultura política que
“permita voltar a pensar e a querer a transformação social e emancipatória, ou seja, o
conjunto dos processos econômicos, sociais, políticos e culturais que tenham por objetivo
transformar as relações de poder desigual em relações de autoridade partilhada” (Idem, p.
14).
Ainda que no debate sobre a teoria da justiça haja posições mais hegemônicas,
pautadas no viés racionalista e cartesiano (como poderemos notar na distinção entre as
posições dos liberais e comunitaristas), há uma crescente contribuição de teóricos que
apostam em posicionamentos mais críticos e que se aliam a respostas não-modernas para
8
os problemas ainda modernos da justiça (pós-modernos, desconstrucionistas, feministas,
ambientalistas, etc.). Cabe-nos, então, neste artigo apontar os possíveis enquadramentos
teóricos para (alg)uma(s) teoria(s) da justiça social.
Discussões sobre a justiça social na teoria política contemporânea
As primeiras elaborações teóricas sobre a justiça social, e ainda grande parte
delas, partem do parâmetro da distribuição de bens e oportunidades numa sociedade para
qualificá-la como sendo justa, ou injusta. Deste modo, existiriam para van Parijs (1997)
dois tipos de teorias da justiça: (i) as perfeccionistas, que procurando estimar o ideal de
sociedade boa, para eles “a justiça consistirá (...) em recompensar adequadamente a
virtude ou em assegurar que todos disponham de bens que correspondem a seu
verdadeiro interesse, ainda que eles mesmos não escolhessem adquiri-los” (van Parijs,
1997, p. 207); (ii) as liberais, que se baseiam na rejeição de “qualquer hierarquização das
diversas concepções da boa vida que podemos encontrar na sociedade ou, ao menos que
atribuem um respeito igual a todas as que, dentre elas, são compatíveis com o respeito
aos outros” (Idem, ibidem) e têm em mente quais seriam as condições de convivência
entre indivíduos livres e racionais. Ainda, para Philippe van Parijs, aos modelos de teoria
da justiça apresentadas surgem críticas advindas de posições marxistas e ecológicas, além
das críticas oriundas de teorias comunitaristas, posicionando-se a favor de se pensar nas
gerações futuras da sociedade, onde se deve ter em mente o desdobramento e impacto de
ações presentes no futuro. Por isso, as posições críticas colocariam que uma sociedade
justa é aquela que pensa no futuro.
Diante destas colocações, percebemos que cada vertente teórica parte de um valor
fundamental que é originariamente diferente, visto que “juntamente com o recurso mais
antigo à ‘igualdade’ (socialismo) e à ‘liberdade’ (libertarismo), as teorias políticas agora
recorrem aos valores fundamentais da ‘concordância contratual’ (Rawls), do ‘bem
comum’ (comunitarismo), da ‘utilidade’ (utilitarismo), dos ‘direitos’ (Dworkin) ou da
‘androginia’ (feminismo)” (Kymlicka, 2006, p. 4). Então, devido a esta pluralidade de
valores fundamentais no âmbito da teoria política e nas discussões sobre a justiça social,
deve-se “renunciar a idéia de desenvolver uma teoria da justiça ‘monística’. Subordinar
todos os outros valores a um único valor supremo parece algo quase fantástico” (Idem,
9
ibidem). Partindo-se desta questão, o alicerce de “uma” teoria da justiça é completamente
questionado, visto o que ela pretende ser:
Geralmente, uma teoria da justiça extrai algumas poucas premissas gerais
sobre a natureza dos seres humanos, a natureza das sociedades e a natureza da
razão, princípios fundamentais da justiça que se aplicam a todas ou a maior
parte das sociedades - qualquer que seja sua configuração concreta e suas
relações sociais. fiel ao significado de theoria, está refere-se à justiça. Com o
fim de obter uma visão compreensiva, uma teoria da justiça supõe a existência
de um ponto de vista que está fora do contexto social em que surgem as
questões de justiça. (Young, 2002, p. 12, tradução nossa).
Ainda que encontremos teorias sobre a justiça que sejam pautadas em valores
epistemológicos relativos ao universalismo, racionalidade, fundamentalismo etc., hoje, as
evidências que nos são apresentadas por meio de diversos indicadores sobre a
desigualdades e a pobreza, além das manifestações e reivindicações do ativismo cívico,
apontam para um diagnóstico diferenciado, recorrente em muitos autores e em distintas
correntes da teoria política contemporânea: em situação explícita de maior complexidade
política e social, as disputas por reconhecimento coexistem com aquelas oriundas das
desigualdades materiais exacerbadas. Por sua vez, essas análises seriam orientadas por
concepções da justiça que “são resultantes de diferentes concepções da sociedade, tendo
como pano de fundo visões opostas sobre as necessidades e oportunidades naturais da
vida” (Rawls, 2001, p. 32, tradução nossa).
Tem sido cada vez mais recorrente encontrar as teorizações a respeito da justiça
no pensamento social e político na contemporaneidade divididas em duas grandes
correntes: por um lado estão aqueles que debruçam sobre o aspecto da redistribuição e,
por outro lado, os teóricos do reconhecimento. Céli Pinto (2007) nos chama atenção que
a primeira tradição – as discussões sobre a (re)distribuição – já estava incluída por um
longo período na academia latino-americana sendo que a noção sobre o reconhecimento,
por muito tempo ficou restrita aos partidos de esquerda e a um grupo específico de
estudiosos norte-americanos e europeus. Em países como o Brasil, a temática do
reconhecimento foi trazida especialmente pelos movimentos negro e feminista, mas
mesmo assim, continua sendo um eixo teórico ainda pouco utilizado pelos estudos
acadêmicos. Este panorama nos indica claramente a tematização dos movimentos sociais
classistas confrontada com a dos movimentos sociais identitários.
10
Para melhor entendimento do que se entende pelos conceitos “redistribuição” e
“reconhecimento”, Nancy Fraser (2003) demonstra as divergentes origens destes termos
filosóficos: “redistribuição” derivaria da tradição liberal, que nas décadas de 70 e 80 foi
acoplada por filósofos analíticos como John Rawls e Ronald Dworkin que
desenvolveram teorias distributivas da justiça social; e “reconhecimento” derivaria
sensivelmente da filosofia hegeliana que “designa uma relação recíproca ideal entre
sujeitos na qual cada um vê o outro como seu igual e também como separado dele. Esta
relação é apontada como constitutiva para a subjetividade: alguém torna-se um sujeito
individual somente em virtude do reconhecimento, e sendo reconhecido por, outro
sujeito.” (Fraser, 2003, p. 10, tradução nossa), sendo reconhecimento um termo readotado pelos neo-hegelianos importantes como Charles Taylor e Axel Honneth, que
apontam como central a reivindicação pela “política da diferença”. Nancy Fraser ainda
aponta que “vários teóricos liberais da justiça distributiva contendam que a teoria do
reconhecimento abarca uma bagagem comunitária inaceitável, enquanto alguns filósofos
do reconhecimento apontam o individualismo e consumismo da teoria redistributivista”
(Idem, ibidem, tradução nossa).
A seguir, apresentaremos em linhas breves e gerais as correntes redistributiva, do
reconhecimento e do projeto de se aliar ambas as perspectivas. Como anunciado desde o
início deste trabalho, vamos apresentar questões sobre a ordem política contemporânea, e
iluminar alguns elementos que refletem como os projetos tomam novos rumos frente às
questões contingenciais que a nova ordem proporciona e, como veremos, apontam para
novas escalas da justiça social.
A “opção” pela redistribuição
A percepção das desigualdades a partir do paradigma (re)distributivo está
fortemente vinculada à corrente do liberalismo (o econômico e o político). De forma
muito breve, entende-se que a luta pela redistribuição material remonta, pelo menos, à
era fordista do capitalismo. Parte substantiva e significativa dos problemas estava na
resolução das desigualdades que, por sua vez, se daria (se dá) através de um sistema que
tornasse possível operar uma lógica mais eqüitativa de distribuição de bens ou de
recursos delegados a certas estruturas institucionais sociais e econômicas. O liberalismo
11
igualitário - uma das correntes mais propositivas nesta discussão - como apresentado por
Ogando (2006) tem como objetivo:
[E]stabelecer uma sociedade democrática e justa, que garanta os direitos
básicos iguais e uma distribuição eqüitativa de recursos como renda, riqueza,
oportunidades educacionais e ocupacionais [...] O Liberalismo igualitário
adota um discurso sobre a distribuição que inclui a distribuição de benefícios
sociais e materiais e, também, elementos de cunho não material como direitos,
oportunidades, poder e auto-respeito. (Ogando, 2006, p.18).
Nos anos 70 e 80, certas correntes do liberalismo, a exemplo das obras de Rawls
(2002 [1971]), Dworkin (2001 1985]; 2005) e Sen (1973; 2001), desenvolveram
sofisticadas teorias a respeito da justiça distributiva, buscando sintetizar a ênfase liberal
na liberdade individual com o pressuposto do igualitarismo oriundo da social
democracia. Cada uma dessas correntes conceituou a natureza das injustiças
socioeconômicas à sua própria forma: John Rawls via a justiça como uma escolha justa
entre aqueles princípios que governam a distribuição dos bens primários; Ronald
Dworkin, por sua vez, afirmava que a justiça requer igualdade de recursos, e Amartya
Sen via que a justiça social teria passado a requerer que se assegurassem aos indivíduos
iguais capacidades (capabilities to function). Todas estas proposições teóricas a respeito
da justiça social denunciam um comprometimento explícito com as dimensões morais do
igualitarismo.
A obra de Rawls significou para a teoria política, sem dúvida, o ponto de virada
(turning-point), retomando-se uma intensa produção no campo acadêmico (Young, 1998;
Delacampagne, 2001; Ball, 2004). Para Bhikhu Parekh (1998), a obra A Theory of Justice
“simbolizou o renascimento da filosofia política” (Parekh, 1998, p. 503, tradução nossa).
John Rawls (2002) se propõe discutir a justiça como eqüidade (justice as fairness) e neste
percurso generaliza e leva a um nível mais alto de abstração o conceito tradicional de
contrato social (baseado em Locke, Rousseau e Kant). Assim, os princípios da justiça
seriam objetos de consenso social, em “que as pessoas livres e racionais, desejosas de
favorecerem os seus próprios interesses e colocadas numa posição inicial de igualdade,
aceitariam, e que definiriam os termos fundamentais da sua associação” (Rawls, 2002, p.
12).
Logo, a eqüidade pode ser finalmente alcançada, na justa medida em que seja
considerada uma das características da situação de partida. Por isso, na posição original,
12
sob a condição hipotética do construto de um “véu da ignorância” (que garantiria que
originalmente ninguém seja favorecido ou desfavorecido) pactuam-se os dois princípios
básicos da justiça como equidade:
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de
liberdades básicas iguais que sejam compatíveis com um sistema semelhante
de liberdade para as outras.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal
modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para
todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos
acessíveis a todos. (Rawls, 2002, p. 64). 3
Sob o valor fundamental dos direitos, Ronald Dworkin (2001) coloca que os
direitos individuais têm uma importância fundamental no marco do liberalismo, já que eles
funcionam como garantias de liberdades para o indivíduo, ou seja, como obstáculos a
diferentes formas de coação ou dominação. Tais direitos “são necessários para proteger o
igual interesse e respeito” e funcionam “como trunfos nas mãos dos indivíduos”,
oferecendo-lhes instrumentos de resistência a ingerências indevidas em suas esferas de
liberdade. Nesse caso, a democracia representativa e o mercado econômico, no marco do
liberalismo igualitário de Dworkin, serviriam como uma base na constituição de um
esquema de distribuição de bens, recursos e oportunidades, operacionalizando o cálculo
por uma divisão igualitária dos recursos sociais (Dworkin, 2001, p. 289).
Para Dworkin (2005, p. 15) “justiça é um importante ideal moral e político” e por
isso, como parte das teorias tradicionais baseia-se no conceito de bem-estar (também esse
um conceito moral e político), caberia o questionar se a “melhor” teoria deveria pautar-se
então nesta perspectiva sobre o bem-estar. Para compreender melhor esta afirmação, por
exemplo, o autor aponta os argumentos teleológicos da corrente utilitarista para apontar
que estes se baseiam numa afirmação de que o bem-estar é “inerentemente bom em si”
(Idem, p. 76). Em contrapartida, o autor, baseando-se no ideal político da igualdade
apresenta-nos seus dois princípios que agiriam em conjunto:
3
Um dos críticos mais conhecidos de Jonh Rawls foi Robert Nozick (1991), assumindo uma posição
libertária, que postula a defesa do Estado mínimo e do livre mercado. A concepção deste autor sobre a
justiça é processual, em vez de distributiva. O seu pressuposto é que a não existência da cooperação social
leva às reivindicações por justiça social. Nozick faz severas críticas à posição original e ao principio da
diferença defendidos por Rawls, já que questiona ao princípio de grupos nessa posição e não de indivíduos;
duvida com relação se aos menos dotados conseguiriam cooperação dos mais dotados; simetria perturbada
pela idéia de quanto cada um ganharia com a cooperação.
13
O primeiro princípio requer que o governo adote leis e políticas que garantam
que o destino de seus cidadãos, contanto que o governo consiga atingir tal meta,
não dependa de que eles sejam – seu histórico econômico, sexo, raça ou
determinado conjunto de especializações ou deficiências. O segundo princípio
exige que o governo se empenhe, novamente se o conseguir, por tornar os
cidadãos sensíveis às opções que fizeram. (Idem, p. XVII)
Diante desses dois princípios, nota-se que as decisões políticas não devem
reproduzir nenhuma concepção que se refira ao que é o bem-viver (neutralidade nessa
questão), por isso, tais decisões precisariam se afastar de idéias substantivas do bem ou
do que confere valor à vida. Dworkin propõe, então, que fundamentemos a justiça numa
ética, na qual “somos responsáveis pelas conseqüências das escolhas que fazemos com
base nessas convicções, nessas preferências ou nessa personalidade” (Idem, ibidem).
Amartya Sen (2001), por sua vez, critica aquelas posições que procuram avaliar a
igualdade em termos de recursos, como é o caso da teoria de John Rawls sobre os bens
primários e a defesa da “igualdade de recursos” e a de Ronald Dworkin, que focaria na
dimensão substantiva que ambas noções apresentam, pois mirariam na liberdade dos
indivíduos, mas falham ao ignorar que as pessoas têm diferentes níveis de capacidade4.
Destarte, o autor propõe um referencial teórico que negocia as relações entre
liberdades, direitos e obrigações, pautando-se no que as pessoas poderiam ter, ser e fazer,
ou seja, num eixo que aglutinaria as capacidades e os funcionamentos humanos. Para o
autor, as diferentes concepções de justiça pautam-se em diferentes concepções sobre a
igualdade, por isso, segundo ele “a igualdade de liberdade para buscar nossos fins não
pode ser gerada pela igualdade na distribuição de bens primários. Nós temos de examinar
as variações interpessoais na transformação de bens primários (e recursos, mais
genericamente) em respectivas capacidades para buscar nossos fins e objetivos” (Sen,
2001, p. 143).
Por fim, no debate entre o liberalismo e o comunitarismo5, este último critica a
pretensão ao universalismo liberal e a abstração formal contidos nas teorias políticas
4
Dworkin (2005) responde às críticas de Sen, colocando que a classificação objetiva dos “funcionamentos”
“não é necessária nem útil” (Dworkin, 2005, p. 426). Sobre o conteúdo completo das respostas, ver
Dworkin, 2005, p. 420-427.
5
Um comunitarista que defende a idéia distributiva é Michael Walzer (2001), já que para ele “a sociedade
humana é uma comunidade distributiva” (Walzer, 2001, p. 17, tradução nossa) e que nenhum aspecto da vida
humana possa ser omitido nas análises distributivas, por isso enfatiza que “a idéia de justiça distributiva
possui uma relação tanto como o ser, como com o fazer, como com o ter, com a produção tanto como o
consumo, com a identidade e o status tanto com o país, o capital ou as possessões pessoais” (Idem, ibidem,
tradução nossa). Na obra deste autor nota-se a preocupação em demonstrar que há várias noções de bem
comum, nas variadas esferas da vida.
14
liberais, mesmo as contemporâneas, que, por sua vez, consideraria os indivíduos apenas
como indivíduos, ignorando ou mesmo tratando como irrelevante, a sua afiliação social
ao grupo, ou seja, seu pertencimento grupal. Passemos à discussão do reconhecimento.
A outra corrente: reconhecimento e “política da diferença”
A discussão sobre reconhecimento estaria, em contrapartida, na base conceitual e
teórica das várias nuances oriundas da corrente do comunitarismo na teoria política.
Young (1998 [1996]) nos coloca que uma das características do comunitarismo seria
destacar o campo social como uma prioridade para o político, como sendo algo
constitutivo do e no político. Para a autora, esta corrente pode ser interpretada como a
“politização do social”, pois pretende ancorar em contextos sociais, culturais e
simbólicos particulares, os valores políticos da justiça social, dos direitos e da liberdade.
No caso do reconhecimento, para uma compreensão mais substantiva relativa ao
tema da injustiça social seria relevante destacar a esfera cultural/simbólica, estando essa
vinculada a diferentes e alternativos padrões sociais de apresentação, interpretação
(significação) e comunicação. As questões de justiça resultariam, por sua vez, de
variações culturais pré-existentes, benéficas (ou não), que o esquema interpretativo
hegemônico e frequentemente injusto teria transformado em uma hierarquia
assimetricamente valorada. O termo reconhecimento vai designar uma relação recíproca
ideal entre os sujeitos na qual cada um vê ao outro como um seu igual, mas também
como separado e diferente de si (Fraser, 2003, p. 10). Vários autores citam Charles
Taylor e Axel Honneth como importantes representantes desta perspectiva teórica: a
política identitária (Fraser, 2003; Ogando, 2006).
Esta vertente considera que nossa identidade é formada pelo e através do
reconhecimento ou pela ausência e/ou distorção dele (o reconhecimento sendo, portanto,
uma categoria moral fundamental). Segundo Charles Taylor (1997), as demandas e a
necessidade por reconhecimento seriam visíveis em movimentos nacionalistas e “em uma
variedade de formas, nas políticas de hoje, em nome da minoria ou grupos ‘subalternos’,
em algumas formas de feminismo e no que é chamado de política do multiculturalismo”
(Taylor, 1997, p. 98, tradução nossa). Taylor caracteriza o não-reconhecimento ou o falso
reconhecimento como formas de opressão, de aprisionamento da pessoa a uma existência
falsa, distorcida e reduzida. Sobre “política da diferença” o autor quer ressaltar que “o
15
que nos é pedido é reconhecer a unicidade identitária deste indivíduo ou grupo, sua
distinguibilidade de qualquer outra pessoa” (Idem, p. 105, tradução nossa). Por isso, a
“política da diferença” engloba diversas denúncias de discriminação e recusas ao
enquadramento de cidadãos de “segunda-classe”.
Axel Honneth (1992), por sua vez, vai alegar que devemos a nossa integridade
pessoal e social à aprovação ou ao reconhecimento que recebemos de outras pessoas. O
desrespeito, a negação ou distorção do reconhecimento impediriam que o sujeito
desenvolvesse todas as particularidades de sua identidade subjetiva e viesse a se tornar,
em plenitude, um ser com auto-confiança, auto-estima e auto-respeito (Cf. Ogando,
2006). A posição de Axel Honneth, seguindo a tradição hegeliana, é a de tratar a questão
relativa à justiça numa forma alternativa que prioriza o “monismo normativo” do
reconhecimento, que segundo o autor procuraria subsumir a problemática da
redistribuição com tal fórmula por ele proposta. Para Honneth “a base da interação seria
antes o conflito e a gramática moral desse conflito consistiria, como veremos, na luta por
reconhecimento” (Werle & Melo, 2007, p. 12). De modo muito resumido, Honneth propõe,
portanto, “desenvolver o paradigma da comunicação em direção aos pressupostos
sociológicos ligados à teoria da intersubjetividade, no sentido de explicitar as expectativas
morais do reconhecimento inseridas nos processos cotidianos de socialização, de construção
da identidade, de integração social e reprodução cultural”(Idem, p.12-13), ou seja, para o
autor a justiça como reconhecimento prevê a existência deste numa dinâmica de
reconhecimento intersubjetivo através de diferentes modos: o afetivo (que se daria no plano
individual e das necessidades concretas através do amor familiar), o cognitivo (que seria
operacionalizado no plano da pessoa enquanto busca de autonomia forma e perpetrado
através da sociedade civil e das leis) e o racional (dado no plano do sujeito e compondo sua
particularidade especialmente através da intuição intelectual).
Outra importante concepção de justiça é feita por Iris Young (2002 [1990]) já que
desde sua obra primordial, Justice and the Politics of Difference, defende que: “no lugar
de centrar-se na distribuição, uma concepção de justiça deveria começar pelos conceitos
de dominação e opressão” (Young, 2002, p.12, tradução nossa), além da necessidade de
enfatizar o “viés de grupo”, já que “a justiça social requer reconhecer e atender
explicitamente a essas diferenças de grupo para socavar a opressão” (Idem, ibidem). Sem
renunciar ao discurso racional sobre a justiça, mas contrária ao se fazer uma teoria
universal, transcendental e fechada, Iris Young propõe uma discussão reflexiva sobre a
16
justiça na qual enfatiza as diferentes práticas sociais e políticas que precedem e
reflexionam a sua análise. A autora, por sua vez, propõe uma “política da diferença”, que
teria como meta a promoção da igualdade entre grupos cultural e socialmente
diferenciados, que se respeitariam mutuamente em suas diferenças6.
A política da diferença tem como pressuposto que uma “sociedade sem diferenças
entre grupos não é possível nem desejável” e que os laços e valores que unem as pessoas
a tradições e práticas culturais são dimensões importantes da vida social. Desta forma,
sua construção teórica implica reconsiderar as “regras do jogo” sempre que elas
implicarem em uma homogeneização das diferenças, que tenderia segundo Young,
sempre a se realizar como a universalização da cultura dominante. Nesse sentido, a
política da diferença teria como um de seus efeitos a relativização da cultura dominante.
Importante notar, entretanto, que Young não propõe, como faz Taylor, que a
diferença seja tratada como um valor em si mesmo, devendo haver uma “valorização da
diferença pela diferença”; ela defende que a correção das desigualdades que atingem
certos grupos sociais deve ser realizada por meio de mudanças de cunho basicamente
institucional (daí a ênfase da autora no contexto institucional), que incluem a
“representação desses grupos na elaboração de políticas públicas e a eliminação da
hierarquia de recompensas que força todos a competirem por posições escassas nas
posições mais valorizadas na sociedade” (Idem, p. 282, tradução nossa).
Paradigma redistribuição-reconhecimento
Nancy Fraser e Axel Honneth (2003), em debates acirrados, apontaram para a
seguinte mudança: o fato de a luta pelo reconhecimento parecer suplantar a luta por
redistribuição. Para Nancy Fraser haveria a necessidade de associar ambos os tipos de
reivindicações a partir de uma análise que incide em um “dualismo perspectivo”,
6
A corrente do feminismo que influenciou a proposta da “política da diferença” por Iris Young foi o
“feminismo ginocêntrico”, que enfatizou a heterogeneidade dentro das mulheres, “as diferenças na
diferença”, valorizando as experiências femininas, corporais, sobretudo, e definindo a “opressão das
mulheres como a desvalorização e repressão de suas experiências por uma cultura masculinista que exalta a
violência e o individualismo” (Young, 1990, p. 73). Dentro dessa corrente é que encontraremos os
trabalhos sobre a “ética do cuidado” (Gilligan, 1982; Chodorow, 1978), que segundo Judith Squires debate
com a “ética da justiça”, ressaltando que as feministas criticam a imparcialidade de primeira ordem
assumida pelos teóricos da justiça.
17
propondo uma concepção de justiça “bi-dimensional” (Fraser & Honneth, 2003, p. 3,
tradução nossa). Atualmente, a partir de considerações teóricas mais recentes, a autora já
considera uma terceira dimensão da justiça social, aquela propriamente política, que seria
a representação (Fraser, 2003; 2005). Desde já, previamente, vale lembrar sobre a
filiação pessoal da autora à teoria marxista (ponto que servirá de alicerce para o debate) e
à teoria crítica, já que os aspectos sobre o materialismo histórico dialético deverão ser
considerados em sua própria envergadura metodológica como um pensamento
dual/binário7.
Nancy Fraser procurou na sua trajetória acadêmica conciliar aspectos das duas
vertentes em que se dividiram boa parte dos pensadores: os separatistas e os
comunicativos. Para Fraser (2004), a idéia de conciliação frente ao projeto de
polarização, colaborou de modo a permitir em seus trabalhos o estabelecimento da
“relação entre teoria crítica e pós-estruturalismo, feminismo e pós-modernismo” (Fraser,
2004, p. 126, tradução nossa). O ecletismo teórico pode ser percebido no enquadramento
teórico proposto pela autora, acrescentando que, sem dúvida, ela leva em consideração os
fatores políticos, sociais e econômicos observáveis nas diversas conjunturas globais.
Uma das preocupações recorrentes de Fraser no artigo Da Redistribuição ao
Reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-socialista é relativa ao enfraquecimento
do debate distributivo diante das condições existentes e atuantes no mundo “póssocialista”, visto o abrandamento dos movimentos sociais classistas frente aos “novos”
movimentos sociais identitários (como o movimento feminista, negro, homossexual, só
para citar alguns), viria tomando grandes proporções e estaria a reforçar os aspectos
referentes ao reconhecimento. Segundo a autora “a luta pelo reconhecimento tornou-se
rapidamente a forma paradigmática de conflito político no fim do século XX” (Fraser,
2001, p. 245), o que poderia vir a substituir os interesses de classe como fator
mobilizador das lutas sociais e política.
Com propósitos heurísticos, coloca-se, portanto, em contraposição as condições
materiais, da economia política, com as condições simbólicas, da cultura. Para Fraser, na
7
Em Matos & Cypriano (2008) apresentamos o debate entre Nancy Fraser e Iris Young e apontamos que
base dessa discussão diz sobre as teorias de sistemas duais, amplamente utilizadas pelas feministas
marxistas e socialistas. Nestas teorias o patriarcado e o capitalismo eram considerados os grandes sistemas
de opressão e, conseqüentemente, gênero e classe deveriam estar em interseção neste modelo teórico.
Muitas crítica surgiram, visto que há a dificuldade de relacionar estes dois sistemas e que teorias como esta
dicotomizam as discussões sobre a opressão (ver Young, 1990). Young (1997) aponta que o projeto teórico
de Fraser corresponderia uma teoria de sistema dual.
18
idéia de um continuum, devem-se polarizar essas condições e alocar os movimentos
sociais de acordo com suas dimensões reinvindicatórias, onde a autora procura por tipos
ideais que representem os pólos desse continuum. Assim, a luta do proletariado se
enquadraria como “tipo ideal” de luta pela redistribuição e os movimentos homossexuais
se encaixariam no pólo do “tipo ideal” relativo ao reconhecimento. A autora ressaltou
que:
As situações são bastante claras nos dois extremos de nosso espectro
conceitual. Quando lidamos com coletividades que se aproximam do caso da
classe operária explorada, lidamos com injustiças distributivistas que exigem
curas redistributivistas. Quando lidamos com coletividades que se aproximam
de um tipo ideal de sexualidade menosprezada, enfrentamos injustiças de nãoreconhecimento que exigem remédios de reconhecimento. No primeiro caso,
a lógica do remédio é homogeneizar os grupos sociais, No segundo caso, ao
contrário, é de valorizar a peculiaridade do grupo, reconhecendo sua
especificidade. (Fraser, 2001, p. 259)
Hoje em dia há grupos que tanto reivindicam reconhecimento, quanto redistribuição,
grupos raciais e aqueles orientados para a questão de gênero, que foram categorizados
como “coletividades (am)bivalentes” por combinarem características da classe explorada
com características da sexualidade social e culturalmente menosprezada. Portanto, o
paradigma que se adequaria melhor às demandas ativistas por justiça social seria o da
redistribuição-reconhecimento, já que “justiça hoje requer tanto redistribuição quanto
reconhecimento” (Fraser, 2004, p. 126, tradução nossa).
Devemos ressaltar, no entanto, que a noção de reconhecimento de Nancy Fraser
procura se afastar da relação exclusiva de reconhecimento com “políticas de identidade”
(relação esta estabelecida pela filosofia do reconhecimento e pelos teóricos da “política
da diferença”).
O modelo baseado na identidade reificaria, segundo Fraser, as
identidades grupais e enviesaria o tratamento do não-reconhecimento como um dano
cultural autônomo. Desta forma, o reconhecimento para a autora deveria ser tratado “uma
questão de status. O que requer reconhecimento não é uma identidade específica de
grupo mas o status de membros individuais do grupo como parceiros por inteiro na
interação social” (Idem, p. 129, tradução nossa).
19
Considerações Finais – Justiça social: o que se conseguirá com a representação?
Segundo Nancy Fraser, o papel da teoria política seria o de idealizar arranjos
institucionais que possam remediar as condições de má-distribuição e do nãoreconhecimento (Idem, p. 126). Para algumas correntes, diferentemente, ao se basearem
nas condições democráticas modernas, elas indicariam o predomínio do caráter
competitivo de seleção entre as elites políticas8 o que, por sua vez, corroboraria para a
distribuição do poder político, pois seria “um recurso crucial para a redistribuição de
quaisquer outros bens sociais, na sociedade” (Vita, 2004, p. 74). Assim, Álvaro de Vita,
por sua exclusiva preocupação com o caráter redistributivo da justiça social, sugere que
não se deva negligenciar a importância da competição política, já que “pode ocorrer que
as oportunidades, que mesmo uma competição política desigual abre, não estejam sendo
aproveitadas, na medida necessária, por aqueles que estão (ou deveriam estar) mais
comprometidos com a justiça social” (Idem, p. 92). Vita se propõe então a relacionar o
caráter competitivo da democracia com as concepções epistêmicas da democracia
deliberativa. Ainda assim, as proposições que o autor faz aproximam-se bastante do
cerne das posições defendidas pelo liberalismo igualitário: a atenção à competição em
condições de igualdade por bens, recursos e oportunidades, sem que atributos aleatórios,
não-escolhidos, adscritivos, funcionem como um obstáculo injusto à perseguição dos
anseios dos indivíduos.
Diante disto, mesmo que teóricos do liberalismo igualitário como Dworkin
(2001), enfatizem o papel central da democracia representativa e que seus referenciais
tenham sido de alguma forma afetados pelo ativismo cívico, ainda assim acreditamos que
os elementos epistemológicos adotados por esta corrente obscurecem a imagem que a
realidade social mostra. Ao aliarmos as questões teórico-normativas desta corrente com
análises empíricas sobre a representação eleitoral de grupos minoritários, a abordagem
liberal igualitária seria deficiente por não ser capaz de desafiar os principais
impedimentos culturais e econômicos à participação e representação política (Cf. Assis,
Cypriano & Rezende, 2008).
Atualmente, nota-se que os desdobramentos das discussões sobre justiça social
aqui apresentada, colocam à teoria política contemporânea o desafio de se repensar a
8
Para Álvaro de Vita (2004), Scgumpeter (1984), Downs (1999) e Dahl (1997) dariam centralidade ao
modelo de competição nos seus modelos democráticos.
20
dimensão propriamente representativa da política. Uma vez que a representação com
base eleitoral não contempla de forma inclusiva toda a sociedade, deveríamos lançar mão
de procedimentos que possam incluir os “novos eleitores” e grupos que demandam
representação na arena política (Avritzer, 2007; Warren & Urbinati, 2008). Como nos foi
apresentado na teoria política moderna (de Hobbes a Hanna Pitkin), a noção de
autorização pautou-se na consolidação do Estado Moderno e foi exclusivamente
vinculada às noções de territorialidade e monopólio de ação (Avritzer, 2007, p. 445-447).
Por isso, os limites impostos pelas fronteiras territoriais passaram a ser tratados hoje
como entraves à justiça social.
Através da preocupação com a questão da justiça numa perspectiva
global/transnacional (ou pós-Westhphaliana), a utilização de uma nova categoria por
Nancy Fraser (2005) foi o recurso teórico primordial à suposta virada “pós-nacional” na
teoria contemporânea. A representação permitiria problematizar as estruturas do governo
e os processos de tomada de decisão, “que pelas lentes das disputas por democratização,
a justiça inclui uma dimensão política, enraizada na constituição política da sociedade e
que a injustiça correlata é a representação distorcida ou a afonia política” (Fraser, 2005,
p. 128-129, tradução nossa). Fraser afirma que no caso da justiça abnormal, isto é, uma
justiça não típica, desviante, dever-se-ia agora utilizar “uma abordagem que combine
uma ontologia social multidimensional com um monismo normativo” (Idem, p. 128,
tradução nossa), onde as três dimensões – redistribuição, reconhecimento e
representação9 – abrangeriam o princípio normativo da paridade de representação. O
problema da “moldura” (framing), segunda a autora refere-se ao fato da teoria da justiça
em um mundo globalizado dever se apresentar, finalmente, como tridimensional:
incorporando a dimensão política da representação, ao lado da dimensão econômica da
distribuição e da dimensão cultural do reconhecimento.
Essa dimensão política10 da justiça precisa referir-se, então, à constituição da
jurisdição do Estado e das regras de decisão pelas quais ele estrutura a contestação, sendo
este o palco no qual as lutas por distribuição e reconhecimento seriam realizadas.
Segundo Fraser (2005):
9
Segundo Kevin Olson, essa “concepção tridimensional, atualiza efetivamente a tríade de Weber de classe,
status e partido” (Olson, 2008, p. 7, tradução nossa).
10
É interessante notar que Fraser (2005) admite que Young (2002) e Sen (1999) foram os únicos teóricos
que conseguiram relacionar democracia e justiça a partir desta dimensão política.
21
Estabelecendo critérios de pertencimento social e determinando quem conta
como membro, a dimensão política da justiça especifica o alcance das demais
dimensões: diz quem está incluído e quem está excluído do conjunto daqueles
intitulados a uma justa distribuição e reconhecimento recíproco.
Estabelecendo as regras de decisão, a dimensão política estabelece os
procedimentos para colocar e resolver as disputas em ambas as dimensões
econômica e cultural: diz não somente quem pode fazer demandas por
redistribuição e reconhecimento, mas também como tais demandas devem ser
colocadas e adjudicadas. (Fraser, 2005, p.44, tradução nossa).
Acreditamos que um dos desafios que este deslocamento (do paradigma bidimensional para uma visão escalar tri-dimensional da justiça social) nos coloca seria o
de caber à teoria política contemporânea, sob as conjunturas atuais, “explicitar dimensões
que estão na sombra, subentendidas, não explicitadas e não tratadas justamente por força
de uma organização epistemológica reducionista que não as visibiliza ou valoriza”
(Matos & Cypriano, 2008, p. 24).
As condições inerentes à democracia, na atual condição global, fazem-nos
questionar as bases que se fundaram conceitos como o de contrato social, liberdade,
igualdade, autonomia, responsividade, só para citar alguns exemplos. Como Pateman
(1993) propõe, precisamos de uma outra teoria do contrato social (como uma teoria do
contrato sexual) e também “necessita-se urgentemente de uma nova história da
liberdade” (Pateman, 1993, p. 340). Como notamos o caminho percorrido pela teoria
política contemporânea, gradualmente, foi o de incorporar perspectivas inovadoras que
têm tido o papel de questionar as bases do cartesianismo e do viés racionalista,
incorporando discursos não-modernos para resolver os problemas modernos: (a)
utilizando-se da afirmação política do pluralismo, da diversidade e (b) de uma forma de
pensamento relacional e em fluxo do pós-modernismo, assumindo posições antagônicas
às grandes narrativas e aos discursos universalistas (Kumar, 1997); (c) valendo-se de
idéias e métodos desconstrucionistas, aderindo em parte à ênfase na fragmentação,
sobretudo quando se pretende tratar das questões relacionais que reivindicam o
descentramento do sujeito; e, (d) dando expressiva ênfase aos avanços teórico-analíticos
do feminismo, destacando assim a importância da função “desestabilizadora” do debates
ante as suposições fundacionais da teoria moderna, visto que a neutralidade referente a
gênero é profundamente questionada a fim de se desmascarar as perspectivas masculinas
que marcam estas teorias (Barrett & Phillips, 1992).
22
As colocações crítico-emancipatórias para teoria política e para as discussões a
respeito da normatividade proposta não contribuem para desvirtuar algo como o “valor
científico”. Pelo contrário, as propostas feitas e os desmascaramentos da realidade
fornecem instrumentos para uma visão mais ampliada das instituições, do Estado, do
poder e da política. O futuro da teoria política e das teorias da justiça, como de outras
diversas vertentes teóricas, deve mirar a busca por novas ferramentas que contribuirão
para
as
pesquisas
que
surgem
na
Ciência
Política
sobre
os
grupos
“marginalizados/subalternizados”, como são as mulheres, os negros, a população LGBT,
as minorias étnicas e religiosas etc. A crítica ao mainstream ou à corrente hegemônica da
análise política é justamente a direção do ataque que se dirige ao caráter monístico e ao
predomínio de uma “razão indolente”, como nos diz Boaventura de Souza Santos (2007):
uma razão cega às multiplicidades e aos aspectos contingentes e históricos da vida social
e política.
A cartografia do “estudo da política” e da prática política, revela-nos questões que
ainda merecem maior atenção. Notadamente se destaca que as fronteiras, tanto do
pensamento quanto dos territórios das nações, ainda são bastante excludentes. Percebe-se
que as fronteiras são desenhadas para excluir alguns e algumas da possibilidade chance
de participar integralmente em disputas autorizadas acerca da justiça, por isso, esta é a
injustiça definidora de uma era globalizada. A expressão dos ativistas pichadas nos
muros de Paris, em maio de 1968, antecipou o nosso dilema contemporâneo: que se
danem as fronteiras (les frontières on s'en fout). As fronteiras, quer queiram, quer não,
existem, mas o desafio da teoria política contemporânea normativa e da prática política é
torna-las mais abertas, mais permeáveis e mais inclusivas. Concentrar-se nas discussões
sobre a representação política como a terceira escala/dimensão da justiça, hoje, é uma
aposta que amplia o horizonte da lutas por justiça social através de uma noção redimensionada de que não há redistribuição ou reconhecimento sem representação (Fraser,
2005).
23
Referências bibliográficas
ASSIS, Mariana; CYPRIANO, Breno; REZENDE, Daniela. (2008), “A presença das
mulheres brasileiras na política: uma discussão sobre as cotas legislativas sob o
enfoque da política da diferença”, in L. Lüchmann et al. (orgs.), Movimentos sociais,
participação e reconhecimento. Florianópolis: Fundação Boiteux.
ARENDT, Hannah. (2007), A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária.
AVRITZER, Leonardo. (2007), “Sociedade civil, instituições participativas e
representação: da autorização à legitimidade da ação”. Dados. vol. 50. 3: 443–464.
BALL, Terence. (2001), “Aonde vai a teoria política?”. Revista Sociologia e Política. n.
23. p. 9-22.
BARRETT, Michelle; PHILLIPS, Anne. (1992), “Introduction”, in M. Barrett & A.
Phillips (eds.), Destabilizing Theory. Cambridge: Polity Press .
CARVER, Terrell. (1996), “‘Public Man’ and the critique of maculinities”. Political
Theory. v. 24. n. 4.
CHODOROW, Nancy. (1978), The reproduction of mothering. Berkeley: University of
California Press.
DAHL, Robert. (1989), Democracy and its critics. New Heaven: Yale University Press.
DELACAMPAGNE, Christian. (2001), A filosofia política hoje: idéias, debates,
questões. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
DOIMO, Ana Maria. (1995), A vez e a voz do popular. Rio de Janeiro: RelumeDumará/ANPOCS.
DOWNS, Anthony. (1999), Uma teoria econômica da democracia. São Paulo: Edusp
DWORKIN, Ronald. (2001), Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes.
_______. (2005), A virtude soberana. São Paulo: Martins Fontes.
EDER, Klaus. (2002), A Nova política de classes. Bauru: Edusc.
FARIA, Cláudia F. (2008), “O que há de radical na tória democrática contemporânea: a
análise do debate entre ativistas e deliberativos”. 6º Encontro da Associação
Brasileira de Ciência Política. Campinas, julho.
FLAMMANG, Janet. (1992), Women´s Political Voice: How women are transforming
the practice and study of politics, Philadelphia, Temple University Press.
24
FOUCAULT, Michel Foucault. (2001), The Order of Things: an archaeology of the
human sciences, London, Routledge.
FRASER, Nancy. (1989), Unruly practices: power, discourse and gender in
contemporary social theory. Minneapolis: University of Minnesota Press and Polity
Press.
_______. (2001), “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós
socialista”, in J. Souza (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria
democrática contemporânea. Brasília: Editora UnB.
_______. (2003), “Social justice in the age of identity politics: redistribution, recognition
and participation”, in N. Fraser; A. Honneth, Redistribution or Recognition? A
Political-Philosophical Exchance. London: Verso.
_______. (2004), “Institutionalizing democratic justice: redistribution, recognition and
participation”, in N. Fraser; S. Benhabib (eds.), Pragmatism, critique, judgment:
essays dor Richard J. Bernstein. Cambridge (MA): MIT Press Books.
_______. (2005), Reframing Justice. Amsterdam: Royal Van Gorcum
FRASER, Nancy; HONNETH, Axel. (2003), Redistribution or Recognition? A PoliticalPhilosophical Exchance. London: Verso.
GILLIGAN, Carol. (1982), In a different voice. Cambridge (Mass.): Harvard University
Press.
GOODIN, Robert E.; KLINGEMANN, Hans-Dieter. (1998), “Political science: the
discipline”,
in R. Goodin and H. Klingemann (eds.), A new handbook of political
science. Oxford: Oxford University Press.
HONNETH, Axel. (1992), “Integrity and disrespect: principles of a conception of
morality on the theory os recognition”. Polítical Theory. v.20. n.2.
_______. (2003), Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São
Paulo: Editora 34.
KYMLICKA, Will. (2006), Filosofia Política Contemporânea. São Paulo: Martins
Fontes
KIRALY, Cesar. (2008), O nascimento cético da ciência política e a investigação da
natureza humana. Rio de Janeiro: Edição do Autor – Online.
KUMAR, Krishan. (1997), “Modernidade e pós-modernidade II: a idéia da pósmodernidade”, in K. Kumar, Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas
teorias sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. p. 112-158.
25
LIPSET, Seymour. (1972), Política e ciências sociais. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
MATOS, Marlise; CYPRIANO, Breno. (2008), “Críticas feministas, epistemologia e as
teorias da justiça social: em busca de uma teoria crítico-emancipatória de gênero”.
XXXII Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais. Caxambu, Outubro.
MILLER, David. (1998), “Political philosophy”, in E. Craig (Ed.), Routledge
Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge.
MOUFFE, Chantal. (2005a), “Por um modelo agonístico de democracia”. Revista de
Sociologia e Política. 25: 11-24.
NICHOLSON,
Linda.
(1990),
“Introduction”,
in
L.
Nicholson
(ed.),
Feminism/postmodernism. New York: Routledge. pp. 1-16.
NÓBREGA JR., J. (2005), “Teoria Democrática Contemporânea: as concepções
Minimalistas e seus Críticos Contemporâneos”, Revista Política Hoje, 86 [1], pp. 121.
NOZICK, Robert. (1991), Anarquia, estado e utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
OGANDO, Ana Carolina. (2006), “Feminismo, Justiça e Reconhecimento: repensando a
cidadania das mulheres no Brasil”. Dissertação de Mestrado. DCP/UFMG.
OLSON, Kevin. (2008), “Adding insult to injury: an introduction”, in K. Olson (ed.),
Adding insult to injury: Nancy Fraser debates her critics. London: Verso.
PAREKH, Bhikhu. (1998), “Political theory: traditions in political philiosophy”, in R.
Goodin and H. Klingemann (eds.), A new handbook of political science. Oxford:
Oxford University Press.
PATEMAN, Carole. (1993), O contrato sexual. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
PINTO, Céli. (2007), “A redistribuição frente à controvérsia Fraser-Honneth sobre o
reconhecimento”. Anais XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, Recife, Maio.
RAWLS, John. (2001), Justice as Fairness: A Restatement. Edited by Erin Kelly.
Cambridge: Harvard University Press.
_______. (2002), Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes.
SANTOS, Boaventura de Souza. (2007), Renovar a Teoria Crítica e Reinventar a
Emancipação Social. São Paulo: Boitempo.
_______. (2008), A Gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo:
Editora Cortez.
26
SARTORI, Giovanni. (1997), A política: lógica e método nas ciências sociais. 2ª ed.
Brasília: Editora Universidade de Brasília.
SCHUMPETER, J. (1984), Capitalismo, Socialismo e Democracia, Rio de Janeiro:
Zahar Editores.
SEN, Amartya. (1973), On Economic Inequality. New York: Norton.
_______. (1999), Development as fredom. New York: Alfred Knopf.
_______. (2001). Desigualdade Reexaminada. Rio de Janeiro: Editora Record.
SQUIRES, Judith. (1999), Gender in Political Theory, Cambridge, Polity Press.
TAYLOR, Charles. (1997), “The politics of recognition”, in A. Hebley et al. (eds.), New
contexts of canadian criticism. Peterborough: Broadview.
THERBORN, Göran. (2007), “Depois da Dialética: teoria social radical em um mundo
pós-comunista”. Margem Esquerda. n. 10.
URBINATI, Nadia; WARREN, Mark. (2008), “The concept of representation in
contemporary democratic theory”. Annu. Rev. Polit. Sci. 11:387–412.
VAN PARIJS, Philippe. (1997), O que é uma sociedade justa? São Paulo: Ática.
VARIKAS, Eléni. (2006), Penser le sexe et le genre. Paris: PUF.
VITA, Álvaro de. (2004), “Democracia e Justiça”, in. A. Vita & A. Boron (orgs.), Teoria
e filosofia política. São Paulo: Edusp, Buenos Aires: Clacso.
WALZER, Michael. (2001), Las esferas de la justicia. México: Fondo de Cultura
Económica.
WEBER, Max. (2006), Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Martin Claret.
WERLER, Denilson; MELO, Rúrion. (2007), "Teoria crítica, teorias da justiça e
‘reatualização’ de Hegel”, in HONNETH, Axel, Sofrimento de Indeterminação: uma
reatualização da Filosofia do Direito de Hegel, São Paulo: Esfera Pública.
YOUNG, Iris M. (1990), Throwing like a girl and other essays in feminist philosophy
and social theory. Bloomington: Indiana University Press.
_______. (1997), “Unruly categories: a critique of Nancy Fraser’s dual systems theory”.
New Left Review, 222:147–60.
_______. (1998), “Political theory: an overview”, in R. Goodin and H. Klingemann
(eds.), A new handbook of political science. Oxford: Oxford University Press.
_______. (2000), Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press.
_______. (2001). “Activists challenge deliberative democracy”. Political Theory, 29, 2:
670-690.
27
_______. (2002) La justicia y la política de la diferencia. Madríd: Cátedra.
_______.(2007), Global Challenges: War, self determination and responsibility
for justice. Cambridge: Polity.
28