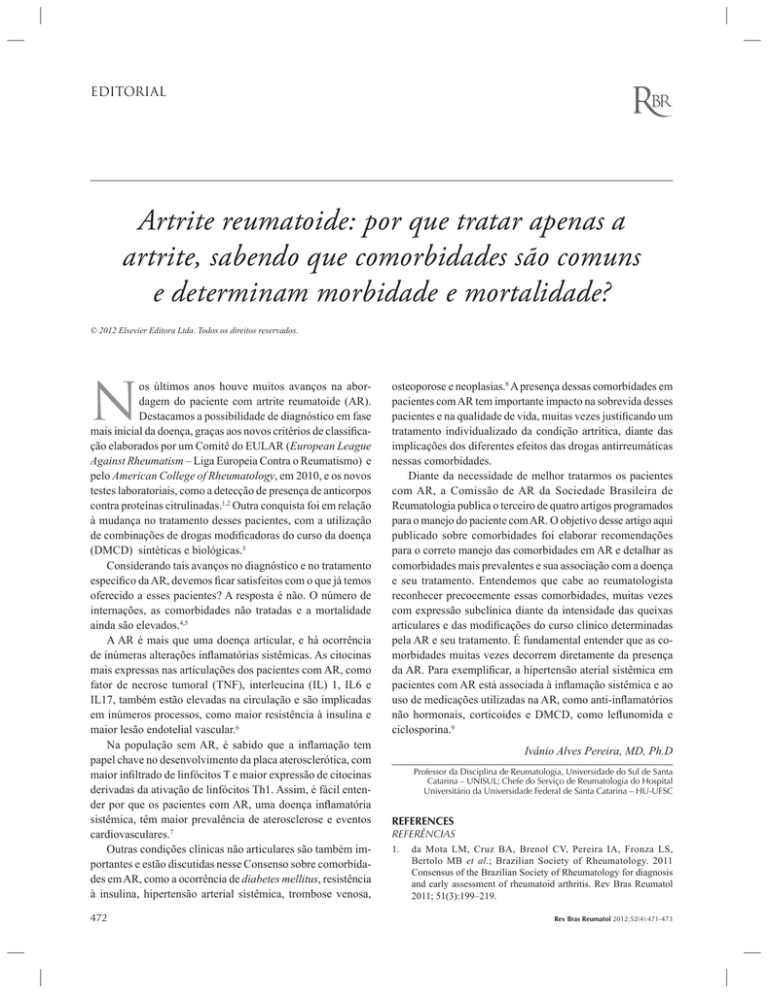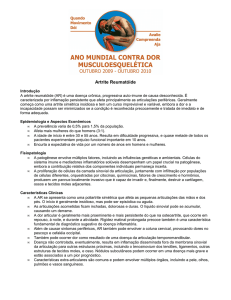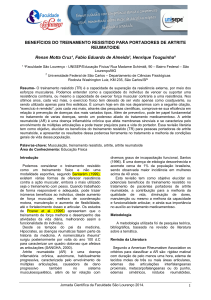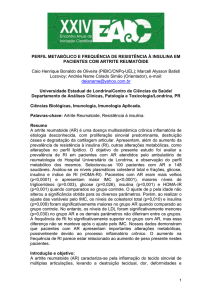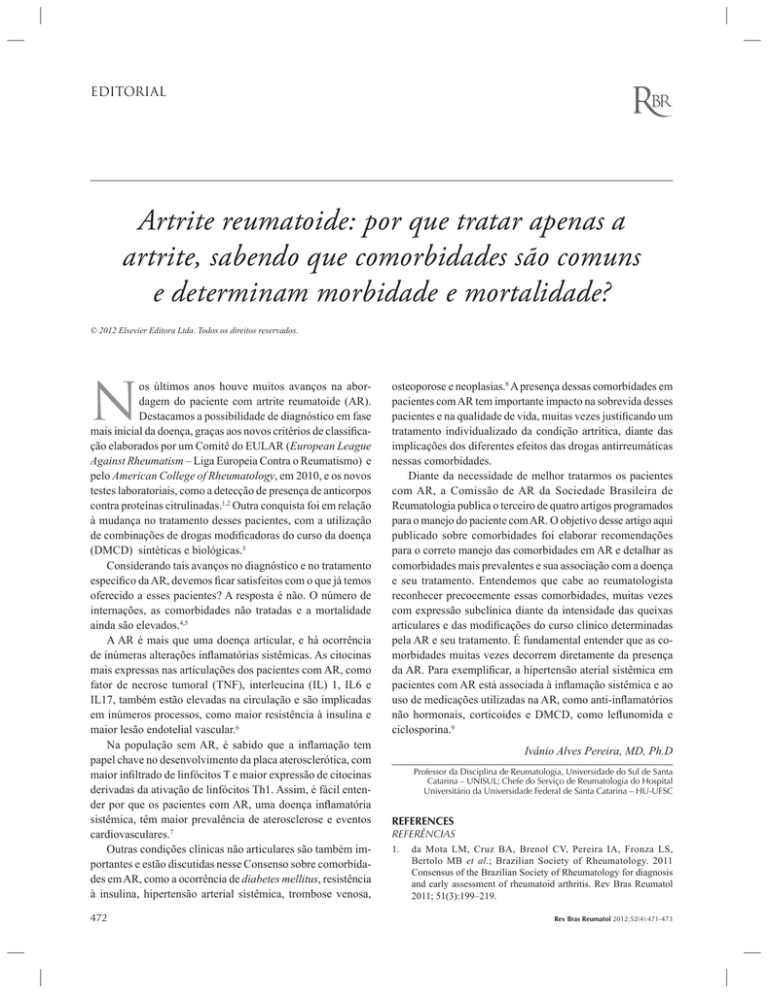
EDITORIAL
Artrite reumatoide: por que tratar apenas a
artrite, sabendo que comorbidades são comuns
e determinam morbidade e mortalidade?
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
os últimos anos houve muitos avanços na abordagem do paciente com artrite reumatoide (AR).
Destacamos a possibilidade de diagnóstico em fase
mais inicial da doença, graças aos novos critérios de classificação elaborados por um Comitê do EULAR (European League
Against Rheumatism – Liga Europeia Contra o Reumatismo) e
pelo American College of Rheumatology, em 2010, e os novos
testes laboratoriais, como a detecção de presença de anticorpos
contra proteínas citrulinadas.1,2 Outra conquista foi em relação
à mudança no tratamento desses pacientes, com a utilização
de combinações de drogas modificadoras do curso da doença
(DMCD) sintéticas e biológicas.3
Considerando tais avanços no diagnóstico e no tratamento
específico da AR, devemos ficar satisfeitos com o que já temos
oferecido a esses pacientes? A resposta é não. O número de
internações, as comorbidades não tratadas e a mortalidade
ainda são elevados.4,5
A AR é mais que uma doença articular, e há ocorrência
de inúmeras alterações inflamatórias sistêmicas. As citocinas
mais expressas nas articulações dos pacientes com AR, como
fator de necrose tumoral (TNF), interleucina (IL) 1, IL6 e
IL17, também estão elevadas na circulação e são implicadas
em inúmeros processos, como maior resistência à insulina e
maior lesão endotelial vascular.6
Na população sem AR, é sabido que a inflamação tem
papel chave no desenvolvimento da placa aterosclerótica, com
maior infiltrado de linfócitos T e maior expressão de citocinas
derivadas da ativação de linfócitos Th1. Assim, é fácil entender por que os pacientes com AR, uma doença inflamatória
sistêmica, têm maior prevalência de aterosclerose e eventos
cardiovasculares.7
Outras condições clínicas não articulares são também importantes e estão discutidas nesse Consenso sobre comorbidades em AR, como a ocorrência de diabetes mellitus, resistência
à insulina, hipertensão arterial sistêmica, trombose venosa,
N
472
osteoporose e neoplasias.8 A presença dessas comorbidades em
pacientes com AR tem importante impacto na sobrevida desses
pacientes e na qualidade de vida, muitas vezes justificando um
tratamento individualizado da condição artrítica, diante das
implicações dos diferentes efeitos das drogas antirreumáticas
nessas comorbidades.
Diante da necessidade de melhor tratarmos os pacientes
com AR, a Comissão de AR da Sociedade Brasileira de
Reumatologia publica o terceiro de quatro artigos programados
para o manejo do paciente com AR. O objetivo desse artigo aqui
publicado sobre comorbidades foi elaborar recomendações
para o correto manejo das comorbidades em AR e detalhar as
comorbidades mais prevalentes e sua associação com a doença
e seu tratamento. Entendemos que cabe ao reumatologista
reconhecer precocemente essas comorbidades, muitas vezes
com expressão subclínica diante da intensidade das queixas
articulares e das modificações do curso clínico determinadas
pela AR e seu tratamento. É fundamental entender que as comorbidades muitas vezes decorrem diretamente da presença
da AR. Para exemplificar, a hipertensão aterial sistêmica em
pacientes com AR está associada à inflamação sistêmica e ao
uso de medicações utilizadas na AR, como anti-inflamatórios
não hormonais, corticoides e DMCD, como leflunomida e
ciclosporina.9
Ivânio Alves Pereira, MD, Ph.D
Professor da Disciplina de Reumatologia, Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL; Chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina – HU-UFSC
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
da Mota LM, Cruz BA, Brenol CV, Pereira IA, Fronza LS,
Bertolo MB et al.; Brazilian Society of Rheumatology. 2011
Consensus of the Brazilian Society of Rheumatology for diagnosis
and early assessment of rheumatoid arthritis. Rev Bras Reumatol
2011; 51(3):199–219.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):471-473
EDITORIAL
2.
3.
4.
5.
Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO 3rd
et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American
College of Rheumatology/European League Against Rheumatism
collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010; 69(9):1580–8.
da Mota LM, Cruz BA, Brenol CV, Pereira IA, Rezende-Fronza LS,
Bertolo MB et al. 2012 Brazilian Society of Rheumatology
Consensus for the treatment of rheumatoid arthritis. Rev Bras
Reumatol 2012; 52(2):152–74.
Gonzalez A, Maradit Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ,
Davis JM 3rd, Therneau TM et al. The widening mortality gap
between rheumatoid arthritis patients and the general population.
Arthritis Rheum 2007; 56(11):3583–7.
Michaud K, Wolfe F. Comorbidities in rheumatoid arthritis. Best
Pract Res Clin Rheumatol 2007; 21(5):885–906.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):471-473
6.
7.
8.
9.
McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. N
Engl J Med 2011; 365(23):2205–19.
Kitas GD, Gabriel SE. Cardiovascular disease in rheumatoid
arthritis: state of the art and future perspectives. Ann Rheum Dis
2011; 70(1):8–14.
Pereira IA, da Mota LM, Cruz BA, Brenol CV, Rezende-Fronza LS,
Bertolo MB et al. Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de
Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com
o diagnostico de Artrite Reumatoide. Rev Bras Reumatol 2012;
52(4):474–95.
Panoulas VF, Douglas KM, Milionis HJ, Stavropoulos-Kalinglou A,
Nightingale P, Kita MD et al. Prevalence and associations of
hypertension and its control in patients with rheumatoid arthritis.
Rheumatology (Oxford) 2007; 46(9):1477–82.
473
ARTIGO ORIGINAL
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de
Reumatologia sobre o manejo de comorbidades
em pacientes com artrite reumatoide
Ivânio Alves Pereira1, Licia Maria Henrique da Mota2, Boris Afonso Cruz3, Claiton Viegas Brenol4,
Lucila Stange Rezende Fronza5, Manoel Barros Bertolo6, Max Victor Carioca de Freitas7, Nilzio Antônio da Silva8,
Paulo Louzada-Junior9, Rina Dalva Neubarth Giorgi10, Rodrigo Aires Corrêa Lima11, Geraldo da Rocha Castelar Pinheiro12
RESUMO
Objetivo: Elaborar recomendações da Comissão de Artrite Reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR)
para o manuseio das comorbidades em artrite reumatoide (AR). Métodos: Revisão da literatura e opinião de especialistas da
Comissão de AR da SBR. Resultados e conclusões: Recomendações: 1) Diagnosticar e tratar precoce e adequadamente as
comorbidades; 2) O tratamento específico da AR deve ser adaptado às comorbidades; 3) Inibidores da enzima conversora da
angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA) são preferidos no tratamento da hipertensão
arterial sistêmica; 4) Em pacientes com AR e diabetes mellitus, deve-se evitar o uso contínuo de dose cumulativa alta de
corticoides; 5) Sugere-se o uso de estatinas para manter níveis de LDL menor que 100 mg/dL e índice aterosclerótico menor
que 3,5 em pacientes com AR e comorbidades; 6) A síndrome metabólica deve ser tratada; 7) Recomenda-se a realização
de exames para a investigação de aterosclerose subclínica; 8) Maior vigilância para um diagnóstico precoce de neoplasia
oculta; 9) Medidas de prevenção para trombose venosa são sugeridas; 10) Recomenda-se a realização de densitometria
óssea em pacientes com AR acima de 50 anos, e naqueles com idade menor com corticoide maior que 7,5 mg por mais de três
meses; 11) Pacientes com AR e osteoporose devem evitar quedas, e devem ser aconselhados a aumentarem a ingestão de cálcio,
aumentarem a exposição solar e fazerem atividade física; 12) Suplementação de cálcio e vitamina D é sugerida. A utilização de
bisfosfonatos é sugerida para pacientes com escore T menor que –2,5 na densidade mineral óssea; 13) Recomenda-se equipe
multidisciplinar, com participação ativa do médico reumatologista no tratamento das comorbidades.
Palavras-chave: artrite reumatoide, comorbidades, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica que tem como característica principal a presença
de poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas articulações. Apesar do envolvimento musculoesquelético típico,
essa é uma enfermidade sistêmica que pode acometer vários
órgãos, como pulmão, olho e vasos sanguíneos. Essa condição
Recebido em 22/04/2012. Aprovado, após revisão, em 07/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Serviço de Reumatologia e Serviço de Endocrinologia Sabin Laboratório de Análises Clínicas; Hospital Universitário de Brasília – HUB.
1. Professor da Disciplina de Reumatologia, Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL; Chefe do Serviço de Reumatologia, Hospital Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina – HU-UFSC
2. Professora Colaboradora de Clínica Médica e do Serviço de Reumatologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – FM-UnB; Doutora em
Ciências Médicas, FM-UnB
3. Mestre em Epidemiologia; Chefe do Serviço de Reumatologia, BIOCOR Instituto
4. Professor-Adjunto do Departamento de Medicina Interna, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Coordenador
do Ambulatório de Artrite Reumatoide do Serviço de Reumatologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre
5. Médica-Assistente do Serviço de Reumatologia, Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná – HC-UFPR; Ex-fellow do Serviço de Reumatologia,
Hospital Geral AKH, Áustria
6. Professor e Coordenador da Disciplina de Reumatologia, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp
7. Professor-Adjunto da Disciplina de Imunologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará – FM-UFC
8. Professor Titular, Universidade Federal de Goiás – UFG
9. Professor Livre-Docente (Associado), Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP
10. Médica-Chefe da Seção de Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de Reumatologia, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo – HSPE-FMO
11. Reumatologista; Chefe do Serviço de Reumatologia, Hospital Universitário de Brasília da UnB
12. Professor-Adjunto da Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FCM-UERJ
Correspondência para: Ivânio Alves Pereira. Av. Rio Branco, 448 – sala 306. CEP: 88015-200. Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
483
Pereira et al.
causa grande impacto social e econômico, considerando as
deformidades articulares irreversíveis e o significativo declínio
na capacidade funcional dos pacientes acometidos.1
Nos últimos anos, maiores conhecimentos sobre a patogênese da doença e o reconhecimento de alvos terapêuticos
permitiram a inserção de novas drogas modificadoras do curso
da doença (DMCD), incluindo as DMCD biológicas.2,3 Além
disso, novas estratégias de manejo da AR foram sugeridas,
como utilização de DMCD desde a fase inicial da doença,
avaliações mais frequentes dos pacientes, mudanças ou ajustes
da terapêutica com base em escores objetivos de avaliação da
atividade da doença e busca de remissão clínica ou, quando
a remissão não é possível, baixa atividade da doença. Essas
mudanças de conduta resultaram em melhor prognóstico para
os pacientes com diagnóstico de AR.4
Apesar das marcantes conquistas do tratamento da AR, a
mortalidade entre os pacientes continua superior à da população
geral, e não houve mudanças significativas nos últimos anos.5
Indivíduos com diagnóstico de AR têm maior chance de
apresentar outras doenças associadas, como as de etiologia
autoimune,6,7 e comorbidades, como hipertensão arterial
sistêmica (HAS), dislipidemia e diabetes mellitus (DM).8–14
O entendimento e o manejo adequado das comorbidades em
pacientes com AR é fundamental, já que essas doenças contribuem para o risco cardiovascular aumentado e para a maior
mortalidade observada nesse grupo.15
O presente documento tem o objetivo de elaborar recomendações para o diagnóstico e o manejo de comorbidades
em pacientes com AR, com enfoque nas condições que
ocorrem mais frequentemente. A finalidade deste texto é
a de sintetizar a posição atual da Sociedade Brasileira de
Reumatologia (SBR) sobre o tema, com o objetivo de orientar
os médicos brasileiros, em especial os reumatologistas, sobre
o diagnóstico e o manejo das comorbidades em pacientes
com AR no Brasil.
MÉTODO DA ELABORAÇÃO
DAS RECOMENDAÇÕES
O método de elaboração das recomendações incluiu a revisão da literatura e a opinião de especialistas membros da
Comissão de Artrite Reumatoide da SBR. O levantamento
bibliográfico abrangeu publicações das bases MEDLINE,
SciELO, PubMed e EMBASE até fevereiro de 2012. As
recomendações foram escritas e reavaliadas por todos os
participantes durante múltiplas rodadas de questionamentos
e correções realizadas via internet.
484
Hipertensão arterial sistêmica
A HAS é um dos principais fatores de risco modificáveis para
doença cardiovascular em pacientes com AR. É uma patologia
importante e frequente e está associada ao desenvolvimento
de aterosclerose subclínica. Sua prevalência é alta, variando
de 53%–73%, de acordo com alguns estudos publicados.14–16
Panoulas et al.14 encontraram uma frequência de 70,5% de
hipertensos em sua amostra, enquanto Gonzalez et al.16 encontraram uma frequência de 52% na população estudada.
Apesar dessa alta frequência, a HAS na AR tem sido menos
diagnosticada e tratada (13,2% versus 21%–23% na população
sem AR).14–16
Os mecanismos responsáveis pelo aparecimento de
HAS em pacientes com AR não estão esclarecidos, mas
alguns fatores clássicos estão associados com HAS na população com AR, como obesidade, sedentarismo e uso de
medicações.15 O uso de glicocorticoide por período maior
que seis meses e em dose maior que 7,5 mg/dia está associado à HAS nos pacientes com AR.17 Da mesma forma,
pode haver aumento dos níveis pressóricos secundário
ao uso de leflunomida e ciclosporina em pacientes com
AR. 18–20 Fatores inerentes à doença, como a inflamação
sistêmica da AR, também podem contribuir para o aparecimento de HAS nesses pacientes. A AR cursa com maior
expressão do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina (IL) 1 e 6, aumento da expressão de moléculas de
adesão, do receptor de angiotensina II tipo 1, da endotelina
e menor expressão de óxido nítrico, e esse desequilíbrio
pode contribuir para a HAS.15
Em relação ao tratamento da AR, sabe-se que o uso de
anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) atenua o efeito
anti-hipertensivo dos diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) e bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA).21 Também é
importante saber que a combinação de AINEs com diurético
e IECA ou BRA determina maior chance de insuficiência
renal, em particular nos pacientes idosos e naqueles que
estejam em condições de perda de volume intravascular,
como cirrose hepática, insuficiência cardíaca, hipoalbuminemia e desidratação. Devido aos efeitos benéficos em
nível endotelial, e por interferirem menos no metabolismo
dos carboidratos e causarem menos dislipidemia, IECA ou
BRA são preferidos como terapia inicial no tratamento da
HAS em pacientes com AR, em vez de betabloqueadores
e diuréticos.15 No tratamento de pacientes com AR e HAS,
devemos, se possível, evitar o uso concomitante de AINEs
e/ou dose alta de corticoides.22
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com artrite reumatoide
Diabetes mellitus
A associação entre AR e resistência insulínica está bem-documentada. Por outro lado, há poucos estudos que analisam o
risco de desenvolvimento de DM em pacientes com AR.12,23,24
Um estudo recente de 48.718 pacientes com AR versus 40.346
com psoríase ou artrite psoriásica e 44.2033 controles mostrou
que o risco de DM tipo 2 foi maior em pacientes com AR
comparado ao grupo-controle, com HR 1,5 (95% IC 1,4–1,5).23
Da mesma forma, Han et al.25 demonstraram que doenças
cardiovasculares e seus fatores de risco, bem como o DM
tipo 2, foram mais comuns nos pacientes portadores de AR. É
sabido que a utilização de corticoides em pacientes com AR
pode interferir de forma negativa na sensibilidade à insulina em
pacientes com AR,26 e que o tratamento da inflamação sistêmica
da AR pode determinar efeito benéfico, especialmente com o
uso de hidroxicloroquina e anti-TNF.27–29
Estudos também mostram que a prevalência de DM tipo 1 é
maior em pacientes portadores de AR, especialmente o subgrupo que apresenta o anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico
(anti-CCP) positivo. Esse risco pode ser atribuído a um alelo em
comum para as duas doenças, agindo como um fator de risco em
comum na patogênese de ambas. Liao et al.30 demonstraram,
ao avaliar 1.419 pacientes com AR, que a presença do alelo
PTPN22 é comum à AR e ao DM tipo 1, relacionando-se à
coexistência das doenças. No entanto, a associação foi significativa apenas para os portadores de AR com o anticorpo
anti-CCP positivo.
Sugere-se evitar o uso contínuo de dose cumulativa alta de
corticoides em pacientes com AR e DM concomitante, e que
estratégias sejam implementadas para um controle efetivo da
inflamação sistêmica da doença, considerando que algumas
evidências sugerem um efeito benéfico do tratamento da AR
no controle do DM.27–29
Dislipidemia
A dislipidemia encontrada em pacientes com AR caracteriza-se
pela presença de níveis reduzidos de colesterol HDL e aumento
da relação colesterol total (CT/HDL).31–34 O aparecimento desse
padrão pode preceder o início das manifestações articulares
da doença e pode estar relacionado a alterações inflamatórias
secundárias à doença.33,34
Acredita-se que os níveis de colesterol total, e em especial
o HDL, possam diminuir com a atividade da doença, e que essa
redução esteja relacionada com os níveis elevados de citocinas
pró-inflamatórias, como o TNF-α.31,33
É sabido que o próprio tratamento da AR já seja capaz de
interferir no perfil lipídico dos pacientes.35–38 Os AINEs não
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
parecem exercer efeitos nos níveis dos lipídios.39 O efeito dos
corticoides no aumento dos níveis de CT e LDL foram amplamente documentados, embora seu uso em pacientes com
AR não tenha sido associado, até o momento, ao aumento do
risco cardiovascular.40 A ciclosporina parece ter efeito deletério
sobre os níveis de colesterol, enquanto os antimaláricos têm
um efeito positivo na diminuição dos níveis séricos de CT e
triglicerídeos.41 O tratamento com outras DMCD e com os
agentes biológicos, como as drogas da classe dos anti-TNF e
principalmente com o antagonista do receptor de IL-6 (tocilizumabe), determinam controle da inflamação e aumento dos
níveis previamente reduzidos de CT/HDL associados com
inflamação, sem maiores interferências no índice aterosclerótico e sem aumento dos eventos clínicos cardiovasculares até
o momento.42–45
Interessante vermos que o uso de drogas do grupo das
estatinas exercem não apenas efeitos hipolipemiantes em
pacientes com AR, mas determinam redução dos escores
de atividade da doença em AR. Espera-se o resultado do
estudo TRACE RA (Trial of Atorvastatin for the Primary
Prevention of Cardiovascular Events in Rheumatoid
Arthritis) (http://www.dgoh.nhs.uk/tracera), que está em
andamento e envolverá cerca de 4.000 pacientes com AR.
Esse estudo poderá definir o papel das estatinas no controle da
inflamação e na redução do risco cardiovascular em pacientes
com AR.46
Aterosclerose
Pacientes com AR apresentam maior prevalência de disfunção
endotelial,47,48 avaliada por estudos de ultrassom braquial, e
essa é a primeira evidência do início do processo aterogênico,
em que encontramos a presença de rigidez arterial. Em relação aos exames não invasivos que demonstram a presença de
aterosclerose subclínica, estudos confirmam que aterosclerose
carotídea com presença de placas é frequente,49 assim como
maior escore de cálcio coronariano na angiotomografia computadorizada de artérias coronárias.50
A prevalência de infarto agudo do miocárdio (IAM) e de
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é maior nos pacientes
com AR.51,52 Essas condições determinam menor sobrevida e
maior mortalidade aos pacientes com AR. Em relação à doença
coronariana, devemos lembrar que a prevalência de sintomas
anginosos é menos frequente nos pacientes com AR, o que faz
com que não seja raro que esses indivíduos apresentem morte
súbita ou infarto do miocárdio silencioso.51
Embora o tratamento da AR reduza a chance de infarto do
miocárdio, em particular com uso de metotrexato (MTX) e
485
Pereira et al.
anti-TNF,53–55 deve ficar claro que tratar comorbidades como
DM tipo 2, dislipidemia e HAS nesses pacientes é importante.
Em indivíduos com AR que tenham doença coronariana,
antecedente de IAM ou ICC, deve-se evitar o uso indiscriminado e por tempo prolongado de AINEs, em particular o uso
dos AINEs seletivos para a ciclo-oxigenase 2, considerando
maiores mortalidade e risco de hospitalização por infarto do
miocárdio e ICC descompensada. Dentre os AINEs, o risco de
infarto do miocárdio e outros eventos cardiovasculares parece
ser menor com o uso de naproxeno.56,57
Outro aspecto é a cessação do tabagismo nos pacientes
com AR. Sabe-se que o tabagismo, além de determinar maior
risco de doença cardiovascular, aumenta a chance do aparecimento de AR em pessoas que tenham predisposição genética,
aumenta a gravidade do quadro articular e está associado
a manifestações extra-articulares da doença.58 Além disso,
indivíduos fumantes com AR têm menor resposta clínica ao
uso de drogas antirreumáticas como o MTX ou uso de agentes
biológicos anti-TNF.59
Síndrome metábolica
Embora não haja definição universalmente aceita, a síndrome metabólica (SM) é caracterizada pelo agrupamento de
manifestações clínicas que incluem obesidade centralmente
distribuída, níveis reduzidos de HDL colesterol, níveis elevados
de triglicerídeos, aumento da pressão arterial e hiperglicemia.
Atualmente, as definições mais aceitas são a da Federação
Internacional de Diabetes (IDF), a do Programa Educacional
de Tratamento do Colesterol do Adulto (NCEP ATPIII) e a da
Organização Mundial de Saúde (OMS).60–62
Essa síndrome representa uma associação de condições
que têm em comum a resistência insulínica e o aumento da
gordura abdominal, que está intimamente ligada à inflamação.63
Tal relação com a inflamação pode justificar a maior prevalência de SM em pacientes com AR,9,64–67 e a maior atividade
da doença encontrada nos pacientes com AR que apresentam
SM.66–68 Dessein et al.69 demonstraram prevalência de SM
entre 14%–19% dos pacientes com AR, e dois outros estudos
não demonstraram maior prevalência de SM em pacientes
com AR.68,70 A presença de SM na população sem AR está
associada a maior chance de evento cardiovascular e maior
mortalidade em geral.71
Na população com AR não existem estudos que pesquisaram a maior prevalência de infarto do miocárdio ou AVC
associado a SM,72 mas a presença de calcificação coronariana,
um teste diagnóstico que aumenta a chance de evento cardiovascular, associou-se à SM nessa população.65 O papel das
486
DMCD na prevalência da SM em pacientes com AR não está
definido, com resultados não concordantes em relação ao MTX.
Toms et al.73 mostraram menor prevalência de SM em pacientes
idosos em uso de MTX; por outro lado, uma subanálise do
estudo CARRE não confirmou esses resultados.13
Trombose venosa e embolia pulmonar
Entre os eventos vasculares não cardíacos com maior probabilidade de ocorrer na AR destacam-se a trombose venosa
profunda (TVP) e o tromboembolismo pulmonar (TEP).74,75 A
incidência dessas comorbidades pode estar associada a fatores
de risco clássicos que afetam a população em geral, e a aspectos
específicos da AR.74–76
De modo geral, menor mobilidade, como consequência das
lesões articulares, internações que podem determinar repouso
prolongado no leito, idade mais avançada da maioria dos pacientes artríticos, compressão do sistema venoso adjacente a
uma articulação com derrame articular volumoso e obesidade
contribuem para aumentar o risco de tromboembolismo.74
Pacientes com AR apresentam alterações nos parâmetros
de coagulação e sistema fibrinolítico.77 Em AR é comum encontrarmos aumento na contagem de plaquetas, juntamente
com marcadores de ativação de plaquetas elevadas, aumento
dos níveis de marcadores de trombina, como complexos
de trombina-antitrombina e fragmentos de protrombina. O
aumento das citocinas pró-inflamatórias na AR associa-se a
níveis elevados de fibrinogênio, fator de von Willebrand e
D-dímero.77,78
Ainda que os estudos de prevalência de trombose venosa
profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar (TEP) em
AR mostrem resultados discordantes, um importante estudo
mostrou que a AR é um fator de risco para TVP e TEP.75,79,80
Esse estudo avaliou a incidência de TVP e TEP em pacientes com AR admitidos em hospitais nos Estados Unidos no
período de 1979 a 2005. Os resultados encontrados foram
que 41.000 de 4.818.000 (0,85%) pacientes com AR apresentaram TEP, comparados a 3.366.000 de 891.055.000
(0,38%) sem AR (RR = 2,25). TVP ocorreu em 79.000 de
4.818.000 (1,64%) pacientes com AR versus 681.000
de 891.055.000 (0,86%) sem AR (RR = 1,90). Em relação
ao impacto dos diferentes tratamentos empregados em
AR, os dados do Registro de Uso Biológicos da Sociedade
Britânica de Reumatologia comparou a incidência de TVP
e TEP entre 11.881 pacientes em uso de anti-TNF e 3.673
com DMCD não biológicos. Não houve diferença entre os
diversos grupos com risco relativo global (HR = 0,8; 95%
IC 0,5–1,5) na incidência de TVP e TEP.81
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com artrite reumatoide
Um estudo retrospectivo de base populacional comparou
os dados de 813 casos de AR com os da população sem AR,
atendidos no período de janeiro de 1980 a dezembro de 2007.
Os autores concluíram que houve maior incidência de TVP e
TEP no grupo com AR (HR = 3,6).74 Os eventos tromboembólicos foram associados a obesidade (HR = 2,2), ao uso de
DMARD (exceto MTX e hidroxicloroquina) (HR = 1,9), ao
uso de biológicos (HR = 2,7), ao uso de ácido acetilsalicílico
(HR = 2,3) e a artroplastia recente (HR = 11,4). Por outro
lado, não foram associados ao tromboembolismo venoso a
positividade do fator reumatoide e do anti-CCP, o aumento da
VHS, a gravidade da AR ou a presença de erosões ou nódulos
subcutâneos.
Como se vê, há discordância entre esse estudo americano e
o Registro Britânico de Biológicos, no qual não se encontrou
associação de TEP/TVP com o uso de imunobiológicos.74,81
Nos cuidados recomendados para os pacientes com AR
devem ser incluídas as medidas preventivas para TEP/TVP.
Neoplasias
A ocorrência de neoplasias em pacientes com AR, em uso ou
não de DMCD, em especial de drogas biológicas, é assunto de
grande interesse, dado o grande impacto dessas doenças sobre
a morbimortalidade dos pacientes com AR.
Os resultados dos estudos de prevalência e de risco relativo
em comparação com população controle, bem como o papel do
tratamento da AR (incluindo DMCD sintéticas e biológicas)
no desencadeamento de neoplasias ainda são controversos.82–88
Estudos populacionais para coleta de dados a partir de fontes
primárias são necessários para ampliar o conhecimento sobre os
mecanismos da ocorrência de neoplasias em pacientes com AR.
O risco de mortalidade por causas específicas em pacientes
com AR hospitalizados foi quantificado em estudo que tem
como base uma coorte populacional acompanhada por um
período de 20 anos.89 Entre pacientes com AR, houve aumento
no risco de morte por causas listadas em todos os capítulos da
Classificação Internacional de Doenças (CID), à exceção de
doenças mentais. Causas específicas de morte nesse grupo de
pacientes incluíram câncer de pulmão [homens: 1,4 (1,2–1,5);
mulheres: 1,6 (1,5–1,8)] e neoplasias hematopoiéticas [homens: 1,8 (1,4–2,3); mulheres: 2,0 (1,7–2,3)]. Os pacientes
com AR, no entanto, foram menos propensos a morrer de
neoplasias do trato gastrointestinal [homens: 0,82 (0,7–1,0);
mulheres: 0,8 (0,7–0,9)].
Hemminki et al.90 também relataram uma redução no risco
de adenocarcinomas de cólon e reto em pacientes com AR,
sugerindo que os mecanismos inflamatórios subjacentes que
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
atuariam como fator de risco nesses pacientes pudessem ter
sido suprimidos pelo uso de medicações anti-inflamatórias.
O risco associado de neoplasias em quatro sítios específicos (linfoma, pulmão, colorretal e câncer de mama) em pacientes com AR foi avaliado em uma metanálise.82 Comparado
com a população geral, a razão de incidência padronizada
(SIR, do inglês standardized incidence ratio) estimada sugere
que pacientes com AR apresentam aumento de duas vezes
no risco de linfoma (SIR 2,08; 95% IC 1,80–2,39) e maior
risco de linfoma Hodgkin que não Hodgkin. O risco de câncer de pulmão também é aumentado, com SIR 0,77 (95% IC
0,65–0,9), assim como câncer de mama (SIR 0,84; 95% IC
0,79–0,9). A SIR para todas as neoplasias foi de 1,05 (95%
IC 1,01–1,09). Assim, pacientes com AR parecem ter maior
risco de linfoma e de câncer de pulmão, e potencialmente
menor risco de câncer de mama e colorretal, em comparação
à população geral.
Outro estudo acompanhou 42.262 pacientes com AR (com
internação hospitalar prévia) de 1980 a 2004 na Suécia. A SIR
foi calculada para a ocorrência de neoplasias em pacientes
com AR em comparação com indivíduos sem AR. Muitas
neoplasias foram diagnosticadas mais frequentemente nos
pacientes com AR, incluindo linfoma de Hodgkin, linfoma
não Hodgkin e câncer de pele, além de uma associação com
tumores endócrinos (exceto tireoide). A ocorrência de tumores
de cólon, reto e endométrio foi menor entre os pacientes com
AR. Entre os pacientes hospitalizados após 1999, a SIR para
melanoma, câncer de pele escamoso, trato digestivo superior e
leucemia foi aumentada em relação aos períodos anteriores.84
O risco de ocorrência de linfoma não Hodgkin em pacientes com doenças autoimunes foi investigado em diversos estudos,
com resultados inconclusivos. Em metanálise de estudos de
coorte observou-se maior risco de linfoma não Hodgkin83 em
pacientes com AR (SIR 3,9; 95% IC 2,5–5,9). Na AR, efeitos
randômicos de SIR para linfoma não Hodgkin com DMCD
sintéticos, drogas citotóxicas e agentes biológicos foram de
2,5 (95% IC 0,7–9,0), 5,1 (95% IC 0,9–28,6) e 11,5 (95% IC
3,7–26,9), respectivamente.
Os dados do Registro Sueco de Artrite Inicial (duração
dos sintomas < 1 ano) mostraram que, antes do diagnóstico
de AR, não foi observado aumento no risco de linfoma (OR
[odds ratio] 0,67 [95% IC 0,37–1,23]) ou outras neoplasias (RR
0,78 [95% IC 0,70–0,88]). Durante os primeiros 10 anos após
o diagnóstico de AR, o HR de desenvolvimento de linfomas
foi de 1,75 (95% IC 1,04–2,96). Esses achados indicam que,
de forma geral, há aumento do risco de linfoma na primeira
década após o diagnóstico de AR.91
487
Pereira et al.
A patogênese da ocorrência de neoplasias sólidas ou
hematopoiéticas nos pacientes com AR não é conhecida. A
desregulação do sistema imunológico em doenças autoimunes
poderia potencialmente levar ao câncer, e há evidências definitivas ligando alguns mecanismos de autoimunidade com a
ocorrência de neoplasias.90
Encontrou-se associação significativa entre os HLADRBI*02 e DRBI*03 com a probabilidade de ocorrência de
neoplasias (OR 5,2 e 9,9, respectivamente), de forma independente da história familiar de AR e câncer ou da atividade clínica
da AR. Assim, alelos HLA classe II parecem estar associados
à ocorrência de neoplasias em pacientes com AR.92
Embora não existam recomendações formais previamente
publicadas, a Comissão de Artrite Reumatoide da SBR recomenda
que, durante o acompanhamento clínico do paciente com AR,
o médico esteja permanentemente atento a quaisquer sintomas
que possam sugerir neoplasias, em virtude do risco aumentado,
sobretudo em pacientes com formas graves e em uso de DMCD
biológicas. A investigação para neoplasias em pacientes com AR
deve seguir o mesmo protocolo para pacientes sem a doença, visando ao diagnóstico precoce e incluindo exames de rastreamento.
O uso de DMCD biológicas foi introduzido para o tratamento da AR há pouco mais de uma década. Desde então, a compreensão ainda incompleta dos efeitos dessa classe terapêutica
e das vias inibidas suscita questionamentos sobre o perfil de
segurança dessas drogas, incluindo sobre o risco de câncer.88
Com relação aos anti-TNF, sabe-se que o TNF tem papel
importante na inflamação e que pode afetar o controle do
crescimento tumoral.89
As informações disponíveis até o momento não nos permitem afirmar com exatidão que tipos de tumores são mais
comuns, quais são os pacientes em uso de DMCD biológicas
em risco de desenvolvimento de câncer e qual o momento
da possível ocorrência do tumor. Os dados que podem ser
analisados advêm de metanálises de estudos randomizados
controlados e estudos observacionais, incluindo os registros
de biológicos.89
Os dados do Registro Alemão de Biológicos RABBIT, um
estudo de coorte prospectivo, foram usados para investigar o
risco de neoplasias novas ou recorrentes em pacientes com
AR recebendo biológicos, em comparação com outras DMCD
sintéticas. Não foram encontradas diferenças significativas
na incidência de neoplasias em pacientes expostos ou não
ao tratamento com anti-TNF e anti-IL1. O mesmo se aplica
ao risco de neoplasias recorrentes. Os autores sugeriram, no
entanto, que os resultados necessitavam ser validados em
coortes mais amplas.93
488
Uma recente revisão sistemática da literatura87 incluiu
todos os estudos randomizados, duplo-cegos, controlados por
placebo avaliando pacientes com AR inicial que iniciaram terapia anti-TNF sem o uso prévio de DMCD (incluindo MTX),
totalizando 2.183 pacientes recebendo terapia biológica e 1.236
pacientes em uso de MTX. Não houve diferença significativa
quanto à ocorrência de neoplasias entre o grupo de pacientes
em uso de anti-TNF e os controles. Os autores concluíram que
não parece haver aumento do risco de neoplasias quando os
pacientes têm o diagnóstico precoce e não recebem tratamento
prévio com MTX ou outra DMCD.
A segurança dos anti-TNF em pacientes com AR também
foi avaliada, com cálculo de risco estimado em metanálises
com e sem ajuste por exposição.94 Dezoito estudos randomizados envolvendo 8.808 pacientes com AR foram incluídos
(tempo de tratamento médio de 0,8 ano). O tratamento com
doses recomendadas de anti-TNF não aumentou o risco de
morte (OR 1,39; 95% IC 0,74–2,62), de linfoma (OR 1,26;
95% IC 0,52–3,06), de câncer de pele não melanoma (OR
1,27; 95% IC 0,67–2,42) ou o desfecho composto de neoplasias
não cutâneas mais melanomas (OR 1,31; 95% IC 0,69–2,48).
Em metanálise avaliando estudos que incluíram pacientes
com AR em uso de etanercepte (ETP) por 12 semanas ou mais95
foram analisados 3.316 pacientes, 2.244 dos quais receberam
ETP (2.484 pacientes/ano) e 1.072 em uso de terapia controle
(1.051 pacientes/ano). Neoplasias foram diagnosticadas em
26 pacientes no grupo do ETP [taxa de incidência (IR) de
10,47/1.000 pessoas/ano] e sete pacientes no grupo-controle
(IR 6,66/1.000 pacientes/ano). O HR foi de 1,84 (95% IC
0,79–4,28) para o grupo do ETP em comparação ao grupocontrole. Nessa análise, a ocorrência de neoplasias foi maior
no grupo de pacientes tratados com ETP, embora os resultados
não tenham sido estatisticamente significativos.
Para determinar o risco de neoplasia a curto e médio prazo
em pacientes com AR em uso de anti-TNF, foram avaliados e
cruzados dados do Registro Sueco de Biológicos (ARTIS), dos
Registros Suecos de AR e do Registro Sueco de Câncer. Durante
os primeiros seis anos após o início de terapia anti-TNF não foi
observada elevação no risco de neoplasia.96
Outro aspecto a ser considerado diz respeito à ocorrência
de câncer em pacientes com AR e história prévia de neoplasia
tratados com anti-TNF. Dados do Registro de Biológicos da
Sociedade Britânica de Reumatologia demonstraram 293
pacientes com diagnóstico prévio de neoplasias em um total
de 14.000 pacientes com AR. Foram comparadas as taxas de
incidência de neoplasias em 177 pacientes com AR tratados
com anti-TNF e 117 pacientes tratados com DMCD sintéticas,
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com artrite reumatoide
todos com diagnóstico prévio de alguma neoplasia. As taxas de
incidência de neoplasias foram de 25,3 eventos/1.000 pessoas/
ano na coorte de anti-TNF e 28,3/1.000 pessoas/ano na coorte
de DMCD sintéticos, gerando uma taxa de incidência ajustada
para idade e gênero de 0,58 (95% IC 0,23–1,43) para a coorte
tratada com anti-TNF comparada com a coorte de DMCD.
Os autores concluíram que a forma como os reumatologistas
britânicos selecionam os pacientes com AR e neoplasias prévias para o tratamento com biológicos não ocasiona aumento
da ocorrência de malignidades.97 Esses dados, no entanto,
não devem ser interpretados como indicativos de segurança
do tratamento de pacientes com AR e neoplasias prévias com
anti-TNF.
A edição de 2008 da Classificação da OMS para neoplasias
dos tecidos linfoides e hematopoiéticos reconheceu uma nova
entidade diagnóstica, denominada “outras desordens linfoproliferativas iatrogênicas associadas à imunodeficiência”,
destacando os linfomas que surgem em pacientes tratados
com agentes imunossupressores para o tratamento de doenças
autoimunes.98
O papel dos anti-TNF no risco de linfomas em pacientes
com AR permanece incerto. Wong et al.98 publicaram uma
metanálise de todos os ensaios clínicos controlados randomizados que descreviam pacientes com diagnóstico de AR
recebendo terapia anti-TNF. As taxas ajustadas foram de
0,36 linfoma por 1.000 pessoas/ano em pacientes que não
receberam terapia anti-TNF versus 1,65 linfomas por 1.000
pessoas/ano em pacientes que foram tratados com anti-TNF.
A diferença entre as taxas teve 95% IC –0,214–2,79. A diferença entre as taxas ajustadas foi de 1,29 linfomas por 1.000
pessoas/ano (95% IC 0,21–2,3, com P = 0,093). Sugeriu-se,
portanto, que há maior ocorrência de linfomas no grupo tratado
com anti-TNF, predominando o subtipo linfoma de células B.
Como a ocorrência de linfoma é um evento raro, não houve
significância estatística.
Em outra metanálise, realizada com a finalidade de avaliar o
risco de neoplasias em pacientes com AR em uso de anti-TNF
na prática clínica (estudos observacionais prospectivos), a estimativa para o risco de tumores em todos os sítios foi de 0,95
(95% IC 0,85–1,05).99 Em pacientes com diagnóstico prévio
de neoplasias houve maior risco de recorrência do tumor ou
novos diagnósticos de neoplasias. Esse risco não foi aumentado pela exposição aos anti-TNF. Resultados de outros quatro
estudos sugeriram que pacientes tratados com anti-TNF teriam
um risco significativamente maior de desenvolver câncer de
pele não melanoma (1,45, 95% IC 1,15–1,76). Além disso, os
pacientes apresentam maior risco de desenvolver melanoma,
e a estimativa agrupada foi de 1,79 (95% IC 0,92–2,67). A
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
estimativa agrupada para o risco de linfoma foi de 1,11 (95%
IC 0,70–1,51). Essa revisão sistemática demonstrou que o uso
de tratamentos anti-TNF não aumenta o risco de neoplasias,
particularmente de linfoma. Contudo, essa classe de drogas
parece aumentar o risco de câncer de pele, incluindo melanoma.
Utilizando dados do ARTIS, Registro Sueco de Câncer e
coortes de AR preexistentes e correlações com outros registros nacionais e censos de saúde, foi montada uma coorte de
AR nacional sueca (n = 67.743) e de pacientes que iniciaram
a terapia anti-TNF entre 1998 e julho de 2006 (n = 6.604).
Também foi montado um comparativo da população em geral
(n = 471.024), e a incidência de linfomas de 1999 a 2006 foi
avaliada e comparada nesses indivíduos. Entre os 6.604 pacientes com AR tratados com anti-TNF, 26 linfomas malignos
foram observados em 26.981 pessoas/ano de acompanhamento,
o que correspondia a um RR de 1,35 (95% IC 0,82–2,11) versus
pacientes com AR virgens de anti-TNF (336 linfomas durante
365.026 pessoas/ano) e 2,72 (95% IC 1,82–4,08) versus o valor
de referência da população em geral (1.568 linfomas durante
3.355.849 pessoas/ano). Pacientes com AR que iniciaram a
terapia anti-TNF entre 1998–2001 foram responsáveis por todo
o aumento no risco de linfoma versus os dois comparadores.
Por outro lado, o RR não variou significativamente em relação ao tempo desde o início do primeiro tratamento ou com a
duração acumulada de tratamento, nem com o tipo de agente
anti-TNF. Em conclusão, quando são tomados os devidos
cuidados na seleção dos pacientes, os agentes anti-TNF não
estão associados a qualquer aumento da ocorrência de linfoma, que já é mais elevada em pacientes com AR. Alterações
na seleção de pacientes para tratamento podem influenciar o
risco observado.100
Os dados sobre o papel de outras DMCD biológicas, além
dos anti-TNF, na ocorrência de neoplasias em pacientes com
AR são mais escassos.
Com relação ao abatacepte (ABT), a fim de obter informações sobre a ocorrência de neoplasias em pacientes com
AR em tratamento com essa droga, dados do programa de
desenvolvimento clínico da medicação foram comparados
com dados de outros pacientes com AR e da população em
geral. Foram incluídos no estudo um total de 4.134 pacientes
com AR tratados com ABT (sete diferentes estudos) e 41.529
pacientes com AR tratados com DMCD sintéticas em cinco
coortes observacionais. Nos pacientes tratados com ABT,
os 51 casos de neoplasias (excluindo-se câncer de pele não
melanoma), incluindo sete casos de câncer de mama, dois
casos de câncer colorretal, 13 casos de câncer de pulmão
e cinco casos de linfoma observados não foram superiores
ao encontrado nas cinco coortes observacionais. A razão de
489
Pereira et al.
incidência estimada, comparando os pacientes com AR com
a população geral foi consistente com o relatado na literatura.
Em conclusão, a taxa de incidência total de neoplasias (câncer
de mama, colorretal, pulmonar e linfoma) nos programas de
desenvolvimento clínico do ABT foi consistente com a da
população com AR que não fez uso dessa droga, embora os
dados mereçam monitoramento.101
Para determinar as condições de segurança na vida real para
o tratamento com rituximabe (RTX) em pacientes com AR,
com relação à ocorrência de neoplasias, realizou-se análise dos
dados de segurança de uma coorte de pacientes com AR que
receberam ao menos um curso de RTX. Os pacientes com AR
e diagnósticos prévios de neoplasias foram acompanhados e
comparados ao grupo de pacientes sem história prévia de câncer. Foram selecionados 186 pacientes com AR. O tempo médio
de acompanhamento foi de 22,3 ± 15 meses, correspondendo
a um seguimento de 346 pacientes/ano de exposição ao RTX.
Entre esses, 24 (12,9%) apresentavam história pregressa de
malignidades. Cinco cânceres foram diagnosticados durante o
acompanhamento, com quatro novas neoplasias (uma próstata,
uma mama, um cólon e um cérvix) e houve uma recorrência de
câncer de mama. A taxa global de neoplasias foi de 1,45/100
pacientes/ano (95% IC 0,19–2,70), comparável às coortes
tratadas com DMCD previamente acompanhadas. Nenhuma
nova neoplasia hematopoiética foi relatada, e seis casos de
linfoma que estavam em remissão antes do tratamento com
RTX assim permaneceram durante o acompanhamento. Dessa
forma, embora com base em um pequeno número de casos de
neoplasia observados, e a despeito do viés de seleção (12,9%
de neoplasias prévias nos pacientes tratados com RXT), esse
estudo observacional sugeriu que o RTX não aumenta o risco
de neoplasias em pacientes com AR.102
Até 70% dos diagnósticos de câncer são feitos por médicos
não oncologistas, o que evidencia a importância desses profissionais no controle da doença. Como a AR é uma condição que
se associa à ocorrência de neoplasias, per si ou pelo tratamento
utilizado para controle da doença, é muito importante que o
reumatologista esteja atento aos sintomas suspeitos. A vigilância constante é a única forma de adequar condutas diagnósticas
e terapêuticas, ressaltando-se que a rapidez no diagnóstico e
no encaminhamento do caso são as únicas formas de garantir
redução da morbimortalidade em decorrência de neoplasias.
Osteoporose
Osteoporose e fraturas são comorbidades comuns em pacientes
portadores de AR e inerentes ao curso natural da doença. O
problema da osteoporose na AR, embora tenha sido estudado
extensamente nos últimos anos, é pouco lembrado em diretrizes
490
clínicas, e seu manejo muitas vezes relegado a um segundo
plano dentro dos cuidados do paciente artrítico. A relevância
desse tema é refletida na alta prevalência dessa comorbidade,
que pode acometer mais da metade dos pacientes portadores
de AR.103 Consequentemente, o risco de fraturas é maior que o
da população em geral. Em estudo retrospectivo com mais de
30.000 pacientes verificou-se que em portadores de AR o risco
de fraturas de quadril e coluna vertebral é aproximadamente o
dobro comparado àquele observado na população em geral, e
quase três vezes maior nos pacientes em uso de corticoide.104
Além disso, quase 20% das pacientes com AR podem apresentar novas fraturas em cinco anos.105
A fisiopatogenia da AR explica o desequilíbrio entre a
produção e reabsorção óssea. A doença exibe uma produção
aumentada de citocinas como IL-1, IL-6, TNF-α e fator transformador de crescimento-beta, que estimulam a inflamação e
são envolvidas na ativação e na diferenciação dos osteoclastos.106
Essas citocinas regulam a expressão de ligante do receptor do
ativador do fator nuclear kappa-β (RANKL) e, consequentemente, de osteoprotegerina (OPG), que são mediadores
fundamentais da remodelação óssea.107 Além do eixo RANKRANKL-OPG, os linfócitos Th17 parecem desempenhar
função importante na reabsorção óssea por meio de produção
seletiva de citocinas pró-inflamatórias. Tem-se demonstrado
em modelos murinos que linfócitos Th17 apresentam efeitos
osteoclastogênicos e aceleram a perda óssea em doenças
inflamatórias.107,108
A AR é um fator de risco independente para fratura óssea.109
Na abordagem dos pacientes com AR, fatores de risco tradicionais devem ser pesquisados, como idade avançada, história
de fratura prévia, corticoterapia, história familiar de fratura
de quadril, baixo peso corporal, tabagismo e etilismo. Outras
condições clínicas que promovem perda de massa óssea devem
também ser documentadas na avaliação clínica, como hipogonadismo, menopausa precoce, doença inflamatória intestinal e
outras. As características próprias de doenças relacionadas à
baixa densidade mineral óssea são HAQ (Health Assessment
Questionnaire) elevado, classe funcional III e IV, doença de
longa duração, altos escores de atividade e provas inflamatórias elevadas e corticoterapia.110 Eles devem ser identificados
e minimizados. Outro fator de risco independente para perda
de massa óssea é o sedentarismo. O início de atividade física
também pode reduzir o risco de osteopenia e a perda de massa
óssea.111–113
Diretrizes nacionais de avaliação, prevenção e tratamento da osteoporose em pacientes portadores de AR são uma
necessidade premente. Na avaliação inicial, a densitometria
óssea deve ser indicada para todos os pacientes acima de 50 anos.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com artrite reumatoide
A densidade mineral óssea também deve ser avaliada nas
pacientes abaixo dos 50 anos com fator de risco adicional,
como história de fratura e corticoterapia (dose ≥ 7,5 mg de
prednisona/dia por mais que três meses).113 Em pacientes com
osteoporose estabelecida é aconselhável solicitar fosfatase
alcalina, TSH e eletroforese de proteínas, além de avaliar os
níveis séricos de vitamina D. Quanto ao manejo não farmacológico, algumas medidas devem ser tomadas para todos os
pacientes, como orientar exercícios com impacto, evitar quedas,
cessar tabagismo, aumentar a exposição solar e evitar ingestão abusiva de álcool. Atenção especial deve ser despendida
para pacientes em corticoterapia, além da indicação de cálcio
1.200–1.500 mg/dia, bem como de suplementação de vitamina D.114 Quanto ao manejo farmacológico, o tratamento com
bisfosfonato preferencialmente deve ser indicado para todos
os pacientes com escore T < –2,5 na densitometria óssea, e
para aqueles com escores < –1,0, desde que estejam em uso
de corticoide.113,114
RECOMENDAÇÕES DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE REUMATOLOGIA PARA O MANEJO DE
COMORBIDADES EM PACIENTES COM
DIAGNÓSTICO DE ARTRITE REUMATOIDE
Com base nas considerações anteriores, os especialistas
membros da Comissão de Artrite Reumatoide da SBR fazem
as recomendações resumidas na Tabela 1 para o manejo de
comorbidades em pacientes com diagnóstico de AR.
Tabela 1
Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o manejo de comorbidades em pacientes com diagnóstico de
artrite reumatoide
Recomendação 1: Diagnosticar e tratar precoce e adequadamente comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia,
síndrome metabólica e aterosclerose é de grande importância no manejo de pacientes com artrite reumatoide, pois reduz a morbimortalidade relacionada
à doença e melhora a qualidade de vida do paciente.
Recomendação 2: O tratamento específico da artrite reumatoide deve ser adaptado à presença de comorbidades, utilizando, se possível, drogas que não
determinem descontrole das comorbidades.
Recomendação 3: Devido aos efeitos benéficos em nível endotelial, e por interferirem menos no metabolismo dos carboidratos e causarem menos
dislipidemia, inibidores da enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores dos receptores de angiotensina II são preferidos como terapia inicial no
tratamento da hipertensão arterial sistêmica em pacientes com artrite reumatoide, em vez de betabloqueadores e diuréticos. No tratamento concomitante
de pacientes com artrite reumatoide e hipertesão arterial sistêmica deve-se, se possível, evitar o uso em conjunto de forma contínua de anti-inflamatórios
e/ou dose alta de glicocorticoide.
Recomendação 4: Em pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide e diabetes mellitus deve-se evitar o uso contínuo de alta dose cumulativa de
corticoides. Estratégias para um controle efetivo da inflamação sistêmica da artrite reumatoide devem ser implementadas, pois isso parece auxiliar no
controle do diabetes mellitus.
Recomendação 5: A ocorrência de dislipidemia na artrite reumatoide ocasiona maior risco de morbimortalidade cardiovascular. O tratamento deve ser
precoce e adequado. Sugere-se o uso de estatinas para manter níveis de LDL menor que 100 mg/dL e índice aterosclerótico menor que 3,5 na população
de pacientes com artrite reumatoide que apresentam outras comorbidades que aumentem ainda mais o risco de evento cardiovascular (como hipertensão
arterial sistêmica, diabetes mellitus e/ou dislipidemia), e naqueles que apresentam evidência de doença aterosclerótica subclínica como a presença de
placas de ateroma nas carótidas.
Recomendação 6: A presença de síndrome metabólica em população sem artrite reumatoide está associada a maior chance de evento cardiovascular e
maior mortalidade em geral. Todos os componentes dessa condição, incluindo obesidade centralmente distribuída, níveis reduzidos de HDL colesterol,
níveis elevados de triglicerídeos, aumento da pressão arterial e hiperglicemia, devem ser adequadamente tratados.
Recomendação 7: Considerando a alta prevalência da aterosclerose na artrite reumatoide, e seu curso acelerado e silencioso, recomenda-se a realização
de exames não invasivos para a investigação de aterosclerose subclínica em pacientes que apresentem artrite reumatoide e comorbidades. A realização de
ultrassom de artérias carótidas em pacientes com artrite reumatoide e mais de 50 anos é sugerida, para mensuração da espessura da camada intimomedial
e a pesquisa de placas de ateroma.
Recomendação 8: Recomenda-se ao reumatologista maior vigilância de sinais e sintomas que possam alertar para um diagnóstico precoce de neoplasia
oculta em pacientes com artrite reumatoide, considerando a maior prevalência de neoplasias sólidas e linfoma.
Recomendação 9: Medidas de prevenção farmacológicas e não farmacológicas, como o uso de heparina não fracionada ou de baixo peso molecular,
devem ser consideradas em pacientes com artrite reumatoide que estejam internados, já que complicações tromboembólicas são mais frequentes nesse
grupo de pacientes.
Recomendação 10: Recomenda-se a realização de densitometria óssea em pacientes com artrite reumatoide acima de 50 anos, e naqueles com idade
menor que estejam em terapia com corticoide em dose maior que 7,5 mg por mais de três meses.
Recomendação 11: Pacientes com artrite reumatoide e osteoporose devem ser orientados quanto a medidas para evitar quedas; devem ser aconselhados
a aumentarem a ingestão de cálcio na dieta, aumentarem a exposição solar e fazerem atividade física.
Recomendação 12: Suplementação de cálcio e vitamina D é sugerida aos pacientes com artrite reumatoide que estejam em uso de corticoide por mais
de três meses, ou que apresentem outros fatores de risco para fraturas concomitantes à artrite reumatoide. A utilização de bisfosfonatos é sugerida para
pacientes com escore T < –2,5 na DMO, ou < –1,0 na presença de outros fatores de risco para osteoporose.
Recomendação 13: Recomenda-se uma equipe multidisciplinar, com a participação ativa do médico reumatologista, no tratamento das comorbidades de
difícil controle em pacientes com artrite reumatoide.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
491
Pereira et al.
CONCLUSÕES
Recomendações para diagnosticar e tratar precoce e adequadamente a AR têm sido preconizadas em nossos consensos
e são fundamentais para melhora nos desfechos clínicos da
AR.115,116 Da mesma forma, o entendimento e o manejo das
comorbidades como osteoporose, HAS, DM, dislipidemia,
SM e aterosclerose são de grande importância, pois reduzem
a morbimortalidade relacionada à doença e melhoram a qualidade de vida do paciente. Estar atento a sinais e sintomas
que possam sugerir a presença de neoplasia em fase inicial
é importante para o melhor prognóstico dessa comorbidade.
Medidas farmacológicas e não farmacológicas de prevenção
de trombose venosa devem ser lembradas nos pacientes com
AR, considerando o risco aumentado dessa complicação.
O acompanhamento multidisciplinar dos pacientes com AR que
tenham comorbidades de difícil controle é sugerido, já que isso pode
determinar melhor resposta clínica dessas patologias associadas.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
McInnes IB, O’Dell JR. State-of-the-art: rheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis 2010; 69(11):1898–906. [Erratum in: Ann Rheum Dis
2011; 70(2):399]
2. McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. N
Engl J Med 2011; 365(23):2205–19.
3. Allaart CF, Huizinga TW. Treatment strategies in recent onset
rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2011; 23(3):241–4.
4. Symmons DP. Rheumatoid arthritis: assessing disease activity and
outcome. Clin Med 2010; 10(3):248–51.
5. Gonzalez A, Maradit Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ,
Davis JM 3rd, Therneau TM et al.. The widening mortality gap
between rheumatoid arthritis patients and the general population.
Arthritis Rheum 2007; 56(11):3583–7.
6. Hemminki K, Li X, Sundquist J, Sundquist K. Familial associations
of rheumatoid arthritis with autoimmune diseases and related
conditions. Arthritis Rheum 2009; 60(3):661–8.
7. Michou L, Rat AC, Lasbleiz S, Bardin T, Cornélis F. Prevalence
and distribution of autoimmune diseases in 368 rheumatoid arthritis
families. J Rheumatol 2008; 35(5):790–6.
8. Michaud K, Wolfe F. Comorbidities in rheumatoid arthritis. Best
Pract Res Clin Rheumatol 2007; 21(5):885–906.
9. Crowson CS, Myasoedova E, Davis JM 3rd, Matteson EL, Roger VL,
Therneau TM et al. Increased Prevalence of metabolic syndrome
associated with rheumatoid arthritis in patients without clinical
cardiovascular disease. J Rheumatol 2011; 38(1):29–35.
10. Chung CP, Oeser A, Solus JF, Avalos I, Gebretsadik T, Shintani A
et al. Prevalence of the metabolic syndrome is increased in
rheumatoid arthritis and is associated with coronary atherosclerosis.
Atherosclerosis 2008; 196(2):756–63.
11. Steiner G, Urowitz MB. Lipid profiles in patients with rheumatoid
arthritis: mechanisms and the impact of treatment. Semin Arthritis
Rheum 2009; 38(5):372–81.
492
12. Solomon DH, Love TJ, Canning C, Schneeweiss S. Risk of diabetes
among patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and
psoriasis. Ann Rheum Dis 2010; 69(12):2114–7.
13. van Halm VP, Peters MJ, Voskuyl AE, Boers M, Lems WF,
Visser M et al. Rheumatoid arthritis versus diabetes as a risk factor
for cardiovascular disease: a cross-sectional study, the CARRE
Investigation. Ann Rheum Dis 2009; 68(9):1395–400.
14. Panoulas VF, Douglas KM, Milionis HJ, Stavropoulos-Kalinglou A,
Nightingale P, Kita MD et al. Prevalence and associations of
hypertension and its control in patients with rheumatoid arthritis.
Rheumatology (Oxford) 2007; 46(9):1477–82.
15. Kitas GD, Gabriel SE. Cardiovascular disease in rheumatoid
arthritis: state of the art and future perspectives. Ann Rheum Dis
2011; 70(1):8–14.
16. Gonzalez A, Maradit Kremers H, Crowson CS, Ballman KV, Roger VL,
Jacobsen SJ et al. Do cardiovascular risk factors confer the same risk
for cardiovascular outcomes in rheumatoid arthritis patients as in nonrheumatoid arthritis patients? Ann Rheum Dis 2008; 67(1):64–9.
17. Panoulas VF, Douglas KM, Stavropoulos-Kalinoglou A, Metsios GS,
Nightingale P, Kita MD et al. Long-term exposure to medium-dose
glucocorticoid therapy associates with hypertension in patients with
rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2008; 47(1):72–5.
18. Alcorn N, Saunders S, Madhok R. Benefit-risk assessment of
leflunomide: an appraisal of leflunomide in rheumatoid arthritis 10
years after licensing. Drug Saf 2009; 32(12):1123–34.
19. Robert N, Wong GW, Wright JM. Effect of cyclosporine on blood
pressure. Cochrane Database Syst Rev 2010; (1):CD007893.
20. Atzeni F, Turiel M, Caporali R, Cavagna L, Tomasoni L, Sitia S
et al. The effect of pharmacological therapy on the cardiovascular
system of patients with systemic rheumatic diseases. Autoimmunity
Rev 2010; 9(12):835–9.
21. White WB. Defining the problem of treating the patient with
hypertension and arthritis pain. Am J Med 2009; 122(5 Suppl):S3–9.
22. Peters MJ, Symmons DP, McCarey D, Dijkmans BA, Nicola P,
Kvien TK et al. EULAR evidence-based recommendations for
cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis
and other forms of inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2010;
69(2):325–31.
23. Solomon DH, Massarotti E, Garg R, Liu J, Canning C, Schneeweiss S.
Association between disease-modifying antirheumatic drugs and
diabetes risk in patients with rheumatoid arthritis and psoriasis.
JAMA 2011; 305(24):2525–31.
24. Tentolouris N, Arapostathi C, Voulgari C, Grammatikou S,
Andrianakos A, Sfikakis PP. The effect of diabetes mellitus on the
prevalence of rheumatoid arthritis: a case-control study. Diabet Med
2008; 25(8):1010–1.
25. Han C, Robinson DW Jr., Hackett MV, Paramore LC, Fraeman KH,
Bala MV. Cardiovascular disease and risk factors in patients with
rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis.
J Rheumatol 2006; 33(11):2167–72.
26. Hoes JN, van der Goes MC, van Raalte DH, van der Zijl NJ,
den Uyl D, Lems WF et al. Glucose tolerance, insulin sensitivity
and β-cell function in patients with rheumatoid arthritis treated with
or without low-to-medium dose glucocorticoids. Ann Rheum Dis
2011; 70(11):1887–94.
27. Wasko MC, Kay J, Hsia EC, Rahman MU. Diabetes mellitus and insulin
resistance in patients with rheumatoid arthritis: risk reduction in a chronic
inflammatory disease. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011; 63(4):512–21.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com artrite reumatoide
28. Antohe JL, Bili A, Sartorius JA, Lester Kirchner H, Morris SJ,
Dancea S et al. Diabetes risk in rheumatoid arthritis: Reduced
incidence with anti-tumor necrosis factor- α therapy. Arthritis Care
Res (Hoboken) 2012; 64(2):215–21.
29. Bili A, Sartorius JA, Kirchner HL, Morris SJ, Ledwich LJ, Antohe JL
et al. Hydroxychloroquine use and decreased risk of diabetes in
rheumatoid arthritis patients. J Clin Rheumatol 2011; 17(3):115–20.
30. Liao KP, Gunnarsson M, Källberg H, Ding B, Plenge RM,
Padyukov L et al. Specific association of type 1 diabetes mellitus
with anti-cyclic citrullinated peptide-positive rheumatoid arthritis.
Arthritis Rheum 2009; 60(3):653–60.
31. Choy E, Sattar N. Interpreting lipid levels in the context of highgrade inflammatory states with a focus on rheumatoid arthritis: a
challenge to conventional cardiovascular risk actions. Ann Rheum
Dis 2009; 68(4):460–9.
32. White D, Fayez S, Doube A. Atherogenic lipid profiles in rheumatoid
arthritis. N Z Med J 2006; 119(1240):U2125.
33. Nurmohamed MT. Atherogenic lipid profiles and its management in
patients with rheumatoid arthritis. Vasc Health Risk Manag 2007;
3(6):845–52.
34. Myasoedova E, Crowson CS, Kremers HM, Fitz-Gibbon PD,
Therneau TM, Gabriel SE. Total cholesterol and LDL levels decrease
before rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2010; 69(7):1310–4.
35. Ghosh UC, Roy A, Sen K, Kundu AK, Saha I, Biswas A.
Dyslipidaemia in rheumatoid arthritis in a tertiary care centre in
Eastern India – a non-randomised trial. J Indian Med Assoc 2009;
107(7):427–30.
36. Garciaa-Gómez C, Nolla JM, Valverde J, Gómez-Gerique JA,
Castro MJ, Pintó X. Conventional lipid profile and lipoprotein(a)
concentrations in treated patients with rheumatoid arthritis. J
Rheumatol 2009; 36(7):1365–70.
37. Steiner G, Urowitz MB. Lipid profiles in patients with rheumatoid
arthritis: mechanisms and the impact of treatment. Semin Arthritis
Rheum 2009; 38(5):372–81.
38. Georgiadis AN, Papavasiliou EC, Lourida ES, Alamanos Y, Kostara C,
Tselepis AD et al. Atherogenic lipid profile is a feature characteristic
of patients with early rheumatoid arthritis: effect of early treatment –
a prospective, controlled study. Arthritis Res Ther 2006; 8(3):R82.
39. Svenson KL, Lithell H, Hallgren R, Vessby B. Serum lipoprotein
in active rheumatoid arthritis and other chronic inflammatory
arthritides. II. Effects of anti-inflammatory and disease-modifying
drug treatment. Arch Intern Med 1987; 147(11):1917–20.
40. Raynauld JP. Cardiovascular mortality in rheumatoid arthritis: how
harmful are corticosteroids? J Rheumatol 1997; 24(3):415–6.
41. Wallace DJ, Metzger AL, Stecher VJ, Turnbull BA, Kern PA.
Cholesterol-lowering effect of hydroxychloroquine in patients with
rheumatic disease: reversal of deleterious effects of steroids on lipids.
Am J Med 1990; 89(3):322–6.
42. van Halm VP, Nielen MM, Nurmohamed MT, van Schaardenburg D,
Reesink HW, Voskuyl AE et al. Lipids and inflammation: serial
measurements of the lipid profile of blood donors who later
developed rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2007; 66(2):184–8.
43. Singh JA, Beg S, Lopez-Olivo MA. Tocilizumab for rheumatoid
arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews. J Rheumatol
2011; 38(1):10–20.
44. Storage SS, Agrawal H, Furst DE. Description of the efficacy and
safety of three new biologics in the treatment of rheumatoid arthritis.
Korean J Intern Med 2010; 25(1):1–17.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
45. Pollono EN, Lopez-Olivo MA, Lopez JA, Suarez-Almazor ME. A
systematic review of the effect of TNF-alpha antagonists on lipid
profiles in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2010;
29(9):947–55.
46. McCarey DW, McInnes IB, Madhok R, Hampson R, Scherbakov O,
Ford I et al. Trial of Atorvastatin in Rheumatoid Arthritis (TARA):
double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;
363(9426):2015–21.
47. Peters MJ, Nurmohamed MT, Kitas GD, Sattar N. Statin
treatment of rheumatoid arthritis: comment on the editorial
by Ridker and Solomon. Arthritis Rheum 2010; 62(1):302–3.
47 Chatterjee Adhikari M, Guin A, Chakraborty S, Sinhamahapatra P,
Ghosh A. Subclinical atherosclerosis and endothelial dysfunction in
patients with early rheumatoid arthritis as evidenced by measurement
of carotid intima-media thickness and flow-mediated vasodilatation:
an observational study. Semin Arthritis Rheum 2012 41(5):669–75.
48. González-Juanatey C, Llorca J, González-Gay MA. Correlation
between endothelial function and carotid atherosclerosis in
rheumatoid arthritis patients with long-standing disease. Arthritis
Res Ther 2011; 13(3):R101.
49. Pereira IA, Laurindo IM, Zimmermann AF, Werner Castro GR,
Mello F, Borba EF. Single measurements of C-reactive protein and
disease activity scores are not predictors of carotid atherosclerosis in
rheumatoid arthritis patients. Acta Reumatol Port 2009; 34(1):58–64.
50. Chung CP, Oeser A, Raggi P, Gebretsadik T, Shintani AK, Sokka T
et al. Increased coronary-artery atherosclerosis in rheumatoid
arthritis: relationship to disease duration and cardiovascular risk
factors. Arthritis Rheum 2005; 52(10):3045–53.
51. Maradit-Kremers H, Crowson CS, Nicola PJ, Ballman KV,
Roger VL, Jacobsen SJ et al. Increased unrecognized coronary heart
disease and sudden deaths in rheumatoid arthritis: a population-based
cohort study. Arthritis Rheum 2005; 52(2):402–11.
52. Nicola PJ, Maradit-Kremers H, Roger VL, Jacobsen SJ, Crowson CS,
Ballman KVet al. The risk of congestive heart failure in rheumatoid
arthritis: a population-based study over 46 years. Arthritis Rheum
2005; 52(2):412–20.
53. Westlake SL, Colebatch AN, Baird J, Kiely P, Quinn M, Choy E et al.
The effect of methotrexate on cardiovascular disease in patients with
rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Rheumatology
(Oxford) 2010; 49(2):295–307.
54. Westlake SL, Colebatch AN, Baird J, Curzen N, Kiely P, Quinn M
et al. Tumour necrosis factor antagonists and the risk of cardiovascular
disease in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature
review. Rheumatology (Oxford) 2011; 50(3):518–31.
55. Barnabe C, Martin BJ, Ghali WA. Systematic review and meta-analysis:
anti-tumor necrosis factor α therapy and cardiovascular events in
rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2011; 63(4):522–9.
56. Gislason GH, Rasmussen JN, Abildstrom SZ, Schramm TK,
Hansen ML, Fosbøl EL et al. Increased mortality and cardiovascular
morbidity associated with use of nonsteroidal anti-inflammatory
drugs in chronic heart failure. Arch Intern Med 2009; 169(2):141–9.
57. Solomon DH, Glynn RJ, Rothman KJ, Schneeweiss S, Setoguchi S,
Mogun H et al. Subgroup analyses to determine cardiovascular risk
associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and coxibs
in specific patient groups. Arthritis Rheum 2008; 59(8):1097–104.
58. Söderlin M, Petersson I, Bergman S, Svensson B; BARFOT study group.
Smoking at onset of rheumatoid arthritis (RA) and its effect on disease
activity and functional status: experiences from BARFOT, a long-term
observational study on early RA. Scand J Rheumatol 2011; 40(4):249–55.
493
Pereira et al.
59. Saevarsdottir S, Wedrén S, Seddighzadeh M, Bengtsson C, Wesley A,
Lindblad S et al. Patients with early rheumatoid arthritis who smoke
are less likely to respond to treatment with methotrexate and tumor
necrosis factor inhibitors: observations from the Epidemiological
Investigation of Rheumatoid Arthritis and the Swedish Rheumatology
Register cohorts. Arthritis Rheum 2011; 63(1):26–36.
60. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome – a new worldwide definition. A Consensus Statement from the International
Diabetes Federation. Diabet Med 2006; 23(5):469–80.
61. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation,
And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult
Treatment Panel III) JAMA 2001; 285(19):2846–97.
62. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH,
Franklin BA et al. Diagnosis and management of the metabolic
syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung,
and Blood Institute Scientific Statement. [Executive summary].
Circulation 2005; 112(17):e285–e290.
63. Santos MJ, Fonseca JE. Metabolic syndrome, inflammation and
atherosclerosis – the role of adipokines in health and in systemic
inflammatory rheumatic diseases. Acta Reumatol Port 2009;
34(4):590–8.
64. Chung CP, Oeser A, Solus JF, Avalos I, Gebretsadik T,
Shintani A et al. Prevalence of the metabolic syndrome is
increased in rheumatoid arthritis and is associated with coronary
atherosclerosis.Atherosclerosis 2008; 196(2):756–63.
65. Sidiropoulos PI, Karvounaris SA, Boumpas DT. Metabolic syndrome
in rheumatic diseases: epidemiology, pathophysiology, and clinical
implications. Arthritis Res Ther 2008; 10(3):207.
66. Pereira RM, de Carvalho JF, Bonfa E. Metabolic syndrome in
rheumatological diseases. Autoimmun Rev 2009; 8(5):415–9.
67. da Cunha V, Brenol C, Brenol J, Fuchs S, Arlindo E, Melo I et al.
Metabolic syndrome prevalence is increased in rheumatoid arthritis
patients and is associated with disease activity. Scand J Rheumatol
2012; 41(3):186–91.
68. Karvounaris SA, Sidiropoulos PI, Papadakis JA, Spanakis EK,
Bertsias GK, Kritikos HD et al. Metabolic syndrome is common
among middle-to-older aged Mediterranean patients with rheumatoid
arthritis and correlates with disease activity: a retrospective, crosssectional, controlled, study. Ann Rheum Dis 2007; 66(1):28–33.
69. Dessein PH, Tobias M, Veller MG. Metabolic syndrome and
subclinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis. J Rheumatol
2006; 33(12):2425–32.
70. La Montagna G, Cacciapuoti F, Buono R, Manzella D, Mennillo GA,
Arciello A et al. Insulin resistance is an independent risk factor for
atherosclerosis in rheumatoid arthritis. Diab Vasc Dis Res 2007;
4(2):130–5.
71. Mottillo S, Filion KB, Genest J, Joseph L, Pilote L, Poirier P et al.
The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review
and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 56(14):1113–32.
72. da Cunha VR, Brenol CV, Brenol JC, Xavier RM. Rheumatoid
arthritis and metabolic syndrome. Rev Bras Reumatol 2011;
51(3):260–8.
73. Toms TE, Panoulas VF, John H, Douglas KM, Kitas GD.
Methotrexate therapy associates with reduced prevalence of the
metabolic syndrome in rheumatoid arthritis patients over the age of
60 – more than just an anti-inflammatory effect? A cross sectional
study. Arthritis Res Ther 2009; 11(4):R110.
494
74. Bacani AK, Gabriel SE, Crowson CS, Heit JA, Matteson EL.
Noncardiac vascular disease in rheumatoid arthritis: increase in
venous thromboembolic events? Arthritis Rheum 2012; 64(1):53–61.
75. Matta F, Singala R, Yaekoub AY, Najjar R, Stein PD. Risk of venous
thromboembolism with rheumatoid arthritis. Thromb Haemost 2009;
101(1):134–8.
76. Aksu K, Donmez A, Keser G. Inflammation-induced thrombosis:
mechanisms, disease associations and management. Curr Pharm
Des 2012; 18(11):1478–93.
77. Undas A, Gissel M, Kwasny-Krochin B, Gluszko P, Mann KG,
Brummel-Ziedins KE. Thrombin generation in rheumatoid arthritis:
dependence on plasma factor composition. Thromb Haemost 2010;
104(2):224–30.
78. Bisoendial RJ, Levi M, Tak PP, Stroes ES. The prothrombotic
state in rheumatoid arthritis: an additive risk factor for adverse
cardiovascular events. Semin Thromb Hemost 2010; 36(4):452–7.
79. Mameli A, Barcellona D, Marongiu F. Rheumatoid arthritis and
thrombosis. Clin Exp Rheumatol 2009; 27(5):846–55.
80. Liang KP, Liang KV, Matteson EL, McClelland RL, Christianson TJ,
Turesson C. Incidence of noncardiac vascular diseasein rheumatoid
arthritis and relationship to extraarticular disease manifestations.
Arthritis Rheum 2006; 54(2):642–8.
81. Davies R, Galloway JB, Watson KD, Lunt M, Symmons DP,
Hyrich KL; BSRBR Control Centre Consortium, British Society for
Rheumatology Biologics Register. Venous thrombotic events are not
increased in patients with rheumatoid arthritis treated with anti-TNF
therapy: results from the British Society for Rheumatology Biologics
Register. Ann Rheum Dis 2011; 70(10):1831–4.
82. Smitten AL, Simon TA, Hochberg MC, Suissa S. A meta-analysis
of the incidence of malignancy in adult patients with rheumatoid
arthritis. Arthritis Res Ther 2008; 10(2):R45.
83. Zintzaras E, Voulgarelis M, Moutsopoulos HM. The risk of
lymphoma development in autoimmune diseases: a meta-analysis.
Arch Intern Med 2005; 165(20):2337–44.
84. Hemminki K, Li X, Sundquist K, Sundquist J. Cancer risk in
hospitalized rheumatoid arthritis patients. Rheumatology (Oxford)
2008; 47(5):698–701.
85. Kim YJ, Shim JS, Choi CB, Bae SC. Mortality and incidence of
malignancy in Korean patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol
2012; 39(2):226–32.
86. Bongartz T, Sutton AJ, Sweeting MJ, Buchan I, Matteson EL,
Montori V. Anti-TNF antibody therapy in rheumatoid arthritis and
the risk of serious infections and malignancies: systematic review
and meta-analysis of rare harmful effects in randomized controlled
trials. JAMA 2006; 295(19):2275–85.
87. Thompson AE, Rieder SW, Pope JE. Tumor necrosis factor therapy
and the risk of serious infection and malignancy in patients with
early rheumatoid arthritis: a meta-analysis of randomized controlled
trials. Arthritis Rheum 2011; 63(6):1479–85.
88. Askling J. The risk of malignancies in RA patients treated with
biologics. Z Rheumatol 2010; 69(9):774–9.
89. Thomas E, Symmons DP, Brewster DH, Black RJ, Macfarlane GJ.
National study of cause-specific mortality in rheumatoid arthritis,
juvenile chronic arthritis, and other rheumatic conditions: a 20 year
followup study. J Rheumatol 2003; 30(5):958–65.
90. Hemminki K, Liu X, Ji J, Sundquist J, Sundquist K. Autoimmune
disease and subsequent digestive tract cancer by histology. Ann
Oncol 2012; 23(4)927–33.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o manejo de comorbidades em pacientes com artrite reumatoide
91. Hellgren K, Smedby KE, Feltelius N, Baecklund E, Askling J. Do
rheumatoid arthritis and lymphoma share risk factors? A comparison
of lymphoma and cancer risks before and after diagnosis of
rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2010; 62(5):1252–8.
92. Miranda-Duarte A, Kraus-Weisman A, Granados J, Vill AR.
Human leukocyte antigens class II genes are associated with cancer
development in the autoimmune rheumatic diseases. Rev Invest
Clin 2011; 63(3):236–43.
93. Strangfeld A, Hierse F, Rau R, Burmester GR, Krummel-Lorenz B,
Demary W et al. Risk of incident or recurrent malignancies among
patients with rheumatoid arthritis exposed to biologic therapy in
the German biologics register RABBIT. Arthritis Res Ther 2010;
12(1):R5.
94. Leombruno JP, Einarson TR, Keystone EC. The safety of antitumour necrosis factor treatments in rheumatoid arthritis: meta and
exposure-adjusted pooled analyses of serious adverse events. Ann
Rheum Dis 2009; 68(7):1136–45.
95. Bongartz T, Warren FC, Mines D, Matteson EL, Abrams KR,
Sutton AJ. Etanercept therapy in rheumatoid arthritis and the risk
of malignancies: a systematic review and individual patient data
meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Rheum Dis
2009; 68(7):1177–83.
96. Askling J, van Vollenhoven RF, Granath F, Raaschou P, Fored CM,
Baecklund E et al. Cancer risk in patients with rheumatoid arthritis
treated with anti-tumor necrosis factor alpha therapies: does the
risk change with the time since start of treatment? Arthritis Rheum
2009; 60(11):3180–9.
97. Dixon WG, Watson KD, Lunt M, Mercer LK, Hyrich KL,
Symmons DP et al. Influence of anti-tumor necrosis factor
therapy on cancer incidence in patients with rheumatoid arthritis
who have had a prior malignancy: results from the British
Society for Rheumatology Biologics Register. Arthritis Care
Res (Hoboken). 2010; 62(6):755–63. [Erratum in: Arthritis Care
Res (Hoboken) 2010; 62(10):1514.]
98. Wong AK, Kerkoutian S, Said J, Rashidi H, Pullarkat ST. Risk of
lymphoma in patients receiving antitumor necrosis factor therapy:
a meta-analysis of published randomized controlled studies. Clin
Rheumatol 2012; 31(4):631–6.
99. Mariette X, Matucci-Cerinic M, Pavelka K, Taylor P,
van Vollenhoven R, Heatley R et al. Malignancies associated with
tumour necrosis factor inhibitors in registries and prospective
observational studies: a systematic review and meta-analysis. Ann
Rheum Dis 2011; 70(11):1895–904.
100. Askling J, Baecklund E, Granath F, Geborek P, Fored M, Backlin C
et al. Anti-tumour necrosis factor therapy in rheumatoid arthritis and
risk of malignant lymphomas: relative risks and time trends in the
Swedish Biologics Register. Ann Rheum Dis 2009; 68(5):648–53.
101. Simon TA, Smitten AL, Franklin J, Askling J, Lacaille D, Wolfe F
et al. Malignancies in the rheumatoid arthritis abatacept clinical
development programme: an epidemiological assessment. Ann
Rheum Dis 2009; 68(12):1819–26.
102. Slimani S, Lukas C, Combe B, Morel J. Rituximab in rheumatoid
arthritis and the risk of malignancies: report from a French cohort.
Joint Bone Spine 2011; 78(5):484–7.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):474-495
103. Forsblad D’Elia H, Larsen A, Waltbrand E, Kvist G, Mellström D,
Saxne T et al. Radiographic joint destruction in postmenopausal
rheumatoid arthritis is strongly associated with generalized
osteoporosis. Ann Rheum Dis 2003; 62(7):617–23.
104. van Staa TP, Geusens P, Bijlsma JW, Leufkens HG, Cooper C.
Clinical assessment of the long-term risk of fracture in patients
with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006; 54(10):3104–12.
105. Vis M, Haavardsholm EA, Bøyesen P, Haugeberg G, Uhlig T,
Hoff M et al. High incidence of vertebral and non-vertebral
fractures in the OSTRA cohort study: a 5-year follow-up study in
postmenopausal women with rheumatoid arthritis. Osteoporos Int
2011; 22(9):2413–9.
106. Edwards CJ, Williams E. The role of interleukin-6 in rheumatoid
arthritis-associated osteoporosis. Osteoporos Int 2010; 21(8):1287–93.
107. Daoussis D, Andonopoulos AP, Liossis SN. Wnt pathway and IL-17:
novel regulators of joint remodeling in rheumatic diseases. Looking
beyond the RANK-RANKL-OPG axis. Semin Arthritis Rheum
2010; 39(5):369–83.
108. Yuan FL, Li X, Lu WG, Zhao YQ, Li CW, Li JP et al. Type 17 T-helper
cells might be a promising therapeutic target for osteoporosis. Mol
Biol Rep 2012; 39(1):771–4.
109. Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O,
Jonsson B et al. Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 2005;
16(6):581–9.
110. Broy SB, Tanner SB; FRAX® Position Development Conference
Members. Official Positions for FRAX® clinical regarding
rheumatoid arthritis from Joint Official Positions Development
Conference of the International Society for Clinical Densitometry
and International Osteoporosis Foundation on FRAX®. J Clin
Densitom 2011; 14(3):184–9.
111. Tourinho TF, Capp E, Brenol JC, Stein A. Physical activity prevents
bone loss in premenopausal women with rheumatoid arthritis: a
cohort study. Rheumatol Int 2008; 28(10):1001–7.
112. de Jong Z, Munneke M, Lems WF, Zwinderman AH, Kroon HM,
Pauwels EK et al. Slowing of bone loss in patients with rheumatoid
arthritis by long-term high-intensity exercise: results of a randomized,
controlled trial. Arthritis Rheum 2004; 50(4):1066–76.
113. Papaioannou A, Morin S, Cheung AM, Atkinson S, Brown JP,
Feldman S et al.; Scientific Advisory Council of Osteoporosis
Canada. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and
management of osteoporosis in Canada: summary. CMAJ 2010;
182(17):1864–73.
114. Grossman JM, Gordon R, Ranganath VK, Deal C, Caplan L, Chen W
et al. American College of Rheumatology 2010 recommendations for
the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis.
Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62(11):1515–26.
115. Mota LMH, Cruz BA, Brenol CV, Pereira IA, Fronza LS, Bertolo MB
et al. 2011 Consensus of the Brazilian Society of Rheumatology for
diagnosis and early assessment of rheumatoid arthritis. Rev Bras
Reumatol 2011; 51(3):199–219.
116. da Mota LM, Cruz BA, Brenol CV, Pereira IA, Rezende-Fronza LS,
Bertolo MB et al. 2012 Brazilian Society of Rheumatology
Consensus for the treatment of rheumatoid arthritis. Rev Bras
Reumatol 2012; 52(2):152–74.
495
ARTIGO ORIGINAL
Avaliação de instrumentos de medida
usados em pacientes com fibromialgia
Adriana Martins Barros Alves1, Jamil Natour2, Marcos Renato Assis3, Daniel Feldman2
RESUMO
Objetivo: Avaliar os diferentes instrumentos de medida usados em pacientes com fibromialgia. Pacientes e métodos:
Foram avaliados 60 indivíduos que participaram de um ensaio clínico de corte transversal comparando os efeitos de exercícios realizados na água e exercícios realizados em solo, por meio dos questionários Fibromyalgia Impact Questionnaire
(FIQ) para avaliar o impacto da doença, The Medical Outcomes Study 36 item Short-Form Health Survey (SF-36) para
avaliação da qualidade de vida, Inventário Beck para avaliar o estado de depressão e escala visual analógica da dor (EVA).
Esses questionários foram comparados aos resultados obtidos em uma escala transicional do tipo Likert, a Escala verbal de
avaliação de mudança (EVAM), considerada como critério de mudança na avaliação dos outros instrumentos. Resultados:
O coeficiente de Spearman foi usado para estudar a correlação entre a medida EVAM e os outros instrumentos em dois
momentos (T1 e T2). Em T1 houve correlação moderada entre EVAM e EVA (r = 0,49), EVAM e FIQ (r = 0,41) e correlação negativa entre EVAM e os domínios referentes a dor (r = −0,49), estado geral (r = −0,55) e componente físico
(r = −0,42) do SF-36. Em T2, apenas o domínio vitalidade do SF-36 mostrou correlação negativa com EVAM, de valor
fraco (r = −0,27). Conclusão: Considerando-se a EVAM como padrão ouro, nenhum dos instrumentos avaliados conseguiu
captar, de maneira ótima, mudança no estado de saúde do paciente com fibromialgia.
Palavras-chave: fibromialgia, questionários, qualidade de vida.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor
difusa1 crônica de etiologia desconhecida, provavelmente
multifatorial,2–5 distúrbios do sono, fadiga e alterações do humor.6,7 Não apresenta injúria tissular nem alterações nos exames
laboratoriais e de imagem.8 Assim, a intensidade, o impacto na
qualidade de vida do paciente e as variações temporais ou de
intervenções terapêuticas são subjetivos, difíceis e imprecisos.9
A escolha dos instrumentos de medida para quantificar
esses parâmetros clínicos deve ser cuidadosa, pois um critério
evolutivo deve apresentar propriedades psicométricas adequadas. Para ser significativo, o instrumento deve ser sensível a
mudanças e clinicamente mensurável, além de ter alta confiabilidade e validade. Outros aspectos desses instrumentos também
são importantes, como aplicabilidade, praticidade e clareza.10
O único questionário desenvolvido especificamente para FM,
o Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ), apesar de
ser validado de forma limitada,11–16 tem seu uso difundido em
vários países. Em um estudo de 2009,17 no qual estimou-se a
mínima diferença clinicamente importante (MDCI) no FIQ,
concluiu-se que uma mudança de 14% no valor total desse instrumento corresponde a uma mudança clinicamente relevante,
reforçando sua utilização na pesquisa e na clínica.
Ensaios clínicos envolvendo pacientes com FM apresentam
grande dificuldade na escolha de critérios evolutivos adequados
decorrente da subjetividade e da heterogeneidade dos sintomas.18 Além disso, existe a necessidade de investigação de variáveis de cunho fisiológico, cognitivo-verbal e comportamental.
Em uma revisão de 24 ensaios clínicos envolvendo pacientes
Recebido em 30/05/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse. Comitê de Ética: 0580/01.
Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo – EPM/Unifesp
1. Fisioterapeuta
2. Professor de Reumatologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
3. Professor de Reumatologia, Faculdade de Medicina de Marília
Correspondência para: Jamil Natour. Disciplina de Reumatologia, Unifesp/EPM. Rua Botucatu, 740. CEP: 04023-900. São Paulo, SP, Brasil.
E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):496-506
501
Alves et al.
com FM, usou-se grande diversidade de parâmetros, porém
não foram encontrados os mesmos critérios de avaliação de
maneira consistente em nenhum dos estudos.19 Em outra revisão sistemática mais recente20 comparando-se as variáveis mais
usadas em ensaios clínicos com as diretrizes da OMERACT
(Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials),
especificamente desenvolvidas para FM,21 concluiu-se que
cada domínio do OMERACT tem um instrumento que parece
ser sensível à mudança.
Ainda não está estabelecido um consenso sobre o padrão
ouro adequado para avaliar a melhora clínica resultante das
diferentes intervenções terapêuticas usadas na FM, sobretudo na
população brasileira.22 Na falta de medidas objetivas que identifiquem a melhora do paciente, os estudos utilizam-se de medidas
subjetivas, incluindo questionários que avaliam a qualidade de
vida, o impacto da doença e escalas de dor. Ao tratar-se de sintomas subjetivos, a ótica do paciente é de grande importância,
pois implica avaliação complexa de múltiplos domínios que
afetam a integridade biopsicossocial do indivíduo.23 Assim, a
referência dada pelo próprio paciente quanto ao seu estado de
saúde deve ser considerada como padrão ouro que oriente a
terapêutica.24–27 Desse modo, o objetivo do presente estudo foi
verificar a correlação entre os instrumentos de medida usados
na terapêutica da FM e o questionário objetivo feito ao paciente,
usando-se este como suposto parâmetro de maior sensibilidade.
PACIENTES E MÉTODOS
Amostra
Os pacientes deste estudo foram recrutados a partir de um
ensaio clínico que avaliou os efeitos de exercícios realizados na água e exercícios realizados em solo por mulheres
diagnosticadas com FM. As 60 pacientes que participaram
do estudo preenchiam os critérios do American College of
Rheumatology (ACR) para FM e foram selecionadas sistematicamente pelo encaminhamento clínico do ambulatório
da Disciplina de Reumatologia da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Das 60 pacientes incluídas, somente 51
completaram todas as avaliações – objeto desta análise.
Procedimentos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unifesp e todas
as participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As pacientes selecionadas foram avaliadas de acordo
com os seguintes questionários: (a) FIQ,9 questionário que avalia
o impacto da doença e cuja pontuação é diretamente proporcional
ao impacto – quanto maior a pontuação, pior o estado de saúde.
502
Esse questionário contém 10 questões e quantifica incapacidade
funcional, intensidade de dor, distúrbios do sono, ansiedade,
depressão e bem-estar global; (b) SF-36 (The Medical Outcomes
Study 36 item Short-Form Health Survey), instrumento validado na população brasileira28 que avalia a qualidade de vida e
é dividido em componente físico, que determina, por meio da
avaliação dos domínios que o compõem (capacidade funcional,
aspectos físicos, dor e estado geral de saúde), o estado físico do
paciente e o componente mental, que também é composto por
domínios (vitalidade, aspectos emocionais, aspectos sociais e
saúde mental) e revela a situação do estado psicoemocional do
paciente. Nesse questionário, uma pontuação maior indica melhor estado de saúde; (c) Beck (Inventário Beck de depressão),
com 21 questões que avaliam o estado de depressão – quanto
maior a pontuação, maior é o estado depressivo; e (d) EVA
(Escala Visual Analógica) de dor, em que o paciente classifica
sua dor em uma escala de 0–10 cm, na qual uma pontuação
maior correspondente à maior dor possível. As avaliações foram
realizadas no início do tratamento (T0), na oitava semana (T1)
e na décima quinta semana de tratamento (T2).
A perspectiva do paciente foi avaliada a partir de uma
escala transicional tipo Likert de cinco pontos, a Escala Verbal
de Avaliação de Mudança (EVAM), que variava entre 1 (melhorou bastante), 2 (melhorou moderadamente), 3 (melhorou
levemente), 4 (não melhorou) e 5 (piorou), e serviu como
referência (padrão ouro) para a percepção global de mudança.
Todos os instrumentos foram aplicados por um avaliador
cego em relação ao grupo terapêutico a que o paciente pertencia.
Análise estatística
Os seguintes métodos estatísticos foram utilizados para a análise
dos resultados obtidos neste estudo: (a) estatística descritiva,
para análise das variáveis demográfica e clínica (média e desvio
padrão); (b) coeficiente de Spearman para verificar a correlação entre os resultados dos escores de mudança dos diferentes
instrumentos usados e a EVAM. Os valores usados nessas
comparações advêm do resultado da diferença de pontuação
de cada questionário e da escala de dor em T0 e T1 – ou seja,
entre a primeira avaliação (T0) e a segunda avaliação (T1). Em
seguida, esses valores finais foram comparados com a EVAM em
T1. A EVAM em T2 foi comparada à diferença entre os valores
dos questionários e os valores da escala de dor entre T1 e T2.
Foi usada (c) análise de regressão linear para verificar qual
das medidas tem maior relação com a mudança percebida pelo
paciente em T1 e T2. Calculou-se também o (d) tamanho do
efeito de cada instrumento, definido como a média nos escores
de base até a oitava semana (T1) dividido pelo desvio padrão
dos escores de base. Utilizou-se esse método para averiguar a
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):496-506
Avaliação de instrumentos de medida usados em pacientes com fibromialgia
intensidade da mudança ocorrida, indicando a MDCI. As análises
foram feitas por protocolo – assim, o número da amostra usado
para os cálculos estatísticos foi o número de pacientes que completou todos os instrumentos de medida, em todas as avaliações.
RESULTADOS
Das 60 pacientes selecionadas para o estudo, 51 responderam
todos os instrumentos em todas as avaliações. A Figura 1
mostra o escore de classificação da EVAM em T1 e T2. Na
Tabela 1 estão mostrados os valores médios e os respectivos
desvios padrão obtidos nos questionários FIQ, Beck, EVA e
SF-36 em T0, T1 e T2.
m
el
ho
ro
u
0,41
0,002**
BECK
0,32
0,02*
EVA
0,49
0,001**
0,09
0,04*
DO/SF-36
−0,49
0,001**
VT/SF-36
−0,29
0,03*
2
EG/SF-36
−0,55
0,001**
AS/SF-36
−0,26
0,06
AE/SF-36
−0,17
0,06
SM/SF-36
−0,31
0,02*
COMP F/SF-36
−0,42
0,002**
COMP M/SF-36
−0,25
0,06
0
N
ão
m
od
er
ad
am
en
te
M
el
ho
ro
u
le
ve
m
en
te
M
el
ho
ro
u
FIQ
−0,28
Porcentagem - T1
3,9
P
AF/SF-36
Porcentagem - T2
9,8
r
−0,23
25,5
11,8
EVAM1
CF/SF-36
43,1 41,2
21,6
Tabela 2
Correlação entre a medida EVAM 1 e ***Delta FIQ, BECK,
EVA e domínios e componentes do SF-36
Pi
or
ou
41,2
m
ui
to
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
M
el
ho
ro
u
Número de pacientes
Escala verbal de avaliação de mudança
O coeficiente de correlação de Spearman revelou correspondência significativa do EVAM com a EVA de dor
(P < 0,001), com o FIQ e os domínios dor, e com o estado
geral e componente físico do SF-36 em T1 (Tabela 2). Em T2,
a única variável que apresentou correlação estatisticamente
significativa foi o domínio vitalidade, com P = 0,04 (Tabela 3).
Sensação de melhora
Figura 1
Desempenho da escala verbal de avaliação de mudança em
T1 e T2.
Tabela 1
Média (desvio padrão) do FIQ, BECK, EVA e SF-36 em T0,
T1 e T2
T0
T1
T2
FIQ
63,29 (13,86)
43,28 (19,36)
38,07 (19,46)
BECK
18,60 (9,11)
11,25 (10,25)
9,58 (9,49)
EVA
8,27 (1,55)
5,85 (2,32)
5,05 (2,42)
SF-36/CF
57,41 (21,28)
62,91 (25,59)
66,00 (29,52)
SF-36/AF
18,75 (30,05)
43,33 (41,90)
53,75 (45,29)
***Diferença entre a primeira e a segunda avaliação; **Correlação significante P > 0,01; *Correlação
significante P > 0,05. r: Coeficiente de correlação de Spearman.
Tabela 3
Correlação entre a medida EVAM 2 e ***Delta FIQ, BECK,
EVA e domínios e componentes do SF-36
EVAM2
FIQ
BECK
EVA
r
P
0,07
0,62
−0,18
0,19
0,18
0,18
CF/SF-36
−0,1
0,47
AF/SF-36
−0,13
0,35
−0,17
0,23
SF-36/DO
31,66 (15,94)
42,91 (21,50)
49,63 (27,48)
DO/SF-36
SF-36/VT
30,91 (18,67)
47,41 (23,17)
49,16 (28,24)
VT/SF-36
−0,27
0,04*
SF-36/EG
45,81 (19,64)
53,21 (25,34)
54,63 (28,36)
EG/SF-36
−0,03
0,8
SF-36/AS
54,37 (30,77)
71,82 (33,54)
69,16 (37,42)
AS/SF-36
−0,76
0,59
SF-36/AE
38,33 (41,54)
55,00 (42,88)
56,66 (45,22)
AE/SF-36
−0,08
0,55
SF-36/SM
45,40 (22,29)
56,93 (26,90)
57,60 (30,80)
SM/SF-36
0,02
0,86
SF-36/COMP F
35,08 (6,93)
41,16 (7,68)
44,72 (8,59)
SF-36/COMP M
38,27 (12,84)
46,22 (11,85)
47,25 (12,62)
COMP F/SF-36
−0,12
0,38
COMP M/SF-36
−0,09
0,52
CF: capacidade funcional; AF: aspectos físicos; DO: dor; VT: vitalidade; EG: estado geral;
AS: aspectos sociais; AE aspectos emocionais; SM: saúde mental; COMP F: componente físico;
COMP M: componente mental.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):496-506
***Diferença entre a segunda e terceira avaliação; **Correlação significante P > 0,01; *Correlação
significante P > 0,05. r: Coeficiente de correlação de Spearman.
503
Alves et al.
A análise de regressão linear simples revelou em T1 correlação estatisticamente significante entre EVAM e a EVA de
dor (P = 0,001), e o domínio estado geral (P < 0,001) do SF-36,
dados mostrados na Tabela 4. Também na Tabela 4, vemos
que, em T2 a única variável com significância estatística foi o
domínio vitalidade do SF-36, com P = 0,023.
O cálculo do tamanho do efeito (TE) revelou a EVA
como parâmetro de mudança de maior significado estatístico
(TE = −1,60), seguido pelo FIQ (TE = −1,44). Os outros valores com significado estatisticamente importante são vistos
na Tabela 5.
Tabela 4
Análise de regressão linear mostrando a correlação entre
EVAM 1 e 2 e os outros instrumentos
EVAM 1
Bª
Erro padrão
Betaº
P
EVA
0,135
0,038
0,4
0,001
EG/SF-36
−2,27
0,006
−0,45
0,001
Bª
Erro padrão
Betaº
P
−1,87
0,008
−0,32
0,02
EVAM 2
VIT/SF-36
ªCoeficiente de correlação não padronizado; ºCoeficiente de correlação padronizado.
Tabela 5
Tamanho do efeito (TE) calculado para todos os instrumentos
Média
Desvio padrão
TE
EVA1
8,27
1,55
−1,6*
EVA2
5,78
2,32
0,31
CF1/SF-36
57,05
20,42
0,57
CF2/SF-36
68,72
17,91
0,4
AF1/SF-36
21,07
31,76
0,92*
AF2/SF-36
50,49
41,37
0,29
DOR1/SF-36
33,11
15,67
0,95*
DOR2/SF-36
48,01
16,69
0,56
EG1/SF-36
48,13
18,74
0,55
EG2/SF-36
58,54
20,66
0,19
VIT1/SF-36
31,96
18,74
1,09*
VIT2/SF-36
52,25
18,68
0,27
AS1/SF-36
56,37
30,85
0,73
AS2/SF-36
79,16
25,33
0,02
AE1/SF-36
41,83
42,6
0,41
AE2/SF-36
59,47
42,32
0,15
SM1/SF-36
49,33
21,08
0,62
SM2/SF-36
62,5
22,25
0,18
FIQ1
63,29
13,86
−1,44*
FIQ2
43,28
19,36
−0,26
BECK1
18,6
9,11
−0,8
BECK2
11,25
10,25
0,16
*Valores com significado estatístico (TE > 0,8).
504
DISCUSSÃO
Estudos sobre FM têm usado diferentes medidas e instrumentos
para avaliar o desempenho terapêutico, dificultando as tentativas de extrapolação ou comparação entre os tratamentos. Ao
mesmo tempo, a grande quantidade de parâmetros estudados
torna as avaliações cansativas e talvez redundantes.
Neste estudo, compararam-se os resultados dos instrumentos de medida FIQ, Beck, SF-36 e EVA de dor com escala transicional comparativa do tipo Likert de cinco pontos, indicativa
da EVAM percebida pelo paciente e usada como padrão ouro.
Classificações globais de mudança de sintomas realizadas pelos
pacientes são consideradas critério externo válido,23–27 aplicado
recentemente em populações com FM.21,29,30 Ao responder a
EVAM, a paciente traduzia sua sensação de melhora sob um
aspecto geral; a relação dessa resposta com outros instrumentos
pôde indicar quais aspectos influenciam a sensação de melhora.
Na primeira avaliação, a correlação ocorre com os domínios
da dor, com o estado geral da paciente e com o componente
físico do SF-36, além do FIQ e EVA para dor.
Dunkl et al.25 encontraram resultados similares aos nossos,
com correlação entre a EVAM e o FIQ. Em nosso estudo,
embora com menor força, houve correlação também com os
domínios aspecto físico, saúde mental, vitalidade do SF-36 e o
inventário Beck. Quando se observa o resultado da análise de
regressão, confirmam-se o domínio estado geral do SF-36 e a
EVA de dor como variáveis importantes. Assim, a mudança na
intensidade da dor, no estado geral e na disposição física são
aspectos fundamentais para a sensação de melhora do paciente,
sobretudo na fase inicial do tratamento. Na segunda avaliação
feita pelo paciente, apenas o domínio vitalidade mostrou ter
alguma relação com a subjetividade da melhora. Isso pode
demonstrar que, após melhora inicial, outros aspectos além
de dor e estado geral passam a exercer maior influência para
ainda se obter uma sensação subjetiva de melhora. A vitalidade,
então, passa a ter mais importância.
Uma possível explicação para a diferença encontrada na
relação entre os instrumentos na primeira e segunda comparação de dados seria a intensidade das mudanças. Desse modo, o
paciente só perceberia mudança nos aspectos que julga serem
importantes para contribuir na sensação de melhora se essa
fosse de maior intensidade. Tal afirmação tem como base o fato
de que, na maioria dos instrumentos usados, mesmo sendo de
menor proporção, houve melhora não apenas entre a primeira e
segunda avaliações, mas também entre a segunda e a terceira. O
tempo entre a aplicação dos instrumentos e o valor da mínima
diferença necessária para captar mudanças também podem ter
exercido influência nos resultados. Segundo Stratford,31 a falta
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):496-506
Avaliação de instrumentos de medida usados em pacientes com fibromialgia
de um padrão ouro para atributos como a incapacidade funcional acaba gerando vários dilemas metodológicos. Beaton27
afirma que, além das propriedades psicométricas já estabelecidas, também é preciso enfrentar o desafio da interpretabilidade.
Para tanto, faz-se necessário o uso da chamada MDCI. Para
a determinação da MDCI é preciso levar em consideração as
perspectivas do paciente e do médico, além da abordagem
metodológica e da dependência do estado do paciente no
início do tratamento; entretanto, é necessário maior número
de pesquisas metodológicas para que se determine o melhor
modo de quantificá-la. No FIQ, um estudo29 concluiu que uma
mudança em 14% na pontuação final determinaria uma MDCI.
Especialmente na FM, este pode ser um dado de grande valor
clínico, dadas a subjetividade e a variabilidade dos sintomas.
No presente estudo calculou-se o TE de cada instrumento
como modo de se determinar MDCI. Na primeira avaliação,
o TE foi clinicamente importante para os domínios vitalidade, dor e aspecto físico do SF-36 e o Beck, além do FIQ e da
EVA de dor. Nenhum desses foi clinicamente importante na
segunda avaliação. Assim, devemos questionar a validade da
interpretação numérica do TE em FM, pois nem sempre esse
efeito representa uma verdadeira MDCI.
Com base em nossos dados, verificamos que a dor permanece como aspecto central para a sensação de mudança no estado
de saúde. Por tratar-se de um sintoma basicamente subjetivo,
a dor associa-se à interação das dimensões física, psíquica e
cultural que estão envolvidas em sua manifestação, dificultando
sua mensuração. Porém, nosso estudo revelou que, ao se tratar
do monitoramento do estado do paciente em um cenário clínico,
o uso da escala verbal de avaliação de mudança mostrou-se
suficiente para tal. Em ensaios clínicos, outros instrumentos
podem ser utilizados na dependência da necessidade de dados
específicos em diferentes aspectos do espectro da relação
doente/doença. É importante lembrar que cada instrumento
avalia uma dimensão diferente do indivíduo, e isso pode explicar a falta de maior correlação entre os instrumentos, gerando
uma necessidade de escolher não somente um instrumento
para avaliar a resposta terapêutica, mas sim, dependendo do
objetivo, escolher o instrumento mais adequado.
É importante frisar que apesar de os diversos instrumentos,
como EVA para dor, FIQ, SF-36 e Beck terem demonstrado um
TE superior a 0,8, indicando magnitude efetiva, nenhum deles
conseguiu detectar mudança no estado das pacientes em T2
quando comparadas com a EVAM. Portanto, as propriedades
psicométricas dos mesmos não são as ideais para FM. Wolfe32
propõe uma versão do Health Assessment Questionnaire
(FHAQ), que deveria ser mais bem estudada e validada para
uso nesses protocolos.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):496-506
CONCLUSÃO
Considerando-se a escala verbal de avaliação de mudança como
padrão ouro, nenhum dos instrumentos avaliados conseguiu
captar de maneira ideal uma alteração no estado de saúde de
pacientes com FM. Ressaltamos a importância da avaliação
das propriedades psicométricas desses instrumentos, além do
estudo sobre o uso de outros instrumentos em ensaios clínicos
envolvendo pacientes com FM.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C,
Goldenberg DL et al. The American College of Rheumatology 1990
criteria for the classification of fibromyalgia: Report of multicentre
criteria committee. Arthritis Rheum 1990; 33:160–72.
Gibson SJ, Littlejohn GO, Gorman MM, Helme RD, Granges G.
Altered heat pain thresholds and cerebral event-related potentials
follow CO2 laser stimulation in subjects with fibromyalgia syndrome.
Pain 1994; 58:185–93.
Crofford LJ, Pillemer SR, Kalogeras KT. Hypothalamic-pituitary
adrenal axis perturbations in patients with fibromyalgia. Rev Rheum
Mal Osteartic 1992; 59:497–500.
Perlis ML, Giles DE, Bootzin RR, Dikman ZV, Fleming GM,
Drummond SP. Alpha-sleep and information processing, perception
of sleep, pain, and arousability in fibromyalgia. Int J Neurosci 1997;
89:265–80.
Branco J, Atalaia A, Paiva T. Sleep cycles and alpha-delta sleep in
fibromyalgia syndrome. J Rheumatol 1994; 21:1132–6.
Yunus MB. Psychological aspects of fibromyalgia syndrome: a
component of the dysfunctional spectrum syndrome. Bailliers Clin
Rheum 1992; 8:90–4.
Kurtze N, Gundersen KT, Svebak S. The role of anxiety and
depression in fatigue and patterns of pain among subgroups of
fibromyalgia patients. British L Medical Psychol 1998; 71:185–94.
Russell IJ. Fibromyalgia Syndromes. Phys Med Rehabil Clin North
Am 1997; 8:213–26.
Buckhardt CS, Clark SR, Bennett RM. The Fibromyalgia Impact
questionnaire: development and validation. J Rheumatol 1991;
18:728–33.
Wright J, Young N. A comparison of different indices of
responsiveness. J Clin Epidemiol 1997; 50:239–46.
Hedin PJ, Hamme H, Burckhardt CS. The Fibromyalgia Impact
Questionnaire, a Swedish translation of a new tool for evaluation of
the fibromyalgia patient. Scan J Rheumatol 1995; 24:69–75.
Buskila D, Neumann L. Assessing functional disability and health
status of women with fibromyalgia: validation of a Hebrew version
of the Fibromyalgia Impact Questionnaire. J Rheumatol 1996;
23:903–6.
Kim YA, Lee SS. Validation of a Korean version of the Fibromyalgia
Impact Questionnaire. J Korean Med Sci 2002; 17(2):220–4.
Offenbaecher M, Waltz M. Validation of a German version of
the Fibromyalgia Impact Questionnaire. J Rheumatol 2000;
27:1984–8.
505
Alves et al.
15. Zijlstra TR, Taal E. Validation of a Dutch translation of the
fibromyalgia impact questionnaire. Rheumatology 2007; 46
(1):131–4.
16. Perrot S, Dumont, D. Quality of life in women with fibromyalgia
syndrome: validation of the QIF, the French version of the
fibromyalgia impact questionnaire. J Rheumatol 2003; 30(5):1054–9.
17. 17. Bennett R, Bushmakin A. Minimal clinically important
difference in Fibromyalgia impact questionnaire. J Rheumatol 2009;
36(6):1304–11.
18. Hewett JE, Buckelew SP, Johnson JC, Shaw SE, Huyser B, Fu YZ.
Selection of measures suitable for evaluating changes in fibromyalgia
clinical trials. J Rhematol 1995; 22:2307–12.
19. White KP, Harth M. An analytical review of 24 controlled clinical
trials for fibromyalgia syndrome (FMS). Pain 1996; 64:211–9.
20. Carville S, Choy E. Systematic review of discriminating power of
outcome measures used in clinical trials of fibromyalgia. J Rheumatol
2008; 35(11):2094–105.
21. Mease P, Arnold L. Fibromyalgia syndrome module in OMERACT 9:
domain construct. J Rheumatol 2009; 36(11):2318–29.
22. Heyman RE, Helfeinstein M, Feldman D. A double-blind,
randomized, controlled study of amitriptyline, nortriptyline and
placebo in patients with fibromyalgia. An analysis of outcome
measures. Clin and Exp Rheumatol 2002; 19: 353–7.
23. Bellamy N, Kenneth M, Brooks P, Barraclough D, Tellus M. A survey
of outcome measures in routine rheumatology outpatient practice in
Australia. J Rheumatol 1999; 26:1593–9.
24. Husted J, Gladman D, Cook R, Farewell V. Responsiveness of health
status instruments to changes in articular status and perceived health
in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol 1998; 25:2146–55.
506
25. Dunkl P, Taylor G, McConnell G, Alfano A, Conaway M.
Responsiveness of Fibromyalgia clinical outcomes measures. J
Rheumatol 2000; 27:2683–91.
26. Wright J, Young N. A comparison of different indices of
responsiveness. J Clin Epidemiol 1997; 50:239–46.
27. Beaton D, Hogg-Johnson S, Bombadier C. Evaluating changes in
health status:reliability and responsiveness of five generic health
status measures in workers with musculoskeletal disorders. J Clin
Epidemiol 1997; 50:79–93.
28. Ciconelli RM, Ferraz MB, Santos W, Meinao I, Quaresma MR.
Tradução para a língua portuguesa e validação do questionário
genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 . Rev Bras
Reumatol 1999; 39(3):143–50.
29. Hudson J, Arnold L. What makes patients with fibromyalgia
feel better Correlations Between Patient Global Impression of
Improvement and Changes in Clinical Symptoms and Function:
A Pooled Analysis of 4 Randomized Placebo-controlled Trials of
Duloxetine. J Rheumatol 2009; 36(11):2517–22.
30. Assis MR, Alves A, Natour J. A randomized controlled trial of deep
water running: clinical effectiveness of aquatic exercise to treat
fibromyalgia. Arthritis Rheum 2006; 55(1):57–65.
31. Stratford P, Binkley J. comparison study of the back pain
scale and Roland Morris questionnaire. J Rheumatol 2000;
27:1928-35.
32. Wolfe F, Hawley D, Goldenberg D, Russel I, Buskila D, Neumann
L. The assessment of functional impairment in fibromyalgia (FM):
Rasch analyses of 5 functional scales and the development of
the FM health assessment questionnaire. J Rheumatol 2000; 27:
1989–99.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):496-506
ARTIGO ORIGINAL
Parâmetros do controle postural em mulheres
idosas com ou sem histórico de quedas
associadas ou não à osteoartrite de joelhos
Marina Petrella1, Thamires Máximo Neves1, Júlia Guimarães Reis2,
Matheus Machado Gomes3, Renê Donizeti Ribeiro de Oliveira4, Daniela Cristina Carvalho de Abreu5
RESUMO
Objetivos: Comparar parâmetros estabilométricos de mulheres idosas com ou sem histórico de quedas associadas ou não
à osteoartrite (OA) de joelhos. Métodos: Cinquenta e seis idosas apresentando ou não histórico de quedas (Q) e OA de
joelho unilateral e bilateral foram distribuídas da seguinte maneira: grupo QOA (n = 10), idosas com histórico de queda e
OA de joelho; grupo QSOA (n = 11), idosas com histórico de queda e sem OA de joelho; grupo SQOA (n = 14), idosas sem
histórico de quedas (SQ) e com OA de joelho; e grupo SQSOA (n = 21), idosas sem histórico de quedas e sem OA de joelho.
Para análise do equilíbrio semiestático usando uma plataforma de força, foram avaliados os deslocamentos anteroposterior
(DAP) e mediolateral (DML), as velocidades de oscilação anteroposterior (VAP) e mediolateral (VML) em quatro situações
na postura ereta. As situações avaliadas foram as seguintes: 1) PFOA: sobre superfície fixa e olhos abertos; 2) PFOF: sobre
superfície fixa e olhos fechados; 3) PIOA: sobre superfície instável e olhos abertos; 4) PIOF: sobre superfície instável e
os olhos fechados. Resultados: As idosas com OA de joelho apresentaram maior DAP em todas as situações analisadas
(P < 0,05), ao passo que idosas com histórico de quedas apresentaram maior DML (P < 0,05). Não houve diferenças entre
os grupos para VAP e VML (P > 0,05). Conclusões: A OA de joelho, por si, é um fator prejudicial no aumento de oscilação
do centro de pressão (COP) na direção anteroposterior, enquanto o histórico de quedas, independente da presença de OA
de joelhos, traz prejuízos ao controle postural na direção mediolateral.
Palavras-chave: acidentes por quedas, equilíbrio postural, osteoartrite do joelho.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
Uma das consequências do envelhecimento populacional é o
aumento das doenças crônico-degenerativas,1 dentre as quais
a osteoartrite (OA) é a doença articular mais prevalente na
população idosa,2 gerando impacto socioeconômico devido
às incapacidades que causa nos indivíduos.3
A OA é responsável por grande parte da incapacidade dos
membros inferiores (MMII) observada nos idosos, população
na qual é predominante.4 No joelho, a OA pode provocar incapacidade crônica dos idosos, limitando-os na execução de atividades de rotina e de tarefas domésticas e, consequentemente,
aumentando o risco de quedas. Mudanças na cartilagem articular provocadas pela OA4 trazem algumas consequências devido
Recebido em 30/08/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse. Suporte Financeiro: Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Comitê de Ética: FR247663.
Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor, Laboratório de Avaliação e Reabilitação do Equilíbrio (LARE), Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – FMRP-USP.
1. Aluna do Curso de Fisioterapia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP
2. Mestre em Cirurgia, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp; Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde Aplicadas ao
Aparelho Locomotor – FMRP-USP
3. Mestre em Ciências da Motricidade, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp; Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Saúde Aplicadas ao Aparelho Locomotor – FMRP-USP
4. Doutor em Medicina, Universidade de São Paulo – USP; Médico-Assistente de Reumatologia, Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo – FMUSP
5. Professora Doutora do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor – FMRP-USP
Correspondência para: Daniela Cristina Carvalho de Abreu. Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor – FMRP/USP. Av.
Bandeirantes, 3900. Ribeirão Preto, SP, Brasil. CEP: 14049-900. E-mail: [email protected]
512
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):507-517
Parâmetros do controle postural em mulheres idosas com ou sem histórico de quedas associadas ou não à osteoartrite de joelhos
à remodelação óssea combinada com a perda da cartilagem.
Em meio a essas consequências está a instabilidade articular,5
que combinada com outras características da OA provoca perda
da amplitude de movimento, redução da propriocepção articular,6 sensação de insegurança ou incapacidade para realizar
movimentos articulares, e todos esses fatores contribuem para
o comprometimento dos equilíbrios semiestático e dinâmico.
A população idosa sofre também com outras consequências
do processo de envelhecimento, como alterações do controle
postural, o que a deixa ainda mais propensa a quedas.7,8 A
insegurança na realização de algumas atividades justifica a
extrema importância da identificação dos fatores de risco para
quedas ainda no início.9
É importante haver mais estudos que busquem entender
melhor a influência da OA sobre o histórico de quedas, que é
um fator gerador de custos elevados para os serviços de saúde
e de prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos. Há vários
estudos que utilizam a plataforma de força para avaliar o equilíbrio.6,9 As evidências apontam maior oscilação do centro de
pressão (COP) entre as pessoas com OA de joelhos, porém são
escassos estudos diferenciando o controle postural de idosas
caidoras com e sem OA.
A detecção dos fatores presentes na OA que possivelmente
estejam associados a quedas pode permitir que os profissionais da saúde programem uma intervenção preventiva mais
específica, já que após uma queda o risco de novas quedas
está aumentado. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar
parâmetros estabilométricos de idosas caidoras e não caidoras,
com e sem diagnóstico de OA de joelhos.
PACIENTES E MÉTODOS
Foram incluídas no estudo 56 idosas com idades entre 60–85 anos,
apresentando ou não histórico de quedas (definido pela ocorrência
de quedas não acidentais nos últimos seis meses) e idosas com
ou sem OA de joelhos unilateral e bilateral com diagnóstico
radiológico fundamentado nos critérios do American College
of Rheumatology (The American College of Rheumatology
Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines, 2000).
Foram excluídas do estudo idosas com presença de doenças
cardiorrespiratórias, neurológicas, problemas cognitivos, vestibulopatias, diabetes mellitus, histórico de fraturas ósseas e/ou
lesões nos MMII nos últimos seis meses e história de cirurgia
no quadril, joelho ou tornozelo, IMC > 40 (obesidade mórbida), uso de dispositivos de apoio, implantes ou próteses nos
MMII, uso de corticosteroides injetáveis no joelho nos últimos
três meses e uso de fármacos para o sistema nervoso central
(SNC). Também foram excluídas idosas com diagnóstico de
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):507-517
OA na coluna vertebral e em outras articulações dos MMII
que não os joelhos.
Todas as voluntárias assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CSE-FMRPUSP) através do Protocolo n°314, em 09 de junho de 2009,
confirmando sua participação e preservando a privacidade dos
pacientes.
As idosas foram distribuídas em grupo Q (n = 21), idosas com história de queda, e grupo SQ (n = 35), idosas sem
história de queda. Posteriormente, os grupos foram subdivididos em quatro: grupo QOA (n = 10), idosas com história
de queda e OA; grupo QSOA (n = 11), idosas com história de
queda e sem OA; grupo SQOA (n = 14), idosas sem história
de queda e com OA; e grupo SQSOA (n = 21), sem história de
queda e sem OA.
Previamente às avaliações, foram obtidos dados antropométricos das idosas (peso, altura e IMC). Para avaliação
do equilíbrio semiestático foi utilizada plataforma de força
da marca EMG System do Brasil, que avaliou a distribuição da
força vertical em quatro pontos, possibilitando a análise
do equilíbrio, com quantificação da amplitude e da velocidade de
deslocamento anteroposterior (DAP) e mediolateral (DML)
do COP. Os dados foram digitalizados e analisados pelo programa da EMG system do Brasil.
Durante a avaliação utilizou-se um protocolo previamente
estipulado, para medir os DAP e DML de todas as voluntárias
incluídas na pesquisa nas seguintes situações: 1) Em pé sobre
uma superfície de madeira fixa, com os olhos abertos (PFOA),
por 60 segundos; 2) Em pé sobre uma superfície de madeira
fixa, com os olhos fechados, por 60 segundos (PFOF); 3) Em
pé sobre uma espuma de aproximadamente 5 cm de espessura
(30 dm/cm3), com os olhos abertos, por 60 segundos (PIOA);
4) Em pé sobre a espuma, com os olhos fechados, por 60 segundos (PIOF).
Durante a coleta dos dados, as voluntárias permaneceram
sobre a plataforma de força com os pés descalços e afastados
com distância proporcional ao nível dos ombros e braços ao
longo do corpo. Um ponto fixo foi colocado a 1,5 m de distância, na altura horizontal do olhar, e as voluntárias foram
orientadas a olhar fixamente o ponto durante a coleta de dados.
Foram realizadas três coletas para cada postura.
Análise dos dados
Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa
SPSS (SPSS for Windows, V16.0 – SPSS Inc., EUA), e o nível
de significância foi de 0,05.
513
Petrella et al.
Para a análise estatística foram utilizados modelos considerando que os valores das variáveis observadas tivessem
distribuição normal verificada pelo teste Shapiro-Wilk e
variância constante pelo teste de Levene. Nas situações em
que tais pressupostos não foram observados, foram realizadas
transformações nas variáveis.
Para comparação das características antropométricas entre
os grupos, foram utilizadas três Análises de Variância com
dois fatores (ANOVA two way). Essas ANOVA tiveram como
fatores doença e queda, e idade, peso e altura como variáveis
dependentes. Como houve diferença de peso quando o fator
foi doença, e diferença de peso e idade quando o fator foi
queda, tais dados foram utilizados como covariáveis nas demais análises. Para comparação do equilíbrio entre os grupos
foram empregadas quatro ANOVA two way que tiveram queda
e doença como fatores, idade e peso como covariáveis, e oscilação anteroposterior (AP) nas quatro condições, velocidade
de oscilação AP nas quatro condições, oscilação mediolateral
(ML) nas quatro condições e velocidade de oscilação ML
nas quatro condições durante o equilíbrio semiestático como
variáveis dependentes.
RESULTADOS
Deslocamento anteroposterior do COP
Análises multivariadas não mostraram diferença para queda,
porém mostraram diferença para doença [Wilk’s λ = 0,73;
F (4,47) = 4,37; P > 0,05]. Não houve interação entre queda
e doença [Wilk’s λ = 0,88; F (4,47) = 1,53; P > 0,05], e isso
evidencia que o fator doença foi predominante para alterar o
equilíbrio AP, independente se a idosa tinha ou não história
de queda. Análises univariadas indicaram efeito da doença nas variáveis PFOF [F (1,50) = 7,96; P < 0,05], PIOA
[F (1,50) = 12,75; P < 0,05] e PIOF [F (1,50) = 8,83; P < 0,05].
As idosas com OA apresentaram maior deslocamento AP
comparado ao grupo sem OA em três situações (Figura 1).
Deslocamento mediolateral do COP
Análises multivariadas mostraram diferença apenas quando
o fator foi queda [Wilk’s λ = 0,78; F (4,47) = 3,25; P < 0,05].
Não houve interação entre queda e doença [Wilk’s λ = 0,95;
F (4,47) = 0,63; P > 0,05], e isso mostra que o fator queda tem
maior influência no equilíbrio ML, independente de a idosa
ter ou não OA. Assim, por meio da ANOVA observou-se
DAP (cm)
1,20
*
*
Dados antropométricos
*
1,00
Houve diferença para idade entre grupos quando o fator foi
queda [F (1,52) = 5,42; P < 0,05], e não houve quando o fator
foi doença [F (1,52) = 0,29; P > 0,05]. Também houve diferença na variável peso tanto para o fator queda [F (1,52) = 7,99;
P < 0,05] quanto para o fator doença [F (1,52) = 18,37;
P < 0,05]. Porém, não houve diferença para altura com o fator
queda [F (1,52) = 0,06; P > 0,05], nem com o fator doença
[F (1,52) = 1,96; P > 0,05]. O grupo Q apresentou maior idade
e maior peso comparado ao grupo SQ. Além disso, as idosas
com OA de joelho apresentaram maior peso em comparação
ao grupo sem OA. Esses valores estão descritos na Tabela 1.
Tabela 1
Dados antropométricos das voluntárias do estudo
Idade (anos)
Altura (m)
Grupo QOA
69,30 ± 5,74
1,57 ± 0,04
78,44 ± 9,13
Grupo QSOA
72,72 ± 4,90
1,53 ± 0,06
65,00 ± 8,25
Grupo SQOA
68,43 ± 5,84
1,54 ± 0,05
68,29 ± 7,05
Grupo SQSOA
66,62 ± 5,13
1,54 ± 0,06
62,47 ± 808
Peso (kg)
Grupo QOA: idosas com histórico de quedas e osteoartrite; Grupo QSOA: idosas com histórico de
quedas sem osteoartrite; Grupo SQOA: idosas sem histórico de quedas e osteoartrite; Grupo SQSOA:
idosas sem histórico de quedas sem osteoartrite.
514
Equilíbrio semiestático
0,80
*
*
QOA
*
QSOA
0,50
SQOA
SQSOA
0,40
0,20
0,00
PFOA
PFOF
PIOA
PIOF
Figura 1
Valores em média ± DP do deslocamento anteroposterior
(DAP) do COP em cada uma das condições avaliadas para os
quatro grupos: grupo QOA de idosas com história de queda e
OA de joelho, grupo QSOA de idosas com história de queda
e sem OA de joelho, grupo SQOA de idosas sem história de
queda e com osteoartrite e grupo SQSOA de idosas sem história
de queda e sem osteoartrite.
PFOA: plataforma fixa, olhos abertos; PFOF: plataforma fixa, olhos fechados;
PIOA: plataforma instável, olhos abertos; PIOF: plataforma instável, olhos
fechados.
* P < 0,05 OA versus sem OA.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):507-517
Parâmetros do controle postural em mulheres idosas com ou sem histórico de quedas associadas ou não à osteoartrite de joelhos
DML (cm)
0,8
*
0,7
* *
0,6
*
0,5
0,4
QOA
QSOA
* *
SQOA
0,3
SQSOA
0,2
0,1
0,0
PFOA
PFOF
PIOA
PIOF
Figura 2
Valores em média ± DP do deslocamento mediolateral (DML)
do COP em cada uma das condições avaliadas para os quatro
grupos: grupo QOA idosas com história de queda e OA de
joelho, grupo QSOA idosas com história de queda e sem
OA de joelho, grupo SQOA idosas sem história de queda e
com osteoartrite e grupo SQSOA sem história de queda e sem
osteoartrite.
PFOA: plataforma fixa, olhos abertos; PFOF: plataforma fixa, olhos fechados;
PIOA: plataforma instável, olhos abertos; PIOF: plataforma instável, olhos
fechados.
* P < 0,05 Q versus SQ.
diferença nas variáveis PFOA [F (1,50) = 4,37; P < 0,05],
PIOA [F (1,50) = 10,09; P < 0,05] e PIOF [F (1,50) = 11,65;
P < 0,05]. O grupo Q apresentou maior DML nas situações
PFOA, PIOA e PIOF em comparação ao grupo SQ (Figura 2).
Velocidade de deslocamento anteroposterior do COP
Não houve diferença entre os grupos com relação à VAP em
qualquer situação.
Velocidade de deslocamento mediolateral do COP
Não houve diferença entre os grupos com relação à VML em
qualquer situação.
DISCUSSÃO
Para que haja controle da postura ereta existe uma interação
entre os sistemas sensorial (informações dos sistemas somatossensorial, vestibular e visual) e neuromuscular, incluindo
as relações biomecânicas entre os segmentos corporais.10 A
ação integrada dos sistemas sensorial e motor permite o envio
de informações precisas para o SNC sobre o posicionamento
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):507-517
do corpo no espaço, utilizando referências da superfície de
apoio, do ambiente visual e das referências internas, possibilitando que o SNC estabeleça a melhor estratégia para a
manutenção ou a recuperação do equilíbrio, utilizando-se
de estratégias reativas e de ajustes posturais antecipatórios
(respostas pró-ativas e preditivas).11
Um dos principais métodos usados para avaliar o equilíbrio,
por meio do COP, é a plataforma de força.12 O movimento do
COP de um indivíduo em postura ortostática semiestática é
obtido por meio da estabilometria, que exibe o deslocamento
do COP ao longo do tempo nas direções AP e ML. Sabe-se
que alguns parâmetros derivados da estabilometria podem ser
relacionados ao risco de quedas.12,13 A manutenção da postura
vertical ereta totalmente imóvel não é realizada pelo corpo
humano, considerando que inclinações espontâneas de curta
amplitude nos eixos AP e ML são observadas. Por esse motivo,
tem-se optado, atualmente, pela utilização do termo equilíbrio
semiestático em vez de estático.
Indivíduos idosos sem histórico de quedas, quando comparados à população mais jovem, apresentam diferença no
padrão de controle postural, demonstrada por maior oscilação
postural. Estudos mostraram que é na faixa dos 60 anos de
idade que esse aumento da oscilação postural começa a ser
mais evidente.14,15 Era et al.16 encontraram que o aumento da
oscilação postural já acontece em adultos jovens, mas torna-se
mais intenso a partir dos 60 anos.
A partir desses dados, é possível realizar estudos comparando o equilíbrio de idosos saudáveis com aqueles portadores de
alguma doença específica, a fim de entender melhor o impacto
de doenças sobre o controle postural e incrementar a elaboração de um programa de reabilitação para esses pacientes.17
Em estudo de revisão,18 concluiu-se que, em circunstâncias
laboratoriais, os parâmetros avaliados por meio da plataforma
de força podem fornecer informações valiosas para predição de
quedas futuras ou recorrentes em idosos.
Tanto o avanço da idade quanto a presença de OA causam implicações na saúde, pois ambos geram diminuição da
função fisiológica.19 A ocorrência de quedas em idosos com
OA pode trazer complicações médicas, psicológicas e sociais
ainda maiores para essa população. Portanto, a prevenção e a
redução de quedas são de grande importância para a saúde e o
bem-estar dos idosos, pois a ocorrência de quedas pode ter um
impacto muito negativo sobre a qualidade de vida do idoso, já
que está associada à maior chance de fraturas ósseas, lesões de
tecidos moles, traumatismo cranioencefálico, confinamento, e
ao desenvolvimento de síndrome pós-queda.
O entendimento da repercussão da OA de joelhos sobre
o equilíbrio em idosas é de extrema importância, uma vez
515
Petrella et al.
que auxilia no planejamento dos programas de reabilitação
para essa população. Entretanto, o déficit de controle postural
deve ser estudado também em situações dinâmicas, além de
se buscar ferramentas de avaliações que possam ser utilizadas
clinicamente, de forma prática e rápida, que possuam sensibilidade suficiente para identificar aqueles pacientes com alterações osteomioarticulares com risco de quedas. Para Horak,20 a
prevenção do risco de quedas e a elaboração de um programa
de intervenção para pessoas com equilíbrio comprometido
dependem de uma avaliação da integridade dos sistemas fisiológicos subjacentes e da adoção de estratégias compensatórias.
Portanto, é muito importante a realização de estudos mais
detalhados sobre os eventos incapacitantes presentes nos
idosos portadores de OA de joelho, os quais podem resultar
na ocorrência de quedas. No Brasil, pesquisas sobre quedas e
seus fatores relacionados nessa população de idosos com OA
ainda são escassos.21,22
Estudos têm mostrado que pessoas com OA de joelhos apresentam comprometimento do equilíbrio semiestático.23 Hassan,
Mockett e Doherty6 observaram que indivíduos com OA de
joelhos, quando comparados aos controles, apresentavam maior
oscilação AP e ML quando estavam em postura estática com
olhos fechados. Em outro estudo, Hassan et al.24 verificaram que
o controle postural estático estava diminuído em indivíduos com
OA de joelhos sem sintoma de dor, em comparação aos controles de idades correspondentes. Nossos resultados corroboram
em parte esses achados, pois as idosas com OA apresentaram
aumento do deslocamento do COP no sentido AP, mas não no
ML, independente de haver histórico de quedas ou não.
Entretanto, com relação ao deslocamento do COP na
direção ML, idosas com quedas tiveram maior oscilação em
todas as situações, exceto quando com olhos fechados sobre
superfície estável. Os resultados apontam que o aumento da
instabilidade ML em idosas está mais associado ao histórico
de quedas e não à presença de OA de joelhos.
Existem estudos que apontam a instabilidade lateral como
fator preditor de quedas em idosos. Entre as principais alterações dos parâmetros posturais avaliados pela plataforma de
força, pode-se destacar a amplitude de oscilação ML do COP.18
Maki et al.25 sugeriram que o controle da estabilidade lateral
pode ser uma variável importante para intervenções de prevenção de quedas em idosos. Nossos resultados corroboram esses
estudos prévios, uma vez que o aumento da oscilação ML foi
observado em idosas com histórico de quedas. Swanenburg et
al.26 encontraram em seus resultados que a amplitude de DML
em condição de tarefa única sobre plataforma de força foi um
significativo preditor independente para quedas. O aumento da
516
oscilação ML observado pode ter sido causado por fraqueza
de músculos abdutores do quadril.27
Na literatura não há consenso sobre quais parâmetros de
oscilação do COP se apresentam aumentados na população
idosa. Abrahamová e Hlavacka15 observaram que os parâmetros
do COP apresentam aumento a partir dos 60 anos de idade,
e que esse aumento é mais evidenciado pela velocidade e
amplitude AP, sendo mais bem demonstrado sobre superfície
instável com olhos fechados. Para Du Pasquier et al.,17 após
realização de estudo longitudinal transversal, a velocidade
de oscilação do corpo na direção AP é o fator que demonstra
melhor o comprometimento da habilidade de manter a postura
ortostática com o envelhecimento. Jeka et al.28 sugeriram que a
capacidade de controlar a velocidade de deslocamento do COP
tem papel importante no controle do equilíbrio. Entretanto,
nossos resultados não evidenciaram diferenças nas velocidades
de DAP e DML ao comparar os grupos.
Nossos resultados mostraram que o grupo OA apresentou
diferenças em relação ao grupo sem OA no deslocamento AP.
Portanto, idosas com OA apresentam maior oscilação do COP
em AP, e isso aumenta o risco de quedas nessa população.
Entretanto, nessa amostra o fato de a idosa com OA já ter
histórico de quedas não trouxe risco adicional para queda. Já
o histórico de quedas interferiu no aumento da oscilação ML,
sem relação com a presença ou não de OA. Isso aponta para
a necessidade de abordagens específicas na reabilitação do
equilíbrio de idosas com histórico de quedas e daquelas com
OA de joelhos.
Para idosas com OA de joelhos observa-se a possível necessidade de incluir, nos programas de reabilitação, exercícios
para a melhora do equilíbrio semiestático por meio do treino
das estratégias de movimento, incluindo tornozelo, quadril e
passo. Já para as idosas com histórico de quedas parece mais
importante enfatizar o fortalecimento dos músculos abdutores
do quadril com a finalidade de aumentar a estabilidade ML.
Nesta amostra não foi realizada a avaliação da força muscular,
dado que ilustraria a associação entre diminuição da força
muscular de abdutores e adutores de quadril com o aumento
do deslocamento ML, situação encontrada por outros autores.
Outros estudos, associando avaliação da força muscular ao
equilíbrio, poderão responder a essas questões.
Das limitações encontradas em nosso estudo podemos citar:
o pequeno número amostral, embora essa dificuldade já tenha
sido encontrada por outros estudos que utilizaram a plataforma
de força como instrumento de avaliação do controle postural de
idosas,18 a falta de análises dinâmicas do equilíbrio, e a ausência
de avaliações da força muscular dos MMII.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):507-517
Parâmetros do controle postural em mulheres idosas com ou sem histórico de quedas associadas ou não à osteoartrite de joelhos
Concluindo, nossos resultados mostraram que idosas
portadoras de OA de joelho apresentam maior oscilação do
COP na direção AP, enquanto idosas com histórico de quedas
apresentam maior oscilação do COP na direção ML.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Dra. Fabíola Reis Oliveira e à Unidade de
Bioengenharia da FMRP/USP pela contribuição dada ao estudo.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
Owings TM, Grabiner MD. Variability of step kinematics in young
and older adults. Gait Posture 2004; 20(1):26–9.
2. Brunt D, Santos V, Kim HD, Light K, Levy C. Initiation of movement
from quiet stance: comparison of gait and stepping in elderly
subjects of different levels of functional ability. Gait Posture 2005;
21(3):297–302.
3. Oliveira AS. Fisioterapia aplicada aos idosos portadores de doenças
reumáticas. In: Rebelatto JR, Morelli JGS (eds.). Fisioterapia
Geriátrica: A prática de assistência ao idoso. Barueri: Manole,
2004.
4. Hanks J, Levine D. Condições reumáticas. In: Kauffman TL (ed.).
Manual de Reabilitação Geriátrica. São Paulo: Ganabara Koogan,
2001.
5. Lustri, WR, Morelli, JGS. Aspectos Biológicos do Envelhecimento.
In: Rebelatto JR, Morelli JGS (eds.). Fisioterapia Geriátrica: A
prática de assistência ao idoso. Barueri: Manole, 2004.
6. Hassan BS, Mockett S, Doherty M. Static postural sway,
proprioception, and maximal voluntary quadriceps contraction in
patients with knee osteoarthritis and normal control subjects. Ann
Rheum Dis 2001; 60(6):612–8.
7. Rao SS. Prevention of falls in older patients. Am Fam Physician
2005; 72(1):81–8.
8. Cress ME, Buchner DM, Questad KA, Esselman PC, deLateur BJ,
Schwartz RS. Continuous-scale physical functional performance
in healthy older adults: a validation study. Arch Phys Med Rehabil
1996; 77(12):1243–50.
9. Pajala S, Era P, Koskenvuo M, Kaprio J, Törmäkangas T, Rantanen T.
Force platform balance measures as predictors of indoor and outdoor
falls in community-dwelling women aged 63-76 years. J Gerontol
A Biol Sci Med Sci 2008; 63(2):171–8.
10. Shumway- Cook A , Woollacott MH. Controle Motor – Teoria e
aplicações práticas. 2.ed. São Paulo: Manole, 2003.
11. Perracini MR, Flo CM. Funcionalidade e envelhecimento. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
12. Lord S, Clark RD, Webster IW. Postural stability and associated
physiological factors in a population of aged persons. J Gerontol
1991; 46(3):M69–76.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):507-517
13. Thapa PB, Gideon P, Brockman KG, Fought RL, Ray WA. Clinical
and biomechanical measures of balance as fall predictors in
ambulatory nursing home residents. J Gerontol A Biol Sci Med Sci
1996; 51(5):M239–46.
14. Rubenstein LZ, Robbins AS, Schulman BL, Rosado J, Osterweil
D, Josephson KR. Falls and instability in the elderly. J Am Geriatr
Soc 1988; 36(3):266–78.
15. Abrahamová D, Hlavacka F. Age-related changes of human balance
during quiet stance. 2008. Physiol Res 2008; 57(6):957–64.
16. Era P, Sainio P, Koskinen S, Haavisto P, Vaara M, Aromaa A. Postural
balance in random sample of 7,979 subjects aged 30 years and over.
Gerontology 2006; 52(4):204–13.
17. Du Pasquier RA, Blanc Y, Sinnreich M, Landis T, Burkhard
P, Vingerhoets FJ. The effect of aging on postural stability: a
cross sectional and longitudinal study. Neurophysiol Clin 2003;
33(5):213–8.
18. Piirtola M, Era P. Force platform measurements as predictors of
falls among older people - a review. Gerontology 2006; 52(1):1–16.
19. Hammerman D. Clinical implications of osteoarthritis and ageing.
Ann Rheum Dis 1995; 54(2):82–5.
20. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to
know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing
2006: 35(Suppl 2):ii7–ii11.
21. Fitzgerald GK, Piva SR, Irrgang JJ, Bouzubar F, Starz TW.
Quadriceps activation failure as a moderator of the relationship
between quadriceps strength and physical function in individuals
with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2004; 51(1):40–8.
22. Perracini MR, Ramos LR. Fatores associados a quedas em uma
coorte de idosos residentes na comunidade. Rev Saúde Pública
2002; 36(6):709–16.
23. Wegener L, Kisner C, Nichols D. Static and dynamic balance
responses in persons with bilateral knee osteoarthritis. J Orthop
Sports Phys Ther 1997; 25(1):13–8.
24. Hassan BS, Doherty SA, Mockett S, Doherty M. Effect of pain
reduction on postural sway, with knee osteoarthritis proprioception
and quadriceps strength in subjects with knee osteoarthritis. Ann
Rheum Dis 2002; 61(5):422–8.
25. Maki BE, Holliday PJ, Topper AK. A prospective study of postural
balance and risk of falling in an ambulatory and independent elderly
population. J Gerontol 1994; 49(2):M72–84.
26. Swanenburg J, de Bruin ED , Uebelhart D, Mulder T. Falls prediction
in elderly people: a 1-year prospective study. Gait Posture 2010;
31(3):317–21.
27. Sinaki M, Brey RH, Hughes CA, Larson DR, Kaufman KR. Balance
disorder and increased risk of falls in osteoporosis and kyphosis:
significance of kyphotic posture and muscle strength. Osteoporos
Int 2005; 16(8):1004–10.
28. Jeka J, Kiemel T, Creath R, Horak F, Peterka R. Controlling human
upright posture: velocity information is more accurate than position
or acceleration. J Neurophysiol 2004; 92(4):2368–79.
517
ARTIGO ORIGINAL
Ausência de associação entre o genótipo
CC do polimorfismo rs7903146 no gene
TCF7L2 e artrite reumatoide
Licia Maria Henrique da Mota1, Francieli de Souza Rabelo2, Francisco Aires Corrêa Lima2,
Rodrigo Aires Corrêa Lima3, Jozélio Freire de Carvalho4, Gustavo Barcelos Barra5, Angélica Amorim Amato6
RESUMO
Introdução: TCF7L2 é um fator de transcrição envolvido na sinalização Wnt/beta-catenina e tem uma variante conhecida
por associar-se consistentemente com o risco de diabetes tipo 2. Alguns estudos também relataram sua associação com o
risco de alguns tipos de câncer. Objetivo: Como essa via pode também estar envolvida na fisiopatologia de outras doenças inflamatórias crônicas, tais como artrite reumatoide, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito do polimorfismo
rs7903146 do gene TCF7L2 na gravidade da artrite reumatoide em uma população brasileira. Pacientes e métodos: Esse
polimorfismo foi genotipado em 208 pacientes com artrite reumatoide e em 104 controles saudáveis. Analisou-se também
a associação desse polimorfismo com história de tabagismo, classe funcional e indicadores radiológicos de gravidade da
doença. Resultados: A distribuição dos genótipos CC, CT e TT do polimorfismo rs7903146 do gene TCF7L2 não diferiu
entre pacientes e controles, nem se encontrou qualquer associação entre o genótipo e os indicadores de gravidade da doença
ou história de tabagismo. Quando os dados foram avaliados usando-se o modelo dominante, no qual portadores dos genótipos CT e TT foram agrupados, observou-se um aumento do alelo T em pacientes com fator reumatoide positivo e erosões,
embora não significativo. A frequência do alelo T também estava aumentada nos pacientes com classe funcional II quando
comparados àqueles com classe I (P = 0,032). Conclusão: É possível que o pequeno número de pacientes incluído neste
estudo tenha dificultado achados adicionais. Outros estudos são, portanto, necessários para que se investigue o papel das
variantes do gene TCF7L2 no risco de artrite reumatoide e sua gravidade.
Palavras-chave: proteínas Wnt, artrite reumatoide, código genético, polimorfismo genético.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica
crônica e progressiva de etiologia desconhecida. Envolve primariamente a membrana sinovial, podendo levar à destruição
de osso e cartilagem.1 A AR afeta cerca de 0,5%–1% da população mundial, podendo chegar a 5%, dependendo da idade e
do grupo étnico estudado.2
A despeito dos importantes avanços no tratamento da AR nas
últimas décadas devido ao desenvolvimento de exames laboratoriais e de imagem apropriados, tais exames ainda apresentam um
valor limitado para o diagnóstico precoce da AR e para a definição
de prognóstico individual, o que pode limitar o efeito terapêutico
dos medicamentos disponíveis.3 Melhor compreensão dos fatores
fisiopatológicos relacionados à doença seria de grande valor para
o estabelecimento de tratamento precoce e eficaz.
Recebido em 05/09/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. GBB declara ser pesquisador no Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A. Os demais autores
declaram a inexistência de conflito de interesse. Comitê de Ética: 2008 E23.
Serviço de Reumatologia e Serviço de Endocrinologia Sabin Laboratório de Análises Clínicas; Hospital Universitário de Brasília – HUB.
1. Doutora em Ciências Médicas, Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília – FMUnB; Professora Colaboradora de Clínica Médica e do Serviço de
Reumatologia, FMUnB
2. Reumatologista, Hospital Universitário de Brasília – HUB
3. Reumatologista, HUB e Hospital de Base do Distrito Federal
4. Doutor em Reumatologia, Centro Médico, Hospital Aliança, Salvador, Bahia
5. Pesquisador no Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A.
6. Endocrinologista; Doutora em Ciências da Saúde, Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília – FCSUnB; Professora-Adjunta da Faculdade
de Farmácia, UnB
Correspondência para: Licia Maria Henrique da Mota. Centro Médico de Brasília. SHLS 716 – bloco E – salas 501/502. Brasília, DF, Brasil. CEP: 70390-904.
E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):518-528
523
Mota et al.
Vários estudos enfatizaram o importante papel desempenhado pelas células sinoviais fibroblasto-like ativadas (FLS) na
patogênese da AR, uma vez que uma população de FLS hiperplásicas poderia promover infiltração leucocitária e retenção.4
A sinóvia reumatoide acaba por transformar-se em um pannus
que destrói a cartilagem articular e o osso.4 Os mecanismos
subjacentes envolvidos na ativação de FLS ainda permanecem
desconhecidos. Foi sugerido que a via de sinalização Wingless
(Wnt) – Frizzled (Fz) poderia ter importância na ativação
autônoma de FLS.4
De fato, os genes que codificam proteínas na via de
sinalização Wnt-Fz apresentam alta expressão nos tecidos
sinoviais na AR. 4 Wnt é uma família de glicoproteínas
secretadas que se ligam a receptores acoplados à proteína
G da superfície celular da família Fz para induzir cascatas
intracelulares envolvidas com crescimento e diferenciação
celular.5 Recentemente sugeriu-se que tais cascatas também
poderiam contribuir para iniciar um fenótipo FLS ativado
em um processo de manutenção celular após lesão articular,6
e tal ativação de FLS poderia levar ao acúmulo de quinases
ativadas e fatores de transcrição e crescimento que pudessem
orientar a patogênese da AR.5
Foram reconhecidas duas vias diferentes Wnt-Fz: as vias
de sinalização canônica (ou dependente de β-catenina) e a não
canônica (ou independente de β-catenina).5 Uma das proteínas
da cascata intracelular ativada por sinalização dependente de
β-catenina é o fator de transcrição 7-like 2 (TCF7L2), que
recentemente foi foco de vários estudos sobre doenças humanas, pois algumas variantes comuns do gene TCF7L2 foram
associadas ao risco de se desenvolver diabetes tipo 2 (DT2)6
e certos tipos de câncer.7–9
O TCF7L2 codifica o TCF4, um fator de transcrição
envolvido na via de sinalização Wnt/β-catenina, e desempenha um papel crítico na embriogênese e no controle de
proliferação e diferenciação celular, estando também envolvido em diversos processos fisiológicos na vida adulta.10
Estudos recentes associaram o polimorfi smo rs7903146
no gene TCF7L2 ao risco de desenvolvimento de DT2,
possivelmente pelo comprometimento da função de células
beta-pancreáticas.11–14 Além disso, uma forte correlação
entre DT2 e o alelo T do polimorfismo rs7903146 no gene
TCF7L2 foi descrita na Dinamarca, nos Estados Unidos
e na Islândia.7,15 Essa mesma correlação foi verificada em
outras populações, como na Ásia oriental, Europa, África
ocidental e Escandinávia.16–19 Essa variante genética também
foi associada ao risco de neoplasias malignas de próstata,20
cólon8 e mama.9
524
Sugere-se ainda o envolvimento da via Wnt na resposta
inflamatória e na fisiopatologia da doença inflamatória crônica, como é o caso da AR.4 O complexo Wnt/Fz é responsável por controlar a formação de tecido na embriogênese e
durante o desenvolvimento dos membros e a formação das
articulações.4 Sen et al.21 estudaram o papel de um dos pares
receptor-ligante da via de sinalização Wnt-Fz, principalmente
Wnt-5A e Fz5, na ativação de FLS, que resulta na produção
de citocinas inflamatórias e quimiotáticas nas articulações
de pacientes com AR. O bloqueio da sinalização Wnt-5A/Fz5
diminui a expressão de citocinas induzidas por IL6 e IL15,
tal como RANKL, e até reduz a ativação sinovial.21 Um
outro estudo demonstrou que a ativação da sinalização Wnt
em condrócitos induz à degradação da matriz cartilaginosa,
que é semelhante ao que ocorre na osteoartrite e na AR.22
Vários estudos sugeriram que a sinalização Wnt aumenta a
formação óssea por meio da regulação da proliferação e da
diferenciação de osteoblastos e osteoclastos.23 Além disso, a
sinalização Wnt pode promover estimulação da expressão da
osteoprotegerina nos osteoblastos. Como a osteoprotegerina
inibe a diferenciação de osteoclastos, a sinalização pode aumentar parcialmente a massa óssea ao bloquear a reabsorção
óssea pelos osteoclastos.23
A ativação do sistema imune antes do início das manifestações clínicas da doença sugere que a AR clínica já represente uma doença crônica. Alguns estudos mostraram que o
tratamento das doenças autoimunes, quando iniciado o mais
cedo possível, antes do desenvolvimento das manifestações
da doença, pode retardar a progressão da doença e melhorar
o prognóstico do paciente.24,25 Assim, os genes que codificam
proteínas da via de sinalização Wnt são possíveis candidatos,
cujas variantes poderiam estar relacionadas ao risco de desenvolver doença ou à sua gravidade.
Os mecanismos subjacentes à associação dos polimorfismos TCF7L2 com o risco de DT2 e neoplasias malignas
ainda são pouco claros. Considerando-se que tais doenças
têm em comum com a AR um componente de resposta
inflamatória, e considerando-se o papel da via de sinalização Wnt-Fz nessa resposta, a investigação da frequência
de variantes comuns TCF7L2 nas doenças inflamatórias
sistêmicas, como AR, poderia contribuir para melhorar
o entendimento dos mecanismos envolvidos no risco aumentado de doença em situações de expressão anormal do
gene TCF7L2.26 Dados os possíveis benefícios, propôs-se
um estudo caso-controle para avaliar a associação entre
o polimorfismo rs7903146 de nucleotídeo único do gene
TCF7L2 e a atividade de AR.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):518-528
Ausência de associação entre o genótipo CC do polimorfismo rs7903146 no gene TCF7L2 e artrite reumatoide
PACIENTES E MÉTODOS
Pacientes
Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade de Brasília (CEP/UnB), os pacientes selecionados foram informados sobre o conteúdo e o objetivos da
pesquisa, os benefícios esperados, a liberdade de recusa e a
garantia de confidencialidade e privacidade. Aqueles que concordaram em participar assinaram o termo de consentimento
livre e informado.
Um total de 208 pacientes com AR atendidos no
Ambulatório de Artrite Reumatoide do Hospital Universitário
de Brasília foi selecionado por conveniência para o estudo. Eles
atendiam aos critérios classificatórios para AR do American
College of Rheumatology (ACR 1987).
Os seguintes dados dos pacientes foram obtidos a partir de
questionário ou retrospectivamente, por meio de consulta ao
prontuário médico: idade, gênero, histórico pessoal de DT2,
histórico de tabagismo, idade na ocasião do diagnóstico de
AR, tempo desde o diagnóstico de AR e classificação do status
funcional. Os resultados da dosagem do fator reumatoide (FR)
no soro também foram obtidos por revisão dos prontuários
médicos; em todos os pacientes, o FR foi medido por nefelometria, e valores acima de 15 UI/mL foram considerados
positivos.
Dados radiográficos também foram obtidos e incluíram
a presença de erosão nas mãos, pulsos, pés e tornozelos dos
pacientes. Integrantes da equipe de radiologia do Hospital
Universitário de Brasília, que realizam rotineiramente tais
exames, avaliaram as imagens.
Associação com polimorfismo foi averiguada por meio
dos testes qui-quadrado ou de verossimilhança.29 O teste
qui-quadrado foi usado para avaliar se a frequência do
genótipo observada era consistente com o equilíbrio de
Hardy-Weinberg. Modelos de regressão logística foram implementados para cada um dos seguintes dados, controlados
para idade e gênero: histórico de tabagismo, classe funcional
e erosões na radiografia. Os modelos também estimaram a
razão de chance com seus respectivos intervalos de confiança de 95%.30 O nível de significância adotado foi P < 0,05.
RESULTADOS
Este estudo incluiu 208 pacientes com diagnóstico de AR com
idade média de 51,55 ± 13,19 anos, dos quais a maioria era
mulheres (87,5%). A idade média por ocasião do diagnóstico
foi de 37,3 anos, e o tempo médio de doença foi de 8,1 anos,
avaliado pelo tempo desde o diagnóstico.
A distribuição do genótipo do polimorfismo rs7903146
do gene TCF7L2 foi 47,6% CC, 45,2% CT e 7,2% TT, consistente com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Isso resultou
nas seguintes frequências de alelos: alelo C, 70,2%; e alelo T,
29,8% (Tabela 1).
Não foram observadas diferenças estatísticas entre os genótipos CC, CT e TT e os seguintes indicadores de gravidade
da doença reumatoide: tabagismo (P = 0,691); FR (P = 0,418);
Tabela 1
Distribuição genotípica de acordo com os grupos-controle e
de pacientes
Grupo
Coleta, purificação e genotipagem de DNA
Uma amostra de 5 mL de sangue venoso foi obtida a partir de
punção de veia periférica usando-se material descartável; o
sangue armazenado em recipientes continha EDTA. A amostra
foi coletada no ambulatório ou no laboratório.
O DNA foi extraído das amostras pelo método
Chelex-100,27 e a genotipagem do polimorfismo rs7903146
foi conduzida pela reação em cadeia da polimerase aleloespecífica (PCR-AE). Os primers e as condições foram
anteriormente descritos.28
Variável
Os dados obtidos foram submetidos a testes estatísticos
apropriados. As variáveis tabagismo, FR, erosões e classe
funcional foram descritas nos pacientes de uma análise
polimórfica usando-se frequências absolutas e relativas.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):518-528
AR
N
Total
%
N
P
N
%
%
Masculino
62
59,6
26
12,5
88
28,2
Feminino
42
40,4
182
87,5
224
71,8
CC
43
41,3
99
47,6
142
45,5
CT
45
43,3
94
45,2
139
44,6
TT
16
15,4
15
7,2
31
9,9
43
41,3
99
47,6
142
45,5
Gênero
< 0,001
Genótipo TCF7L2
0,07
Genótipo TCF7L2
CC
CT ou TT
Análise estatística
Controle
Total
0,296
61
58,7
109
52,4
170
54,5
104
100
208
100
312
100
131
63,0
292
70,2
423
67,8
77
37,0
124
29,8
201
32,2
208
100
416
100
624
100
Alelo
C
T
Total
0,069
AR: artrite reumatoide.
525
Mota et al.
presença de erosões (P = 0,261) e classes funcionais I, II, III
e IV (P = 0,328) (Tabela 2).
Os dados também foram avaliados usando-se o modelo
dominante, no qual portadores dos genótipos CT e TT foram
agrupados para análise de regressão logística com controle de
gênero e idade (Tabela 3). Um aumento não significativo foi observado na probabilidade de surgimento do alelo T em pacientes
Tabela 2
Distribuição genotípica e correlação com tabagismo e indicadores
da gravidade da doença nos pacientes
Genótipo TCF7L2
Variável
CC
CT
TT
Total
P
N
%
N
%
N
%
N
%
Não
62
62,6
62
66,0
11
73,3
135
64,9
Sim
37
37,4
32
34,0
4
26,7
73
35,1
Não
29
31,2
21
22,8
3
23,1
53
26,8
Sim
64
68,8
71
77,2
10
76,9
145
73,2
Não
54
56,3
48
51,1
11
73,3
113
55,1
Sim
Classe
funcional
I
42
43,8
46
48,9
4
26,7
92
44,9
Tabagismo
0,691
FR
0,418*
Erosões
0,261
0,328*
44
44,4
30
31,9
6
40,0
80
38,5
II
25
25,3
36
38,3
6
40,0
67
32,2
III
18
18,2
21
22,3
2
13,3
41
19,7
IV
12
12,1
7
7,4
1
6,7
20
9,6
FR: fator reumatoide. *Resultado do teste de verossimilhança.
que apresentavam positividade para FR e erosões. Entretanto,
na análise da classe funcional houve um aumento na frequência
do alelo T em pacientes em classe funcional II quando comparados àqueles em classe funcional I (P = 0,032). Para as demais
classes funcionais, um aumento estatisticamente significativo na
probabilidade de surgimento do polimorfismo não foi observado
(P = 0,247 e P = 0,675 para classes III e IV, respectivamente).
DISCUSSÃO
Este estudo foi pioneiro na avaliação de associação entre o
genótipo CC do polimorfismo rs790146 no gene TCF7L2 e
algumas características da AR. Embora não se tenha encontrado
uma associação entre AR e o polimorfismo rs7903146 no gene
TCF7L2, nossos resultados sugerem uma tendência, ainda que
não estatisticamente significativa, de que o alelo T seja menos
representado no grupo de pacientes que no grupo-controle.
Neste estudo, um aumento não significativo na frequência
do alelo C do polimorfismo rs7903146 no gene TCF7L2 foi
encontrado em pacientes com AR. Uma correlação estatisticamente relevante foi observada entre o alelo T e a classe
funcional II de AR. O significado de tais achados é incerto; o
reduzido número de pacientes incluídos neste estudo pode ter
contribuído, assim como o fato de que o grupo-controle tenha
sido selecionado por conveniência e, portanto, não pareado
com o grupo de pacientes.
Até onde sabemos, não ficou demonstrado que as
frequências alélicas do polimorfismo rs7903146 no gene
Tabela 3
Distribuição genotípica e correlação com tabagismo e indicadores da gravidade da doença nos pacientes, ajustados para gênero
e idade (regressão logística)
Genótipo TCF7L2
Variável
CC
CT ou TT
OR*
N
%
N
%
Não
62
62,6
73
67
1
Sim
37
37,4
36
33
0,83
Não
29
31,2
24
22,9
1
Sim
64
68,8
81
77,1
1,53
Não
54
56,3
59
54,1
1
Sim
42
43,8
50
45,9
1,09
95% IC
OR**
95% IC
P
0,47-1,46
0,81
0,44-1,48
0,485
0,81-2,88
1.5
0,79-2,84
0,214
0,63-1,89
1,13
0,65-1,98
0,668
0,032
Tabagismo
FR
Erosões
Classe funcional
I
44
44,4
36
33
1
II
25
25,3
42
38,5
2,05
1,06-3,98
2,11
1,07-4,19
III
18
18,2
23
21,1
1,56
0,73-3,33
1,59
0,73-3,46
0,247
IV
12
12,1
8
7,3
0,81
0,3-2,21
0,8
0,27-2,31
0,675
FR: fator reumatoide. *Não ajustado; **Ajustado para gênero e idade.
526
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):518-528
Ausência de associação entre o genótipo CC do polimorfismo rs7903146 no gene TCF7L2 e artrite reumatoide
TCF7L2 variam de acordo com gênero ou grupo étnico,
exceto na população chinesa, na qual foi mostrado que a
frequência do alelo T do polimorfismo rs7903146 é baixa.31
As frequências alélicas encontradas no grupo-controle do
presente estudo são semelhantes àquelas descritas em indivíduos saudáveis incluídos nos grupos-controle de outros
estudos envolvendo aquele polimorfismo. Entretanto, as
diferenças de gênero e idade média entre os grupos de pacientes e controle neste estudo são limitações importantes,
pois a AR é mais comum em mulheres após os 40 anos.
Isso pode ter impedido o achado de possíveis diferenças
genotípicas entre eles.
Este é provavelmente o primeiro estudo que avaliou a
correlação entre a variante TCF7L2 e a doença reumatológica.
Além disso, é o primeiro a demonstrar a associação de um polimorfismo daquele gene com a classe funcional da AR. Embora
este estudo tenha muitas limitações que impedem conclusões
definitivas sobre o significado desses achados, abrem-se novas perspectivas para a investigação da fisiopatologia da AR.
Estudos adicionais são necessários para a confirmação desses
resultados e o esclarecimento do papel do gene TCF7L2 no
risco de AR e na determinação de sua gravidade.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a todos que participaram da execução deste
estudo: Jamille Nascimento Carneiro, Luciana Alves Almeida,
Regina Alice Fontes Von Kirchenheim, Talita Yokoy, Ana
Cristina V Oliveira, Clarissa Ferreira de Castro, Rodrigo Aires
Corrêa Lima, Ludmila Alves Sanches Dutra, Patrícia Godoy
Garcia Costa, Lara Franciele Ribeiro Velasco, Lídia Freire
Abdalla, Janete Ana Ribeiro Vaz, Sandra Santana Soares Costa,
Deborah Souza Rabelo e Daniel V. Oliveira.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
van der Horst-Bruinsma IE, Speyer I, Visser H, Breedveld FC,
Hazes JM. Diagnosis and course of early-onset arthritis: results of
a special early arthritis clinic compared to routine patient care. Rev
Bras Reumatol 1998; 37:1084–8.
Keen HI, Emery P. How should we manage early rheumatoid arthritis?
From imaging to intervention. Curr Opin Rheumatol 2005; 17(3):280–5.
Cabral D, Katz JN, Weinblatt ME, Ting G, Avorn J, Solomon DH.
Development and assessment of indicators of rheumatoid arthritis
severity: results of a Delphi panel. Arthritis Rheum 2005; 53(1):61–6.
Sen M. Wnt signalling in rheumatoid arthritis. Rheumatology
(Oxford) 2005, 44(6):708–13.
Cheon H, Boyle DL, Firestein GS. Wnt1 inducible signaling pathway
protein-3 regulation and microsatellite structure in arthritis. J
Rheumatol 2004; 31(11):2106–14.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):518-528
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Logan CY, Nusse R. The Wnt signaling pathway in development and
disease. Annu Rev Cell Dev Biol 2004; 20:781-810.
Grant SF, Thorleifsson G, Reynisdottir I, Benediktsson R, Manolescu A,
Sainz J et al. Variant of transcription fator 7-like 2 (TCF7L2) gene
confers risk of type 2 diabetes. Nat Genet 2006; 38(3):320–3.
Folsom AR, Pankow JS, Peacock JM, Bielinski SJ, Heiss G,
Boerkwinkle E. Variation in TCF7L2 and increased risk of colon
cancer: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study.
Diabetes 2008; 31(5):905-9.
Burwinkel B, Shanmugam KS, Hemminki K, Meindl A,
Schmutzler RK, Sutter C et al. Transcription factor 7-like 2
(TCF7L2) variant is associated with familial breast cancer risk: a
case-control study. BMC Cancer 2006; 6:268.
Prunier C, Hocevar BA, Howe PH. Wnt signaling: physiology and
pathology. Growth Factors 2004; 22(3):141–50.
Salonen JT, Uimari P, Aalto JM, Pirskanen M, Kaikkonen J,
Todorova B et al. Type 2 diabetes whole-genome association study
in four populations: the DiaGen consortium. Am J Hum Genet 2007;
81(2):338–45.
Lyssenko V, Lupi R, Marchetti P, Del Guerra S, Orho-Melander M,
Almgren P et al. Mechanisms by which common variants in the
TCF7L2 gene increase risk of type 2 diabetes. J Clin Invest 2007;
117(8):2155–63.
Scott LJ, Mohlke KL, Bonnycastle LL, Willer CJ, Li Y, Duren WL
et al. A genome-wide association study of type 2 diabetes in
Finns detects multiple susceptibility variants. Science 2007;
316(5829):1341–5.
Wang J, Kuusisto J, Vänttinen M, Kuulasmaa T, Lindström J,
Tuomilehto J et al. Variants of transcription factor 7-like 2 (TCF7L2)
gene predict conversion to type 2 diabetes in the Finnish Diabetes
Prevention Study and are associated with impaired glucose regulation
and impaired insulin secretion. Diabetologia 2007; 50(6):1192–200.
Helgason A, Pálsson S, Thorleifsson G, Grant SF, Emilsson V,
Gunnarsdottir S et al. Refining the impact of TCF7L2 gene
variants on type 2 diabetes and adaptive evolution. Nat Genet 2007;
39(2):218–25.
Hayashi T, Iwamoto Y, Kaku K, Hirose H, Maeda S. Replication
study for the association of TCF7L2 with susceptibility to type 2
diabetes in a Japanese population. Diabetologia 2007; 50(5):980–4.
Mayans S, Lackovic K, Lindgren P, Ruikka K, Agren A, Eliasson M
et al. TCF7L2 polymorphisms are associated with type 2 diabetes in
northern Sweden. Eur J Hum Genet 2007; 15(3):342–6.
Chandak GR, Janipalli CS, Bhaskar S, Kulkarni SR, Mohankrishna P,
Hattersley AT et al. Common variants in the TCF7L2 gene are
strongly associated with type 2 diabetes mellitus in the Indian
population. Diabetologia 2007; 50(1):63–7.
Cauchi S, Meyre D, Dina C, Choquet H, Samson C, Gallina S et al.
Transcription factor TCF7L2 genetic study in the French population:
expression in human beta-cells and adipose tissue and strong
association with type 2 diabetes. Diabetes 2006; 55(10):2903–8.
Agalliu I, Suuriniemi M, Prokunina-Olsson L, Johanneson B,
Collins FS, Stanford JL et al. Evaluation of a variant in the
transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) gene and prostate cancer risk
in a population-based study. Prostate 2008; 68(7):740–7.
Sen M, Chamorro M, Reifert J, Corr M, Carson DA. Blockade
of Wnt-5A/frizzled 5 signaling inhibits rheumatoid synoviocyte
activation. Arthritis Rheum 2001; 44(4):772–81.
527
Mota et al.
22. Yuasa T, Iwamoto ME. Mechanism of cartilage matrix remodeling
by Wnt. Clin Calcium 2006; 16(6):1034–9.
23. Issack PS, Helfet DL, Lane JM. Role of Wnt signaling in bone
remodeling and repair. HSS J 2008; 4(1):66–70.
24. Finckh A. Early inflammatory arthritis versus rheumatoid arthritis.
Curr Opin Rheumatol 2009; 21(2):118–23.
25. Graudal N. The natural history and prognosis of rheumatoid arthritis:
association of radiographic outcome with process variables, joint motion
and immune proteins. Scand J Rheumatol Suppl 2004; 118:1–38.
26. Rabelo FS, Mota LMH, Lima RA, Lima FA, Barra GB, Carvalho JF
et al. The Wnt signaling pathway and rheumatoid arthritis.
Autoimmun Rev 2010; 9(4):207–10.
27. Walsh PS, Metzger DA, Higuchi R. Chelex 100 as a medium for
simple extraction of DNA for PCR-based typing from forensic
material. Biotechniques 1991; 10(4):506–13.
528
28. Dutra LA, Costa PG, Velasco LF, Amato AA, Barra GB. Allelespecific PCR assay to genotype SNP rs7903146 in TCF7L2 gene
for rapid screening of diabetes susceptibility. Arq Bras Endocrinol
Metabol 2008; 52(8):1362–6.
29. Kirkwood BR, Sterne JAC. Essential medical statistics. 2nd ed.
Blackwell Science: Massachusetts, USA, 2006; p.502.
30. Neter J, Kutner MH, Nachtsheim CJ, Wasserman W. Applied Linear
Statistical Models. 4th. ed. Ilinois: McGraw-Hill, 1996.
31. Chang YC, Chang TJ, Jiang YD, Kuo SS, Lee KC, Chiu KC,
Chuang LM. Association study of the genetic polymorphisms of the
transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) gene and type 2 diabetes in
the Chinese population. Diabetes 2007; 56(10):2631–7.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):518-528
ARTIGO ORIGINAL
Associação entre os níveis séricos de potenciais
biomarcadores com a presença de fatores
relacionados à atividade clínica e ao mau
prognóstico em espondiloartrites
John Londono1, Maria Consuelo Romero-Sanchez2, Viviana Garcia Torres3, Wilson A. Bautista4,
Diego Jaimes Fernandez5, Julitte de Avila Quiroga6, Rafael Valle-Oñate7, Ana María Santos8, Juan Francisco Medina9
RESUMO
Introdução: Biomarcadores séricos, tradicionalmente associados à atividade inflamatória e mau prognóstico em doenças
reumáticas, não apresentam a mesma relação nas espondiloartrites. Objetivo: Estabelecer uma associação entre os níveis
séricos de biomarcadores com a presença de fatores associados com a atividade clínica e com o mau prognóstico nas
espondiloartropatias. Métodos: Sessenta e dois pacientes (13 com artrite reativa, 19 com espondilite anquilosante e 30
com espondiloartropatia indiferenciada) foram comparados a 46 controles sadios. Foram realizadas avaliações clínicas,
radiológicas e laboratoriais. Os resultados foram analisados de acordo com a presença de uveíte, entesite, lombalgia inflamatória, artrite, HLA-B27 e comprometimento das articulações sacroilíacas. Os biomarcadores utilizados foram: VHS,
PCRus, SAA, LBP, FSC-M e MMP-3, além da dosagem dos níveis séricos das citocinas: IL-17, IL-6, IL-1α, TNF-α, IFN-γ,
e IL-23. Resultados: Quarenta e três (69,4%) pacientes eram homens. A média de idades foi de 31,9 ± 9,9 anos, enquanto
a idade média para o aparecimento dos sintomas foi de 26,9 ± 7,3 anos. HLA-B27 foi positivo em 26 (41,9%) dos pacientes, lombalgia inflamatória esteve presente em 42 (67,7%), artrite em 44 (71,0%) e entesite em 34 (54,8%) pacientes. Os
níveis séricos de IL-17, IL-23, TNF-α, IL-6, IL-1α e PCRus foram mais elevados em pacientes com espondiloartropatia
em comparação com os controles. Os valores de PCRus (P = 0,04), IL-6 (P = 0,003), IL-1α (P = 0,03), e LBP (P = 0,03) se
associaram de maneira significativa com presença de HLA-B27, dor lombar inflamatória e artrite. Conclusão: O aumento
dos níveis séricos de PCRus, IL-6, IL-1α e LBP apresentaram associação com fatores relacionados a atividade clínica e
mau prognóstico em pacientes com espondiloartrites.
Palavras-chave: espondiloartrite, espondiloartropatias, artrite reativa, espondilite anquilosante, espondiloartrite
anquilosante, doenças reumatológicas, entesite, dor lombar, artrite, biomarcadores
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
Espondiloartrite (EpA) é um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias crônicas que compartilham manifestações clínicas
e radiológicas. Essas doenças estão associadas à presença de
antígeno leucocitário humano B27 (human leukocyte antigen,
HLA-B27), que leva a uma tendência para associação familiar.1–3 As doenças a seguir compreendem EpA: espondilite
Recebido em 17/10/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse. Comitê de Ética: Faculdade de
Medicina da Universidade de La Sabana. Suporte Financeiro: Universidade de La Sabana.
Universidade de La Sabana; Universidade de Navarra.
1. Médico, PhD(c), Universidade de Navarra, Universidade de La Sabana
2. PhD., Imunologia, Hospital Militar Central, Universidade de La Sabana; Instituto UIBO, Universidade del Bosque
3. Médico, Reumatologia, Hospital Militar Central, Universidade de La Sabana
4. Médico, Reumatologia, Hospital Militar Central, Universidade Militar de Nova Granada
5. Médico, MsC (c), Reumatologia, Hospital Militar Central, Universidade de La Sabana
6. MsC., Imunologia, Universidade del Bosque
7. Médico, Reumatologia, Hospital Militar Central; Professor da Universidade de La Sabana
8. Aluna de Pós-Graduação, Departamento de Biologia, Universidade de Los Andes
9. Médico, PhD, Centro de Pesquisas Médicas Aplicadas na Área de Geneterapia e Hepatologia – CIMA; Professor de Medicina Interna, Universidade de Navarra
Correspondência para: John Londono. Campus Universitario del Puente del Comun, Km 7 – Autopista Norte de Bogota, D.C. P.O.Box: 250001. Chia, Cundinamarca,
Colombia. E-mail: [email protected]
536
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
Associação entre os níveis séricos de potenciais biomarcadores com a presença de fatores relacionados à atividade clínica e ao mau prognóstico em espondiloartrites
anquilosante (EA), artrite reativa (ARe), artrite psoriásica
(APs), artrite associada a doença inflamatória intestinal e
espondiloartrite indiferenciada (EpAi).4
A apresentação clínica da EpA caracteriza-se por comprometimento de articulações do esqueleto axial e periférico,
entesite e manifestações extra-articulares. Em conjunto com
a EA, a EpAi é o subtipo mais comum, com prevalência entre
0,7% e 2,0% na população geral.3
Tradicionalmente, o subtipo de doença e sua progressão,
com o passar do tempo, têm sido correlacionados com fatores
prognósticos como raça, gênero, idade por ocasião do surgimento e envolvimento precoce do esqueleto axial.5–7
Em estudos realizados na América Latina, os tipos mais
frequentes de EpA apresentados foram EpAi e ARe. Os
estágios iniciais dessas doenças estão associados ao comprometimento inflamatório articular e à entesite dos membros
inferiores.7–9
Algumas características relacionadas ao surgimento da
doença, como idade de surgimento, HLA-B27, duração dos
sintomas do primeiro episódio e gênero masculino, entre
outras, podem determinar a expressão clínica e a evolução da
EpA. Em geral, os homens apresentam formas mais graves e
exibem maior comprometimento axial, enquanto as mulheres
têm maior comprometimento articular periférico e menos
sacroiliíte.2 Nos casos de EA juvenil, o comprometimento da
articulação do quadril é considerado fator para mau prognóstico
a longo prazo.9 Outros marcadores de gravidade da doença são:
velocidade de hemossedimentação (VHS) > 30 mm/hora, baixa
resposta a agentes anti-inflamatórios não esteroidais (AINE),
amplitude de movimento limitada, limitação da coluna vertebral lombar, dactilite, oligoartrite e idade no surgimento da
doença inferior a 16 anos.10
Existe predisposição genética para ocorrência da doença, o que fica evidenciado por sua robusta associação com
HLA-B27, especialmente no caso de EA, em que 90% dos
pacientes são positivos para esse alelo.11 Pacientes com EpA
e HLA-B27 exibem sintomas articulares mais graves e prolongados, maior comprometimento axial dos quadris e manifestações extra-articulares mais frequentes – por exemplo, uveíte e
envolvimento cardíaco.
Recentemente, estudos genômicos de pacientes com EA
identificaram e validaram outros loci, além do HLA-B27,
envolvidos na patogênese dessa doença. Tais genes são a
aminopeptidase 1 do retículo endoplasmático (ERAP-1), o
receptor interleucina 23 (IL-23R), o receptor IL-1 (IL-1RII) e
dois loci que codificam genes desconhecidos. O risco atribuído
a populações com os três genes associados é de 90%, 26% e
1%, respectivamente.12–14
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
Os principais desafios para o tratamento da EpA estão
ligados à falta de biomarcadores associados à atividade da
doença, e também à impossibilidade de prever a lesão articular
e a resposta ao tratamento. Estudos recentemente publicados
concentraram-se na possível contribuição de marcadores biológicos solúveis que foram selecionados com base no presente
entendimento de seu papel na inflamação e/ou de sua associação com a remodelagem da matriz articular.15
Os biomarcadores podem dar informações que esclarecem
o prognóstico, a atividade da doença e a patogênese da EpA.16
A VHS e a proteína C-reativa (PCR) são dois biomarcadores atualmente utilizados para a avaliação da atividade
inflamatória da doença. Mas esses biomarcadores não possuem
as melhores características de especificidade, sensibilidade e
reprodutibilidade. Esses marcadores da inflamação oferecem
baixa correlação com o grau de atividade em pacientes com
EpA.17
Recentemente, foram propostos outros biomarcadores para
atividade de EpA, inclusive metaloproteinase 3 (MMP-3),18
IL-1α,19 IL-6,20 fator estimulador de colônia de macrófago
(M-CSF)21 e proteína de ligação de lipopolissacarídeo (LBP).22
A IL-17 situa-se entre os biomarcadores recentemente avaliados, mas não foi informada associação com a atividade da
doença.12 No entanto, recentemente foram descritos níveis
séricos de IL-17 e IL-23 significativamente elevados em
pacientes com EA em comparação a controles saudáveis, sugerindo que essas duas citocinas desempenham papéis críticos
na patogênese da EA.23
O objetivo deste estudo foi estabelecer a associação entre
biomarcadores potenciais para EpA com a presença de fatores
associados à atividade e mau prognóstico em pacientes nos
estágios iniciais da doença.
PACIENTES E MÉTODOS
Amostras de sangue foram coletadas de 62 pacientes com
diagnóstico de EpA, de acordo com os critérios de classificação
estabelecidos pelo European Spondyloarthritis Study Group
(ESSG, Grupo Europeu de Estudo da Espondiloartrite).24
Desses pacientes, 43 eram homens e 19 mulheres, e os pacientes foram coletados consecutivamente e conforme a conveniência. Os pacientes compareceram na Clínica de EpA do
Hospital Militar Central entre janeiro de 2010 e maio de 2011.
Treze indivíduos foram diagnosticados com ARe, com base
na proposta para diagnóstico descrita no Terceiro Workshop
Internacional sobre ARe em Berlim.25 Dezenove pacientes foram diagnosticados com EA com base nos critérios modificados
de Nova Iorque, e 30 pacientes foram diagnosticados com EpAi
537
Londono et al.
em conformidade com os critérios de classificação do ESSG.
Por ocasião do estudo, todos os pacientes receberam AINE e
sulfasalazina (1,5–2 g/dia). Nenhum dos pacientes recebeu
tratamento com agentes biológicos ou com glicocorticoides
intra-articulares ou sistêmicos. Quarenta e seis indivíduos saudáveis foram incluídos no estudo, como controles. As amostras
séricas dos controles saudáveis participantes foram obtidas no
banco do Hospital Militar Central de indivíduos sem doenças
inflamatórias, autoimunes ou infecciosas, e foram levados em
consideração o gênero e a idade.
O estágio da atividade da doença foi medido pelo índice
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI),26
e o estado funcional foi avaliado pelo índice Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index (BASFI).27 Todas as medidas relacionadas à atividade da doença e à função física dos pacientes
foram realizadas conforme recomendação da Assessment of
SpondyloArthritis International Society (ASAS).28 Todos os pacientes receberam AINE e sulfassalazina, mas nenhum recebeu
terapia biológica ou corticoides intra-articulares ou sistêmicos.
Amostras séricas
As amostras séricas foram preparadas a partir de 3 mL de
sangue venoso sem anticoagulante, em conformidade com a
técnica de rotina. Todas as amostras (soros de pacientes com
EpA e participantes saudáveis) foram centrifugadas durante
10 minutos a 2.500 rpm, e foram subsequentemente congeladas a –80o C até sua avaliação, com um lapso de tempo não
superior a dois meses após sua obtenção. As amostras séricas
de pacientes e controles foram coletadas e processadas simultaneamente em intervalos de tempo. Da mesma forma, as
amostras de sangue foram coletadas simultaneamente com os
parâmetros de atividade clínica.
Ensaio imunoadsorvente ligado à enzima (ELISA)
Os níveis séricos foram determinados para IL-23, MMP-3,
amiloide sérico A (SAA) e M-CSF (R & D Systems) por ELISA
utilizando anticorpos pareados de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras séricas foram analisadas em
duplicada. Os valores para cada citocina em um grupo de participantes foram expressos na forma de médias ± DP em pg/mL.
Os níveis de proteína C-reativa ultrassensível (PCRus) e de
LBP foram analisados por quimioluminescência. No mesmo
dia foram realizadas comparações entre amostras. O valor de
referência que considerou positivo o PCRus foi 0,9 mg/dL.
O projeto foi realizado sob os princípios da Declaração
de Helsinque, tendo sido aprovado pela Comissão de Ética
da instituição. Todos os participantes tinham previamente
assinado um formulário de consentimento informado, e a
confidencialidade foi mantida.
Análise estatística
Na análise dos dados utilizou-se o pacote estatístico SPSS 17.0
para Windows. Para a avaliação das variáveis contínuas foram
utilizadas medidas de tendência central e de dispersão; para a
comparação entre grupos de variáveis quantitativas com distribuição paramétrica foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes. As variáveis categóricas foram apresentadas
em gráficos de frequência e percentuais; quando necessários,
foram utilizados os testes do qui-quadrado e exato de Fisher
para comparação dos grupos. Consideramos um valor P < 0,05
como estatisticamente significativo. Levamos em consideração
a distribuição por gênero e a idade média dos pacientes e dos
controles, mas não foi realizada uma análise pareada.
RESULTADOS
Análise de citometria de fluxo
Na citometria de fluxo, utilizou-se um Cytometric Bead-Array
(CBA Flex Set) para medir os níveis séricos de citocinas
(IL-17, IL-6, IL-1α, TNF-α e INF-γ). As pérolas de captura,
os anticorpos de detecção conjugados com PE, os controles
e as amostras séricas dos pacientes e dos controles saudáveis
foram incubados conjuntamente para formar complexos em
sanduíche. As amostras foram coletadas com o uso de um citômetro de fluxo FACS Canto II™. Os dados foram adquiridos
com o programa FACS DIVA, e os resultados foram gerados
em formato gráfico e tabular utilizando o programa BD FCAP,
criando um gate marcador com base em 1.800 eventos de
controle para cada citocina; os níveis estão expressos como
médias ± desvio padrão (DP) em pg/mL.
538
Características gerais da população
Os dados demográficos, informações gerais e características
relacionadas à doença de todos os 62 pacientes estão ilustrados
na Tabela 1.
Histórico ligado ao surgimento da doença
Os sintomas mais frequentes no início da doença foram artrite
e dor lombar inflamatória (DLI), seguidos por entesopatia
(Tabela 2).
Atividade da doença
Por ocasião da avaliação dos pacientes, a atividade da doença
foi classificada como moderada ou grave para a maioria dos
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
Associação entre os níveis séricos de potenciais biomarcadores com a presença de fatores relacionados à atividade clínica e ao mau prognóstico em espondiloartrites
Tabela 3
Variáveis clínicas relacionadas à atividade da doença
Tabela 1
Dados demográficos (espondiloartrite, n = 62)
Atividade da doença determinada
pelo examinador, EVA 0–10*
5,4 ± 2,0
5,01 ± 5,7
Atividade da doença determinada
pelo paciente, EVA 0–10*
6,5 ± 2,4
43 (69,4)
Rigidez matinal (min)
46,3 ± 35,7
Relação de gênero, M:F
3:1
Teste de Schober**
4,9 ± 5,5
HLA-B27 (+)
26 (41,9)
Expansão torácica* (cm)
4,2 ± 1,3
EA
20 (32)
Distância entre o occipúcio e a parede* (cm)
0,05 ± 0,4
EpAi
29 (47)
Teste de Patrick**
27 (43,5)
13 (21)
Envolvimento periférico**
38 (61,3)
Envolvimento axial**
7 (11,3)
Envolvimento misto**
4 (6,5)
BASDAI*
6,1 ± 2,0
BASFI*
5,8 ± 2,3
PCRus (mg/L)*
9,4 ± 16,5
VHS (mm/hora)*
13,5 ± 13,8
Idade* (anos)
31,9 ± 9,9
Idade no surgimento dos sintomas* (meses)
26,9 ± 7,3
Tempo de evolução* (anos)
Gênero, M (%)
ARe
*Média ± DP.
EA: espondilite anquilosante; EpAi: espondiloartrite indiferenciada; ARe: artrite reativa.
Tabela 2
Sintomas presentes no início da doença (espondiloartrite, n = 62)
Dor lombar inflamatória
67,7%
Artrite
71,0%
Entesite
54,8%
Infecção – diarreia
29,0%
Uveíte – anterior
12,9%
Dor glútea
17,7%
Dactilite
19,4%
pacientes (atividade moderada se BASDAI caísse entre 4–6,9,
e grave se BASDAI ≥ 7). O padrão de comprometimento da
doença foi distribuído como se segue: 38 (61,3%) pacientes
exibiam envolvimento periférico, sete (11,3%) tinham envolvimento axial e quatro (6,5%) pacientes exibiam envolvimento
misto (Tabela 3).
Os diferentes marcadores séricos quantificados nos pacientes e nos controles estão descritos nas Tabela 4 e 5. Dentro de
cada marcador sérico associado com inflamação (IL-17, IL-23,
TNF-α, IL-6, IL-1α e PCRus) foram observadas diferenças
estatisticamente significativas em comparação aos controles,
e os níveis de citocinas estavam mais altos em pacientes com
EpA. Os níveis de IFN-γ, MMP-3, SAA e M-CSF também
estavam mais elevados em pacientes com EpA, em comparação
aos controles – mas essas diferenças não foram estatisticamente
significativas (Tabela 4). Os dados para atividade dos marcadores clínicos e biológicos estão descritos na Tabela 5.
Os diferentes marcadores de inflamação foram correlacionados com fatores para mau prognóstico no início da doença,
inclusive HLA-B27 e os precedentes de DLI e artrite, conforme
mostra a Tabela 6. A expressão de marcadores, por exemplo,
PCRus (P = 0,04), IL-6 (P = 0,003), IL-1α (P = 0,03) e LBP
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
*Média ± DP **Frequência n (%)
PCRus: proteína C-reativa ultrassensível; VHS: velocidade de hemossedimentação.
Tabela 4
Comparação de marcadores séricos de inflamação em pacientes
com espondiloartrite e em controles saudáveis
Marcador
EpA (n = 62)
Controles (n = 46)
P
IL-17 (pg/mL)
52,54 ± 87,12
13,73 ± 26,40
0,000
IL-23 (pg/mL)
4,76 ± 2,93
3,12 ± 0,717
0,000
TNF-α (pg/mL)
24,20 ± 36,35
15,95 ± 12,67
0,000
IL6 (pg/mL)
48,24 ± 73,73
20,14 ± 4,56
0,000
IFN-γ (pg/mL)
0,88 ± 2,95
0,56 ± 1,22
0,615
IL-1α (pg/mL)
46,0 ± 23,22
42,23 ± 30,84
0,001
MMP-3 (ng/mL)
21,42 ± 21,83
18,05 ± 9,96
0,900
SAA (ng/mL)
853,7 ± 946,2
282,49 ± 371,94
0,001
M-CSF (pg/mL)
102,48 ± 67,86
34,74 ± 33,40
0,001
LBP (µg/mL)
7,54 ± 3,71
3,5±1,8
0,045
VHS (mm/hora)
17,08 ± 13,87
3,8 ± 0,7
0,003
PCRus (mg/L)
8,31 ± 16,7
1,13 ± 0,88
0,020
Os resultados estão expressos em média ± DP.
EpA: espondiloartrite; IL: interleucina; TNF-α: fator-alfa de necrose tumoral; INF-γ: interferon
gama; MMP-3: metaloproteinase 3; SAA: amiloide sérico A; M-CSF: fator estimulante de colônia de
macrófagos; LBP: proteína de ligação de lipopolissacarídeo; VHS: velocidade de hemossedimentação;
PCRus: proteína C-reativa ultrassensível.
(P = 0,03), foi significativamente maior em pacientes que se
apresentaram com fatores de mau prognóstico associados ao
início da doença versus pacientes que não se apresentaram
com fatores de mau prognóstico (Tabela 6).
539
Londono et al.
Tabela 5
Dados de atividade no grupo de espondiloartrite e subtipos
EpA
EA
EpAi
ARe
BASDAI
6,1 ± 2,0
6,4 ± 2,0
6,2 ± 1,6
5,7 ± 2,7
BASFI
5,8 ± 2,3
5,4 ± 2,3
5,9 ± 2,1
5,9 ± 2,7
VHS (mm/hora)
17,1 ± 13,8
13,4 ± 12,8
15,2 ± 10,4
26,7 ± 18,1
PCRus (mg/L)
8,31 ± 16,7
7,9 ± 16,4
4,5 ± 9,9
22,4 ± 22,2
LBP (µg/mL)
7,5 ± 3,7
0,53 ± 2,4
6,6 ± 3,5
10,0± 4,8
SAA (ng/mL )
853,7 ± 946,2
752,5 ± 871,8
652,0 ± 820,2
1459,7 ± 1124,7
Os resultados estão expressos em média ± DP.
EpA: espondiloartrite; EA: espondilite anquilosante; EpAi: espondiloartrite indiferenciada; ARe: artrite reativa; VHS: velocidade de hemossedimentação; PCRus: proteína C-reativa ultrassensível; LBP: proteína
de ligação de lipopolissacarídeo; SAA: amiloide sérico A.
Tabela 6
Fatores de mau prognóstico em pacientes com espondiloartrite:
HLA-B27+, DLI e artrite. Descrição da construção do mau
prognóstico como variáveis de grupo
Fatores (+)
n=9
Fatores (-)
n = 53
P
VHS (mm/hora)
21,6 ± 16,3
16,3 ± 13,6
0,4
PCRus (mg/L)
21,1 ± 26,0
7,4 ± 13,9
0,04
SAA (ng/mL)
1312,9 ± 1184,8
786,6 ± 894,9
0,4
MMP-3 (ng/mL)
29,4 ± 32,6
20,1 ± 19,8
0,7
M-CSF (pg/mL)
87,2 ± 33,1
106,5 ± 71,9
0,9
IL-6 (pg/mL)
79,8 ± 55,3
43,3 ± 76,2
0,003
IL-1α (pg/mL)
56,1 ± 30,6
43,7 ± 21,7
0,03
TNF-α (pg/mL)
19,4 ± 5,4
24,7 ± 39,6
0,5
IL-17 (pg/mL)
69,3 ± 69,1
49,3 ± 90,9
0,06
IL-23 (pg/mL)
4,9 ± 2,9
4,8 ± 3,0
0,8
INF-γ (pg/mL)
0,6 ± 1,2
0,9 ± 3,2
0,68
LBP (µg/mL)
9,9 ± 4,5
7,2 ± 3,4
0,03
Os resultados estão expressos em média ± DP. Valores P estatisticamente significativos em pacientes
com EpA contra fatores de mau prognóstico (P < 0,05).
DLI: dor lombar inflamatória; VHS: velocidade de hemossedimentação; PCRus: proteína C-reativa
ultrassensível; SAA: amiloide sérico A; MMP-3: metaloproteinase 3; M-CSF: fator estimulante de
colônia de macrófagos; IL: interleucina; TNF-α: fator-alfa de necrose tumoral; INF-γ: interferon gama;
LBP: proteína de ligação de lipopolissacarídeo.
DISCUSSÃO
O presente estudo comparou níveis sanguíneos de citocinas
em uma população de pacientes com EpA em seus estágios
iniciais (menos de cinco anos de evolução) com um grupo de
controles. Os níveis de IL-17, IL-23, TNF-α, IL-6, IL-1α e
PCRus estavam mais altos em pacientes em comparação aos
controles. Os níveis de PCRus, IL-6, IL-1α e LBP também
estavam significativamente elevados em pacientes com fatores associados a mau prognóstico, por exemplo, EpA, DLI e
540
artrite, quando comparados a pacientes sem fatores para mau
prognóstico.
Em sua maioria, os estudos relacionados a marcadores
inflamatórios em pacientes com EpA têm sido realizados em
populações de pacientes com EA; em contraste, a população
deste estudo consistiu de pacientes com ARe e EpAi, além
de EA.29,30
Em nosso estudo, os níveis de PCRus foram mais altos
em pacientes com EpA, quando comparados aos controles,
demonstrando correlação com a presença de fatores de mau
prognóstico. No caso de EA, apenas 40%–60% dos pacientes
exibiam elevação. Pacientes sem valores elevados podem ter
a doença clinicamente ativa, o que, em geral, aponta para uma
fraca correlação entre os níveis dessa proteína e a atividade
clínica da doença em EA. Os níveis de PCR comum foram comparados aos níveis de PCRus como parâmetros de mensuração
da atividade em um grupo de pacientes com EA, pertencentes
à coorte alemã de EpA. PCRus exibiu melhor correlação com
PCR comum com parâmetros clínicos de atividade da doença
em pacientes com EpA axial.31 Como resultado, PCRus pode
ter desempenho melhor que PCR para avaliação da atividade
da doença em pacientes com EpA axial.
A IL-6 é uma das principais citocinas já propostas como
biomarcadores em pacientes com EpA, estando significativamente elevada na população do presente estudo quando
comparada aos controles. Esta é uma citocina pleotrópica
bem conhecida por induzir a síntese de diversas proteínas
hepáticas. Níveis elevados de IL-6 são observados em pacientes com EA, em comparação a indivíduos saudáveis, o
que revela uma correlação entre IL-6 e anquilose vertebral e
atividade da doença.32 Também foi observado aumento dos
níveis dessa citocina em pacientes com EpA; observou-se
redução dos níveis duas semanas depois do tratamento em
pacientes que responderam ao tratamento, e também reduções
persistentes em um acompanhamento de três anos. Por essas
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
Associação entre os níveis séricos de potenciais biomarcadores com a presença de fatores relacionados à atividade clínica e ao mau prognóstico em espondiloartrites
razões, a IL-6 é considerada uma citocina com valor potencial
para monitoramento da atividade da doença e da resposta ao
tratamento em pacientes com EpA.33 As principais diferenças
na população no presente estudo são que o estudo precedente
foi realizado com base apenas em pacientes com EA e APs,
enquanto o presente estudo incluiu pacientes com EA, ARe e
EpAi. Da mesma forma, os pacientes participantes no estudo
precedente receberam terapia biológica, mas em nosso estudo
os pacientes não foram expostos a esse tratamento. A IL-6
também demonstrou correlação com os escores BASDAI e
com as imagens por ressonância magnética (IRM) em termos
de inflamação em um estudo de fase III de infliximabe. Foram
observadas reduções significativas nos níveis de IL-6 e de
outros marcadores após uso de infliximabe, em comparação
com placebo. Além disso, os níveis de IL-6 tinham correlação
com o número de articulações periféricas inflamadas.34
Recentemente, o papel da IL-23 e da IL-7 na patogênese da
EpA vem acumulando interesse considerável, porque estudos
genéticos demonstraram associações com polimorfismos no
receptor de IL-23 em pacientes com EA e doença de Crohn.
A IL-23 induz a polarização de linfócitos T CD4 virgens em
células T-helper 17 (Th-17), o que leva à produção de IL-17,
uma citocina proinflamatória encontrada em níveis elevados
no soro e no líquido sinovial de pacientes com EpA e artrite
reumatoide (AR).15 Dois estudos corroboraram, recentemente,
o papel de IL-17 na patogênese da EpA em seres humanos.
Em um deles, os níveis de IL-17 estavam elevados em
pacientes com EA estabelecida e ativa, em comparação aos
controles, correlacionando com a atividade da doença. De
modo parecido com nossa população, os pacientes não receberam medicamentos imunomoduladores ou medicamentos para
a modificação do metabolismo ósseo. A idade média (42 vs.
31 anos, respectivamente) e a duração média da doença (14 vs. 5
anos, respecti vamente) foram mais elevadas em comparação
ao nosso estudo. Os níveis séricos de IL-17 foram mais altos
em pacientes versus controles.35
No outro estudo, os níveis sinoviais de IL-17 estavam
mais altos em pacientes com ARe e EpAi, em comparação
com pacientes com AR e osteoartrite.36 Porém, em um estudo de
pacientes com EpA, os níveis séricos estavam mais elevados
que nos controles, e não houve correlação com atividade da
doença ou redução com a terapia anti-TNF-α.37 Um estudo
recentemente publicado de pacientes com EA demonstrou que
os níveis séricos de IL-17 e IL-23 estavam significativamente
mais altos em pacientes com EA, em comparação aos controles.
No entanto, não foi observada associação entre os níveis
séricos de IL-17 e IL-23 com atividade clínica e parâmetros
laboratoriais.23
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
Outra citocina que estava elevada na população em estudo,
quando comparada aos controles, foi a IL-1α. Há informações
limitadas relacionadas ao papel dessa citocina como marcador
de inflamação em pacientes com EpA. A avaliação dessa e
de outras citocinas, por exemplo, TGF-β, IFN-γ e IL-10, não
tem sido muito esclarecedora.15 Um estudo que identificou
quais reagentes de fase aguda e citocinas teriam utilidade na
monitoração do tratamento com infliximabe em pacientes com
EA analisou 22 citocinas, tendo demonstrado que IL-1α sérica
diferenciava pacientes respondentes ao tratamento na sexta
semana, com sensibilidade de 84,9% e especificidade de 53,8%.
Provavelmente a IL-1α sérica foi gerada pelos compartimentos
articulares, porque os níveis de líquido sinovial estavam mais
elevados que os níveis séricos correspondentes. Portanto,
essa citocina é considerada como biomarcador potencial em
pacientes com EpA.19
A LBP é uma proteína de ligação de endotoxina que funciona de maneira coordenada para facilitar a resposta total
do hospedeiro contra infecções bacterianas gram-negativas.
Sua estrutura, função e mobilização permitem uma resposta
proinflamatória altamente sensível contra pequenas concentrações de bactérias no início da infecção bacteriana. Mais tarde,
essa resposta permite a eficiente eliminação de bactérias viáveis e seus remanescentes, além da eliminação da inflamação
derivada da endotoxina.38 Essa proteína está incluída no grupo
de biomarcadores diagnósticos ou de atividade propostos para
EpA.32 No presente estudo, observamos níveis significativamente elevados de LBP em pacientes que apresentavam fatores
de mau prognóstico no início da doença.
Recentemente, demonstrou-se que mais um reagente de
fase aguda, SAA, estava elevado em pacientes com EpA e
tinha correlação com PCR, VHS e BASDAI.15 Na população de nosso estudo, os níveis de SAA foram mais altos em
pacientes com EpA, em comparação com os controles. Essa
proteína é membro da família das apolipoproteínas, sendo
primariamente sintetizada no fígado e no líquido sinovial
por monócitos e por macrófagos ativados.32,39 Sua relação com
a atividade da doença de SpA foi avaliada em um estudo de
pacientes com EA e conjuntamente com VHS e PCR, que foram
comparados com BASDAI. Houve boa correlação entre SAA
e VHS, PRC e BASDAI; portanto, os autores propuseram
SAA como candidato para biomarcador de atividade.40 Assim,
SAA se situa entre os reagentes de fase aguda que funcionam
mais apropriadamente como prognosticadores da resposta ao
tratamento em pacientes com TNF-α, juntamente com PCR e
IL-6.15 Uma combinação de níveis basais elevados de PCR e SAA
revela maior valor prognóstico para resposta clínica (81%) em
pacientes com EA tratados com anti-TNF.41
541
Londono et al.
Nosso estudo documentou níveis de concentração sérica
de MMP-3 elevados em pacientes com TNF-α, em comparação com indivíduos saudáveis. Um importante conjunto de
dados avaliou MMP-3 como um biomarcador que reflete
a atividade da doença, por ser expresso em uma série de
células intra-articulares, como macrófagos, fibroblastos, e
condrócitos, e em resposta a diversos estímulos e citocinas
proinflamatórias, como TNF-α.42
Em um estudo recentemente publicado, foi observada
uma fraca correlação com PCR, mas não com BASDAI, no
início do estudo.43 Também foram observadas correlações
fracas entre as mudanças em MMP-3 e as mudanças em PCR
e BASDAI em pacientes que foram medicados com adalimumabe.44 Em outros artigos, não foi observada correlação entre
MMP-3 e VHS ou BASDAI.45,46 Essas discrepâncias podem
refletir o fenótipo da doença, especialmente sua prevalência
relativa à inflamação periférica ativa nas diferentes coortes.
Em particular, foi demonstrada uma correlação significativa
entre os níveis séricos de MMP-3 e o grau histopatológico
de inflamação sinovial no joelho em pacientes com EpA
predominantemente periférica.47 Por outro lado, a redução de
MMP-3 no líquido sinovial e no soro é proporcional à redução
no grau de inflamação na histopatologia, apóso tratamento
com infliximabe. Do mesmo modo, MMP-3 é um significativo
prognosticador independente de progressão radiográfica em
pacientes com EA, sobretudo naqueles pacientes com lesão
radiográfica preexistente.43
Ainda existem desafios importantes no campo da EpA.
Primeiramente, a avaliação da gravidade da doença, especialmente o grau de inflamação, fica prejudicada pela baixa
sensibilidade e especificidade dos sinais e sintomas. Do mesmo
modo, os biomarcadores utilizados na prática clínica, como
PCR e VHS, carecem de sensibilidade e especificidade para
EpA; além disso, a avaliação da inflamação por meio de IRM
é dispendiosa, e o acesso a especialistas com experiência em
sua interpretação não está amplamente disponível.
Em segundo lugar, a avaliação do prognóstico fica comprometida pela lenta progressão das alterações radiográficas,
porque deverão transcorrer pelo menos dois anos de acompanhamento, antes que uma alteração possa ser confiavelmente
detectada. No entanto, alguns pacientes realmente exibem
rápida progressão. A capacidade de previsão da progressão é
limitada, e os dados atualmente disponíveis apenas favorecem
a pontuação basal das lesões radiográficas e a inflamação detectada por IRM como prognosticadores de futura progressão.
Por último, a avaliação dos prognosticadores de resposta ao
tratamento identificou idade, estado funcional basal, PCR, e escore para inflamação pelo IRM; mas a capacidade prognóstica
542
desses parâmetros é limitada. Encontrar melhores parâmetros
prognosticadores é uma necessidade importante ainda não
satisfeita, pois a terapia biológica é cara e aproximadamente
40% dos pacientes não respondem ao tratamento.48,49
Durante os últimos anos, aumentou o uso de biomarcadores
solúveis detectáveis no sangue periférico e na urina, em resposta aos desafios nesse campo. Mas nenhum artigo publicado
conseguiu detectar um grupo de biomarcadores que possam
prever, com certo grau de precisão, um mau prognóstico em
pacientes nos estágios iniciais da doença – que é a principal
contribuição desse estudo no campo da EpA.
CONCLUSÕES
O aumento de PCRus, IL-6, IL-1α e LBP nos níveis sanguíneos está correlacionado com a presença de fatores de mau
prognóstico e inflamação persistente observados nos estágios
iniciais da EpA.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
Khan MA. Espondilite anquilosante: introductory comments on its
diagnosis and treatment. Ann Rheum Dis 2002; 61 Suppl 3:iii3–7.
2. Sieper J, Braun J, Rudwaleit M, Boonen A, Zink A. Ankylosing
spondylitis: an overview. Ann Rheum Dis 2002; 61 Suppl 3:iii8–18.
3. Zochling J, van der Heijde D, Burgos-Vargas R, Collantes E,
Davis JC Jr., Dijkmans B et al. ASAS/EULAR recommendations
for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis
2006; 65(4):442–52.
4. Zeidler H, Mau W, Khan MA. Undifferentiated spondyloarthropathies.
Rheum Dis Clin North Am 1992; 18(1):187–202.
5. Khan MA, Kushner I, Braun WE. Comparison of clinical features in
HLA-B27 positive and negative patients with ankylosing spondylitis.
Arthritis Rheum 1977; 20(4):909–12.
6. Burgos-Vargas R, Vázquez-Mellado J, Cassis N, Duarte C, Casarín J,
Cifuentes M et al. Genuine ankylosing spondylitis in children: a
case-control study of patients with early definite disease according
to adult onset criteria. J Rheumatol 1996; 23(12):2140–7.
7. Londoño J, González L, Ramírez A, Santos P, Avila L, Santos A
et al. Caracterización de las espondiloartropatías y determinación
de factores de mal pronostico en una población de pacientes
colombianos. Rev Colomb Reumatol 2005; 12(3):195–207.
8. Burgos-Vargas R, Vázquez-Mellado J. The early clinical recognition
of juvenile-onset ankylosing spondylitis and its differentiation from
juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995; 38(6):835–44.
9. Burgos-Vargas R, Pacheco-Tena C, Vázquez-Mellado J. Juvenileonset spondyloarthropathies. Rheum Dis Clin North Am 1997;
23(3):569–98.
10. Amor B, Santos RS, Nahal R, Listrat V, Dougados M. Predictive
factors for the longterm outcome of spondyloarthropathies. J
Rheumatol 1994; 21(10):1883–7.
11. Khan MA, Kellner H. Immunogenetics of spondyloarthropathies.
Rheum Dis Clin North Am 1992; 18(4):837–64.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
Associação entre os níveis séricos de potenciais biomarcadores com a presença de fatores relacionados à atividade clínica e ao mau prognóstico em espondiloartrites
12. Layh-Schmitt G, Colbert RA. The interleukin-23/interleukin-17
axis in spondyloarthritis. Curr Opin Rheumatol 2008; 20(4):392–7.
13. Brown MA. Genetics of ankylosing spondylitis. Curr Opin
Rheumatol 2010; 22(2):126–32.
14. Reveille JD, Sims AM, Danoy P, Evans DM, Leo P, Pointon JJ et al.
Genome-wide association study of ankylosing spondylitis identifies
non-MHC susceptibility loci. Nat Genet 2010; 42(2):123–7.
15. Maksymowych WP. Biomarkers in spondyloarthritis. Curr
Rheumatol Rep 2010; 12(5):318–24.
16. Maksymowych WP. What do biomarkers tell us about the
pathogenesis of ankylosing spondylitis? Arthritis Res Ther 2009;
11(1):101.
17. Spoorenberg A, van der Heijde D, de Klerk E, Dougados M,
de Vlam K, Mielants H et al. Relative value of erythrocyte
sedimentation rate and C-reactive protein in assessment of disease
activity in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 1999; 26(4):980–4.
18. Chen CH, Lin KC, Yu DT, Yang C, Huang F, Chen HA et al. Serum
matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases
in ankylosing spondylitis: MMP-3 is a reproducibly sensitive and
specific biomarker of disease activity. Rheumatology (Oxford) 2006;
45(4):414–20.
19. Romero-Sánchez C, Robinson WH, Tomooka BH, Londoño J, ValleOñate R, Huang F et al. Identification of acute phase reactants and
cytokines useful for monitoring infliximab therapy in ankylosing
spondylitis. Clin Rheumatol 2008; 27(11):1429–35.
20. Bal A, Unlu E, Bahar G, Aydog E, Eksioglu E, Yorgancioglu R.
Comparison of serum IL-1 beta, sIL-2R, IL-6, and TNF-alpha levels
with disease activity parameters in ankylosing spondylitis. Clin
Rheumatol 2007; 26(2):211–5.
21. Yang C, Gu J, Rihl M, Baeten D, Huang F, Zhao M et al. Serum levels
of matrix metalloproteinase 3 and macrophage colony-stimulating
factor 1 correlate with disease activity in ankylosing spondylitis.
Arthritis Rheum 2004; 51(5):691–9.
22. Heumann D, Bas S, Gallay P, Le Roy D, Barras C, Mensi N et al.
Lipopolysaccharide binding protein as a marker of inflammation in
synovial fluid of patients with arthritis: correlation with interleukin
6 and C-reactive protein. J Rheumatol 1995; 22(7):1224–9.
23. Mei Y, Pan F, Gao J, Ge R, Duan Z, Zeng Z et al. Increased serum
IL-17 and IL-23 in the patient with ankylosing spondylitis. Clin
Rheumatol 2011; 30(2):269–73.
24. Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, Huitfeldt B, Amor B,
Calin A et al. The European Spondylarthropathy Study Group
preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy.
Arthritis Rheum 1991; 34(10):1218–27.
25. Kingsley G, Sieper J. Third International Workshop on Reactive
Arthritis. 23-26 September 1995, Berlin, Germany. Report and
abstracts. Ann Rheum Dis 1996; 55(8):564–84.
26. Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P,
Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing
spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index.
J Rheumatol 1994; 21(12):2286–91.
27. Calin A, Jones SD, Garrett SL, Kennedy LG. Bath Ankylosing
Spondylitis Functional Index. Br J Rheumatol 1995; 34(8):793–4.
28. van der Heijde D, Calin A, Dougados M, Khan MA, van der Linden S,
Bellamy N. Selection of instruments in the core set for DC-ART,
SMARD, physical therapy, and clinical record keeping in ankylosing
spondylitis. Progress report of the ASAS Working Group. Assessments
in Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol 1999; 26(4):951–4.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
29. de Vlam K. Soluble and tissue biomarkers in ankylosing spondylitis.
Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24(5):671–82.
30. Chen HA, Chen CH, Liao HT, Lin YJ, Chen PC, Chen WS et al.
Factors associated with radiographic spinal involvement and hip
involvement in ankylosing spondylitis. Semin Arthritis Rheum
2011; 40(6):552–8.
31. Poddubnyy DA, Rudwaleit M, Listing J, Braun J, Sieper J.
Comparison of a high sensitivity and standard C reactive protein
measurement in patients with ankylosing spondylitis and nonradiographic axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2010;
69(7):1338–41.
32. Romero-Sánchez C, Londoño J, De Ávila J, Valle-Oñate R.
Biomarkers for spondyloarthropathies. State of the art. Rev Med
Chil 2010; 138(9):1179–85.
33. Pedersen SJ, Hetland ML, Sørensen IJ, Ostergaard M, Nielsen HJ,
Johansen JS. Circulating levels of interleukin-6, vascular
endothelial growth factor, YKL-40, matrix metalloproteinase-3,
and total aggrecan in spondyloarthritis patients during 3 years
of treatment with TNFα inhibitors. Clin Rheumatol 2010;
29(11):1301–9.
34. Visvanathan S, Wagner C, Marini JC, Baker D, Gathany T, Han J
et al. Inflammatory biomarkers, disease activity and spinal disease
measures in patients with ankylosing spondylitis after treatment with
infliximab. Ann Rheum Dis 2008; 67(4):511–7.
35. Wendling D, Cedoz JP, Racadot E, Dumoulin G. Serum IL-17,
BMP-7, and bone turnover markers in patients with ankylosing
spondylitis. Joint Bone Spine 2007; 74(3):304–5.
36. Singh R, Aggarwal A, Misra R. Th1/Th17 cytokine profiles in
patients with reactive arthritis/undifferentiated spondyloarthropathy.
J Rheumatol 2007; 34(11):2285-90.
37. Wendling D, Cedoz JP, Racadot E. Serum and synovial fluid levels
of p40 IL12/23 in spondyloarthropathy patients. Clin Rheumatol
2009; 28(2):187–90.
38. Weiss J. Bactericidal/permeability-increasing protein (BPI) and
lipopolysaccharide-binding protein (LBP): structure, function and
regulation in host defence against Gram-negative bacteria. Biochem
Soc Trans 2003; 31(Pt 4):785–90.
39. Uhlar CM, Whitehead AS. Serum amyloid A, the major vertebrate
acute-phase reactant. Eur J Biochem 1999; 265(2):501–23.
40. Lange U, Boss B, Teichmann J, Klör HU, Neeck G. Serum amyloid A
– an indicator of inflammation in ankylosing spondylitis. Rheumatol
Int 2000; 19(4):119–22.
41. de Vries MK, van Eijk IC, van der Horst-Bruinsma IE, Peters MJ,
Nurmohamed MT, Dijkmans BA et al. Erythrocyte sedimentation
rate, C-reactive protein level, and serum amyloid a protein for patient
selection and monitoring of anti-tumor necrosis factor treatment in
ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2009; 61(11):1484–90.
42. Zhu J, Yu DT. Matrix metalloproteinase expression in the
spondyloarthropathies. Curr Opin Rheumatol 2006; 18(4):364–8.
43. Maksymowych WP, Landewé R, Conner-Spady B, Dougados M,
Mielants H, van der Tempel H et al. Serum matrix metalloproteinase
3 is an independent predictor of structural damage progression
in patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2007;
56(6):1846–53.
44. Maksymowych WP, Rahman P, Shojania K, Olszynski WP,
Thomson GT, Ballal S et al. Beneficial effects of adalimumab on
biomarkers reflecting structural damage in patients with ankylosing
spondylitis. J Rheumatol 2008; 35(10):2030–7.
543
Londono et al.
45. Woo JH, Lee HJ, Sung IH, Kim TH. Changes of clinical response
and bone biochemical markers in patients with ankylosing spondylitis
taking etanercept. J Rheumatol 2007; 34(8):1753–9.
46. Appel H, Janssen L, Listing J, Heydrich R, Rudwaleit M, Sieper J.
Serum levels of biomarkers of bone and cartilage destruction and
new bone formation in different cohorts of patients with axial
spondyloarthritis with and without tumor necrosis factor-alpha
blocker treatment. Arthritis Res Ther 2008; 10(5):R125.
47. Vandooren B, Kruithof E, Yu DT, Rihl M, Gu J, De Rycke L et al.
Involvement of matrix metalloproteinases and their inhibitors in
peripheral synovitis and down-regulation by tumor necrosis factor
alpha blockade in spondylarthropathy. Arthritis Rheum 2004;
50(9):2942–53.
544
48. Vastesaeger N, van der Heijde D, Inman RD, Wang Y, Deodhar A,
Hsu B et al. Predicting the outcome of ankylosing spondylitis therapy.
Ann Rheum Dis 2011; 70(6):973-81.
49. Pedersen SJ, Sørensen IJ, Lambert RG, Hermann KG, Garnero P,
Johansen JS et al. Radiographic progression is associated with
resolution of systemic inflammation in patients with axial
spondylarthritis treated with tumor necrosis factor αinhibitors:
a study of radiographic progression, inflammation on magnetic
resonance imaging, and circulating biomarkers of inflammation,
angiogenesis, and cartilage and bone turnover. Arthritis Rheum
2011; 63(12):3789–800.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):529-544
ARTIGO ORIGINAL
Frequência elevada de calcinose em dermatomiosite
juvenil: estudo de fatores de risco
Gleice Clemente1, Daniela Gerent Petry Piotto2, Cássia Barbosa3, Octávio Augusto Peracchi2,
Claudio Arnaldo Len4, Maria Odete Esteves Hilário5, Maria Teresa R. A. Terreri6
RESUMO
Objetivo: Avaliar a frequência de calcinose em pacientes com dermatomiosite juvenil, bem como estudar possíveis fatores de risco para essa manifestação. Métodos: Revisão de prontuários de 34 pacientes, com ênfase nas características
demográficas, clínicas e laboratoriais, tipo de tratamento e adesão, tipo de evolução (monocíclico, crônico e policíclico) e
gravidade da doença. Os pacientes foram separados em grupos: aqueles que desenvolveram calcinose (até o sexto mês de
acompanhamento ambulatorial e após seis meses de acompanhamento) e os que não desenvolveram calcinose. Vinte e sete
pacientes fizeram dois exames de capilaroscopia periungueal (CPU), os quais foram considerados alterados quando era
encontrado padrão escleroderma. Resultados: A média de idade de início dos sintomas dos 34 pacientes foi de 6,5 anos, e
o tempo até o diagnóstico foi de 1,2 anos. Setenta por cento eram meninas. Metade dos pacientes teve curso monocíclico da
doença, e apenas 14,7% tiveram vasculite grave. Quase 90% dos pacientes que realizaram CPU tiveram alteração na primeira
avaliação, e 74% tiveram alteração na segunda avaliação, com uma média de 1,6 anos entre as duas. Dezesseis (47,1%)
pacientes apresentaram calcinose. Não houve associação entre as variáveis analisadas e o desenvolvimento da calcinose.
Conclusão: Não conseguimos demonstrar a presença de fatores de risco para calcinose, apesar de termos encontrado uma
frequência dessa complicação em cerca de metade dos pacientes com dermatomiosite juvenil.
Palavras-chave: dermatomiosite, fatores de risco, calcinose.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A dermatomiosite juvenil (DMJ) é uma doença multissistêmica
que faz parte de um grupo heterogêneo de doenças musculares
inflamatórias adquiridas e corresponde a 85% de todas as miopatias inflamatórias idiopáticas na infância.1 É caracterizada
por vasculite, que afeta primariamente a pele e os músculos,2,3
mas também pode afetar outros órgãos como coração, pulmão
e trato gastrointestinal.2
Os critérios diagnósticos originalmente propostos por
Bohan e Peter4,5 em 1975 permanecem como critérios-padrão
para o diagnóstico da DMJ, considerando a idade de início
até os 18 anos. No entanto, muitos reumatologistas pediatras
consideram que não é necessário preencher os quatro dos cinco
critérios para o diagnóstico de DMJ na maioria dos pacientes.6
A capilaroscopia periungueal (CPU) é um exame subsidiário que auxilia no diagnóstico e na avaliação de atividade
de doença.7
Apesar dos avanços na terapia, a DMJ permanece associada
a considerável morbidade. Em vários estudos, uma porcentagem importante dos pacientes apresenta doença persistentemente ativa, desenvolve calcinose e sofre retardo significativo
no crescimento estatural.8–12
A calcinose é mais comum na população pediátrica, afetando de 10%–70% das crianças e adolescentes com DMJ,
comparados a 30% dos adultos.6,12–15 Embora na maioria dos
Recebido em 21/10/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse. Comitê de Ética: 0791/10.
Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.
1. Reumatologista; Pós-graduanda em Pediatria, Universidade Federal de São Paulo – Unifesp
2. Mestre em Pediatria, Unifesp; Pós-graduanda em Pediatria, Unifesp
3. Doutora em Pediatria, Unifesp
4. Professor-Adjunto Unifesp; Doutor em Pediatria, Unifesp
5. Professora Associada, Unifesp; Doutora em Pediatria, Unifesp
6. Professora-Adjunta, Unifesp; Chefe da Disciplina de Reumatologia Pediátrica, Unifesp
Correspondência para: Maria Teresa R. A. Terreri. Rua Borges Lagoa, 802 – Vila Clementino. São Paulo, SP, Brasil. CEP: 04038-001.
E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):545-553
549
Clemente et al.
casos a calcinose se desenvolva nos primeiros três anos de
diagnóstico, seu aparecimento pode ocorrer em até 20 anos
do início da doença.16
A presença de calcinose está associada a um retardo de
diagnóstico, maior tempo de doença não tratada, curso crônico,
gravidade da doença e terapia inadequada ou doença resistente
ao tratamento.9
O nosso objetivo foi avaliar a frequência de calcinose em
pacientes com DMJ, bem como estudar possíveis fatores de
risco para essa manifestação.
MATERIAL E MÉTODOS
Pelos critérios de Bohan e Peter,4,5 57 pacientes com diagnóstico de DMJ definitivo (presença de lesões cutâneas típicas
associadas a três dos demais critérios) ou provável (presença de
lesões cutâneas típicas associadas a dois dos demais critérios)
foram acompanhados no setor de Reumatologia Pediátrica no
período de 1992 a 2010. Desses, foram excluídos 23 pacientes que apresentavam dados incompletos para o estudo. Os
pacientes com síndrome de sobreposição não foram incluídos
no estudo.
Realizou-se análise retrospectiva com base em revisão de
prontuários de 34 pacientes, com ênfase nas características
demográficas, clínicas, laboratoriais, tipo de tratamento (corticosteroides e outros imunossupressores) e adesão, tipo de evolução (monocíclico, crônico e policíclico), gravidade da doença
e alteração na CPU. A adesão ao tratamento foi considerada
boa quando havia uma concordância de 80% ou mais entre o
prescrito pelo médico e o realizado pelo paciente, de acordo
com a definição usada pela Organização Mundial de Saúde.17
O tipo evolutivo foi definido como monocíclico quando os
pacientes tinham remissão da doença após dois anos de seu
início, policíclico quando havia uma ou mais recorrências após
a remissão da doença, e crônico quando havia persistência dos
sintomas por mais de dois anos.18 A gravidade da vasculite foi
definida pela presença de lesões vasculíticas persistentes não
responsivas ao tratamento habitual, presença de ulcerações
cutâneas, presença de vasculite intestinal ou necessidade de uso
de imunoglobulina endovenosa, talidomida ou ciclofosfamida.
Os pacientes foram separados inicialmente em dois grupos:
aqueles que apresentaram calcinose e os que não apresentaram
calcinose durante a evolução da doença até o término do estudo.
Posteriormente, o grupo de calcinose foi avaliado separadamente: pacientes que desenvolveram calcinose nos primeiros
seis meses de acompanhamento no ambulatório ou os que já
tinham calcinose antes de iniciar o seguimento ambulatorial
(calcinose inicial); e os pacientes que apresentaram calcinose
550
após seis meses de acompanhamento (calcinose evolutiva).
Vinte e sete pacientes realizaram CPU no início da doença e
na evolução, com utilização de um microscópio óptico com
aumentos de 10 e 16 vezes. Foram analisados os seguintes parâmetros na CPU: número de capilares por milímetro, presença
e grau de deleção capilar, presença de capilares ectasiados, em
arbustos, enovelados e megacapilares. Definiu-se como padrão
escleroderma (SD) a presença de deleção capilar associada à
ectasia capilar e⁄ou a megacapilares.19 As CPU foram consideradas alteradas na presença de padrão SD ao exame.
Para as variáveis qualitativas utilizou-se o teste qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, para avaliar a associação entre
elas. Para comparação dos grupos, utilizaram-se os testes t de
Student, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis.
RESULTADOS
Foram avaliados 34 pacientes com média de idade de início
dos sintomas 6,5 ± 3,9 anos; média de tempo até o diagnóstico 1,2 ± 2,0 anos; média de tempo de evolução da doença
5,8 ± 3,6 anos e média do tempo de seguimento no ambulatório
4,0 ± 2,8 anos (Tabela 1).
Vinte e quatro (70,6%) dos 34 pacientes eram meninas, e
22 (64,7%) eram caucasoides. Dezessete (50%) tiveram um
curso monocíclico da doença, 11 (32,4%) um curso crônico,
e seis (17,6%) um curso policíclico. Em relação à gravidade
da vasculite, apenas cinco (14,7%) tiveram grau grave na
evolução da doença e quatro (11,7%) apresentaram úlceras
cutâneas.
Tabela 1
Dados epidemiológicos e clínicos de pacientes com dermatomiosite juvenil (n = 34)
Idade de início, média em anos ± DP
6,5 ± 3,9
Tempo até diagnóstico, média em anos ± DP
1,2 ± 2,0
Tempo de evolução, média em anos ± DP
5,8 ± 3,6
Tempo de seguimento, média em anos ± DP
4,0 ± 2,8
Curso monocíclico, n (%)
17 (50)
Curso crônico, n (%)
11 (32,4)
Curso policíclico, n (%)
6 (17,6)
Vasculite grave, n (%)
5 (14,7)
CPU inicial alterada, n (%)
24 (88,9)
CPU final alterada, n (%)
20 (74,1)
Calcinose, n (%)
16 (47,1)
Calcinose inicial, n (%)
6 (17,6)
Calcinose evolutiva, n (%)
10 (29,4)
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):545-553
Frequência elevada de calcinose em dermatomiosite juvenil: estudo de fatores de risco
Tabela 2
Relação entre as variáveis estudadas e a presença ou ausência de calcinose em pacientes com dermatomiosite juvenil (n = 34)
Presença de calcinose (n = 16)
Ausência de calcinose (n = 18)
P
Sexo feminino, n (%)
10 (62,5)
14 (77,8)
0,329
Caucasoide, n (%)
11 (68,7)
11 (61,1)
0,642
Idade de início, média em anos (DP)
6,3 (3,8)
6,7 (4,1)
0,911
Tempo de diagnóstico, média em anos (DP)
1,9 (2,7)
0,6 (0,9)
0,990
Tempo evolução, média em anos (DP)
6,5 (3,5)
5,3 (3,7)
0,870
Tempo de seguimento, média em anos (DP)
2,8 (2,4)
5,0 (2,9)
0,553
Curso da doença (mono-M, poli-P, crônica-C)
6M, 3P, 7C
11M, 3P, 4C
0,336
Vasculite grave, n (%)
3 (18,8)
2 (11,1)
0,530
Uso de imunossupressores, n (%)
15 (93,7)
13 (72,2)
0,100
Adesão ao tratamento, n (%)
9 (56,2)
13 (72,2)
0,331
Tempo de aparecimento da calcinose, média em anos (DP)
2,6 (1,7)
—
Total
16
18
Vinte e sete pacientes fizeram CPU no início da doença e na
evolução, com uma média de 1,6 anos entre as duas CPU. Vinte
e quatro (88,9%) tinham a CPU inicial alterada, com 91,7%
desses pacientes apresentando doença ativa no momento do
exame; e 20 (74,1%) tinham alteração na CPU evolutiva, com
70% de atividade da doença na época do exame.
Dezesseis (47,1%) pacientes apresentaram calcinose inicialmente e/ou durante o seguimento, com média de tempo de
aparecimento de 2,5 ± 1,9 anos após o diagnóstico (seis pacientes apresentaram calcinose inicial e 10, evolutiva). Destes
16 pacientes, cinco (31,3%) tinham idade menor ou igual a 3
anos, porém sem diferença estatística em relação aos pacientes
mais velhos (P = 0,317).
Não houve associação entre os dados demográficos, clínicos, gravidade da vasculite, elevação de enzimas musculares,
uso ou não de imunossupressores, adesão ou não ao tratamento,
e alterações na CPU com o desenvolvimento de calcinose
(Tabela 2). Ao se avaliar separadamente pacientes com calcinose inicial, pacientes com calcinose evolutiva, e pacientes
sem calcinose, também não houve diferença estatística entre as
variáveis, com exceção do curso monocíclico que foi estatisticamente mais frequente no grupo sem calcinose (P = 0,036).
Não foi encontrada associação entre a presença de calcinose
e a alteração na CPU inicial ou evolutiva nos 27 pacientes que
realizaram o exame (P = 0,681 e P = 0,432, respectivamente).
Dos 16 pacientes que apresentaram calcinose, sete tiveram
curso crônico da doença e nove tiveram curso monocíclico
ou policíclico. Não houve associação entre o curso crônico
e frequência, tempo e idade de aparecimento da calcinose
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):545-553
durante a evolução da doença (P = 0,336; 0,144 e 0,374, respectivamente) (Tabela 3).
Tabela 3
Associação do tipo de evolução da dermatomiosite juvenil
com frequência, tempo e idade de aparecimento da calcinose
Monocíclico Policíclico Crônico
P
Frequência de
calcinose, n (%)
6 (37,5)
3 (18,7)
7 (43,7)
0,336
Tempo de aparecimento
da calcinose, média
em anos (DP)
2,8 (1,8)
3,1 (1,9)
2,6 (1,7) 0,144
Idade de aparecimento
da calcinose, média
em anos (DP)
9,2 (4,8)
8,0 (4,6)
8,9 (4,4) 0,374
DISCUSSÃO
Nosso estudo mostrou uma frequência elevada de calcinose
em pacientes com dermatomiosite, embora os fatores de
risco para o desenvolvimento dessa complicação tardia não
tenham sido encontrados. A média do intervalo de tempo entre
o início dos sintomas e o diagnóstico foi significativamente
maior em nossa casuística que a média encontrada na maioria dos trabalhos,8,15,20–22 o que pode ser devido ao atraso do
encaminhamento ao especialista na nossa população, como já
descrito por nós.23
Metade dos pacientes apresentou um curso monocíclico da
doença. Já no trabalho de Huber et al.,8 37% apresentaram um
curso monocíclico e 63% apresentaram um curso policíclico ou
551
Clemente et al.
crônico. Entretanto, esses autores consideraram o curso monocíclico quando o paciente estava sem atividade de doença e sem
medicação até 24 meses após o diagnóstico, diferentemente
da definição utilizada por nós, já que não consideramos o uso
ou não de medicações.18 Achamos que existe a possibilidade
de alguns desses pacientes terem iniciado a doença antes da
percepção dos pais, e portanto, não serem verdadeiramente
monocíclicos.
Em nossa casuística foram observadas úlceras cutâneas em
11,7% dos pacientes durante a evolução da doença, semelhante
à frequência encontrada no estudo de Sallum et al.,12 porém
inferior à percentagem encontrada em outros estudos.6,21 A
presença de úlceras cutâneas reflete uma gravidade maior da
doença.
A CPU é uma importante ferramenta tanto para o auxílio
no diagnóstico quanto para o seguimento de pacientes com
DMJ. Estudos revelam alteração da CPU em pacientes com DMJ,
evidenciando o padrão SD em 60% dos casos.24 Observamos
uma concordância entre a atividade de doença e a alteração
na CPU, tanto inicial, quanto evolutiva nos nossos pacientes.
Outros estudos também correlacionam as alterações capilaroscópicas com a atividade da doença.7
Quase metade dos pacientes apresentou calcinose durante a
evolução da doença, número maior que o encontrado na maioria
dos estudos de DMJ.6,8,11,15,21,22,25–27 Uma possível explicação
para a elevada incidência de calcinose na nossa população é
o atraso no diagnóstico e, consequentemente, maior duração
de atividade da doença. O tempo de evolução da doença nos
pacientes do grupo “sem calcinose” foi suficientemente grande
para ter ocorrido seu aparecimento, o que nos permite caracterizar esses pacientes como não candidatos ao aparecimento
dessa complicação. Sabe-se que a calcinose é consequência
da atividade persistente da doença, má adesão ou refratariedade à terapia.3,9,22,28 É importante salientar que a calcinose se
manifestou em 10 pacientes na evolução da doença mesmo
após seis meses de início da terapia e em pacientes com boa
adesão ao tratamento, não se observando uma associação entre
a não adesão e o aparecimento dessa complicação. A literatura
não descreve uma idade de maior frequência de calcinose e
nós também não achamos tal associação.
Apesar da elevada frequência de calcinose, não evidenciamos fatores de risco para essa complicação. Enquanto
alguns estudos6,8 não acharam associação da calcinose com
o tempo até o diagnóstico, outros11,22 encontraram maior
frequência de calcinose nos pacientes com maior tempo
até o diagnóstico e, consequentemente, maior tempo para
o início do tratamento. Em outro estudo foi observado que
o tratamento precoce e com altas doses de corticoide foi
552
preditivo para o não desenvolvimento de calcinose.9 Estudos
avaliaram a relação do curso da doença com a presença de
calcinose, porém não encontraram associação.6,8 Observamos
que 11 dos 17 pacientes com curso monocíclico da doença
não desenvolveram calcinose, sugerindo que a evolução de
melhor prognóstico possa estar associada à menor frequência de desenvolvimento dessa complicação. Em contraste, a
doença inflamatória crônica poderia ter predisposto ao seu
aparecimento. Entretanto, em nosso estudo não observamos
maior frequência de calcinose em nenhum curso de evolução
da doença. O uso de mais um imunossupressor foi associado
com o aparecimento da calcinose no estudo de Sallum et al.,26
demonstrando que essa complicação está associada aos casos
mais graves da doença.
Nosso estudo foi importante, pois mostramos uma frequência de calcinose em cerca de metade dos pacientes com
DMJ. Apesar disso, não conseguimos demonstrar a presença
de fatores de risco para o desenvolvimento dessa complicação.
Um fator limitante foi o tamanho da nossa amostra. Estudos
evolutivos e eventualmente multicêntricos poderão responder
a essa questão. De acordo com o nosso conhecimento, não
existem trabalhos na literatura que tenham tentado associar a
presença de calcinose e alterações na CPU.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wargula JC. Update on juvenile dermatomyositis: new advances
in understanding its etiopathogenesis. Curr Opin Rheumatol 2003;
15(5):595–601.
Cassidy JT, Lindsley CB. Juvenile dermatomyositis. In: Cassidy
JT, Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB (eds.). Textbook of pediatric
rheumatology. 5.ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005; p 407–41.
Ansell BM. Juvenile dermatomyositis. J Rheumatol Suppl 1992;
33:60–2.
Bohan A, Peter JB. Polymyositis and dermatomyositis (first of two
parts). N Engl J Med 1975; 292(7):344–7.
Bohan A, Peter JB. Polymyositis and dermatomyositis (second of
two parts). N Engl J Med 1975; 292(8):403–7.
Ramanan AV, Feldman BM. Clinical features and outcomes of
juvenile dermatomyositis and other childhood onset myositis
syndromes. Rheum Dis Clin North Am 2002; 28(4):833–57.
Nascif AK, Terreri MT, Len CA, Andrade LE, Hilário MO.
Inflammatory myopathies in childhood: correlation between nailfold
capillaroscopy findings and clinical and laboratory data. J Pediatr
(Rio) 2006; 82(1):40–5.
Huber AM, Lang B, LeBlanc CM, Birdi N, Bolaria RK, Malleson P
et al. Medium- and long-term functional outcomes in a multicenter
cohort of children with juvenile dermatomyositis. Arthritis Rheum
2000; 43(3):541–9.
Bowyer SL, Blane CE, Sullivan DB, Cassidy JT. Childhood
dermatomyositis: factors predicting functional outcome and
development of dystrophic calcification. J Pediatr 1983; 103(6):882–8.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):545-553
Frequência elevada de calcinose em dermatomiosite juvenil: estudo de fatores de risco
10. Cimaz R. Osteoporosis in childhood rheumatic diseases:
prevention and therapy. Best Pract Res Clin Rheumatol 2002;
16(3):397–409.
11. Pachman LM, Maryjowski MC. Juvenile dermatomyositis and
polymyositis. Clin Rheum Dis 1984; 10(1):95–115.
12. Sallum AM, Kiss MH, Sachetti S, Resende MB, Moutinho KC,
Carvalho MS et al. Juvenile dermatomyositis: clinical, laboratorial,
histological, therapeutical and evolutive parameters of 35 patients.
Arq Neuropsiquiatr 2002; 60(4):889–99.
13. Sogabe T, Silva CA, Kiss MHB. Clinical and laboratory
characteristics of 50 children with dermato/polymyositis. Rev Bras
Reumatol 1996; 36:351–9.
14. Plotz PH, Rider LG, Tragoff IN, Raben N, O’Hanlon TP,
Miller FW. NIH conference. Myositis: immunologic contributions
to understanding cause, pathogenesis, and therapy. Ann Intern Med
1995; 122(9):715–24.
15. Kim S, El-Hallak M, Dedeoglu F, Zurakowski D, Fuhlbrigge RC,
Sundel RP. Complete and sustained remission of juvenile
dermatomyositis resulting from agressive treatment. Arthritis Rheum
2009; 60(6):1825–30.
16. Rider LG. Calcinosis in JDM: pathogenesis and current therapies.
Pediatr Rheumatol Online J 2003; 1:119–33.
17. World Health Organization. Adherence to long-term therapies:
Evidence for action. Geneva, Switzerland, 2003; pp. 3–4.
18. Compeyrot-Lacassagne S, Feldman BM. Inflammatory myopathies
in children. Rheum Dis Clin N Am 2007; 33(3):525–53, iii.
19. Andrade LE, Gabriel Junior A, Assad RL, Ferrari AJ, Atra E.
Panoramic nailfold capillaroscopy: a new reading method and normal
range. Semin Arthritis Rheum 1990; 20(1):21–31.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):545-553
20. Sanner H, Gran JT, Sjaastad I, Flatø B. Cumulative organ damage
and prognostic factors in juvenile dermatomyositis: a cross-sectional
study median 16.8 years after symptom onset. Rheumatology
(Oxford) 2009; 48(12):1541–7.
21. McCann LJ, Juggins AD, Maillard SM, Wedderburn LR,
Davidson JE, Murray KJ et al. The Juvenile Dermatomyositis
National Registry and Repository (UK and Ireland) – clinical
characteristics of children recruited within the first 5 years.
Rheumatology (Oxford) 2006; 45(10):1255–60.
22. Fisler RE, Liang MG, Fuhlbrigge RC, Yalcindag A, Sundel RP.
Aggressive management of juvenile dermatomyositis results in
improved outcome and decreased incidence of calcinosis. J Am Acad
Dermatol 2002; 47(4):505–11.
23. Len CA, Liphaus B, Machado CS, Silva CAA, Okuda E, Campos LMA
et al. Juvenile rheumatoid arthritis: delay in the diagnosis and referral
to the specialist. Rev Paul Pediatr 2002; 20:280–2.
24. Carpentier P, Jeannoel P, Bost M, Franco A. Peri-unguealcapillaroscopy
in pediatric practice. Pediatrie 1088; 43(2):165–9.
25. Chiu SK, Yang YH, Wang LC, Chiang BL. Ten-year experience
of juvenile dermatomyositis: a retrospective study. J Microbiol
Immunol Infect 2007; 40(1):68–73.
26. Sallum AME, Pivato FCMM, Doria-Filho U, Aikawa NE, Liphaus B,
Marie SKN et al. Risk factors associated with calcinosis of juvenile
dermatomyositis. J Pediatr 2008; 84(1):68–74.
27. Singh S, Bansal A. Twelve years experience of juvenile
dermatomyositis in North India. Rheumatol Int 2006; 26(6):510–5.
28. Castro TCM, Yamashita E, Terreri MT, Len CA, Hilário MOE.
Calcinose na infância, um desafio terapêutico. Rev Bras Reumatol
2007; 47(1):63–8.
553
ARTIGO ORIGINAL
Avaliação da função endotelial em pacientes
com esclerose sistêmica limitada por meio
do eco Doppler da artéria braquial
Tatiana Melo Fernandes1, Blanca Elena Gomes Bica2, Nivaldo Ribeiro Villela3, Elizabeth Figueiredo Salles4,
Mario Newton Leitão de Azevedo5, José Angelo de Souza Papi6, Rosângela Aparecida Gomes Martins7
RESUMO
Objetivo: O objetivo deste estudo foi comparar a resposta dilatadora dependente e independente do endotélio em pacientes
portadores de esclerose sistêmica limitada (ESL) com aquela de indivíduos sadios de mesmo gênero, idade e cor. Métodos:
Vinte mulheres adultas, não obesas, não tabagistas, não diabéticas, não dislipidêmicas, não hipertensas, que preencheram
os critérios para esclerose sistêmica (ES) segundo o American College of Rheumatology, foram submetidas ao exame de
Doppler de artéria braquial do membro superior direito. Foi analisada a resposta dilatadora, dependente do endotélio, após
isquemia induzida com esfigmomanômetro por cinco minutos no braço direito, e a resposta dilatadora, independente do
endotélio, após administração de 300 mcg de nitroglicerina (NTG) sublingual. Esses resultados foram comparados com a
resposta obtida em indivíduos sadios. Resultados: O diâmetro longitudinal da artéria braquial (DAB) foi significativamente
menor na fase basal 1 nos pacientes com ESL (3,57 ± 0,52 mm e 3,93 ± 0,39 mm, respectivamente no grupo paciente (P) e
grupo-controle (C), P = 0,005). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre a velocidade das hemácias
(VH) após isquemia/hiperemia reativa (HR) e após NTG (110,2 ± 43,86 cm/s vs. 102,0 ± 25,89 cm/s e 63,80 ± 17,69 cm/s vs.
65,4 ± 12,90 cm/s nos grupos P e C, após HR e NTG, respectivamente). Também não foi encontrada diferença significativa
entre o DAB após HR e após NTG (3,77 ± 0,59 mm vs. 4,14 ± 0,49 mm e 4,44 ± 0,64 mm vs. 4,70 ± 0,58 mm nos grupos
P e C, após HR e NTG, respectivamente). Conclusão: Embora o grupo de pacientes com ESL tenha apresentado menor
DAB basal, a resposta dilatadora dependente e independente do endotélio se manteve preservada em ambos os grupos.
Palavras-chave: esclerodermia limitada, endotélio vascular, artéria braquial, ultrassonografia, efeito Doppler.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A esclerose sistêmica (ES) é uma doença crônica do tecido
conjuntivo caracterizada por espessamento e fibrose da pele e
dos órgãos internos por deposição de colágeno, glicosaminoglicanos e outras proteínas da matriz extracelular, além de dano
vascular por endarterite proliferativa. O fator desencadeante
da injúria endotelial não é conhecido. No entanto, estima-se
que a injúria causada pelo processo de isquemia/reperfusão,
a presença de autoanticorpos citotóxicos no sangue, agentes
infecciosos e fatores ambientais possam desencadear a lesão
inicial nos indivíduos geneticamente predispostos.
A lesão endotelial por espécies reativas de oxigênio é responsável pela diminuição da síntese de prostaciclinas, óxido
nítrico (NO), fator de ativação de plasminogênio tecidual e
heparan sulfato, e pelo aumento da síntese de endotelina-1,
Recebido em 21/10/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse. Comitê de Ética: 1120/09.
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
1. Mestre em Reumatologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
2. Doutor; Professor-Adjunto, UFRJ; Chefe do Serviço de Reumatologia, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ
3. Doutor; Médico do Serviço de Anestesiologia, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ
4. Professor-Adjunto do Serviço de Cirurgia Vascular, UFRJ
5. Doutor; Professor-Adjunto do Serviço de Reumatologia, UFRJ
6. Professor Emérito do Serviço de Clínica Médica, UFRJ
7. Mestre em Estatística, UFRJ; Professora da Divisão de Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, UFRJ
Correspondência para: Tatiana Melo Fernandes. Serviço de Reumatologia. Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco, s/n – 9º andar – Ilha do Fundão, Ilha do Governador.
Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP 21941-590. E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
561
Fernandes et al.
levando a um desequilíbrio na relação vasodilação/vasoconstrição em favor da constrição, com dano permanente na
parede dos vasos sanguíneos. Esse desequilíbrio contribui para
hipóxia vascular e injúria endotelial, resultando na liberação
de citocinas por macrófagos, plaquetas, mastócitos e células
T ativadas. Dessa forma, é mantido um círculo vicioso de
injúria endotelial, associada à fibrose mediante a estimulação
de fibroblastos, que são células responsáveis pela síntese de
matriz celular e colágeno.1
Apesar de a isquemia estimular a neoangiogênese e de os
níveis de fatores angiogênicos, como o fator de crescimento
vascular endotelial (VEGF), estarem aumentados, a pele dos
portadores de ES apresenta grandes áreas avasculares. Acreditase que ocorra uma desregulação no processo de angiogênese na
ES.2 A presença de autoanticorpos direcionados contra células
endoteliais na ES é capaz de induzir a apoptose dessas células. Foi
demonstrado, ainda, que nesses pacientes as células precursoras
endoteliais estão reduzidas em número e apresentam menor
potencial de diferenciação.3 Também já foi comprovado que na
ES o controle neural simpático do tônus vascular está alterado,4
assim como alguns aspectos intrínsecos à microcirculação. Há
aumento da agregação e da ativação plaquetária associado à
diminuição da deformabilidade das hemácias e de depósito de
fibrina na parede vascular,5 culminando em um risco elevado
de formação de trombos na microcirculação com maior expressão de moléculas de adesão, que agregam neutrófilos e plaquetas
na parede vascular e diminuem a luz do vaso.6
A liberação normal de NO pelo endotélio ocorre continuamente e aumenta quando os receptores de membrana das células
endoteliais são ativados por estímulos solúveis (acetilcolina,
bradicinina, adenosina fosfato, substância P e serotonina) ou
quando os canais de cálcio são abertos por um aumento no
“estresse de cisalhamento” gerado pelo fluxo sanguíneo turbilhonado.7 O alvo do NO na parede vascular é a enzima guanilato
ciclase, encontrada nas células musculares lisas, cuja ativação
gera acúmulo de guanosina monofosfato cíclico (GMP cíclico),
desencadeando relaxamento da musculatura lisa e vasodilatação,
com consequente aumento do fluxo sanguíneo local.8
As alterações estruturais na parede de arteríolas (vasos de
resistência) são bem conhecidas na ES. Esses achados consistem em um espessamento/proliferação/edema da camada
íntima com infiltração de células mononucleares, hipertrofia
da camada média e íntima, ruptura da lâmina elástica interna
e presença de cicatrizes fibróticas na parede dos vasos.9,10
Pouco se conhece sobre as alterações estruturais encontradas
na parede de vasos de maior calibre, vasos elásticos, como as
artérias braquial, ulnar e radial (vasos de condutância), que
são realmente acessíveis para medida por meio de técnicas não
562
invasivas como o eco Doppler. Existem evidências crescentes
de que a macrovasculatura também esteja envolvida no processo de doença da ES, o que se especula estar relacionado à
presença de anormalidades estruturais, como o espessamento
e a rigidez na parede vascular.11 Apesar de o envolvimento
vascular ser considerado predominantemente microvascular
na ES, a doença macrovascular pode afetar mais da metade
dos pacientes,12 e é comum o achado de oclusão arterial, particularmente nas artérias das mãos em doentes com a forma
limitada (ESL) e na presença do anticorpo anticentrômero.13
A avaliação ultrassonográfica da resposta vasodilatadora
na artéria braquial (AB) é uma técnica não invasiva, descrita
por Celermajer em 1992,14 utilizada como índex para avaliação
da função macrovascular por meio da mensuração do diâmetro da
AB (DAB) antes e após o estímulo isquêmico. A isquemia
provocada no antebraço causa uma queda marcante na resistência vascular periférica seguida por um aumento na força
de cisalhamento sanguínea exercida nas paredes arteriais após
sua liberação. O aumento do estresse de cisalhamento estimula
a produção e a liberação de substâncias vasodilatadoras pelo
endotélio, em especial o NO. O aumento observado no DAB é
uma medida indireta da liberação de NO e, consequentemente,
da vasodilatação dependente do endotélio.15
Uma pequena percentagem de aumento no fluxo mediado
pela vasodilatação endotélio-dependente pode ser interpretada
como baixa disponibilidade de NO, e está associada com risco
aumentado de doença vascular.16 A deficiência na dilatação
endotélio-dependente na ES pode ser explicada pela ausência de
produção e de liberação de substâncias vasodilatadoras pelo endotélio cronicamente lesado, em especial o NO, enquanto se observa
uma resposta vasodilatadora normal a fatores independentes do
endotélio (nitroglicerina exógena). Entretanto, a disfunção endotelial macrovascular na ES vem sendo objeto de vários estudos,
em que alguns autores observaram redução da dilatação mediada
pelo fluxo (FMD) na AB,17–20 enquanto outros não.9,21,22
O objetivo deste estudo foi comparar a resposta dilatadora
dependente do endotélio após isquemia induzida em membro
superior direito por 5 min com esfigmomanômetro (FMD) e
a resposta dilatadora independente do endotélio após a administração de nitroglicerina sublingual (dilatação mediada
pela nitroglicerina – NMD), em pacientes portadores de ESL
e indivíduos sadios de mesmo gênero, idade e cor.
PACIENTES E MÉTODOS
Participantes do estudo
Vinte indivíduos do gênero feminino com idade entre 25–60
anos que preencheram os critérios do American College of
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
Avaliação da função endotelial em pacientes com esclerose sistêmica limitada por meio do eco Doppler da artéria braquial
Rheumatology (1980)23 para o diagnóstico de ES, com tempo de
doença superior a 6 meses e relato da presença de fenômeno
de Raynaud bifásico (FRy) em extremidades, foram incluídos
no estudo, após assinarem o termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) e serem certificados de que sua identidade
seria mantida em sigilo. Todas as pacientes apresentavam a
forma limitada da doença, caracterizada por fibrose cutânea
restrita a face, pescoço e extremidades.
O estudo foi aberto, observacional, não randomizado,
prospectivo, realizado no Serviço de Reumatologia do Hospital
Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (HUCFF-UFRJ). O projeto deste estudo foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUCFF-UFRJ e aprovado
com o número de memorando 1120/09 em 28/12/2009.
Os critérios de exclusão foram: presença de síndrome de
superposição com outras colagenoses, miopatias ou artropatias
inflamatórias, síndrome da imunodeficiência adquirida, síndrome
do anticorpo antifosfolípide, gestantes e lactantes, portadores de
neoplasias malignas, insuficiência cardíaca, hipertensão moderada
a grave de artéria pulmonar, tabagistas, hipertensas e diabéticas.
Foram selecionados 20 indivíduos saudáveis para compor o
grupo-controle (C), do gênero feminino, cor branca, que não faziam
uso de qualquer medicamento que pudesse alterar a resposta endotelial, e com faixa etária semelhante ao grupo de pacientes estudados.
As voluntárias foram incluídas no estudo após assinar o TCLE.
Em seguida, o esfigmomanômetro posicionado no antebraço direito foi insuflado a uma pressão 50% acima da pressão sistólica
inicial e a isquemia foi mantida por 5 min. Novas medidas do
diâmetro e da VH da AB (fase pós-isquemia/hiperemia reativa)
foram realizadas 60 segundos após a liberação da isquemia.
Após novo período de repouso de 10 min (basal 2) os indivíduos
receberam uma dose de 300 mcg de NTG sublingual, e as medidas do DAB e da VH foram obtidas após 3 min (após NTG).
Foi calculada a média de três medidas obtidas de diâmetro e da
VH na AB em cada uma das quatro fases do exame (Figura 1).
Análise estatística
Para comparação de variáveis basais (numéricas) entre o
grupo de pacientes (P) e o grupo C foi aplicado o teste t de
Student para amostras independentes ou o de Mann-Whitney
(não paramétrico). A homogeneidade das variâncias entre
os grupos foi analisada pelo teste de Bartlett. A análise de
variância (ANOVA) para medidas repetidas foi usada para
avaliar o comportamento ao longo de três fases (basal, hiperemia reativa e após NTG) no interior de cada grupo; e o teste
de comparações múltiplas de Bonferroni (ajustado para três
fases) foi aplicado para identificar quais as fases que diferiam
significativamente entre si. Para verificar se a evolução ao
longo do experimento foi diferenciada significativamente
Avaliação da função endotelial
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
150
130
Velocidade das hemácias (cm/s)
média ± DP
A função endotelial foi avaliada pela medida da FMD e NMD
na AB por meio do eco Doppler em cores. O eco Doppler
constitui método não invasivo, de alta resolução, que permite
avaliação detalhada da circulação troncular combinando três
componentes: o modo-B, o Doppler pulsado e o modo color.24
O exame foi realizado com o indivíduo em decúbito dorsal em
sala com temperatura controlada (22°C).
Um esfigmomanômetro foi posicionado no braço direito,
cerca de 5 cm acima da fossa antecubital. As imagens da AB
direita foram obtidas em corte longitudinal, no modo B do
aparelho de ultrassom Antares da Siemens utilizando transdutor
linear VFX9-4 com frequência de 10 Mhz, posicionado cerca
de 2–3 cm acima da fossa antecubital. As medidas do DAB
foram realizadas na diástole do ciclo cardíaco. Os fluxos foram
obtidos por análise espectral das curvas de velocidade com volume – amostra de 1,5 mm e ângulo menor que 60º posicionado
no centro do vaso. A velocidade das hemácias (VH) foi obtida
por ecografia tipo Doppler, com janela de 1,5 mm e ângulo
menor que 60º posicionado no centro do vaso.
O exame foi iniciado após um período de repouso de 10 min.
Foram realizadas medidas do DAB e da VH na AB na fase basal 1.
110
90
70
S
S
Basal 2
NTG
50
30
Basal 1
Isquemia
Grupo-controle
S Grupo de pacientes
Figura 1
Velocidade das hemácias ao longo do experimento.
563
Fernandes et al.
entre os grupos, foi usada a ANOVA para medidas repetidas
com um fator (efeito da interação grupo x tempo). Na ANOVA
para medidas repetidas foi aplicada a transformação logarítmica (log natural) nos dados. Foram utilizados métodos não
paramétricos, pois variáveis não apresentaram distribuição
normal (Gaussiana) devido à dispersão dos dados e à rejeição
do teste de Kolmogorov-Smirnov nos grupos estudados. O
critério de determinação de significância adotado foi o nível
de 5%. A análise estatística foi processada pelo programa
SAS 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, NC). Os dados estão
apresentados como média ± DP.
RESULTADOS
Foram estudados 40 indivíduos, dos quais 20 compunham o
grupo P e 20 indivíduos sadios constituíram o grupo C. Entre
os indivíduos portadores de ESL, sete (35%) apresentaram
tempo de evolução > 10 anos de doença e 13 (65%) tinham
tempo de evolução da doença < 10 anos. Sete pacientes (35%)
faziam uso de prednisona oral em doses baixas, < 10 mg/dia.
Quatorze pacientes (70%) faziam uso regular diário de vasodilatadores antagonistas de canais de cálcio (ACC), modificadores reológicos das hemácias, inibidores de fosfodiesterases
1 e 5). Não houve diferença significativa entre os grupos em
relação à idade (38,6 ± 9,2 e 43,4 ± 9,6 anos nos grupos C e P,
respectivamente, P = 0,11), peso (62,1 ± 5,4 e 58,7 ± 9,3 kg nos
grupos C e P, respectivamente, P = 0,32), pressão arterial sistólica (PAS) (110,8 ± 16,9 e 116,5 ± 15,7 mmHg nos grupos C e
P, respectivamente, P = 0,27), pressão arterial diastólica (PAD)
(71,5 ± 12,8 e 75,0 ± 10,6 nos grupos C e P, respectivamente,
P = 0,35) e frequência cardíaca (73,2 ± 11,3 e 76,6 ± 11,9 nos
grupos C e P, respectivamente, P = 0,36).
Os dados relativos às variantes basais de peso, idade, PAS e
PAD nos grupos P e C estão apresentados na Tabela 1. Os dados
relativos aos valores do DAB nas fases basal 1, pós-isquemia,
basal 2 e pós-NTG em ambos os grupos estão apresentados na
Tabela 2. Os dados relativos aos valores da VH nas fases basal
1, pós-isquemia, basal 2 e pós-NTG em ambos os grupos estão
apresentados na Tabela 3.
Medidas basais
O DAB foi significativamente menor no grupo P (P = 0,005), e
não houve diferença significativa em relação à VH em ambos
os grupos analisados (P = 0,90).
Dilatação mediada pelo fluxo (FMD)
Não houve diferença estatisticamente significativa em ambos os grupos analisados quanto ao DAB (P = 0,07) e à VH
(P = 0,38).
Tabela 1
Dados relativos às variantes basais de peso, idade, PAS e PAD nos grupos paciente e controle
Variável basal
Grupo
Média
DP
Mediana
Mínimo
Máximo
P
43,4
9,6
44
28
60
C
38,6
9,2
39,5
27
54
P
116,5
15,7
115
95
160
C
110,8
16,9
110
85
150
P
75,0
10,6
77,5
60
100
C
71,5
12,8
70
55
100
P
76,6
11,9
72,5
60
104
C
73,2
11,3
71
58
99
P
3,57
0,52
3,45
2,93
5,07
C
3,93
0,39
3,92
3,17
4,73
P
65,3
19,0
59,3
38,1
113
C
64,6
16,1
63,8
35,7
99,2
Idade (anos)
Pa
0,11
PAS (mmHg)
0,27
PAD (mmHg)
0,35
FC (bat/min)
0,36
Diâmetro – basal 1
0,005
VH – basal 1
0,97
C: controle; P: paciente; DP: desvio padrão; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica, FC: frequência cardíaca; VH: velocidade das hemácias.
a
teste t de Student para amostras independentes ou de Mann-Whitney.
564
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
Avaliação da função endotelial em pacientes com esclerose sistêmica limitada por meio do eco Doppler da artéria braquial
Tabela 2
Dados relativos aos valores do diâmetro da artéria braquial nas fases basal 1, pós-isquemia, basal 2 e pós-NTG em ambos os grupos
Momento
Média ± DP
Mediana
Basal 1
3,57 ± 0,52
3,45
Isquemia
3,77 ± 0,59
3,74
Pa
Diferenças significativasb
Pc
Basal 1 ≠ isquemia
Basal 1 ≠ NTG
Pacientes
0,0001
0,31
Basal 2
3,66 ± 0,62
3,58
Isquemia ≠ NTG
NTG
4,44 ± 0,64
4,33
Basal 2 ≠ NTG
Basal 1
3,93 ± 0,39
3,92
Basal 1 ≠ isquemia
Isquemia
4,14 ± 0,49
4,12
Basal 1 ≠ NTG
Controles
0,0001
0,31
Basal 2
3,98 ± 0,56
3,90
Isquemia ≠ basal 2, NTG
NTG
4,70 ± 0,58
4,69
Basal 2 ≠ NTG
DP: desvio padrão.
a
ANOVA para medidas repetidas no interior de cada grupo (efeito do tempo). bComparações múltiplas de Bonferroni, ao nível de 5%. cANOVA para medidas repetidas entre os dois grupos (efeito da interação
grupo*tempo).
Tabela 3
Dados relativos aos valores da VH nas fases basal 1, pós-isquemia (hiperemia reativa), basal 2 e pós-NTG em ambos os grupos
Momento
Média±DP
Mediana
Basal 1
65,3 ± 18,96
59,3
Isquemia
110,2 ± 43,86
103,1
Pacientes
Pa
Diferenças significativas b
Basal 1 ≠ isquemia
Isquemia ≠ basal 2
0,0001
0,77
Basal 2
63,3 ± 17,78
61,0
Isquemia ≠ NTG
NTG
63,8 ± 17,69
62,9
Basal 1
64,6 ± 16,10
63,8
Basal 1 ≠ isquemia
Isquemia
102,0 ± 25,89
97,5
Controles
Pc
Isquemia ≠ basal 2
0,0001
0,77
Basal 2
63,6 ± 14,57
59,8
Isquemia ≠ NTG
NTG
65,4 ± 12,90
63,9
DP: desvio padrão. aANOVA para medidas repetidas no interior de cada grupo (efeito do tempo). bComparações múltiplas de Bonferoni, 5%.cANOVA para medidas repetidas entre os dois grupos (efeito da
interação: grupo*tempo).
Dilatação mediada pela nitroglicerina (NMD)
Não houve diferença estatisticamente significativa entre ambos
os grupos analisados em relação ao DAB (P = 0,24) e à VH
(P = 0,97).
Resposta dilatadora da AB após isquemia induzida
Não houve diferença estatisticamente significativa na
resposta vasodilatadora da AB após isquemia induzida
(endotélio-dependente) entre o grupo C (8,9%) e o grupo
P (8,6%).
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
DISCUSSÃO
A análise da disfunção endotelial, por meio da mensuração da
FMD, uma dilatação endotélio-dependente, em combinação
com a NMD, dilatação endotélio-independente, mostra resultados controversos na ES. Lekakis et al.17 e Cypiene et al.19
estudaram pacientes com a forma difusa da ES e encontraram
redução em ambos FMD e NMD quando comparados com
controles sadios. Rossi et al.20 também encontraram redução
significativa em ambos FMD e NMD ao estudar pacientes
com ES em ambas as formas, difusa e limitada, e comparar
565
Fernandes et al.
com controles sadios. Szucs et al.18 mostraram redução na
FMD sem alteração na NMD nos indivíduos esclerodérmicos
estudados em ambas as formas quando comparados com
mulheres sadias. Andersen et al.9 não encontraram alterações
em ambos FMD e NMD ao comparar indivíduos portadores
ES difusa e limitada com indivíduos sadios. Rajagopalan et
al.21 comprovaram, ao comparar indivíduos com FRy primário
e secundário à ES e outras doenças do tecido conjuntivo, a
presença de alteração na microcirculação demonstrada pela
análise do laser Doppler e fluxometria após breve oclusão
arterial digital, porém não houve diferença no FMD em ambos
os grupos analisados. Roustit et al.22 compararam indivíduos
saudáveis, portadores de FRy primário e de ES e não encontraram alteração significativa no FMD entre os três grupos.
D’Andrea et al.25 encontraram discreta diminuição no FMD
em pacientes com ES ao comparar com indivíduos saudáveis.
Bartoli et al.26 também encontraram menor FMD ao comparar
indivíduos portadores de ES com um grupo-controle.
Assim como Andersen et al.,9 Rajagopalan et al.21 e Roustit
et al.,22 nosso estudo não encontrou evidência de desregulação
vascular comprovada pelo FMD em pacientes portadores de
ES quando comparados a um grupo-controle composto por
indivíduos sadios. Em concordância com Szucs et al.18 e
Andersen et al.,9 nosso estudo demonstrou que a NMD não está
alterada em indivíduos portadores de ES quando comparados
ao mesmo grupo-controle.
Contrário a nosso estudo, a maior parte desses autores
estudou pacientes com predomínio da forma difusa da doença.
Optamos por indivíduos com a forma limitada da doença por
sabermos que a incidência de vasculopatia é observada com
maior frequência nesses casos (FRy grave, telangectasias e
um tipo primário de hipertensão pulmonar na doença tardia).
Anticorpo anticentrômero é um fator de risco conhecido para
isquemia digital e aparece, principalmente, na forma limitada
de longa duração.27,28
Cheng et al.29 realizaram estudo sobre as propriedades biomecânicas (elástica e muscular) e espessamento do complexo
médio intimal das artérias carótida e femoral em 19 pacientes
com a forma difusa da ES, 33 com a forma limitada e 21 controles sadios. Observaram progressiva e significante redução
na propriedade elástica da artéria carótida dos pacientes esclerodérmicos com a forma limitada da doença em relação ao
grupo-controle. O envolvimento macrovascular pode somar-se
às alterações microvasculares próprias da ES, exacerbando
os distúrbios hemodinâmicos distais existentes, responsáveis
pelas alterações das polpas digitais.
Nossos achados nos levam a crer que, apesar de cronicamente lesado, o endotélio permanece responsivo na população
566
estudada. As anormalidades macrovasculares em indivíduos
com ES são atribuídas a fatores estruturais e anatômicos da
parede do vaso e não a alterações funcionais do endotélio.11
Foi encontrada diferença significativa ao se medir o DAB basal
entre os grupos ESL e controle. Esse fato por si só pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares nessa população. Já
foi demonstrada uma associação entre menor DAB e presença
de aterosclerose subclínica, estimada pela medida do espessamento médio intimal das artérias carótidas internas, indicando
que o remodelamento arterial é um processo sistêmico na ES.
Permanece ainda incerto se a dilatação da AB nesses casos é
consequência de uma modificação estrutural nos componentes
da parede do vaso ou se é diretamente causada pelo efeito
dos fatores de risco cardiovasculares sobre o tônus simpático
vascular. Uma redução importante na complacência arterial
dos pacientes esclerodérmicos está relacionada à elasticidade
do vaso, podendo ser consequência das alterações do tecido
conectivo e refletir no aumento do risco cardiovascular.30 O
DAB, um índice simples e reproduzível, pode ser um valioso
indicador de risco cardiovascular, e sua variação é inversamente proporcional a esse risco.31
Os dados conflitantes com a literatura podem ser explicados devido à presença de numerosos vieses identificados
em nosso estudo. O tamanho da amostra foi pequeno devido
à baixa prevalência dessa doença em nossa população e à
dificuldade encontrada em selecionar pacientes com ESL que
preenchessem todos os critérios de inclusão. Outro fator de
confundimento foi o fato de grande parte dos indivíduos estudados (70%) estarem fazendo uso regular de drogas vasoativas
no momento em que se deu a avaliação do FMD e NMD pelo
eco Doppler da AB. Assim como a maior parte dos estudos
descritos na literatura,9,19–22,25 optamos pela não suspensão dessas medicações devido à gravidade da vasculopatia periférica
que esses doentes apresentavam.
Andersen et al.9 permitiram o uso de inibidores da enzima
conversora de angiotensina (IECA) e de corticosteroides durante o estudo e constataram que os valores encontrados entre
os grupos tratado e não tratado não diferiram significativamente, embora os níveis de nitrato plasmático tendessem a ser
menores no grupo que usava corticosteroide. Bartoli et al.26 e
Szucs et al.18 optaram pela suspensão de drogas vasoativas e
antioxidantes em um período de 24 horas antes da realização
do exame. Rajagopalan et al.21 permitiram que pacientes esclerodérmicos mantivessem o uso regular de ACC ou IECA
desde que tivessem sido iniciados em um período superior a
quatro meses antes da data de início da avaliação da função
endotelial, porém excluíram pacientes que estivessem usando
terapia antilipídica ou mais de duas drogas anti-hipertensivas
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
Avaliação da função endotelial em pacientes com esclerose sistêmica limitada por meio do eco Doppler da artéria braquial
em combinação. Entre os 42 pacientes com ES analisados por
Roustit et al.,22 16 faziam uso regular de ACC, três de IECA,
um de bloqueadores do receptor de angiotensina II, dois de
hidroxicloroquina, dois de ciclofosfamida, um fazia uso
de corticosteroide, dois de azatioprina e um de metotrexato.
Nenhum paciente usava análogos de prostaciclina durante o
desenvolvimento deste estudo. Entre os 36 pacientes portadores
de FRy primário, apenas dois usavam ACC.
O tempo de evolução de doença também variou entre os
indivíduos ESL, com apenas 30% da amostra apresentando
tempo superior a 10 anos desde o diagnóstico. A exposição e a
influência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em
ambos os grupos também não foram laboratorialmente estudadas. Diferenças antropométricas que podem influenciar o maior
risco cardiovascular, tais como medida da circunferência abdominal, não foram avaliadas entre os grupos estudados. Deve-se
ainda atentar para o fato de o mecanismo primário responsável
pela determinação da resposta dilatadora da AB variar em função da posição do esfigmomanômetro no membro superior do
indivíduo analisado. A maior parte da resposta é NO-dependente
quando o esfigmomanômetro está localizado no antebraço dos
indivíduos; porém, quando posicionado no braço, essa resposta
é parcialmente dependente do NO. Escolhemos posicioná-lo no
braço porque a esclerose cutânea é mais comum no antebraço,
e quando comprimida torna a área muito dolorosa.32
Concluindo, nossos achados mostram que o DAB encontra-se
reduzido em pacientes com ESL. Entretanto, a resposta dilatadora dependente e independente do endotélio manteve-se
preservada, encorajando o tratamento desses doentes na tentativa de reduzir a morbimortalidade na evolução da doença.
AGRADECIMENTOS
Ao Dr. Nivaldo Ribeiro Villela, que se dedicou pessoalmente
à análise e à execução do Doppler em cores da artéria braquial
nos participantes deste estudo e sempre estimulou a realização
deste trabalho; à Dra. Blanca Bica, que, como chefe do Serviço
de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho, viabilizou todo o projeto.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
Derk CT, Jimenez SA. Systemic sclerosis: current views of its
pathogenesis. Autoimmun Rev 2003; 2(4):181–91.
Abra ham DJ, Krieg T, Distler J, Distler O. Overview of pathogenesis of
systemic sclerosis. Rheumatology (Oxford) 2009; 48(Suppl. 3): iii3–7.
Frech T, Hatton N, Markewitz B, Scholand MB, Cawthon R, Patel A
et al. The vascular microenvironment and systemic sclerosis. Int J
Rheumatol 2010; 2010(pii):362868.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
19.
20.
Freedman RF, Girgis R, Mayes MD. Endothelial and adrenergic
dysfunction in Raynaud’s phenomenon and scleroderma. J
Rheumatol 1999; 26(11):2386–8.
Kahaleh MB, LeRoy EC. Autoimmunity and vascular involvement
in systemic sclerosis (SSc). Autoimmunity1999; 31(3):195–214.
Szocs K. Endothelial dysfunction and reactive oxygen species
production in ischemia/reperfusion and nitrate tolerance. Gen Physiol
Biophys 2004; 23(3):265–95.
Kuo L, Davis MJ, Chilian WM. Endothelial modulation of arteriolar
tone. News Physiol Sci 1992; 7(1):5–9.
Wanstall JC, Homer KL, Doggrell SA. Evidence for, and importance
of, cGMP-independent mechanisms with NO and NO donors on
blood vessels and platelets. Curr Vasc Pharmacol 2005; 3(1):41–53.
Andersen GN, Mincheva-Nilsson L, Kazzam E, Nyberg G,
Klintland N, Petersson AS et al. Assessment of vascular function in
systemic sclerosis: indications of the development of nitrate tolerance
as a result of enhanced endothelial nitric oxide production. Arthritis
Rheum 2002; 46(5):1324–32.
D’Angelo WA, Fries JF, Masi AT, Shulman LE. Pathologic observations
in systemic sclerosis (scleroderma): a study of fifty-eight autopsy cases
and fifty-eight matched controls. Am J Med 1969; 46(3):428–40.
Constans J, Gosse P, Pellegrin JL, Ansoborlo P, Leng B, Clément J
et al. Alteration of arterial distensibility in systemic sclerosis. J Intern
Med 1997; 241(2):115–18.
Matucci-Cerinic M, Fiori G, Grenbaum E, Shoenfeld Y.
Macrovascular disease in systemic sclerosis. 2.ed. Baltimore:
Lippincot Williams & Wilkins, 2003.
Kahaleh B. Vascular disease in scleroderma: mechanisms of vascular
injury. Rheum Dis Clin North Am 2008; 34(1):57–71 vi.
Celermajer DS, Sorensen KE, Gooch VM, Spiegelhalter DJ,
Miller OI, Sullivan ID et al. Non-invasive detection of endothelial
dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet
1992; 340(8828):1111–5.
Rollando D, Bezante GP, Sulli A, Balbi M, Panico N, Pizzorni C
et al. Brachial artery endothelial-dependent flow-mediated dilation
identifies early-stage endothelial dysfunction in systemic sclerosis
and correlates with nailfold microvascular impairment. J Rheumatol
2010; 37(6):1168–73.
Joannides R, Haefeli WE, Linder L, Richard V, Bakkali EH,
Thuillez C et al. Nitric oxide is responsible for flow-dependent
dilatation of human peripheral conduit arteries in vivo. Circulation
1995; 91(5):1314–9.
Lekakis J, Papamichael C, Mavrikakis M, Voutsas A,
Stamatelopoulos S. Effect of long-term estrogen therapy on
brachial artery endothelium-dependent vasodilation in women with
Raynaud’s phenomenon secondary to systemic sclerosis. Am J
Cardiol 1998; 82(12):1555–7, A8.
Szucs G, Tímár O, Szekanecz Z, Dér H, Kerekes G, Szamosi S
et al. Endothelial dysfunction precedes atherosclerosis in systemic
sclerosis – relevance for prevention of vascular complications.
Rheumatology (Oxford) 2007; 46(5):759–62.
Cypiene A, Laucevicius A, Venalis A, Dadoniene J, Ryliskyte L,
Petrulioniene Z et al. The impact of systemic sclerosis on arterial
wall stiffness parameters and endothelial function. Clin Rheumatol
2008; 27(12):1517–22.
Rossi P, Granel B, Marziale D, Le Mée F, Francès Y. Endothelial
function and hemodynamics in systemic sclerosis. Clin Physiol Funct
Imaging 2010; 30(6):453–9.
567
Fernandes et al.
21. Rajagopalan S, Pfenninger D, Kehrer C, Chakrabarti A, Somers E,
Pavlic R et al. Increased asymmetric dimethylarginine and endothelin
1 levels in secondary Raynaud’s phenomenon: implications for
vascular dysfunction and progression of disease. Arthritis Rheum
2003; 48(7):1992–2000.
22. Roustit M, Simmons GH, Baguet JP, Carpentier P, Cracowski JL.
Discrepancy between simultaneous digital skin microvascular and
brachial artery macrovascular post-occlusive hyperemia in systemic
sclerosis. J Rheumatol 2008; 35(8):1576–83.
23. Preliminary criteria for the classification of systemic sclerosis
(scleroderma). Subcommittee for scleroderma criteria of the
American Rheumatism Association Diagnostic and Therapeutic
Criteria Committee. Arthritis Rheum 1980; 23(5):581–90.
24. Salles-Cunha SX, Morais Filho D. Princípios básicos. In:
Engelhorn CA, Morais Filho D, Barros FS, Coelho N. Guia prático
de ultrassonografia vascular. Rio de Janeiro: Dilivros, 2007.
25. D’Andrea A, Stisi S, Caso P, Uccio FS, Bellissimo S, Salerno G
et al. Associations between left ventricular myocardial involvement
and endothelial dysfunction in systemic sclerosis: noninvasive
assessment in asymptomatic patients. Echocardiography 2007;
24(7):587–97.
568
26. Bartoli F, Blagojevic J, Bacci M, Fiori G, Tempestini A, Conforti ML
et al. Flow-mediated vasodilation and carotid intima-media thickness
in systemic sclerosis. Ann N Y Acad Sci 2007; 1108:283–90.
27. Youseff P, Brama T, Englert H, Bertouch J. Limited scleroderma is
associated with increased prevalence of macrovascular disease. J
Rheumatol 1995; 22(3):469–72.
28. Wan MC, Moore T, Hollis S, Herrick AL. Ankle brachial pressure index
in systemic sclerosis: influence of disease subtype and anticentromere
antibody. Rheumatology (Oxford) 2001; 40(10):1102–5.
29. Cheng KS, Tiwari A, Boutin A, Denton CP, Black CM, Morris R
et al. Carotid and femoral arterial wall mechanics in scleroderma.
Rheumatology (Oxford) 2003; 42(11):1299–305.
30. Glasser SP, Arnett DK, McVeigh GE, Finkelstein SM, Bank AJ,
Morgan DJ et al. Vascular compliance and cardiovascular disease: a
risk factor or a marker? Am J Hypertens 1997; 10(10 Pt 1):1175–89.
31. Holewijn S, den Heijer M, Swinkels DW, Stalenhoef AF, de Graaf J.
Brachial artery diameter is related to cardiovascular risk factors
and intima-media thickness. Eur J Clin Invest 2009; 39(7):554–60.
32. Doshi S, Naka KK, Payne N, Jones CJ, Ashton M, Lewis MJ et al. Flowmediated dilatation following wrist and upper arm occlusion in humans:
the contribution of nitric oxide. Clin Sci (Lond) 2001; 101(6):629–35.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):554-568
ARTIGO DE REVISÃO ESPECIAL
Diretrizes para prevenção e tratamento da
osteoporose induzida por glicocorticoide
Rosa Maria Rodrigues Pereira1, Jozélio Freire de Carvalho2, Ana Patrícia Paula3, Cristiano Zerbini4,
Diogo S. Domiciano5, Helenice Gonçalves6, Jaime S. Danowski7, João F. Marques Neto8,
Laura M. C. Mendonça9, Mailze C. Bezerra10, Maria Teresa Terreri11, Marta Imamura12, Pedro Weingrill13,
Perola G. Plapler14, Sebastião Radominski15, Tatiana Tourinho16, Vera L. Szejnfeld17, Nathalia C. Andrada18
RESUMO
Os glicocorticoides (GC) são prescritos por praticamente todas as especialidades médicas, e cerca de 0,5% da população
geral do Reino Unido utiliza esses medicamentos. Com o aumento da sobrevida dos pacientes com doenças reumatológicas,
a morbidade secundária ao uso dessa medicação representa um aspecto importante que deve ser considerado no manejo de
nossos pacientes. As incidências de fraturas vertebrais e não vertebrais são elevadas, variando de 30%–50% em pessoas
que usam GC por mais de três meses. Assim, a osteoporose e as fraturas por fragilidade devem ser prevenidas e tratadas
em todos os pacientes que iniciarão ou que já estejam em uso desses esteroides. Diversas recomendações elaboradas
por várias sociedades internacionais têm sido descritas na literatura, porém não há consenso entre elas. Recentemente,
o Americam College of Rheumatology publicou novas recomendações, porém elas são fundamentadas na FRAX (WHO
Fracture Risk Assessment Tool) para analisar o risco de cada indivíduo e, dessa maneira, não podem ser completamente
utilizadas pela população brasileira. Dessa forma, a Comissão de Osteoporose e Doenças Osteometabólicas da Sociedade
Brasileira de Reumatologia, em conjunto com a Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Medicina Física
e Reabilitação, implementou as diretrizes brasileiras de osteoporose induzida por glicocorticoide (OPIG), baseando-se
na melhor evidência científica disponível e/ou experiência de experts. Descrição do método de coleta de evidência: A
revisão bibliográfica de artigos científicos desta diretriz foi realizada na base de dados MEDLINE. A busca de evidência
partiu de cenários clínicos reais, e utilizou as seguintes palavras-chave (MeSH terms): Osteoporosis, Osteoporosis/chemically induced*= (Glucocorticoids= Adrenal Cortex Hormones, Steroids), Glucocorticoids, Glucocorticoids/administration
and dosage, Glucocorticoids/therapeutic use, Glucocorticoids/adverse effects, Prednisone/adverse effects, Dose-Response
Relationship, Drug, Bone Density/drug effects, Bone Density Conservation Agents/pharmacological action, Osteoporosis/
prevention&control, Calcium, Vitamin D, Vitamin D deficiency, Calcitriol, Receptors, Calcitriol; 1-hydroxycholecalciferol,
Hydroxycholecalciferols, 25-Hydroxyvitamin D3 1-alpha-hydroxylase OR Steroid Hydroxylases, Prevention and Control,
Spinal fractures/prevention & control, Fractures, Spontaneous, Lumbar Vertebrae/injuries, Lifestyle, Alcohol Drinking,
Smoking OR tobacco use disorder, Movement, Resistance Training, Exercise Therapy, Bone density OR Bone and Bones,
Dual-Energy X-Ray Absorptiometry OR Absorptiometry Photon OR DXA, Densitometry, Radiography, (Diphosphonates
Alendronate OR Risedronate Pamidronate OR propanolamines OR Ibandronate OR Zoledronic acid, Teriparatide OR
PTH 1-34, Men AND premenopause, pregnancy, pregnancy outcome maternal, fetus, lactation, breast-feeding, teratogens,
Children (6–12 anos), adolescence (13–18 anos). Grau de recomendação e força de evidência: A) Estudos experimentais
e observacionais de melhor consistência; B) Estudos experimentais e observacionais de menor consistência; C) Relatos de
casos (estudos não controlados); D) Opinião desprovida de avaliação crítica, com base em consensos, estudos fisiológicos
ou modelos animais. Objetivo: Estabelecer as diretrizes para a prevenção e o tratamento da OPIG.
Palavras-chave: tratamento, osteoporose, glicocorticoide.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
Os glicocorticoides (GC) são utilizados por praticamente todas
as especialidades médicas. Cerca de 0,5% da população geral
do Reino Unido utiliza esses medicamentos, chegando a uma
frequência de 1,75% das mulheres acima de 55 anos (B).1
A incidência de fraturas vertebral e não vertebral é elevada,
variando de 30%–50% em pessoas que usam GC por mais de
Recebido em 26/02/2012. Aprovado, após revisão, em 06/03/2012. Os conflitos de interesse e a titulação dos autores estão declarados no final do artigo.
Sociedade Brasileira de Reumatologia, Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, Associação Médica Brasileira.
580
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
três meses (A).2 O uso de GC provoca perda de massa óssea,
sobretudo de osso trabecular (tipo de osso predominante nas vértebras), e essa perda é mais pronunciada nos primeiros meses da
terapia. Há perda de 10%–20% de osso trabecular nos primeiros
seis meses de uso de GC, e de 2% ao ano nos anos subsequentes.
Também ocorre perda de osso cortical (em maior proporção em
ossos longos) em 2%–3% no primeiro ano, e depois uma perda
lenta e contínua é mantida (A).2 É importante ressaltar que o risco
de fratura para uma mesma densidade mineral óssea (DMO) é
maior na osteoporose induzida por glicocorticoide (OPIG) que
na osteoporose pós-menopausa ou senil (B).3
O risco de fratura depende da dose do GC. O uso de
prednisona em até 2,5 mg/dia leva a risco relativo (RR) de
1,55; na dose de 2,5–7,5 mg/dia o RR é de 2,59, e com doses
maiores que 7,5 mg/dia o RR chega a 5,18 – todos riscos com
significância estatística (A).4
Um estudo utilizando banco de dados populacional (244.235
participantes usuários de GC e 244.235 controles) do Reino
Unido (General Practice Research Database – GPRD) avaliou
o risco de fraturas nesses pacientes em uso de GC (dose média
de prednisolona de 7,8 mg/dia, e dose média cumulativa de
13,9 g) e encontrou risco aumentado significativo de fraturas,
principalmente vertebrais: RR de qualquer fratura 1,33 (95% IC;
1,29–1,38), RR de fratura de quadril 1,61 (95% IC; 1,47–1,76)
e RR de fratura vertebral 2,60 (95% IC; 2,31–2,92) (B).5
Devido à elevada frequência do uso de GC e ao aumento
da morbidade e da mortalidade relacionadas a seu uso, diversas recomendações elaboradas por várias sociedades internacionais têm sido descritas na literatura (D).6–11 Porém, não
há consenso entre elas. Recentemente, o American College
of Rheumatology (ACR) publicou um novo consenso, que
utiliza a ferramenta FRAX® (WHO Fracture Risk Assessment
Tool) para analisar o fator de risco de cada indivíduo (D).12
No entanto, a FRAX não pode ser completamente utilizado
pela população brasileira.
Assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma diretriz
com base na melhor evidência científica e/ou na experiência
de experts, quando esta evidência não fosse disponível.
Há fatores de riscos que contribuem para determinar se o
risco do paciente é baixo, médio ou alto de desenvolver OPIG.
Dentre os fatores de risco maiores incluem-se história pessoal
de fratura na vida adulta, história de fratura em parente de
primeiro grau, tabagismo atual e baixo peso (< 57 kg). Como
fatores de risco menores, listamos idade avançada, deficiência
de estrógeno (menopausa antes dos 45 anos), baixa ingestão
de cálcio durante a vida, atividade física inadequada, alcoolismo (três ou mais unidade de álcool/dia), quedas recentes,
demência, déficit de visão e saúde fragilizada.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Esta diretriz não abordará OPIG em situações de uso de
GC inalado, pulsoterapia de GC e em pacientes submetidos
a transplantes.
1. QUAIS SÃO A DOSE E A DURAÇÃO
MÍNIMA DE GC QUE INDICAM
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OPIG?
A dose mínima de GC que indica risco de fratura é de 5 mg/dia,
e o período mínimo é de três meses de uso (A).2
Além disso, três diretrizes internacionais (D)6,7,11 também fazem essa recomendação: pacientes que iniciarão
GC (prevenção) em uma dose de pelo menos 5 mg/dia de
prednisona ou equivalente por pelo menos três meses são
indivíduos de risco, e deve ser instituída medicação farmacológica e mudança de estilo de vida. Outras diretrizes
(D)8,10 recomendam essa prevenção em doses ≥ 7,5 mg/dia.
Por outro lado, a diretriz da UK Bone Research Society,
National Osteoporosis Society e Royal College of Physician
(D)9 não especifica a dose.
Em relação à duração de uso de GC, a maioria das diretrizes
especifica pelo menos três meses para pacientes que iniciarão
o uso de GC (prevenção) (D).6–9 Em relação a pacientes que
já fazem uso de GC (tratamento), algumas sociedades (D)6,11
recomendam realizar tratamento para OPIG quando a dose
de GC for ≥ 5 mg/dia. A Sociedade Belga (D)10 recomenda
tratamento quando GC for ≥ 7,5 mg/dia. Outras sociedades
(D)7–9 não especificam a dose para os pacientes em uso de GC
(tratamento).
As Recomendações para Prevenção e Tratamento da
OPIG do ACR especificam a dose de GC com base no risco
de perda óssea calculado pela ferramenta FRAX (D),12 porém
essa avaliação de risco não pode ser completamente utilizada
na população brasileira. As recomendações de prevenção e
tratamento são as seguintes:
• Baixo risco (FRAX®) em mulheres pós-menopausadas e
homens ≥ 50 anos, se o paciente fizer uso ≥ 7,5 mg/dia;
• Médio risco (FRAX®) em mulheres pós-menopausadas e
homens ≥ 50 anos, para qualquer dose de GC;
• Alto risco (FRAX®) em mulheres pós-menopausadas e
homens ≥ 50 anos, para qualquer dose de GC;
• Mulheres pré-menopausa (sem risco de engravidar) e
homens com menos de 50 anos com história de fratura por
fragilidade, com duração de GC entre 1–3 meses, quando
a dose de GC for ≥ 5 mg/dia;
• Mulheres pré-menopausa (com risco de engravidar) e
fratura por fragilidade prévia, com duração de GC ≥ 3
meses, quando a dose de GC for ≥ 7,5 mg/dia.
581
Pereira et al.
Recomendação
Recomenda-se que pacientes que iniciarão GC (prevenção)
na dose de ≥ 5 mg/dia com duração de tratamento previsto
≥ 3 meses recebam medicação específica para tratamento
preventivo de OPIG e mudança de estilo de vida. De forma
semelhante, pacientes em uso de GC (tratamento) na dose
de ≥ 5 mg/dia de prednisona ou equivalentes também devem
realizar o mesmo tratamento preventivo para OPIG (D).6 Há
indicação de medidas preventivas e terapêuticas em todos os
pacientes de alto risco de OPIG, independente da dose de GC
(D).12 Essas recomendações são fundamentadas porque até
50% dos pacientes em uso de GC por mais de três meses têm
aumento do risco de fraturas vertebrais (mais frequentes) e não
vertebrais (B).5 Importante lembrar que para um mesmo valor
de DMO há maior risco de fratura nos casos de OPIG (A).2
2. O CÁLCIO DEVE SER UTILIZADO NA
PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DA OPIG?
Cálcio e vitamina D são nutrientes essenciais para a manutenção da saúde. A suficiência desses dois nutrientes é considerada pré-requisito em qualquer intervenção terapêutica para
osteoporose (D).6–9
Esquemas de tratamento com o cálcio como terapia para a
prevenção da OPIG em população de homens, mulheres prémenopausadas e pós-menopausadas demonstraram que o uso
isolado de carbonato de cálcio na dose de 1.000 mg/dia leva
à perda de 4,3% da DMO na coluna lombar em um ano (A).13
Mulheres pré-menopausadas com diagnóstico de lúpus
em uso mediano de 2,5 anos de GC (variando de 0–20 anos)
foram estudadas após dois anos de reposição de carbonato de
cálcio (500 mg/dia) isolado ou associado na mesma dose com
calcitriol (0,25 µg/dia). Não houve diferença significativa da
DMO entre os dois grupos, demonstrando que tanto o cálcio
isolado quanto a combinação de cálcio com calcitriol preservam
a DMO em coluna lombar nessa população (A).14 O uso de bisfosfonato não é recomendável em mulheres pré-menopausadas
com risco de engravidar.
Como monoterapia, considera-se que o cálcio não é suficiente para prevenção ou tratamento da OPIG (D).15
Recomendação
Carbonato de cálcio na dose de 1.000 mg/dia usado isoladamente não previne perda de massa óssea nem fratura em
pacientes que iniciam o uso crônico de GC, principalmente
em mulheres na pós-menopausa – portanto, não é indicado
para prevenção primária (A).13 Para prevenção secundária,
582
há evidência de manutenção de DMO na coluna lombar em
mulheres em pré-menopausa tanto com o uso de carbonato
de cálcio (500 mg/dia) isolado quanto associado ao calcitriol
(0,25 µg/dia) (A).14
3. QUE APRESENTAÇÃO DA VITAMINA D
DEVE SER UTILIZADA NA PREVENÇÃO
E NO TRATAMENTO DA OPIG?
Embora o termo vitamina D seja utilizado para abranger tanto
os calciferois (colecalciferol e ergocalciferol) quanto os análogos da vitamina D ativada, seus perfis terapêuticos são bastante
distintos. As formas mais comumente usadas são os metabólitos
ativos da vitamina D, o calcitriol (1,25-dihidroxivitamina D)
e o alfacalcidol (1-α-hidroxivitamina D). Estudos de cálcio
associado à vitamina D demonstram resultados variáveis.
Em uma metanálise comparando análogos da vitamina D ativa
(alfacalcidol e calcitriol) e calciferol em usuários crônicos de
GC, demonstrou-se que os metabólitos ativos reduzem significativamente a perda de massa óssea do quadril e da coluna
com tamanho de efeito (effect size – ES) = 0,43 e P < 0,001;
diferentemente, o uso de calciferol evitou a perda da massa
óssea apenas em quadril (A).16 Nessa metanálise somente dois
trabalhos estudaram os efeitos do calcitriol sobre a incidência
de fraturas decorrentes de OPIG. A redução do risco encontrado foi não significativa, e até o momento está definida a não
eficácia da vitamina D para redução de fraturas decorrentes
de OPIG (A).13,17
Nas prevenções primária e secundária da OPIG os análogos
de vitamina D ativa foram mais eficazes na preservação da
DMO e diminuíram o risco de fraturas vertebrais em comparação aos calciferois ou ao cálcio isoladamente, ao placebo ou
a nenhum tratamento, com RR = 0,35 (95% IC; 0,18–0,52).
Na análise de subgrupos dos análogos observou-se que o alfacalcidol preveniu fraturas, e que o calcitriol apresentou apenas
tendência a efeito protetor (B).18
Em uma comparação direta entre alfacalcidol e vitamina D
não ativa, a forma ativa foi significativamente mais eficaz em
termos de ganho de massa óssea e redução do risco de fratura
de coluna vertebral, pois com alfacalcidol há redução significativa de 61% nas fraturas vertebrais e de 52% em todas as
fraturas vertebrais e combinadas, quando comparado ao grupo
da vitamina D (B).19
O alfacalcidol na dose de 0,25–1,0 µg/dia é capaz de
prevenir a redução da massa óssea, e também foi observada ação protetora sobre a fratura vertebral. O calcitriol
(0,5–1,0 µg/dia) parece prevenir perda de massa óssea em
coluna, mas não previne fraturas.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
Recomendação
A vitamina D, em suas formas ativa (alfacalcidol e calcitriol)
e não ativa (colecalciferol e ergocalciferol), previne a perda
de massa óssea em usuários crônicos de GC (A);16 porém, a
prevenção de perda de massa óssea realizada com calciferois
não reduz a incidência de fraturas (A).13,16,17
O alfacalcidol na dose de 0,25–1,0 µg/dia previne a redução
da massa óssea e diminui o risco de fratura (vertebral ou não
vertebral) em usuários crônicos de GC (B).19 Recomenda-se
o monitoramento da calcemia e da calciúria em pacientes que
recebem prescrição de vitamina D, principalmente quando se
utilizam os análogos.
4. HÁ BENEFÍCIO NA ASSOCIAÇÃO DE
CÁLCIO COM VITAMINA D NA PREVENÇÃO
E NO TRATAMENTO DA OPIG?
A suplementação terapêutica de cálcio e de vitamina D é considerada como primeiro passo no tratamento da OPIG, com
baixos índices de toxicidade e de custo.
A associação de cálcio e de vitamina D melhorou significativamente a DMO da coluna lombar (média ponderada de 2,6 e 95%
IC; 0,7–4,5) e do rádio (média ponderada de 2,5 e 95% IC; 0,6–4,4)
em 33% dos pacientes em uso de GC, porém não produziu efeitos
significativos no fêmur ou na incidência de fraturas (A).20
Pacientes com diagnóstico de artrite reumatoide e em uso
crônico de GC apresentaram benefício estatisticamente significativo na associação entre carbonato de cálcio (1.000 mg/dia) e
vitamina D (500 unidades diárias) quando comparada ao placebo. Os pacientes em uso da associação apresentaram aumento
da massa óssea (0,72%/ano) na coluna lombar e aumento de
0,85% anual no trocânter. Em comparação, o grupo-placebo
perdeu massa óssea na coluna lombar e no fêmur a uma taxa
de 2% e 0,9% ao ano, respectivamente (A).21
O uso combinado de calcitriol (dose média de 0,6 µg/dia)
e cálcio (carbonato de cálcio 1.000 mg/dia), com ou sem calcitonina sintética (400 UI via nasal por dia), evitou perda da
DMO na coluna lombar, diminuindo essa perda de 4,3% para
somente 0,2% em um ano (P = 0,0035). Esse benefício não foi
observado no colo de fêmur e em rádio distal (A).13
Ao comparar pacientes portadores de OPIG em uso da associação de 500 mg/dia de carbonato de cálcio com alfacalcidol
1 µg/dia ou a mesma dose de cálcio com 1.000 UI/dia de
vitamina D3, o primeiro esquema terapêutico levou a maior
benefício em três anos. Nova fratura vertebral ocorreu em
9,7% dos pacientes em uso de alfacalcidol e em 24,8% no
grupo da vitamina D3, com redução de RR = 0,61 (95% IC;
0,24–0,81). Não houve redução de risco de fraturas não
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
vertebrais. Ao avaliar qualquer nova fratura, ou seja, vertebral e não vertebral, em três anos, a primeira associação
medicamentosa apresentou 19,4% de fraturas, enquanto o
segundo esquema terapêutico apresentou 40,65%, fornecendo redução significativa de RR = 0,52 (95% IC; 0,25–0,71
e P = 0,0001) (B).19
Recomendação
Há benefícios na associação de cálcio e vitamina D por sua
eficácia na prevenção de perda de massa óssea em pacientes
sob glicocorticoterapia (A).20 Entretanto, ainda permanece
controverso o estabelecimento da melhor forma de vitamina D a
ser administrada – se calciferol, alfacalcidol ou calcitriol. Até o
momento, somente alfacalcidol associado ao cálcio demonstrou
redução significativa do risco de fratura vertebral, sem efeito
em fraturas não vertebrais (B).19
5. QUE MUDANÇAS NO ESTILO DE
VIDA DEVEM SER REALIZADAS PARA A
PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DA OPIG?
Sabe-se que fatores de risco, tais como tabagismo (B),22 elevada
ingestão de álcool (três ou mais unidades diárias) (B),23,24 sedentarismo (gasto energético < 1.682 kcal/dia com RR = 1,7;
95% IC; 1,2–2,3) (B),25 riscos de quedas recorrentes em idosos
frágeis com odds ratio (OR) = 1,38 (95% IC; 1,02–1,88) (A)26
e baixo peso (cada desvio padrão de redução no peso aumenta
significativamente em 19% o risco de fratura patológica) exercem efeitos negativos sobre a massa óssea, mesmo em mulher
jovem usando GC (B).27
Recomendação
Assim como na osteoporose primária, na prevenção e no tratamento da OPIG devem-se remover ou reduzir os fatores de
risco modificáveis, tais como fumo (B),22 ingestão de álcool (<
três unidades diárias) (B),23 sódio (principalmente em caso de
hipercalciúria), sedentarismo (B),25 baixo peso (B)27 e cuidado especial com o idoso frágil, pois este apresenta risco com
significância estatística de quedas recorrentes (A).26
6. QUE MODALIDADES DE EXERCÍCIO
FÍSICO SÃO RECOMENDADAS PARA A
PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DA OPIG?
Exercícios com carga melhoram a massa óssea de crianças e de
adolescentes e podem reduzir a velocidade de perda óssea em
idosos. Além disso, a prática regular de exercício físico leva
583
Pereira et al.
a melhor mobilidade e força muscular, diminuindo a chance
de quedas (D).28,29
A prática de exercícios físicos, principalmente de moderado
a alto impacto, é recomendada para a prevenção e o tratamento
da osteoporose pós-menopausa (A).30 De forma semelhante,
avaliando-se idosos acima de 65 anos não usuários de GC,
observa-se redução de risco e de frequência de quedas por
meio da intervenção do exercício, com RR = 0,83 (95% IC;
0,72–0,97) e RR = 0,78 (95% IC; 0,71–0,86), respectivamente.
Reduções semelhantes mantendo-se a significância estatística
também foram atingidas com a prática de Tai Chi Chuan (A).31
No entanto, não há evidência quanto ao papel do exercício
físico na OPIG. Acredita-se que exercícios para melhorar a
força dos membros inferiores e o equilíbrio são particularmente
importantes nesses pacientes, nos quais a miopatia e o risco de
quedas são comuns; porém, desconhe-se se a atividade física
melhoraria a miopatia induzida pelo GC (D).32
Pacientes pós-transplante cardíaco em uso de GC foram
avaliados em três grupos: alendronato associado a exercício
físico resistido, alendronato isolado e controle sem intervenções. Após seis meses, observou-se que o grupo de alendronato
mais exercício físico apresentou melhora da massa óssea na
coluna lombar e no fêmur em relação aos grupos alendronato
isolado e controle, sem voltar ao nível pré-transplante. O
grupo alendronato conseguiu estabilizar a perda de massa
óssea nos primeiros dois meses pós-transplante sem voltar ao
nível pré-transplante, e o grupo-controle continuou perdendo
massa óssea (B).33
Usuários crônicos de GC submetidos a um Programa de
Cuidado Específico para Osteoporose tiveram, no final de seis
meses a um ano, melhora da DMO da coluna e do fêmur total
associada à diminuição da dose de GC utilizada, maior frequência
de exercícios e aumento dos valores de 25-OH vitamina D, em
comparação ao início do estudo (B) 34
Um grupo de pacientes com artrite reumatoide, dos quais
apenas 9% faziam uso de GC no momento do estudo e 11%
nunca tinham usado GC (portanto, uma população um pouco
diferente do usuário habitual de GC), realizou fisioterapia usual
ou exercícios com carga, com alta intensidade e por longo período de treinamento. A taxa de perda de massa óssea no quadril
foi menor no grupo de exercício, o que não foi observado em
relação à coluna (B).35
Recomendação
Os exercícios físicos, principalmente de resistência com
carga, são recomendados para a prevenção e o tratamento de
pacientes com OPIG (B).35 Os exercícios de equilíbrio também
584
são recomendados, principalmente para pacientes com risco
de queda (D).32
7. A DENSITOMETRIA DEVE SER SOLICITADA
ANTES DA PRESCRIÇÃO DE GC (PREVENÇÃO)
E APÓS, COM O INDIVÍDUO JÁ EM
USO DE GC (TRATAMENTO)?
A DMO da coluna lombar é um preditor significativo de novas
fraturas em pacientes em uso de GC. Assim, para cada um
ponto de redução do T-score o RR de fratura é de 1,85 (95% IC;
1,06–3,21) (A).4
As Recomendações para Prevenção e Tratamento da OPIG
do ACR sugerem a realização de densitometria em pacientes
que usarão GC (prevenção) por tempo > 3 meses, em doses
≥ 5 mg/dia, e nos pacientes que estão fazendo uso de GC (tratamento) (D).6 Novas recomendações dessa mesma entidade
sugerem a realização de densitometria em qualquer paciente
que usará GC (prevenção) e nos pacientes que estão fazendo
uso de GC (tratamento), independente da dose e do tempo
de uso (D).12
Recomendação
Pacientes que usarão GC (prevenção) por tempo > 3 meses,
em doses ≥ a 5 mg/dia, e pacientes que fazem uso de GC
(tratamento) devem realizar densitometria antes da prescrição do GC (D)6 e, posteriormente (controle), para avaliar
o grau de redução da massa óssea e conhecer o risco de
fratura (A).4
8. A AVALIAÇÃO POR IMAGEM DA COLUNA
VERTEBRAL TORÁCICA E LOMBAR POR
RADIOGRAFIA OU DENSITOMETRIA
(VFA) DEVE SER SOLICITADA ANTES DA
PRESCRIÇÃO (PREVENÇÃO) E DURANTE
O USO DE GC (TRATAMENTO)?
Cerca de 33% dos pacientes em uso de GC apresentam fraturas, principalmente na região vertebral, e somente 30% dessas
fraturas são sintomáticas e podem não estar associadas à baixa
DMO (B).36 Nesse sentido, a radiografia de coluna vertebral é
fundamental para o diagnóstico.
As Recomendações Preliminares para Prevenção e
Tratamento da OPIG do ACR especificam a avaliação por
imagem da coluna vertebral (radiografia ou densitometria)
por meio do vertebral fracture assessment (VFA) (D).12 Essa
recomendação da avaliação da coluna vertebral no sentido
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
da detecção de fraturas vertebrais também é sugerida nas
diretrizes da International Society for Clinical Densitometry
(ISCD) (D).37
Não há dados na literatura referentes ao momento
de realização da radiografia ou VFA nesses pacientes.
Recomendamos essa avaliação antes da introdução do GC,
a cada seis meses no primeiro ano de uso do GC e, posteriormente, uma vez a cada um a dois anos, enquanto for mantido
o uso do medicamento.
Recomendação
A radiografia de coluna vertebral ou VFA deve ser realizada
antes da introdução do GC, a cada seis meses no primeiro ano
do uso do GC e, posteriormente, uma vez a cada um a dois
anos, enquanto for mantido o uso do GC (D).12,37
9. QUE VALOR DE T-SCORE INDICA PREVENÇÃO
E TRATAMENTO DE OPIG EM HOMENS?
Semelhante ao descrito previamente, os homens que iniciam
a terapia com GC por tempo > 3 meses devem realizar DMO.
Estudos prévios demonstraram que, dentre os homens que
apresentaram alguma fratura, 16% tinham DMO entre –1
e –2,5 desvios padrão (DP) (A);38 o risco de fratura é dosedependente. Em homens usando até 2,5 mg de prednisona o
risco de fratura vertebral foi de 1,55, aumentando para 5,18
com doses > 7,5 mg (B).39 O aumento no risco de fratura
é rápido após o início da terapia por corticosteroide, com
aumento significativo no risco de fratura não vertebral nos
primeiros três meses (A).40
Recomendação
Consideramos para prevenção um T-Score ≤ –1 DP para homens.
Consideramos para tratamento um T-Score ≤ –1,8 DP (A).38
10. A DENSITOMETRIA DEVE SER REALIZADA
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE
INICIARÃO (PREVENÇÃO) OU QUE JÁ
ESTEJAM EM USO (TRATAMENTO) DE GC?
Em estudo com uma população de crianças de 4–17 anos de
um banco de dados britânico (37.562 em terapia com GC
e 345.748 sem terapia com GC), os autores descreveram
que as crianças que recebiam quatro ou mais cursos de GC
sistêmicos tiveram OR para fratura de 1,32 (A).41 Doses de
prednisona ≥ 0,16 mg/kg/dia para crianças são consideradas
osteopenizantes (B).42
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Crianças com artrite idiopática juvenil utilizando dose de
0,62 mg/kg/dia de prednisona apresentam aumento do risco de
fratura vertebral em um período de 2,6 anos (B).43 Esses estudos são aqueles que apoiam a recomendação de que, quando a
criança e o adolescente já se encontram em uso de GC, deve-se
solicitar a DMO devido ao risco de fratura (D).37,44 Nos casos
em que a criança iniciará o uso crônico de GC, com base nas
recomendações de adultos ou nas recomendações feitas para
crianças e adolescentes com baixa massa óssea secundária a
doenças sistêmicas (D),37 recomenda-se a realização de DMO
basal antes do uso do GC. Nesse sentido, as regiões a serem
avaliadas em crianças e adolescentes são a coluna lombar e
o corpo inteiro (neste último, deve-se excluir a cabeça) (D).37
A região dos quadris, devido à grande variabilidade, não tem
preferência nessa análise. A região de fêmur proximal não
apresenta curva padrão para crianças e adolescentes. O Z-Score
deve ser utilizado em crianças e adolescentes. A descrição
do T-Score não deve aparecer nesse exame. Para crianças e
adolescentes, deve-se empregar o termo “baixa massa óssea
para a idade cronológica” quando o Z-Score for ≤ –2,0 DP.
Os termos osteopenia e osteoporose não devem ser utilizados
na faixa etária pediátrica com base apenas no critério densitométrico (D).37,44 Em crianças com baixa estatura ou atraso
puberal, a análise densitométrica para o cálculo do Z-Score
deve ser fundamentada na idade estatural ou na idade óssea, e
não na idade cronológica.
O diagnóstico de osteoporose na faixa etária pediátrica
exige presença de história de fratura clínica (definida como
pelo menos uma fratura de osso longo dos membros inferiores, pelo menos duas fraturas nos membros superiores
ou uma fratura compressiva vertebral) associada ao uso de
DMO (D).37,44
Recomendação
A DMO deve ser realizada em crianças e adolescentes
que iniciarão GC (prevenção) nas doses de prednisona
≥ 0,16 mg/kg/dia, já considerada osteopenizante (B),42 e
naqueles que já receberam quatro ou mais cursos de GC
sistêmicos (A).41
A DMO deve ser realizada em crianças e adolescentes que
estão fazendo uso (tratamento) de GC, com base nas recomendações de adultos, antes do uso e do controle, avaliando
a coluna lombar e o corpo inteiro (excluindo-se a cabeça). Os
termos osteopenia e osteoporose não devem ser utilizados na
faixa etária pediátrica, e o escore utilizado deve ser o Z-Score
em vez do T-Score (D).37 O monitoramento deve ser feito com
base no conteúdo mineral ósseo (CMO) e não na DMO, já que
esta leva em consideração a área.
585
Pereira et al.
11. O ALENDRONATO/RISEDRONATO DEVE SER
UTILIZADO PARA A PREVENÇÃO DE OPIG?
Os efeitos positivos dos bisfosfonatos na massa óssea de pacientes tratados com GC foram demonstrados em estudos clínicos
(A).45,46 Ao comparar o uso de alendronato (5 ou 10 mg/dia)
com placebo (mantida a reposição de cálcio e de vitamina D),
observa-se redução do RR de perda de massa óssea na coluna
lombar com uso de alendronato de 35%, beneficiando uma em
cada três pessoas tratadas por 48 semanas (NNT = 3, com 95%
IC; 2–4). Entretanto, não há benefício na redução de fraturas
vertebrais, chegando a NNT = 83 (mas com 95% IC variando
de 23 até o infinito) (A).45 O uso de alendronato 10 mg/dia por
72 semanas foi comparado ao uso de alfacalcidol 1 µg/dia
e demonstrou aumento da massa óssea (ou redução do risco
de perda de massa óssea), porém sem redução de fraturas
vertebrais, chegando a NNT = 20, mas com 95% IC de 9 até
infinito (A).47
O uso de risedronato 5 mg/dia por 48 semanas (mantida reposição de cálcio) levou à redução significativa
do RR de perda de massa óssea na coluna lombar em
homens e em mulheres pós-menopausadas, mas não nas
pré-menopausadas. Houve redução de fraturas vertebrais,
com benefício de uma a cada nove pessoas tratadas por
48 semanas (NNT = 9, com 95% IC; 5–55). Na dose de
2,5 mg/dia não houve benefício. Houve perda de 32% no
segmento estudado, mas a avaliação foi feita por intenção
de tratamento (A). 46
Os efeitos desse grupo de drogas na redução de fraturas vertebrais também foram demonstrados em estudos controlados.
Utilizando risedronato 5 mg/dia (mantido uso de cálcio e de
vitamina D) houve redução na incidência de fraturas vertebrais
após um ano de tratamento (A).48
Não existem trabalhos realizados com ibandronato em
OPIG.
Recomendação
O uso de alendronato (5 ou 10 mg/dia) aumenta a massa óssea, com benefício de uma a cada três pessoas tratadas por 48
semanas (A),45 porém não há melhora na redução de fraturas
de vértebras (A).45,47
O uso de risedronato 5 mg/dia (não na dose de 2,5 mg/dia)
aumenta a massa óssea e reduz fraturas de vértebras em até
70% dos casos, com benefício de uma a cada nove pessoas
tratadas por 48 semanas (A).46
586
12. O ALENDRONATO/RISEDRONATO DEVE
SER UTILIZADO PARA A PREVENÇÃO E O
TRATAMENTO DE OPIG EM HOMENS?
Os efeitos benéficos do alendronato em homens em uso de GC
foram avaliados em três subgrupos de indivíduos: placebo,
5 mg de alendronato para prevenção e 10 mg para tratamento.
Após 48 semanas, houve aumento da DMO na coluna lombar
de 3% (10 mg) e de 1,9% (5 mg), comparado à diminuição
observada no grupo-placebo. No fêmur demonstrou-se aumento de 1% em ambos os grupos que usaram alendronato, e
diminuição da DMO no grupo-placebo. Em relação às fraturas,
houve redução não significativa nos dois grupos que usaram
alendronato (1,4% e 2,1%) (A).45
O uso de alendronato nas doses de 5 ou 10 mg/dia por dois
anos em homens também divididos em três grupos demonstrou
aumento de massa óssea de 4,29% (5 mg) e 6,29% (10 mg)
na coluna lombar. Em relação às fraturas, houve ocorrência
de 6,8% no grupo-placebo e de 0,7% nos dois grupos com
alendronato, mas essa redução não foi significativa. Mesmo
em uso de alendronato 5 ou 10 mg/dia por até dois anos, não
houve benefício significativo para redução do risco de fraturas,
com NNT = 16, mas com 95% IC; 8 até infinito (B).49
Em relação ao risedronato, homens em uso de GC foram
avaliados por um ano e divididos em três grupos: placebo, 2,5 mg
de risedronato e 5 mg de risedronato. Observou-se aumento da
DMO na coluna lombar de 2,1% (2,5 mg) e de 4,8% (5 mg)
em comparação à diminuição no grupo-placebo. No fêmur,
percebeu-se aumento da DMO de 2,1% somente no grupo que
usou 5 mg de risedronato. No grupo que usou 2,5 mg houve estabilização da massa óssea. De forma interessante, houve redução
significativa de 82,4% (95% IC; 36,6%–95,1%) no número de
fraturas dos grupos em uso de risedronato 5 mg/dia por um ano
(A).50 Estudo utilizando esse mesmo bisfosfonato por 20 meses
em homens distribuídos em três grupos idênticos ao estudo anterior levou à estabilização da massa óssea em ambos os grupos
da intervenção, além de diminuição no grupo-placebo, tanto na
coluna quanto no fêmur. Em relação a fraturas vertebrais e não
vertebrais, não houve redução significativa (A).51
Recomendação
O alendronato 5 ou 10 mg/dia pode ser utilizado para prevenção
e tratamento de OPIG em homens, com benefício demonstrado na redução da massa óssea, mas sem redução de fraturas
vertebrais (B).49
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
O uso de risedronato 5 mg/dia aumenta a massa óssea e
reduz fraturas de vértebras em até 82,4% dos casos na população masculina (A).50 Os bisfosfonatos não apresentam
benefícios para fraturas não vertebrais, principalmente para
fraturas de rádio (A).38
13. O ÁCIDO ZOLEDRÔNICO PODE SER UTILIZADO
PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE OPIG?
no quadril quando comparado ao risedronato. Esse aumento,
porém, não demonstrou redução significativa de novas fraturas
(A).53 A facilidade posológica aumenta a adesão ao tratamento,
e isso se associa à redução de risco de fraturas (B).54 Pode ser
uma alternativa para indivíduos com distúrbios gastrintestinais
e dificuldades no uso de bisfosfonatos orais.
14. A TERIPARATIDA DEVE SER UTILIZADA
PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE OPIG?
O ácido zoledrônico é um bisfosfonato que, quando administrado por infusão intravenosa anual, aumenta a DMO e reduz
a incidência de fraturas em mulheres na pós-menopausa após
o primeiro ano de tratamento, com NNT = 18 (95% IC; 15–22)
para fraturas vertebrais e NNT = 100 (95% IC; 63–245) para
fraturas no quadril (A).51 Essa medicação, se aplicada até 90
dias depois da cirurgia reparadora de fratura traumática de
baixo impacto no quadril, reduz a mortalidade em pacientes
com 50 anos ou mais (NNT = 26 com 95% IC; 15–92), além
de reduzir o risco de novas fraturas (NNT = 22, com 95% IC;
14–54) (A).52 Porém, esses resultados não podem ser transferidos para a população-alvo desta diretriz.
Comparou-se o ácido zoledrônico 5 mg/dose única com
risedronato 5 mg/dia em indivíduos em uso de pelo menos
7,5 mg/dia de prednisolona ou equivalente por pelo menos 12
meses, mantendo ambos os grupos com reposição de cálcio e de
vitamina D. A infusão endovenosa única de ácido zoledrônico
foi superior ao risedronato tanto para a prevenção, em que foi
1,96% melhor (95% IC; 1,04–2,88, P = 0,0001), quanto para o
tratamento da OPIG, sendo 1,36% melhor (95% IC; 0,67–2,05,
P = 0,0001). Após seis e 12 meses de tratamento houve aumento
significativo da DMO na coluna lombar e no quadril, tanto na cabeça
femoral quanto no trocânter, porém sem redução significativa de
novas fraturas. O ácido zoledrônico causou mais efeitos adversos
que o risedronato, especialmente três dias após a infusão, incluindo
sintomas de influenza-like (P = 0,0038) e pirexia (P = 0,0016).
Efeitos adversos graves foram similares nos dois grupos (A).53
Como essa medicação é empregada uma vez ao ano, ela tem
facilidade posológica e, dessa maneira, aumenta a aderência,
principalmente naqueles pacientes que fazem uso de polifarmácia. Já foi demonstrado que a melhora da aderência está
associada à redução do risco de fraturas (B).54 Essa medicação é
uma alternativa para ser utilizada nos indivíduos com distúrbios
gastrintestinais que dificultem o uso de bisfosfonatos orais.
Teriparatida, uma forma do hormônio das paratireoides obtida
por técnica de DNA recombinante (PTH 1–34), é um agente
anabólico que aumenta a função e reduz a apoptose dos osteoblastos e osteócitos, além de aumentar a diferenciação dos
pré-osteoblastos em osteoblastos (D).55,56 Por isso, em termos
de fisiopatologia, a teriparatida é a droga ideal para o tratamento da OPIG, pois age estimulando a formação óssea, ação
contrária àquela observada pelos GC nesse tecido.
Teriparatida na dose de 20 µg/dia subcutânea aumenta mais
a DMO na coluna lombar que o alendronato via oral na dose de
10 mg/dia (P < 0,001). Ao final de 18 meses, o grupo tratado
com teriparatida apresentou ganho significativamente maior da
DMO na coluna (7,2%) que o grupo que recebeu alendronato
(3,4%). Além disso, o grupo que recebeu teriparatida evoluiu
com menor número de fraturas vertebrais que o grupo tratado
com alendronato, tanto após 18 meses (NNT = 24, com 95% IC;
14–83) como após 36 meses de uso do medicamento (NNT = 21,
com 95% IC; 12–89). O número de fraturas não vertebrais foi
semelhante nos dois grupos (P = 0,36), tanto aos 18 meses
como após 36 meses (P = 0,84) (A).57,58 Comparando mulheres
pós-menopausa, pré-menopausa e homens, o aumento da DMO na
coluna foi significativamente maior nas mulheres pós-menopausa
(7,8 vs. 3,7%, P < 0,001) nas mulheres na pré-menopausa (7,0 vs.
0,7%, P < 0,001) e homens (7,3 vs. 3,7%, P = 0,03) que receberam
teriparatida comparado com alendronato (A).59
Fraturas vertebrais radiológicas ocorreram em apenas uma
paciente na pós-menopausa com teriparatida e em 10 pacientes
com alendronato (seis mulheres em pós-menopausa e quatro
homens) (P = 0,004). Fraturas não vertebrais ocorreram em 12
pacientes com teriparatida (nove mulheres na pós-menopausa,
duas na pré-menopausa e um homem) e em oito pacientes com
alendronato (seis mulheres na pós-menopausa e dois homens)
(P = 0,36) (A).59
Recomendação
Recomendação
O ácido zoledrônico na dose de 5 mg em infusão endovenosa
única pode ser utilizado para prevenção e tratamento da OPIG,
com maior aumento da DMO tanto na coluna lombar quanto
A teriparatida 20 µg/dia via subcutânea deve ser considerada
tanto para a prevenção como para o tratamento da OPIG, com
aumento significativo da DMO e redução de fraturas vertebrais,
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
587
Pereira et al.
porém sem efeito comprovado nas fraturas não vertebrais
(A).57 Devido ao elevado custo da medicação, essa droga é
recomendada na falha (nova fratura ou perda de massa óssea na
vigência de bisfosfonato) ou contraindicação dos bisfosfonatos.
15. QUE VARIÁVEIS INDICAM
PREVENÇÃO/TRATAMENTO DE OPIG EM
MULHERES NA PRÉ-MENOPAUSA?
As recomendações que orientam o tratamento da OPIG com
base na DMO em mulheres na pós-menopausa geralmente não
se aplicam às mulheres na pré-menopausa, pois a relação entre
massa óssea e fratura nas mulheres na pré-menopausa não é a
mesma que nas mulheres na pós-menopausa. Outro aspecto a
considerar é o fato de que fraturas podem ocorrer com DMO
mais elevada em mulheres na pré-menopausa (D).60
Além disso, ciclos menstruais irregulares, sedentarismo,
deficiência e/ou insuficiência de vitamina D e doença inflamatória de base são outros fatores relevantes que devem ser
sempre considerados na avaliação das pacientes com OPIG na
pré-menopausa. As deficiências hormonais devem ser identificadas e corrigidas, especialmente em mulheres com amenorreia
(D).61 Entretanto, recomenda-se cuidado nessa população, pelo
risco de gestação, pois esses medicamentos podem atravessar
a placenta e afetar o feto, e os efeitos pelo uso prolongado não
estão bem-estabelecidos nessa população (veja pergunta 18).
Há poucos estudos sobre prevenção de osteoporose em
mulheres na pré-menopausa (A),62 especialmente em OPIG. Os
poucos trabalhos existentes estudaram populações pequenas e
com seguimento de 18 meses, demonstrando benefício no uso
de alendrolato associado ao alfacalcidol (B).63
Ao comparar o uso por 18 meses de teriparatida 20 µg/dia
com alendronato 10 mg/dia em mulheres na pré-menopausa,
observou-se significativo aumento da DMO em uso de teriparatida (7% vs. 0,7%, com P < 0,001) (A).59 Alguns especialistas
recomendam para essas pacientes a opção por bisfosfonatos
de vida média mais curta, como risedronato, mas não existem
trabalhos que comprovem tal recomendação.
As variáveis que devem ser levadas em conta em mulheres
na pré-menopausa são: história prévia de fratura por fragilidade, risco de engravidar, dose e tempo de GC. As recomendações
para prevenção e tratamento da OPIG do ACR em relação às
mulheres em pré-menopausa são as seguintes (D):12
• Mulheres na pré-menopausa (sem risco de engravidar)
e com história de fratura por fragilidade, com duração
de terapia com GC entre um e três meses: bisfosfonatos
orais (alendronato e risedronato) quando a dose de GC
≥ 5 mg/dia ou ácido zoledrônico quando prednisona
588
•
≥ 7,5 mg/dia. Se a duração de uso de GC for ≥ 3 meses,
tanto bisfosfonatos (alendronato, risedronato e ácido
zoledrônico) quanto teriparatida podem ser utilizados;
Mulheres em pré-menopausa (com risco de engravidar)
e fratura por fragilidade prévia, com duração de GC ≥ 3
meses: bisfosfonatos orais (alendronato e risedronato) ou
teriparatida quando a dose de GC for ≥ 7,5 mg/dia.
Recomendação
Intervenções não farmacológicas, como manter atividade física
regular, evitar tabaco e álcool devem ser recomendadas, mesmo
ainda sem evidência comprovada para OPIG. Suplementos de
cálcio e vitamina D devem ser considerados devido à diminuição da absorção de cálcio intestinal pelo uso de GC (D).10 Há
poucos estudos sobre tratamento de OPIG em mulheres na prémenopausa, todos com populações pequenas, com benefício
no uso de teriparatida (A).59 Deve-se ter cuidado especial no
uso de bisfosfonatos para mulheres com risco de engravidar.
16. QUANDO INDICAR O USO DE
BISFOSFONATOS NA PREVENÇÃO
E NO TRATAMENTO DA OPIG EM
MULHERES NA PRÉ-MENOPAUSA?
Existe um corpo de evidências publicadas em relação à eficácia
e à segurança do uso dos bisfosfonatos na prevenção e no tratamento da OPIG, porém poucas mulheres na pré-menopausa foram incluídas nos ensaios clínicos. Os grandes ensaios clínicos
de prevenção da OPIG com uso de alendronato e risedronato
demonstraram que a eficácia desses bisfosfonatos na prevenção da perda óssea, nas mulheres na pré-menopausa, é similar
quando comparada à população total dos estudos (A).45,46,64
Em estudo recente, o ácido zoledrônico também demonstrou eficácia na prevenção e no tratamento da OPIG, quando
comparado ao risedronato. Neste estudo, além de homens,
foram incluídas 185 mulheres (67 na pré-menopausa) no grupo
do ácido zoledrônico e 183 mulheres (66 na pré-menopausa)
no grupo do risedronato. Não houve diferença significativa
de resposta entre as mulheres em pré- e pós-menopausa (A).53
Recomendação
Embora não existam ensaios clínicos com bisfosfonatos desenhados especificamente para mulheres na pré-menopausa como
objetivo primário do tratamento, há uma análise de subgrupos
que sugere o uso dos bisfosfonatos na prevenção e no tratamento dessas pacientes (A),53 porém deve-se ter cuidado em
mulheres com risco de gravidez.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
17. QUANDO INDICAR O USO DA TERIPARATIDA
NA PREVENÇÃO E NO TRATAMENTO DA
OPIG EM MULHERES NA PRÉ-MENOPAUSA?
Em ensaio clínico recente foram observados benefícios da teriparatida na prevenção da OPIG em mulheres na pré-menopausa
e na pós-menopausa, quando comparada ao alendronato (A).57
Comparando-se os resultados terapêuticos da teriparatida com
o alendronato em pacientes com OPIG, o aumento da DMO
na coluna lombar foi significativamente maior no grupo teriparatida, tanto para mulheres na pré-menopausa (7,0 vs. 0,7%)
quanto nas mulheres na pós-menopausa (7,8 vs. 3,7%). Nas
mulheres na pré-menopausa as fraturas foram infrequentes
tanto para o grupo da teriparatida quanto para o grupo do
alendronato (A).59
Recomendação
Não existem ensaios clínicos desenhados com o objetivo
primário de avaliar a ação da teriparatida em mulheres na
pré-menopausa para prevenção e tratamento da OPIG, porém
análises de subgrupos de pacientes tratadas nessas condições
demonstraram que as fraturas são infrequentes tanto para o
grupo da teriparatida quanto para o grupo do alendronato (A).59
18. OS BISFOSFONATOS PODEM TRAZER
MALEFÍCIOS NA GESTAÇÃO?
Estudos em animais confirmaram a passagem transplacentária
dos bisfosfonatos (alendronato). Sintomas maternos como
tremores, letargia, dispneia e falência muscular uterina no
parto foram atribuídos à hipocalcemia observada no sangue
materno desses animais no final da gestação (D).65 Baixo peso
e mortes fetais também foram observados (D).66 Nos fetos,
a redução do comprimento e a área seccional da diáfise dos
ossos longos também foram significativas quando comparadas
ao grupo-controle (D).65
Em humanos, porém, não existe evidência científica
consistente sobre os riscos da utilização dessas drogas na
gestação. Séries de casos relatados de uso de bisfosfonatos na
gestação não encontraram malformações congênitas (C).67,68
Entretanto, relatos de pacientes que utilizaram pamidronato e
ácido zoledrônico, em dois casos de hipercalcemia de malignidade (C)69–71 e um caso de mãe com osteogênese imperfeita,
reportaram hipocalcemia fetal assintomática com reversão
espontânea em até 11 dias de vida (C).71 Especula-se que
esse evento poderia ser um efeito direto do bisfosfonato, ou
supressão do PTH fetal pela hipercalcemia materna nos casos
de neoplasias.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Em mulheres expostas a bisfosfonatos previamente à
gestação não foram observados eventos adversos (C).67,68 Um
estudo que avaliou 24 mullheres que utilizaram alendronato
até três semanas antes da gravidez, no entanto, evidenciou
maior prevalência de baixo peso fetal, prematuridade e maior
taxa de abortos espontâneos que no grupo-controle (C).68
Entretanto, esses resultados são altamente questionáveis, porque as mulheres do estudo apresentavam doenças autoimunes
e 13 delas utilizavam GC no momento da gestação, fatores que
sabidamente estão associados à ocorrência desses desfechos
gestacionais desfavoráveis.
Mulheres expostas aos bisfosfonatos, antes ou durante a
gravidez, não apesentaram quaisquer anormalidades ósseas
ou outras malformações congênitas nos bebês (D).72 De forma
similar, parece que o uso de bisfosfonatos, antes da concepção
e no primeiro trimestre da gestação, pode não representar risco
fetal substancial (B).73
Recomendação
Dada a ausência de evidências acerca da segurança dos bisfosfonatos na gestação, essas drogas devem ser utilizadas somente
em casos específicos e com cautela.
19. OS BISFOSFONATOS PODEM TRAZER
MALEFÍCIOS DURANTE A LACTAÇÃO?
Em relação à segurança dos bisfosfonatos na lactação, existem
ainda menos estudos e relatos de casos. Embora grave hipocalcemia materna tenha sido observada em bovinos (D),74 não há
relatos semelhantes em humanos. Um relato de caso na literatura
de uma mulher com síndrome dolorosa regional complexa,
que utilizou pamidronato IV por seis meses durante a lactação,
sugere que a passagem da droga para o leite materno é desprezível, sendo, portanto, uma opção segura nesses casos (C).67 No
entanto, não há evidência consistente confirmando tal achado.
Recomendação
Atualmente, existe pouca evidência para a segurança dos
bisfosfonatos em idade fértil, gravidez e lactação. Quando
confrontado com essas situações, o médico deve pesar os riscos
e benefícios do uso terapêutico de bisfosfonatos.
20. QUANTO TEMPO ANTES DA GRAVIDEZ OS
BISFOSFONATOS DEVEM SER SUSPENSOS?
Não há estudos que respondam a essa questão adequadamente.
Nos relatos de casos não foram referidos efeitos deletérios em
589
Pereira et al.
casos de mulheres que interromperam o uso dessas drogas no
momento do diagnóstico da gestação (D).65 Um autor sugere
que talvez 6–12 meses antes da gravidez seria tempo de suspensão mais seguro.
aberta, poderia haver risco potencial aumentado, sendo então
contraindicada nesses pacientes.
Recomendação
Recomendação
Recomenda-se a não utilização de teriparatida para o tratamento de OPIG em crianças e em adolescentes.
Na ausência de estudos que estabeleçam um período de tempo
seguro para a suspensão dos bisfosfonatos, seu uso deve ser
interrompido o mais precocemente possível antes da gravidez.
CONFLITO DE INTERESSE
21. QUANDO INDICAR O USO DE
BISFOSFONATOS PARA PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DE OPIG EM CRIANÇAS?
Não há um nível de Z-Score que indique iniciar cálcio e vitamina D
na OPIG. Essa reposição deve ser feita no início da corticoterapia.
O valor de Z-Score que indica bisfosfonatos é ≤ –2,0 DP (D).37,44,75
O cálcio isolado não tem efeito no tratamento da OPIG (A).62
O uso de cálcio e de vitamina D, entretanto, é indicado nesses
casos (B)76 (D).77
Os bisfosfonatos não estão liberados para crianças, embora sejam usados na prática diária em centros especializados.
Anticoncepção é indicada em meninas em idade fértil. Há os
que acreditam que os bisfosfonatos têm benefício em relação ao
risco (B)76,78–81 (D).82 Esses medicamentos não são usados para a
prevenção de OPIG em crianças e em adolescentes (B).76 Suas
indicações em crianças e em adolescentes para tratamento da
OPIG são: falha terapêutica com doses máximas de vitamina
D e cálcio, intolerância ou contraindicação a essas medicações
e presença de fratura (B)76,78–81 (D).82
Recomendação
O tratamento de OPIG em crianças deve ser feito com uso de
cálcio e de vitamina D (B).76 Na presença de falha terapêutica
com doses máximas de vitamina D e cálcio, intolerância ou
contraindicação a essas medicações e presença de fratura,
deve-se utilizar bisfosfonatos (B),78 com especial atenção à
anticoncepção para as meninas.
22. QUANDO INDICAR O USO DE TERIPARATIDA
PARA TRATAMENTO DE OPIG EM CRIANÇAS?
Não há evidência para indicação de teriparatida para o tratamento de OPIG em crianças e adolescentes. Estudos demonstram risco de desenvolvimento de tumores ósseos em
modelos animais tratados com essa medicação. Portanto, na
faixa etária pediátrica, com a cartilagem de crescimento ainda
590
Pereira RMR: Recebeu financiamento para pesquisa clínica
patrocinada pelas empresas Novartis, Ely Lilly e Servier.
Zerbini CAF: Recebeu reembolso por comparecimento em
simpósio patrocinado pelas empresas Pfizer, Sanofi-Aventis e
Servier; recebeu honorários por participação em conferências
ou palestras patrocinadas pelas empresas Pfizer, Sanofi-Aventis,
Servier e Roche; recebeu financiamento para pesquisa patrocinada pelas empresas Pfizer, Sanofi-Aventis, Servier, Roche, MSD,
Ely Lilly, Amgen, Novartis, Aché; recebeu honorários para
consultoria das empresas Pfizer, Sanofi-Aventis, Servier e MSD.
Danowski J: Recebeu honorários por participação em palestra patrocinada pelas empresas Sanofi-Aventis, Ely Lilly e
Novartis; recebeu honorários para pesquisa patrocinada pelas
empresas Sanofi-Aventis, Ely Lilly e Novartis; recebeu honorários por organizar atividade de ensino.
Terreri MT: Recebeu reembolso por participação em congressos e conferências patrocinados pelas empresas Pfizer e Roche;
recebeu honorários para organizar programas educativos patrocinados pelas empresas Eurofarma e Novartis.
Weingril P: Recebeu honorários por apresentação, conferência
ou palestra patrocinadas pela empresa Servier; é membro do
Advisory Board da empresa MSD; recebeu honorários para
participar de congressos patrocinados pelas empresas Abbott,
Pfizer, Servier e Roche.
Plapler PG: Recebeu honorários por participação em eventos,
por ministrar aulas, realizar pesquisa clínica, participar de
comitê consultor e realizar redação de textos científicos patrocinados pelas empresas Aché, Ely Lilly, SEM, GSK, MSD,
Novartis, Sanofi-Aventis, Servier e Zodiac.
Radominski S: Recebeu honorários por participação em conferências ou palestras patrocinadas pelas empresas Novartis,
Sanofi-Aventis, Ely Lilly e Roche.
Szejnfeld VL: Recebeu reembolso por comparecimento em
simpósio patrocinado pelas empresas Sanofi-Aventis e Novartis;
recebeu honorários por participação em conferências ou palestras
patrocinadas pelas empresas Sanofi-Aventis e Novartis; recebeu
honorários para consultoria da empresa Sanofi-Aventis.
Os demais autores declaram a inexistência de conflito de
interesse.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
Walsh LJ, Wong CA, Pringle M, Tattersfield AE. Use of oral
corticosteroids in the community and the prevention of secondary
osteoporosis: a cross sectional study. BMJ 1996; 313(7053):344–6.
2. van Staa TP, Leufkens HG, Cooper C. The epidemiology of
corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. Osteoporos
Int 2002; 13(10):777–87.
3. Kaji H, Yamauchi M, Chihara K, Sugimoto T. The threshold of
bone mineral density for vertebral fracture in female patients with
glucocorticoid-induced osteoporosis. Endocr J 2006; 53(1):27–34.
4. Van Staa TP, Laan RF, Barton IP, Cohen S, Reid DM, Cooper C.
Bone density threshold and other predictors of vertebral fracture
in patients receiving oral glucocorticoid therapy. Arthritis Rheum
2003; 48(11):3224–9.
5. Van Staa TP, Leufkens HG, Abenhaim L, Zhang B, Cooper C. Use of
oral corticosteroids and risk of fractures. June, 2000. J Bone Miner
Res 2005; 20(8):1487–94.
6. Recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoidinduced osteoporosis: 2001 update. American College of
Rheumatology Ad Hoc Committee on Glucocorticoid-Induced
Osteoporosis. Arthritis Rheum 2001; 44(7):1496–503.
7. Adler RA, Hochberg MC. Suggested guidelines for evaluation and
treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis for the Department
of Veterans Affairs. Arch Intern Med 2003; 163(21):2619–24.
8. Geusens PP, de Nijs RN, Lems WF, Laan RF, Struijs A, van Staa TP
et al. Prevention of glucocorticoid osteoporosis: a consensus
document of the Dutch Society for Rheumatology. Ann Rheum Dis
2004; 63(3):324–5.
9. National Osteoporosis Society & Royal College of Physicians
guidelines working group for Bone and Tooth Society. Glucocorticoidinduced Osteoporosis: guidelines for prevention and treatment.
London, Royal College of Physicians, 2002.
10. Devogelaer JP, Goemaere S, Boonen S, Body JJ, Kaufman JM,
Reginster JY et al. Evidence-based guidelines for the prevention
and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis: a consensus
document of the Belgian Bone Club. Osteoporos Int 2006; 17(1):8–19.
11. Nawata H, Soen S, Takayanagi R, Tanaka I, Takaoka K, Fukunaga M
et al. Guidelines on the management and treatment of glucocorticoidinduced osteoporosis of the Japanese Society for Bone and Mineral
Research (2004). J Bone Miner Metab 2005; 23(2):105–9.
12. Grossman JM, Gordon R, Ranganath VK, Deal C, Caplan L, Chen W
et al. American College of Rheumatology 2010 recommendations for
the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis.
Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62(11):1515–26.
13. Sambrook P, Birmingham J, Kelly P, Kempler S, Pocock N,
Eisman J. Prevention of corticosteroid osteoporosis. A comparison
of calcium, calcitriol and calcitonin. N Engl J Med 1993;
328(24):1747-52.
14. Yeap SS, Fauzi AR, Kong NC, Halim AG, Soehardy Z, Rahimah I
et al. A comparison of calcium, calcitriol, and alendronate in
corticosteroid-treated premenopausal patients with systemic lupus
erythematosus. J Rheumatol 2008; 35(12):2344–7.
15. Poulos P, Adachi JD. Guidelines for the prevention and therapy of
glucocorticoid- induced osteoporosis. Clin Exp Rheumatol 2000;
18(Suppl. 21):S79–S86.
16. Richy F, Ethgen O, Bruyere O, Reginster JY. Efficacy of alfacalcidol
and calcitriol in primary and corticosteroid-induced osteoporosis: a
meta-analysis of their effects on bone mineral density and fracture
rate. Osteoporos Int 2004; 15(4):301–10.
17. Sambrook P, Henderson NK, Keogh A, MacDonald P, Glanville A,
Spratt P et al. Effect of calcitriol on bone loss after cardiac or lung
transplantation. J Bone Miner Res 2000; 15(9):1818–24.
18. de Nijs RN, Jacobs JW, Algra A, Lems WF, Bijlsma JW. Prevention
and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis with active
vitamin D3 analogues: a review with meta-analysis of randomized
controlled trials including organ transplantation studies. Osteoporos
Int 2004; 15(8):589–602.
19. Ringe JD, Dorst A, Faber H, Schacht E, Rahlfs VW. Superiority of
alfacalcidol over plain vitamin D in the treatment of glucocorticoidinduced osteoporosis. Rheumatol Int 2004; 24(2):63–70.
20. Homik J, Suarez-Almazor ME, Shea B, Cranney A, Wells G,
Tugwell P. Calcium and vitamin D for corticosteroid-induced
osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2):CD000952.
1. Doutora em Reumatologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo – FMUSP
2. Doutor em Reumatologia, FMUSP; Médico do Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário, Universidade Federal da Bahia – UFBA
3. Doutora em Reumatologia, FMUSP; Professora Orientadora do Programa de Pós-graduação, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília – UnB
4. Doutor em Reumatologia, FMUSP; Médico-Assistente do Hospital Heliópolis
5. Médico, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Médico Colaborador da Reumatologia do Hospital das Clínicas, HC-FMUSP
6. Doutora; Associação Médica de Brasília – AMBr
7. Doutor em Reumatologia; Hospital Israelita Albert Sabin
8. Doutor em Clínica Médica, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp; Professor Titular, Unicamp; Professor Titular, Pontifícia Universidade Católica
de Campinas – PUC-Campinas
9. Doutora em Reumatologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
10. Doutora em Reumatologia, FMUSP; Médica-Assistente do Hospital Geral de Fortaleza; Professora-Assistente de Medicina, Universidade de Fortaleza – Unifor
11. Doutora em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria, FMUSP; Doutora em Pediatria, Albert-Ludwigs Universität Freiburg; Professora-Adjunta da Disciplina
de Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia, Departamento de Pediatria, FMUSP
12. Doutora em Ortopedia e Traumatologia, FMUSP; Médica-Assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, HC-FMUSP
13. Doutor em Reumatologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Joinville – Univille
14. Doutora em Medicina, Departamento de Ortopedia e Traumatologia, FMUSP; Diretora da Divisão de Medicina Física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, HC-FMUSP; Médica do Hospital do Coração – HCor
15. Doutor em Reumatologia, Universidade Federal do Paraná – UFPR
16. Doutora em Reumatologia, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA
17. Doutora em Reumatologia, Universidade Federal de São Paulo – Unifesp; Professora-Adjunta, Unifesp
18. MD; Associação Médica Brasileira – AMB
Correspondência para: Rosa M. R. Pereira. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Reumatologia. Av. Dr. Arnaldo 455, 3 andar, sala 3105.
São Paulo, SP, Brasil. CEP: 01246-903. E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
591
Pereira et al.
21. Buckley LM, Leib ES, Cartularo KS, Vacek PM, Cooper SM.
Calcium and vitamin D3 supplementation prevents bone loss in
the spine secondary to low dose corticosteroids in patients with
rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 1996; 125(12):961–8.
22. Jensen J, Christiansen C, Rødbro P. Cigarette smoking, serum
estrogens, and bone loss during hormone-replacement therapy early
after menopause. N Engl J Med 1985; 313(16):973–5.
23. Korkor AB, Eastwood D, Bretzmann C. Effects of gender, alcohol,
smoking, and dairy consumption on bone mass in Wisconsin
adolescents. WMJ 2009; 108(4):181–8.
24. Teucher B, Dainty JR, Spinks CA, Majsak-Newman G, Berry DJ,
Hoogewerff JA et al. Sodium and bone health: impact of moderately
high and low salt intakes on calcium metabolism in postmenopausal
women. J Bone Miner Res 2008; 23(9):1477–85.
25. Pongchaiyakul C, Nguyen TV, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N,
Charoenkiatkul S, Eisman JA et al. Effects of physical activity
and dietary calcium intake on bone mineral density and
osteoporosis risk in a rural Thai population. Osteoporos Int 2004;
15(10):807–13.
26. Ensrud KE, Ewing SK, Taylor BC, Fink HA, Stone KL, Cauley JA
et al. Frailty and risk of falls, fracture, and mortality in older women:
the study of osteoporotic fractures. J Gerontol A Biol Sci Med Sci
2007; 62(7):744–51.
27. Morin S, Tsang JF, Leslie WD. Weight and body mass index predict
bone mineral density and fractures in women aged 40 to 59 years.
Osteoporos Int 2009; 20(3):363–70.
28. Hodgson SF, Watts NB, Bilezikian JP, Clarke BL, Gray TK,
Harris DW et al. American Association of Clinical Endocrinologists
medical guidelines for clinical practice for the prevention and
treatment of postmenopausal osteoporosis: 2001 edition, with
selected updates for 2003. Endocr Pract 2003; 9(6):544–64.
29. Kohrt WM, Bloomfield SA, Little KD, Nelson ME, Yingling VR;
American College of Sports Medicine. American College of Sports
Medicine Position Stand: physical activity and bone health. Med Sci
Sports Exerc 2004; 36(11):1985–96.
30. Schmitt NM, Schmitt J, Dören M. The role of physical activity in the
prevention of osteoporosis in postmenopausal women. An update.
Maturitas 2009; 63(1):34–8.
31. Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S,
Cumming RG et al. Interventions for preventing falls in older
people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2009;
15(2):CD007146.
32. Maricic M. Glucocorticoid-induced osteoporosis: treatment options
and guidelines. Curr Osteoporos Rep 2005; 3(1):25–9.
33. Braith RW, Magyari PM, Fulton MN, Aranda J, Walker T, Hill JA.
Resistance exercise training and alendronate reverse glucocorticoidinduced osteoporosis in heart transplant recipients. J Heart Lung
Transplant 2003; 22(10):1082–90.
34. Newman ED, Matzko CK, Olenginski TP, Perruquet JL,
Harrington TM, Maloney-Saxon G et al. Glucocorticoid-Induced
Osteoporosis Program (GIOP): a novel, comprehensive, and
highly successful care program with improved outcomes at 1 year.
Osteoporos Int 2006; 17(9):1428–34.
35. de Jong Z, Munneke M, Lems WF, Zwinderman AH, Kroon HM,
Pauwels EK et al. Slowing of bone loss in patients with rheumatoid
arthritis by long-term high-intensity exercise: results of a randomized,
controlled trial. Arthritis Rheum 2004; 50(4):1066–76.
592
36. Angeli A, Guglielmi G, Dovio A, Capelli G, de Feo D, Giannini S
et al. High prevalence of asymptomatic vertebral fractures in postmenopausal women receiving chronic glucocorticoid therapy: a
cross-sectional outpatient study. Bone 2006; 39(2):253–9.
37. Lewiecki EM, Gordon CM, Baim S, Leonard MB, Bishop NJ,
Bianchi ML et al. International Society for Clinical Densitometry 2007
Adult and Pediatric Official Positions. Bone 2008; 43(6):1115–21.
38. Reid DM, Adami S, Devogelaer JP, Chines AA. Risedronate
increases bone density and reduces vertebral fracture risk within
one year in men on corticosteroid therapy. Calcif Tissue Int 2001;
69(4):242–7.
39. Cruse LM, Valeriano J, Vasey FB, Carter JD. Prevalence of
evaluation and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis in
men. J Clin Rheumatol 2006; 12(5):221–5.
40. Van Staa, Leufkens HG, Abenhaim L, Zhang B, Cooper C. Use
of Oral Corticosteroids and Risk of Fracture. J Bone Min Res 15;
6:2000.
41. van Staa TP, Cooper C, Leufkens HG, Bishop N. Children and the
risk of fractures caused by oral corticosteroids. J Bone Miner Res
2003; 18(5):913–8.
42. Blodgett FM, Burgin L, Iezzoni D, Gribetz D, Talbot NB. Effects
of prolonged cortisone therapy on the statural growth, skeletal
maturation and metabolic status of children. N Engl J Med 1956;
254(14):636–41.
43. Varonos S, Ansell BM, Reeve J. Vertebral collapse in juvenile chronic
arthritis: its relationship with glucocorticoid therapy. Calcif Tissue
Int 1987; 41(2):75–8.
44. Baim S, Binkley N, Bilezikian JP, Kendler DL, Hans DB,
Lewiecki EM et al. Official Positions of the International Society
for Clinical Densitometry and executive summary of the 2007
ISCD Position Development Conference. J Clin Densitom 2008;
11(1):75–91.
45. Saag KG, Emkey R, Schnitzer TJ, Brown JP, Hawkins F, Goemaere S
et al. Alendronate for the prevention and treatment of glucocorticoidinduced osteoporosis. N Engl J Med 1998; 339(5):292–9.
46. Cohen S, Levy RM, Keller M, Boling E, Emkey RD, Greenwald M
et al. Risedronate therapy prevents corticosteroid-induced bone
loss: a twelve-month, multicenter, randomized, double-blind,
placebo-controlled, parallel-group study. Arthritis Rheum 1999;
42(11):2309–18.
47. de Nijs RN, Jacobs JW, Lems WF, Laan RF, Algra A, Huisman AM
et al. Alendronate or alfacalcidol in glucocorticoid-induced
osteoporosis. N Engl J Med 2006; 355(7):675–84.
48. Wallach S, Cohen S, Reid DM, Hughes RA, Hosking DJ, Laan RF
et al. Effects of risedronate treatment on bone density and vertebral
fracture in patients on corticosteroid therapy. Calcif Tissue Int 2000;
67(4):277–85.
49. Adachi JD, Saag KG, Delmas PD, Liberman UA, Emkey RD,
Seeman E et al. Two-year effects of alendronate on bone mineral
density and vertebral fracture in patients receiving glucocorticoids:
a randomized, double-blind, placebo-controlled extension trial.
Arthritis Rheum 2001; 44(1):202–11.
50. Cohen S, Levy RM, Keller M, Boling E, Emkey RD, Greenwald M
et al. Risedronate therapy prevents corticosteroid-induced bone
loss: a twelve-month, multicenter, randomized, double-blind,
placebo-controlled, parallel-group study. Arthritis Rheum 1999;
42(11):2309–18.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
Diretrizes para prevenção e tratamento da osteoporose induzida por glicocorticoide
51. Black DM, Delmas PD, Eastell R, Reid IR, Boonen S, Cauley JA
et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal
osteoporosis. N Engl J Med 2007; 356(18):1809–22.
52. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, Adachi JD, Pieper CF,
Mautalen C et al. Zoledronic acid in reducing clinical fracture and
mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007; 357:1799–809.
53. Reid DM, Devogelaer JP, Saag K, Roux C, Lau CS, Reginster JY
et al. Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment
of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre,
double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet
2009; 373(9671):1253–63.
54. Rietbrock S, Olson M, van Staa TP. The potential effects on fracture
outcomes of improvements in persistence and compliance with
bisphosphonates. QJM 2009; 102(1):35–42.
55. Lau AN, Adachi JD. Role of teriparatide in treatment of glucocorticoidinduced osteoporis. Ther Clin Risk Manag 2010; 6:497–503.
56. Canalis E, Giustina A, Bilezikian IP. Mechanisms of anabolic
therapies for osteoporosis. N Engl J Med 2007; 357(9):905–16.
57. Saag KG, Shane E, Boonen S, Marín F, Donley DW, Taylor KA et al.
Teriparatide or alendronate in glucocorticoid-induced osteoporosis.
N Engl J Med 2007; 357(20):2028–39.
58. Saag KG, Zanchetta JR, Devogelaer JP, Adler RA, Eastell R,
See K et al. Effects of teriparatide versus alendronate for treating
glucocorticoid-induced osteoporosis: thirty-six-month results of a
randomized, double-blind, controlled trial. Arthritis Rheum 2009;
60(11):3346–55.
59. Langdahl BL, Marin F, Shane E, Dobnig H, Zanchetta JR, Maricic M
et al. Teriparatide versus alendronate for treating glucorticoidinduced osteoporosis: an analysis by gender and menopausal status.
Osteoporosis Int 2009; 20(12):2095–104.
60. Maricic M, Gluck O. Densitometry in glucocorticoid-induced
osteoporosis. J Clin Densitometry 2004; 7(4):359–63.
61. Franchimont N, Canalis E. Management of glucocorticoid induced
osteoporosis in premenopausal women with autoimmune disease.
Autoimmun Rev 2003; 2(4):224–8.
62. Winzenberg T, Oldenburg B, Frendin S, De Wit L, Riley M,
Jones G. The effect on behavior and bone mineral density of
individualized bone mineral density feedback and educational
interventions in premenopausal women: a randomized controlled
trial [NCT00273260]. BMC Public Health 2006; 6–12.
63. Okada Y, Nawata M, Nakayamada S, Saito K, Tanaka Y. Alendronate
protects premenopausal women from bone loss and fracture
associated with high-dose glucocorticoid therapy. J Rheumatol
2008; 35(11):2249–54.
64. Adachi JD, Bensen WG, Brown J, Hanley D, Hodsman A, Josse R
et al. Intermittent etidronate therapy to prevent corticosteroidinduced osteoporosis. N Engl J Med 1997; 337(6):382–7.
65. Patlas N, Golomb G, Yaffe P, Pinto T, Breuer E, Ornoy A.
Transplacental effects of bisphosphonates on fetal skeletal
ossification and mineralization in rats. Teratology 1999; 60(2):68–73.
66. Minsker DH, Manson JM, Peter CP. Effects of the bisphosphonate,
alendronate, on parturition in the rat. Toxicol Appl Pharmacol 1993;
121(2):217–23.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):569-593
67. Chan B, Zacharin M. Maternal and infant outcome after pamidronate
treatment of polyostotic fibrous dysplasia and osteogenesis
imperfecta before conception: a report of four cases. J Clin
Endocrinol Metab 2006; 91(6):2017–20.
68. Ornoy A, Wajnberg R, Diav-Citrin O. The outcome of pregnancy
following pre-pregnancy or early pregnancy alendronate treatment.
Reprod Toxicol 2006; 22(4):578–9.
69. Dunlop DJ, Soukop M, McEwan HP. Antenatal administration of
aminopropylidene diphosphonate. Ann Rheum Dis 1990; 49(11):955.
70. Illidge TM, Hussey M, Godden CW. Malignant hypercalcaemia in
pregnancy and antenatal administration of intravenous pamidronate.
Clin Oncol (R Coll Radiol) 1996; 8(4):257–8.
71. Munns CF, Rauch F, Ward L, Glorieux FH. Maternal and fetal
outcome after long-term pamidronate treatment before conception:
a report of two cases. J Bone Miner Res 2004; 19(10):1742–5.
72. Djokanovic N, Klieger-Grossmann C, Koren G. Does treatment with
bisphosphonates endanger the human pregnancy? J Obstet Gynaecol
Can 2008; 30(12):1146–8.
73. Levy S, Fayez I, Taguchi N, Han JY, Aiello J, Matsui D et al.
Pregnancy outcome following in utero exposure to bisphosphonates.
Bone 2009; 44(3):428–30.
74. Yarrington JT, Capen CC, Black HE, Re R, Potts JT Jr, Geho WB.
Experimental parturient hypocalcemia in cows following prepartal
chemical inhibition of bone resportion. Am J Pathol 1976;
83(3):569–88.
75. Bianchi ML. How to manage osteoporosis in children. Best Pract
Res Clin Rheumatol 2005; 19(6):991–1005.
76. Brown JJ, Zacharin MR. Attempted randomized controlled trial
of pamidronate versus calcium and calcitriol supplements for
management of steroid-induced osteoporosis in children and
adolescents. J Paediatr Child Health 2005; 41(11):580–2.
77. Roth J, Bechtold S, Borte G, Dressler F, Girschick H, Borte M.
Diagnosis, prophylaxis and therapy of osteoporosis in juvenile
idiopathic arthritis: consensus statement of the German Association
for Pediatric Rheumatology. Z Rheumatol 2007; 66(5):434–40.
78. Bianchi ML, Cimaz R, Bardare M, Zulian F, Lepore L, Boncompagni A
et al. Efficacy and safety of alendronate for the treatment of
osteoporosis in diffuse connective tissue diseases in children: a
prospective multicenter study. Arthritis Rheum 2000; 43(9):1960–6.
79. Rudge S, Hailwood S, Horne A, Lucas J, Wu F, Cundy T. Effects of
once-weekly oral alendronate on bone in children on glucocorticoids
treatment. Rheumatology (Oxford) 2005; 44(6):813–8.
80. Noguera A, Ros JB, Pavia C, Alcover E, Valls C, Villaronga M et al.
Bisphosphonates, a new treatment for glucocorticoids-induced
osteoporosis in children. J Pediatr Endocrinol Metab 2003;
16(4):529–36.
81. Thornton J, Ashcroft DM, Mughal MZ, Elliott RA, O’Neill TW,
Symmons D. Systematic review of effectiveness of bisphosphonates
in treatment of low bone mineral density and fragility fractures in
juvenile idiopathic arthritis. Arch Dis Child 2006; 91(9):753–61.
82. Batch JA, Couper JJ, Rodda C, Cowell CT, Zacharin M. Use
of bisphosphonte therapy for osteoporosis in childhood and
adolescence. J Paediatr Child Health 2003; 39(2):88–92.
593
ARTIGO DE REVISÃO
Manifestações musculoesqueléticas
em diabetes mellitus
Marilia Barreto Gameiro Silva1, Thelma Larocca Skare2
RESUMO
O diabetes mellitus está associado a uma grande variedade de manifestações musculoesqueléticas. Muitas delas são
subclínicas e correlacionadas com tempo de evolução e controle inadequado da doença, e devem ser reconhecidas e
adequadamente tratadas, pois sua abordagem melhora a qualidade de vida desses pacientes. Nesta revisão são discutidas
as principais manifestações musculoesqueléticas encontradas em diabetes mellitus.
Palavras-chave: diabetes mellitus, contratura de Dupuytren, dedo em gatilho, bursite, síndrome do túnel carpal.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica
com alta morbidade e mortalidade1 que vem se tornando um
problema de saúde pública. Em 1985, a prevalência mundial de
DM era de aproximadamente 30 milhões de casos, aumentando
para 177 milhões em 2000.2 Com base nas tendências atuais,
mais de 360 milhões de pessoas terão a doença por volta do
ano de 2030.2
O DM tipo 1 resulta de uma deficiência completa de insulina por destruição autoimune das células β produtoras de
insulina no pâncreas; já no DM tipo 2, que é a maioria dos
casos de DM (em torno de 95%), existe resistência à insulina,
produção hepática excessiva de glicose e metabolismo anormal
das gorduras, resultando em uma relativa deficiência desse
hormônio.2,3 A prevalência de DM tipo 2 é a que mais aumenta,
quando comparada com o DM tipo 1, devido ao aumento da
obesidade e à redução de atividades físicas à medida que os
países se tornam mais industrializados.2
O DM é responsável por inúmeras complicações vasculares
que comprometem a sobrevida dos pacientes.2 Complicações
musculoesqueléticas também são encontradas e, embora menos
valorizadas que as vasculares, comprometem de maneira importante a qualidade de vida de seu portador.4 Como a incidência
de DM e a expectativa de vida dos pacientes diabéticos aumentaram, observa-se um aumento da prevalência e importância
clínica dessas alterações osteomusculares. Em diabéticos, são
descritas a síndrome das mãos rígidas, contratura de Dupuytren,
dedos em gatilho, capsulite de ombro, periartrite calcificada
de ombro, síndrome do túnel do carpo, infarto muscular,
DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis) e artropatia de
Charcot.3,5 Além disso, maior prevalência de artrites por cristal,
infecções, osteoporose e de osteoartrite têm sido observadas.6
Vários autores têm procurado classificar as manifestações
articulares do DM,5,7 o que é uma tarefa difícil, uma vez que
a maioria dos mecanismos fisiopatológicos não está claro. Na
Tabela 1 encontra-se a classificação proposta por Arkkila et al.5
Tabela 1
Desordens musculoesqueléticas em diabetes mellitus5
Complicações
intrínsecas do DM
Aumento de
incidência em DM
Síndrome da
mobilidade
articular reduzida
Síndrome da
mão rígida
Infartos musculares
Doença de Dupuytren
Capsulite adesiva
Artropatia neuropática
Tenossinovite de flexores
Artrite séptica
DISH
Neuropatias diabéticas
Associação possível
Osteoartrite
Síndrome do
túnel do carpo
DISH: diffuse idiopathic skeletal hyperostosis.
Recebido em 24/07/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.
1. Mestre em Clínica Médica; Professora de Reumatologia do Curso de Medicina, Faculdade Evangélica do Paraná – Fepar
2. Doutora; Professora Titular da Disciplina de Reumatologia do Curso de Medicina, Fepar
Correspondência para: Thelma Larocca Skare. Rua João Alencar Guimarães, 796. CEP: 80310-420. Curitiba, PR, Brasil. E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
601
Silva et al.
SÍNDROME DA MOBILIDADE
ARTICULAR REDUZIDA
A síndrome da mobilidade articular reduzida (SMAR) é uma
limitação não dolorosa e não inflamatória da mobilidade da
mão, dos pés e das grandes articulações.5 Múltiplas anormalidades bioquímicas parecem estar ligadas ao seu aparecimento,
tais como o aumento da glicolização não enzimática de fibras
de colágeno, o aumento no cross linking do colágeno e a
consequente resistência do mesmo à digestão enzimática, o
aumento de hidratação mediada pela via da aldolase redutase
e o aumento na formação de produtos finais de glicolização
avançada (advanced glycosylation end products, ou AGEs).5,8
O aumento na formação dos AGEs pode associar a ocorrência de SMAR às complicações micro e macrovasculares do
DM.3,5 Os AGEs resultam de rearranjo de produtos de Amadori
ou produtos de glicosilação precoce. Eles se acumulam em
tecido, em função de tempo e concentrações de glicose, e danificam proteínas extra e intracelulares. Na superfície das células
existe um receptor para AGEs (RAGEs) que é um receptor
transmembrana da família das imunoglobulinas, e que sinaliza
eventos que levam à disfunção celular. Estudos experimentais
mostram que há redução da resposta vasodilatadora ao óxido
nítrico, e que os AGEs diminuem a elasticidade vascular.5,9
Existem dados controversos acerca da influência de um
componente genético no aparecimento dessa síndrome.10,11
Alguns autores10 encontraram que crianças diabéticas com
SMAR tinham mais parentes com o mesmo achado que crianças sem essa síndrome. Entretanto, Rosembloom et al.11 não
puderam confirmar tais achados ao estudar 204 indivíduos com
DM tipo 1 e 336 parentes de primeiro grau.
Síndrome da mão rígida ou queiroartropatia diabética
(cheiros, do grego, mão) é o nome reservado para a SMAR
que afeta essa extremidade e é a sua forma mais bem estudada.
Tipicamente, inicia-se como alterações cutâneas ao redor das
metacarpofalangianas e interfalangiana proximal do quinto
dedo e evolui de maneira a envolver todos os dedos.3 Esses
pacientes têm alterações da pele – que fica endurecida e rígida
com aspecto céreo, semelhante ao visto em esclerodermia.
Alterações de pele em mãos e antebraços, sem alterações
de mobilidade articular, também podem ser encontradas.3,12
Calcificações artérias são comumente vistas nas radiografias
de mãos desses pacientes.3 Exames histológicos mostram
espessamento da derme, acúmulo de tecido conjuntivo na
derme reticular com aumento de crosslinking do colágeno,
além de pequenas quantias de mucina.12 Devido às alterações
cutâneas, é importante separar esses achados daqueles de
esclerodermia. Ausência de fenômeno de Raynaud, atrofia
602
da derme, telangiectasias e autoanticorpos auxiliam nessa
separação.12 A frequência de aparecimento das alterações de
pele está associada ao tempo de duração do diabetes, embora
também tenham sido descritas em crianças com DM de início
recente.13 Alterações capilaroscópicas do leito periungueal são
encontradas em pacientes diabéticos com microangiopatia.
Alças capilares espiraladas, com densidade diminuída e com
dilatações apicais e no ramo venoso são descritas.14 KuryliszynMoskal et al.14 encontraram associação entre gravidade das
alterações morfológicas periungueais e tempo de doença,
controle metabólico e envolvimento sistêmico.
A prevalência da síndrome da mão rígida varia entre 38%–
58% em pacientes com DM tipo 1 e entre 45%–76% naqueles
com DM tipo 2.3,15,16 Os pacientes podem ser assintomáticos
ou apresentar queixas de dor, que se exacerba com o uso da
extremidade, ou, ainda, parestesias.3
O diagnóstico é feito com base nos achados característicos
e exame físico. A incapacidade de opor uma mão espalmada
à outra com os punhos em dorsiflexão é conhecido como sinal da prece (Figura 1).3 Uma maneira alternativa de testar a
Figura 1
Sinal da prece.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
Manifestações musculoesqueléticas em diabetes mellitus
mobilidade articular reduzida é com o chamado sinal do tampo
da mesa, no qual a mão espalmada é colocada de encontro
ao tampo da mesa com os dedos afastados um do outro. Em
casos positivos, os dedos e a palma da mão não conseguem
fazer contato com a superfície plana.3 A redução da mobilidade
passiva é confirmada pela perda da extensão das interfalangianas proximais e metacarpofalangianas (menor que 180° e
60º, respectivamente).3
Pacientes com síndrome de limitação articular do DM têm
maior prevalência de retinopatia diabética e de nefropatia,
sejam eles portadores de DM tipo 1 ou tipo 2.3
Acredita-se que a SMAR seja influenciada por um controle
pobre da glicemia, embora os achados de associação entre
essa complicação musculoesquelética e controle glicêmico, ou
mesmo níveis de HbA1C, sejam controversos.3,5,15,17 Todavia, é
sempre bom ter em mente que glicemia e HbA1C não refletem
períodos passados de hiperglicemia, que pode existir anos antes
do diagnóstico de um DM tipo 2.
O tratamento recomendado é fisioterapêutico e com drogas
anti-inflamatórias não hormonais.3,5 Todavia, antes de se prescrever tais drogas é bom lembrar da associação dessa síndrome
com nefropatia diabética, no sentido de evitar seus efeitos
colaterais indesejados. No caso de envolvimento cutâneo, o
único tratamento proposto é o controle glicêmico.8
CONTRATURA DE DUPUYTREN
A contratura de Dupuytren (CD) é caracterizada por espessamento da fáscia palmar, formação de nódulos palmares e
digitais, espessamento e aderência da pele, formação de uma
faixa pré-tendinosa e contratura em flexão dos dedos.3,5 Afeta
de 16%–32% dos pacientes,3,5,18,19 sendo mais comum em
indivíduos idosos e com maior tempo de DM.3,19
Existem algumas peculiaridades na CD do paciente diabético. A primeira é a de que tende a envolver mais o terceiro
e quarto dedos, em vez de quarto e quinto, como é típico dos
casos associados a outras etiologias (Figura 2).19,20 A segunda é
que, diferente dos outros casos de CD que afetam preferencialmente o gênero masculino, na DM existe maior prevalência de
mulheres, embora a gravidade dessa manifestação ainda seja
maior em homens.3,19,20
Do ponto de vista histológico, encontra-se uma matriz densa
de colágeno contendo fibroblastos alinhados longitudinalmente,
de acordo com as linhas de força. Os nódulos contêm miofibroblastos e feixes de colágeno; os vasos sanguíneos locais
estão estreitados.21 Existe maior teor de glicosaminoglicanos,
e o colágeno local tem proporção maior de fibras tipo 3 em
relação ao tipo 1.21
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
Figura 2
Contratura de Dupuytren em paciente com diabetes mellitus.
Observar o envolvimento predominante de terceiro e quarto
dedos.
Uma teoria para explicar seu aparecimento é a de que a CD
resulta da ocorrência de hipóxia local seguida de liberação de
radicais livres, os quais afetam a função dos fibroblastos que
produzirão as fibras de colágeno alteradas.
O tratamento tem sido com infiltrações intralesionais de
corticoide, cirurgia e fisioterapia.3 Recentemente, a injeção de
colagenase de Clostridium histolyticum tem sido apregoada
como forma alternativa de tratamento não cirúrgico. Em um estudo22 com 308 pacientes, dos quais 6,5% eram diabéticos, houve
melhora da contratura em flexão e da amplitude de mobilidade
das articulações dos dedos com três ou mais injeções de colagenase. Nesse estudo, dois pacientes tiveram ruptura de tendão
e um desenvolveu um quadro de distrofia simpático reflexa.
DEDO EM GATILHO OU TENOSSINOVITE
ESTENOSANTE DOS FLEXORES DOS DEDOS
A tenossinovite dos flexores dos dedos apresenta-se tipicamente com um travamento do dedo em flexão, extensão ou ambos,
e envolve mais comumente o polegar, o dedo médio e/ou o
anular.3,5 Aparece pela formação de uma fibrose, com espessamento do tendão, quando o mesmo passa através da polia
ou de uma proeminência óssea, restringindo seu movimento
dentro da bainha. Um aumento de volume distal ao ponto de
constrição ocasiona dor e dificuldade em flexão e extensão
daquele dígito, que pode ficar bloqueado.5
A prevalência de dedo em gatilho nos pacientes com DM
vai de 5%–36% naqueles com DM tipo 1 e tipo 2 contra 2%
603
Silva et al.
na população em geral,23,24 e seu aparecimento está associado
a doença de maior duração.3,5 Comparados a pacientes não
diabéticos, os indivíduos com DM têm uma tendência para
desenvolver envolvimento de múltiplos dedos simultaneamente.19,25 Segundo Koh et al.,26 o envolvimento de três ou
mais dedos é altamente sugestivo de associação com DM, e
deve-se proceder à procura dessa doença caso o diagnóstico
ainda não tenha sido feito.
O tratamento é feito com modificação das atividades, uso
de anti-inflamatórios não hormonais, uso de talas, infiltrações
e, em casos mais graves, cirurgia.3,5
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO
A síndrome do túnel do carpo (STC) é causada por compressão
do nervo mediano ao nível do ligamento transverso do carpo.
Caracteriza-se por dor e parestesias no território que vai do
polegar até a porção média do quarto dedo, com piora noturna
e que pode irradiar-se para o antebraço.5,27 Em casos avançados,
pode ocorrer atrofia da musculatura tenar e perda da força de
apreensão27 (Figura 3). O diagnóstico clínico é feito com auxílio dos testes de Tinel e de Phalen.27 Em casos duvidosos, a
realização de estudos eletrofisiológicos pode ser útil.28
A prevalência de STC em pacientes com DM vai de
11%–25% e é mais comum em mulheres19,29 e em pacientes
com polineuropatia.30 De maneira reversa, o DM é encontrado
em 5%–8% dos indivíduos com STC.29,31 Todavia, existem
autores que acreditam que o real fator predisponente à STC é a
obesidade, comum em pacientes com DM tipo 2.32 Um estudo
feito com 791 pacientes com STC encaminhados para estudos
Figura 3
Síndrome do túnel do carpo de longa duração com atrofia de
musculatura tênar.
604
eletrofisiológicos33 mostrou que diagnóstico de DM, gênero
feminino, obesidade e idade entre 41–60 anos eram fatores
de risco para STC, mas quando os dados eram estratificados
por índice de massa corporal dos pacientes, deixava de existir
a associação com DM.
O manejo dessa entidade tem como base o uso de talas e
de analgésicos. Infiltrações com corticoides podem ser feitas,
embora seu efeito seja temporário e a resposta de pacientes
com DM seja mais pobre.34–36 Cirurgia de liberação pode ser
necessária, com frequência 4–14 vezes maior em diabéticos que
na população em geral.36 O grau de recuperação pós-cirúrgica
desses pacientes é pior. Essa resposta pouco favorável se deve
ao fato de que na DM há perda da capacidade regenerativa dos
nervos periféricos por microangiopatia, disfunção macrofágica,
disfunção das células de Schwann e diminuição na expressão
de fatores neurotróficos e seus receptores.26,37
TENDINITES CALCIFICADAS E
CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO
No DM, o envolvimento do ombro tem sido descrito como a
mais incapacitante das manifestações musculoesqueléticas.38
A capsulite adesiva do ombro (também conhecida como
ombro congelado) apresenta-se como uma restrição quase
completa à mobilidade passiva e ativa da articulação, principalmente para adução e rotação externa.3 Essa entidade instala-se
de maneira progressiva e dolorosa levando à contratura da
cápsula articular, a qual se adere à cabeça do úmero, reduzindo
assim o volume da articulação.3 Histologicamente a cápsula
mostra proliferação de fibroblastos e transformação de alguns
em miofibroblastos, que produzem colágeno tipos 1 e 3 em
excesso. Esses achados são similares aos encontrados na CD.3,39
A dor aparece inicialmente à noite e tem início gradual.3 Sua
história natural pode ser dividida em três fases: (a) dor; (b)
rigidez; (c) recuperação.3
A prevalência de capsulite adesiva do ombro é cinco vezes
maior na população diabética que na população em geral, aparecendo em 10%–29% desses indivíduos.3,40,41 Aparece tanto
na DM tipo 1 como do tipo 2; é mais comum em pessoas mais
idosas e pode ser bilateral.3
Pal et al.40 criaram critérios para diagnóstico da capsulite
adesiva que incluem dor no ombro por pelo menos um mês,
incapacidade em se deitar sobre essa articulação e restrição da
mobilidade ativa e passiva em pelo menos três planos.
Alguns pesquisadores têm encontrado que pacientes com
ombro congelado têm maior prevalência de infarto do miocárdio (naqueles com DM tipo 1) e neuropatia autonômica (em
pacientes com DM tipos 1 e 2).3
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
Manifestações musculoesqueléticas em diabetes mellitus
O tratamento é feito com analgésicos, infiltrações com
corticoides e fisioterapia. A maioria dos pacientes retorna à
função normal.5 Na fase adesiva, tratamento de liberação da
cápsula pode ser realizado. Essa liberação pode ser feita por
manipulação sob anestesia ou cirurgia.3,5 A liberação cirúrgica é preferencialmente realizada por meio de artroscopia em
lugar da cirurgia aberta, já que a primeira reduz o período de
recuperação pós-operatória.3,42
As tendinites calcificadas resultam principalmente do depósito de hidroxiapatita em áreas periarticulares como o manguito
rotador.3,6 São mais comuns em DM tipo 2 e podem coexistir
com capsulite adesiva do ombro. Um estudo caso-controle com
radiografias de ombros mostrou que calcificações estavam presentes em 31,8% dos pacientes com DM contra 10% daqueles
sem DM.43 Muitos dos pacientes com DM e calcificações eram
assintomáticos.3
INFARTOS MUSCULARES
Essa é uma complicação relativamente rara, mais encontrada
em pacientes com DM tipo 1 e doença acima de 15 anos.3
Clinicamente, apresenta-se como edema e dor muscular
de início agudo.3 Massa palpável é detectada em 34%–44%
dos casos.3,44 Os músculos da coxa estão envolvidos em cerca
de 80% dos casos, porém mais de um ponto de infarto pode
aparecer simultaneamente.45
O diagnóstico é feito com base na história e por exames
de imagem, principalmente a ressonância magnética. Enzimas
musculares como CPK mostram um aumento discreto.3 Na
ressonância magnética é encontrado um edema isointenso em
T1 e hiperintenso em T2 em região de músculos, com edema
subcutâneo e subfascial. Em geral, o uso do gadolínio não é
necessário, mas optando-se por seu uso, demonstrará uma área
não captante circundada por outra de aumento de captação
de contraste.46 A biópsia mostra necrose de fibra muscular,
edema, fagocitose de fibras necróticas, tecido de granulação
e deposição de colágeno. Lesões mais antigas podem mostrar
regeneração de fibras musculares, substituição por tecido
fibroso e infiltrado mononuclear.44
Como a maioria dos pacientes com infarto muscular sofre
de retinopatia, neuropatia e nefropatia diabéticas, acredita-se
que esses diagnósticos estejam associados a isquemia local.
Estados de hipercoagulabilidade com alterações no sistema
fibrinólise-coagulação e disfunção endotelial também têm
sido propostos como mecanismos patogênicos em potencial.47
Outra hipótese seria a de que anticorpos antifosfolípides
contribuíssem para sua ocorrência, mas isso não pode ser
provado.48
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
O infarto muscular resolve espontaneamente em semanas
ou meses, mas em metade dos pacientes há episódios recorrentes. O tratamento é feito com repouso e analgesia.5
DISH (DIFFUSE IDIOPATHIC
SKELETAL HYPEROSTOSIS)
Também conhecida como doença de Forestier ou hiperostose
anquilosante, é uma condição caracterizada pela ossificação
dos pontos de êntese.49 O envolvimento dos ligamentos
espinhais formando pontes de osteófitos confluentes entre
as vértebras é conhecido como o aspecto mais marcante
dessa doença, que também pode ter ênteses periféricas
envolvidas.49
A definição de DISH foi criada por Resnick et al.,50
e requer o envolvimento de quatro segmentos vertebrais
contíguos com preservação dos espaços discais e ausência
de envolvimento apofisário degenerativo e de alterações
inflamatórias de sacroilíacas. Mais tarde, essa noção foi
modifi cada por Utsinger 51 para incluir o envolvimento
periférico. Esse último autor propôs que o envolvimento
contínuo anterolateral de duas ou mais vértebras mais uma
entesopatia periférica simétrica davam suporte ao diagnóstico de DISH provável.
O DISH afeta principalmente a coluna torácica, mas a
coluna lombar e a cervical também podem estar envolvidas.49
É mais comum em pacientes com DM tipo 2 e em obesos.3
No DM tipo 2, o DISH tem prevalência de 13%–40%.3,52,53
Todavia, há autores que contestam essa associação ao DM,
creditando-a à obesidade.52,54
Sua fisiopatologia é desconhecida. Alguns autores acreditam que a hiperinsulinemia é a ligação entre DM, DISH
e obesidade. Os níveis do hormônio do crescimento (GH)
e de IGF1 (insulin like growth factor 1) estão aumentados
em pacientes com DISH e podem facilitar a ossificação de
tecidos moles por estimular a proliferação e a função dos
osteoblastos.3,49 Níveis séricos da proteína de matriz Gla,
que inibe a formação óssea, estão paradoxalmente mais altos
que em controles.55
Clinicamente, o paciente pode ser assintomático ou
apresentar dor no local afetado, rigidez de coluna, disfagia e
odinofagia, se houver envolvimento cervical com grandes osteófitos.49,51 Queixas neurológicas podem resultar de compressão
de medula espinal pela ossificação do ligamento longitudinal
posterior.3 Dor periférica pode resultar de envolvimento entesopático periférico.49
O diagnóstico é feito por exames radiológicos, e o tratamento é realizado com analgésicos e exercícios terapêuticos.3
605
Silva et al.
ARTICULAÇÃO DE CHARCOT
A artropatia de Charcot, ou artropatia neuropática diabética,
resulta de uma provável combinação de fatores mecânicos e
vasculares secundários à neuropatia diabética.56 Postula-se que
a falta de propriocepção causa frouxidão ligamentar, instabilidade articular e lesão articular aos pequenos traumas. Outra
ideia é a de que a neuropatia autonômica acarrete alterações
vasomotoras com formação de shunts arteriovenosos e redução
de fluxo sanguíneo efetivo para pele e ossos, a despeito de boa
amplitude dos pulsos periféricos.57 Uma terceira hipótese é a
de uma resposta inflamatória exagerada a traumas, mediada
por citocinas pró-inflamatórias.58
A despeito do que cause o início do problema, existe uma
fase inicial que é reabsortiva à qual se segue uma fase de reparação ou fase hipertrófica.59
As articulações mais afetadas são as tarsais e as tarsometatarsianas, seguidas pelas do metatarso-falangianas e tornozelos.60
Figura 4
Articulação de Charcot.
606
As manifestações clínicas são variáveis. O paciente pode
apresentar-se com início súbito de eritema e edema unilateral
no pé ou tornozelo. Ataques recorrentes podem seguir-se e,
com o tempo, o indivíduo desenvolve artropatia crônica que
se caracteriza por colapso do arco plantar e aparecimento de
proeminências ósseas.56 Pode haver complicações com úlceras
que facilmente infectam. Em 20% dos casos é bilateral.56 A
artropatia não é dolorosa ou cursa com dor desproporcionalmente menor ao esperado. O diagnóstico diferencial com a
artrite séptica é mandatório.
O diagnóstico é feito por exames de imagem que mostram,
em um estágio inicial, apenas osteopenia, diminuição de espaço
articular e edema de partes moles. Com a evolução aparecem
áreas de osteólise, com reabsorção de falanges e reabsorção
das cabeças dos metatarsianos. Luxações, fragmentação óssea,
esclerose e neoformação óssea podem ser vistos em estágios
finais.56,59 Ressonância magnética com contraste pode ser necessária para afastar osteomielite associada61 (Figuras 4 e 5).
O tratamento é feito evitando-se peso na articulação afetada, com uso de sapatos adequados, e órteses para o pé. Uso
de bisfosfonatos (alendronato e pamidronato) pode ser útil.62,63
Calcitonina tem sido usada em pacientes com insuficiência renal que não podem receber bisfosfonatos, mas seus benefícios
ainda não foram provados.64
Figura 5
Articulação de Charcot.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
Manifestações musculoesqueléticas em diabetes mellitus
OUTRAS DOENÇAS
Outras doenças musculoesqueléticas possivelmente associadas
ao DM são osteoporose, osteoartrite e artrite por cristais.6
A associação de DM com osteoporose é controversa.65
Pacientes com DM têm metabolismo ósseo baixo, com redução
de formação óssea e, em menor grau, diminuição da reabsorção.
O mecanismo é provavelmente multifatorial e inclui, no DM
tipo 1, níveis baixos de insulina e IGF 1 que inibem a atuação
do osteoblasto. No DM tipos 1 e 2 o acúmulo dos AGEs está
associado à diminuição de formação óssea. A massa óssea
está diminuída no DM tipo 1 e aumentada no DM tipo 2, mas
o risco de fraturas está aumentado nas duas formas de DM.66
A obesidade pode ser um fator comum ao DM e à osteoartrite. Embora existam alguns estudos tentando implicar AGEs
na degeneração da cartilagem, não existe evidência clara que
possa implicar DM em osteoartrite prematura.6,67
Hiperuricemia e consequente gota podem ser encontradas em DM tipo 2 fazendo parte da síndrome metabólica.
Insuficiência renal, uma complicação comum em DM, também
predispõe à artrite por cristal.6 Já a associação de DM com
doença por depósito de pirofosfato de cálcio, embora sugerida,
permanece por ser provada.68
SOBRE O USO DE INFILTRAÇÃO COM
CORTICOIDES EM PACIENTES DIABÉTICOS
Os efeitos do uso sistêmico dos corticoides sobre o metabolismo da glicose são bem conhecidos. Já nos casos de injeções
intra-articulares, eles são menos estudados. Sempre existe a
preocupação de que sua absorção leve a efeitos sistêmicos.
Três estudos, dois usando infiltrações epidurais69,70 e outro
com infiltração para dedo em gatilho,71 demonstraram haver
um aumento temporário dos níveis de glicemia, que retornou
ao nível basal em 2–5 dias. Outro estudo72 com infiltrações em
ombro não demonstrou essa elevação.
levar à instituição de terapêutica apropriada que irá prevenir o
desenvolvimento das complicações diabéticas.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CONCLUSÃO
O DM está associado a várias manifestações musculoesqueléticas. Essas associações têm base principalmente em estudos
epidemiológicos, uma vez que os mecanismos fisiopatológicos
não estão completamente esclarecidos. Envolvimento de membros superiores (mão e ombro) é o mais comum. A identificação e tratamento dessas lesões são importantes em relação à
melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Por outro lado, o
conhecimento dessas associações pode permitir o diagnóstico
de DM em pacientes ainda não reconhecidos como tal, e assim
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
15.
16.
17.
Smith LL, Burnet SP, McNeil JD. Musculoskeletal manifestations
of diabetes mellitus. Br J Sports Med 2003; 37(1): 30–5.
Alvin C Power. Diabetes mellitus. In: Kasper DL, Braunwald E,
Fauci A, Hauser S, Longo D Jameson JL (eds.). Harrison’s Principle
of Internal Medicine. 16.ed. McGraw-Hill, 2004; pp. 3779–829.
Lebiedz-Odrobina D, Kay J. Rheumatic manifestation of diabetes
mellitus. Rheum Dis Clin N Am 2010; 36(4):681–99.
Savas S, Köroğlu BK, Koyuncuoğlu HR, Uzar E, Celik H,
Tamer NM. The effects of the diabetes related soft tissue hand lesions
and the reduced hand strength on functional disability of hand in
type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract 2007; 77(1):77–83.
Arkkila PE, Gautier JF. Musculoskeletal disorders in diabetes mellitus:
an update. Best Pract Res Clin Rheumatol 2003; 17(6):945–70.
Burner TW, Rosenthal AK. Diabetes and rheumatic diseases. Cur
Opin Rheumatol 2009; 21(1):50–4.
Crispin JC, Alcocer-Varela J. Rheumatic manifestations of diabetes
mellitus. Am J Med 2003; 114(9):753–7.
Kapoor A, Sibbitt WL Jr. Contractures in diabetes mellitus: the
syndrome of limited joint mobility. Semin Arthritis Rheum 1989;
18(3):168–80.
Bucala R, Tracey KJ, Cerami A. Advanced glycosylation products
quench nitric oxide and mediate defective endothelium-dependent
vasodilatation in experimental diabetes. J Clin Invest 1991;
87(2):432–8.
Traisman HS, Traisman ES, Marr TJ, Wise J. Joint contractures in
patients with juvenile diabetes and their siblings. Diabetes Care
1978; 1(6):360–1.
Rosembloom AL, Silverstein JH, Riley WJ, Maclaren NK. Limited
joint mobility in childhood diabetes: family studies. Diabetes Care
1983; 6(4):370–3.
Yosipovitch G, Loh KC, Hock OB. Medical pearl: Scleroderma-like
skin changes in patients with diabetes mellitus. J Am Acad Dermatol
2003; 49(1):109–11.
Seibold JR. Digital sclerosis in children with insulin-dependent
diabetes mellitus. Arthritis Rheum 1982; 25(11):1357–61.
Kuryliszyn-Moskal A, Dubicki A, Zarzycki W, Zonnenberg A,
Górska M. Microvascular abnormalities in capillaroscopy correlate
with higher serum IL-18 and sE-selectin levels in patients with type
1 diabetes complicated by microangiopathy. Folia Hystoch Cytobiol
2011; 49(1):104–10.
Rosenbloom AL, Silverstein JH, Lezotte DC, Richardson K,
McCallum M. Limited joint mobility in childhood diabetes mellitus
indicates increased risk for microvascular disease. N Engl J Med
1981; 305(4):191–4.
Fitzcharles MA, Duby S, Wadell RW, Banks E, Karsh J. Limitation of
joint mobility (cheiroarthropathy) in adult with noninsulin-dependent
diabetic patients. Ann Rheum Dis 1984; 43(2):251–4.
Arkilla PE, Kantola IM, Vikari JS, Rönnemaa T, Vähätalo MA.
Limited joint mobility is associated with the presence but does not
predict the development of microvascular complication in type 1
diabetes. Diabet Med 1996; 13(9):828–33.
607
Silva et al.
18. Ardic F, Soyupek F, Kahraman Y, Yorgancioglu R. The musculoskeletal
complications seen in type II diabetics: predominance of hand
involvement. Clin Rheumatol 2003; 22(3):229–33.
19. Chammas M, Bousquet P, Renard E, Poirier JL, Jaffiol C, Allieu Y.
Dupuytren’s disease, carpal tunnel syndrome, trigger finger, and
diabetes mellitus. J Hand Surg Am 1995; 20(1):109–14.
20. Noble J, Heathcote JG, Colen H. Diabetes mellitus in the aetiology
of Dupuytren’s disease. J Bone Joint Surg Br 1984; 66(3):322–5.
21. Hart MG, Hooper G. Clinical associations of Dupuytren’s disease.
Postgrad Med J 2005; 81(957):425–8.
22. Hurst LC, Badalamente MA, Hentz VR, Hotchkiss RN, Kaplan FT,
Meals RA et al. Injectable collagenase clostridium histolyticum
for Dupuytren’s contracture. N Engl J Med 2009; 361(10):968–79.
23. Cagliero E, Apruzzese W, Perlmutter GS, Nathan DM. Musculoskeletal
disorders of the hand and shoulder in patients with diabetes mellitus.
Am J Med 2002; 112(6):487–90.
24. Yosipovitch G, Yosipovitch Z, Karp M, Mukamel M. Trigger finger
in young patients with insulin dependent diabetes. J Rheumatol
1990; 17(7): 951–2.
25. Kameyama M, Meguro S, Funae O, Atsumi Y, Ikegami H. The
presence of limited joint mobility is significantly associated with
multiple digit involvement by stenosing flexor tenosynovitis in
diabetics. J Rheumatol 2009; 36(8):1686–90.
26. Koh S, Nakamura S, Hattori T, Hirata H. Trigger digits in diabetes:
their incidence and characteristics. J Hand Surg Eur Vol 2010;
35(4):302–5.
27. Nashel DJ. Entrapment neuropathies. In: Klippel JH, Dieppe PA
(eds.). Rheumatology. 2.ed. vol.1, S-4. London: Mosby, 1998;
pp.16.1–16.12.
28. Jillapalli D, Shefner JM. Electrodiagnosis in common
mononeuropathies and plexopathies. Semin Neurol 2005;
25(2):196–203.
29. Papanas N, Maltezos E. The diabetic hand: a forgotten complication?
J Diabetes Complications 2010; 24(3):154–62.
30. Perkins BA, Olaleye D, Bril V. Carpal tunnel syndrome in patients
with diabetic polyneuropathy. Diabetes Care 2002; 25(3):565–9.
31. Comi G, Lozza L, Galardi G, Ghilardi MF, Medaglini S, Canal N.
Presence of carpal tunnel syndrome in diabetics: effects of age,
sex, diabetes duration and polyneuropathy. Acta Diabetol Lat 1985;
22(3):259–62.
32. Geoghegan JM, Clark DI, Bainbridge LC, Smith S, Hubbard R.
Risk factors in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br 2004;
29(4):315–20.
33. Becker J, Nora DB, Gomes I, Stringari FF, Seitensus R, Panosso J
et al. An evaluation of gender, obesity, age and diabetes mellitus as
risk factors for carpal tunnel syndrome. Clin Neurophysiol 2002;
113(9):1429–34.
34. McClure P. Evidence-based practice: an example related to the use
of splinting in a patient with carpal tunnel syndrome. J Hand Ther
2003; 16(3):256–63.
35. Girlanda P, Dattola R, Venuto C, Mangiapane R, Nicolosi C,
Messina C. Local steroid treatment in idiopathic carpal tunnel
syndrome: short- and long-term efficacy. J Neurol 1993; 240(3):187–
90.
36. Yasuda H, Terada M, Maeda K, Kogawa S, Sanada M, Haneda M
et al. Diabetic neuropathy and nerve regeneration. Prog Neurobiol
2003; 69(4):229–85.
608
37. Kennedy JM, Zochodne DW. Impaired peripheral nerve regeneration
in diabetes mellitus. J Peripher Nerv Syst 2005; 10(2):144–57.
38. Tighe CB, Oakley WS Jr. The prevalence of a diabetic condition and
adhesive capsulitis of the shoulder. South Med J 2008; 101(6):591–5.
39. Bunker TD, Anthony PP. The pathology of frozen shoulder. A
Dupuytren-like disease. J Bone Joint Surg Br 1995; 77(5):677–83.
40. Pal B, Anderson J, Dick WC, Griffiths ID. Limitation of joint
mobility and shoulder capsulitis in insulin- and non-insulindependent diabetes mellitus. Br J Rheumatol 1986; 25(2):147–51.
41. Balci N, Balci MK, Tüzüner S. Shoulder adhesive capsulitis and
shoulder range of motion in type II diabetes mellitus: association
with diabetes complications. J Diabetes Complications 1999;
13(3):135–40.
42. Sheridan MA, Hannafin JA. Upper extremity: emphasis on frozen
shoulder. Orthop Clin North Am 2006; 37(4):531–9.
43. Mavrikakis ME, Drimis S, Kontoyannis DA, Rasidakis A,
Moulopoulus ES, Kontoyannis S. Calcific shoulder periarthritis
(tendinitis) in adult onset diabetes mellitus: a controlled study. Ann
Rheum Dis 1989; 48(3):211–4.
44. Trujillo-Santos AJ. Diabetic muscle infarction: an underdiagnosed
complication of long-standing diabetes. Diabetes Care 2003;
26(1):211–5.
45. Kapur S, Brunet JA, McKendry RJ. Diabetic muscle infarction: case
report and review. J Rheumatol 2004; 31(1):190–4.
46. K a t t a p u r a m T M , S u r i R , R o s o l M S , R o s e n b e rg A E ,
Kattapuram SV. Idiopathic and diabetic skeletal muscle necrosis:
evaluation by magnetic resonance imaging. Skeletal Radiol
2005; 34(4):203–9.
47. Bjornskov EK, Carry MR, Katz FH, Lefkowitz J, Ringel SP.
Diabetic muscle infarction: a new perspective on pathogenesis and
management. Neuromuscul Disord 1995; 5(1):39–45.
48. Palmer GW, Greco TP. Diabetic thigh muscle infarction in association
with antiphospholipid antibodies. Semin Arthritis Rheum 2001;
30(4):272–80.
49. Mader R, Sarzi-Puttini P, Atzeni F, Olivieri I, Pappone N, Verlaan JJ
et al. Extraspinal manifestations of diffuse idiopathic skeletal
hyperostosis. Rheumatology (Oxford) 2009; 48(12):1478–81.
50. Resnick D, Niwayama G. Dish. In: Resnick D, Niwayama G (eds.).
Diagnosis of bone and joint disorders. 2.ed. Philadelphia: WB
Saunders, 1983; p.2436.
51. Utsinger PD. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Clin Rheum
Dis 1985; 11(2):325–51.
52. Mader R, Dubenski N, Lavi I. Morbidity and mortality of hospitalized
patients with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Rheumatol Int
2005; 26(2):132–6.
53. Kiss C, Szilágyi M, Paksy A, Poór G. Risk factors for diffuse
idiopathic skeletal hyperostosis: a case-control study. Rheumatology
(Oxford) 2002; 41(1):27–30.
54. Sencan D, Elden H, Nacitarhan V, Sencan M, Kaptanoglu E. The
prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in patients with
diabetes mellitus. Rheum Int 2005; 25(7):518–21.
55. Sarzi-Puttini P, Atzeni F. New developments in our understanding
of DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis). Clin Opin
Rheumatol 2004; 16(3):287–92.
56. Giurini JM, Chrzan JS, Gibbons GW, Habershaw GM. Charcot’s
disease in diabetic patients. Correct diagnosis can prevent deformity.
Postgrad Med 1991; 89(4):163–9.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
Manifestações musculoesqueléticas em diabetes mellitus
57. Brower AC, Allman RM. Pathogenesis of the neurotropic
joint: neurotraumatic vs. neurovascular. Radiology 1981;
139(2):349–54.
58. Jeffcoate WJ, Game F, Cavanagh PR. The role of proinflammatory
cytokines in the neuropathic osteoarthropathy: (acute Charcot foot)
in diabetes. Lancet 2005; 366(9502):2058–61.
59. Sequeira W. The neuropathic joint. Clin Exp Rheumatol 1994;
12(3):325–37.
60. Fórgacs SS. Diabetes mellitus and rheumatic disease. Clin Rheum
Dis 1986; 12(3):729–53.
61. Ahmadi ME, Morrison WB, Carrino JA, Schweitzer ME, Raikin SM,
Ledermann HP. Neuropathic arthropathy of the foot with and without
superimposed osteomyelitis: MR imaging characteristics. Radiology
2006; 238(2):622–31.
62. Selby PL, Young MJ, Boulton AJ. Bisphosphonates: a new
treatment for diabetic Charcot neuroarthropathy? Diabet Med 1994;
11(1):28–31.
63. Pitocco D, Ruotolo V, Caputo S, Mancini L, Collina CM, Manto A
et al. Six-month treatment with alendronate in acute Charcot
neuroarthropathy: a randomized controlled trial. Diabetes Care
2005; 28(5):1214–5.
64. Bem R, Jirkovská A, Fejfarová V,Skibová J, Jude EB. Intranasal
calcitonin in the treatment of acute Charcot neuroosteoarthropathy:
a randomized controlled trial. Diabetes Care 2006; 29(6):1392–4.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):594-609
65. Bouillon R. Diabetic bone disease. Calcif Tissue Int 1991;
49(3):155–60.
66. Tuominen JT, Impivaara O, Puukka P, Rönnemaa T. Bone mineral
density in patients with type 1 and type 2 diabetes. Diabetes Care
1999; 22(7):1196–200.
67. DeGroot J, Verzijl N, Jakobs KM, Budde M, Bank RA, Bijlsma JW
et al. Accumulation of advanced glycation endproducts reduces
chondrocyte-mediated extracellular matrix turnover in human
articular cartilage. Osteoarthritis Cartilage 2001; 9(8):720–6.
68. Jones AC, Chuck AJ, Arie EA, Green DJ, Doherty M. Diseases
associated with calcium pyrophosphate deposition disease. Semin
Arthritis Rheum 1992; 22(3):188–202.
69. Gonzales P, Laker SR, Sullivan W, Harwood JE, Akuthota V. The
effects of epidural betamethasone on blood glucose in patients with
diabetes mellitus. PM R 2009; 1(4):340–5.
70. Even JL, Crosby CG, Song Y, McGirt MJ, Devin CJ. Effects of
epidural steroid injections on blood glucose levels in patients with
diabetes mellitus. Spine (Phila Pa 1976) 2012; 37(1):E46–50.
71. Wang AA, Hutchinson DT. The effect of corticosteroid injection for
trigger finger on blood glucose levels in diabetic patients. J Hand
Surg Am 2006; 31(6):979–81.
72. Habib GS, Abu-Ahmad R. Lack of effect of corticosteroid injection
at the shoulder joint on blood glucose levels in diabetic patients. Clin
Rheumatol 2007; 26(4):566–8.
609
ARTIGO DE REVISÃO
Bloqueio do nervo supraescapular: procedimento
importante na prática clínica. Parte II
Marcos Rassi Fernandes1, Maria Alves Barbosa2, Ana Luiza Lima Sousa2, Gilson Cassem Ramos3
RESUMO
O bloqueio do nervo supraescapular é um método de tratamento reprodutível, confiável e extremamente efetivo no controle
da dor no ombro. Esse método tem sido amplamente utilizado por profissionais na prática clínica, como reumatologistas,
ortopedistas, neurologistas e especialistas em dor, na terapêutica de enfermidades crônicas, como lesão irreparável do
manguito rotador, artrite reumatoide, sequelas de AVC e capsulite adesiva, o que justifica a presente revisão (Parte II).
O objetivo deste estudo foi descrever as técnicas do procedimento e suas complicações descritas na literatura, já que a
primeira parte reportou as indicações clínicas, drogas e volumes utilizados em aplicação única ou múltipla. Apresentamse, detalhadamente, os acessos para a realização do procedimento tanto direto como indireto, anterior e posterior, lateral e
medial, e superior e inferior. Diversas são as opções para se realizar o bloqueio do nervo supraescapular. Apesar de raras,
as complicações podem ocorrer. Quando bem indicado, este método deve ser considerado.
Palavras-chave: técnicas, bloqueio nervoso, anestesia local, dor de ombro.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A dor no ombro tem prevalência de 15%–30% na população
adulta e é uma queixa frequente principalmente nos idosos, podendo levar à incapacidade funcional e à redução da qualidade
de vida.1 O bloqueio do nervo supraescapular (BNSE) é um
método eficiente no tratamento de certas doenças do ombro,
como capsulite adesiva, artrite reumatoide, tendinite calcárea
e pós-acidente vascular cerebral.2–4
O procedimento tem sido cada vez mais aplicado no
controle da dor severa e na analgesia pós-operatória de cirurgias do ombro,4–7 já que outras opções terapêuticas como os
anti-inflamatórios não hormonais e as injeções de esteroides
intra-articulares têm suas limitações, principalmente na população mais idosa, que apresenta muitas comorbidades.4,8
O BNSE é um método seguro, simples, barato e aplicável à maioria dos médicos que atuam no tratamento da dor,9
além de ser bem tolerado mesmo por pacientes com diversas
patologias que acometem a região do ombro.4 É, ainda, uma
alternativa eficiente para aqueles que não podem submeter-se
a uma intervenção cirúrgica.8
Uma indicação relativa seria para pacientes com tumores
avançados na região do ombro, com dor difícil de tratar e que
são beneficiados por técnicas intervencionistas, dentre as quais
o BNSE, que se apresenta muito efetivo e com baixos índices de
efeitos adversos. Nesse caso, o método funciona como cuidado
paliativo, pois trata os sintomas sem necessariamente atuar na
causa.10 Outra utilização do BNSE seria na prática anestesiológica, no que diz respeito às anestesias locorregionais.5,6,11
Apesar de ser eficiente em seus efeitos, vários autores
apresentaram modificações à técnica original do BNSE,
desde sua publicação inicial, tais como o local da introdução
da agulha, drogas e volumes utilizados e o modo de acesso,
além de uso de aparelhos complementares para a realização
do procedimento.
O objetivo desta segunda parte da revisão sobre “Bloqueio
do Nervo Supraescapular” foi relatar as técnicas descritas para
a realização do procedimento, assim como as complicações da
administração dos anestésicos locais. A primeira parte reportou os aspectos históricos e as indicações clínicas do método,
assim como as drogas e o volume utilizados em procedimento
único ou múltiplo.12
Recebido em 08/08/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Universidade Federal de Goiás – UFG.
1. Doutorando em Ciências da Saúde; Professor do Departamento de Ortopedia e Traumatologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás – UFG
2. Doutor em Enfermagem; Professor Orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, UFG
3. Doutor em Ciências da Saúde; Especialista em Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia /Associação Médica Brasileira
Correspondência para: Marcos Rassi Fernandes. Avenida Azaléias, Qd. 10 – Lt. 20 – Residencial Jardins Viena. Aparecida de Goiânia, GO, Brasil. CEP: 74935-187.
E-mail: [email protected]
616
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
Bloqueio do nervo supraescapular: procedimento importante na prática clínica. Parte II
ANATOMIA APLICADA AO BNSE
O nervo supraescapular é um nervo misto (motor e sensitivo),
responsável por 70% da sensibilidade articular do ombro, principalmente a cápsula posterior e superior. Ele se origina das raízes
C5 e C6 do plexo braquial, que se dirigem posterior e lateralmente
até a incisura escapular, abaixo do ligamento transverso superior.
Ele entra na fossa supraespinal, na qual fornece ramos sensitivos
para a articulação glenoumeral, acromioclavicular, bursa subacromial e ligamento coracoclavicular, e motores para o músculo
supraespinal e, mais distalmente, para o infraespinal.11,13–16
É importante conhecer esses detalhes anatômicos para se obter a
interrupção dos impulsos sensoriais das estruturas envolvidas, a
fim de que o BNSE se desenvolva de forma salutar.
TÉCNICAS DESCRITAS PARA A
REALIZAÇÃO DO BNSE
Desde a sua descrição, o BNSE tem sofrido várias modificações,
tais como o local da introdução da agulha, o modo de acesso, até
o uso de aparelhos complementares para a realização do mesmo.
O acesso é dito anterior ou posterior, lateral ou medial e
superior ou inferior, levando-se em consideração o ponto de
introdução da agulha em relação às estruturas anatômicas do
ombro. Muitas técnicas têm sido propostas para os diversos
acessos. Elas podem ser diretas ou indiretas: técnica direta
é quando a agulha entra na incisura supraescapular, onde se
encontra o nervo, para introduzir o anestésico local; técnica
indireta é quando não se faz necessária a localização da incisura
supraescapular, aplicando-se o anestésico local no assoalho
da fossa supraespinal, após a passagem do nervo pela mesma
no contorno da base do processo coracoide, quando os ramos
sensitivos dirigem-se para a cápsula do ombro, para o espaço
subacromial e para a articulação acromioclavicular.
Destacamos a seguir as técnicas do BNSE descritas na
literatura, referidas pelos autores que as descreveram.
de entrada da agulha. Ela é introduzida nos sentidos medial e
inferior, até o contato com a fossa supraespinal, lateral à incisura escapular. A agulha é recuada em 1 cm e reintroduzida
medialmente até entrar a incisura. Nesse momento pode-se ter
a sensação de parestesias, o que confirma o contato com o nervo
supraescapular. Foi descrita com injeção de 5 mL de procaína 2%
associada a 5 mL de uma solução analgésica oleosa diretamente
na incisura supraescapular. Esse é um acesso direto.
Parris18
O bloqueio é realizado em um local superior (um dedo) do
ponto médio da espinha da escápula. A agulha é introduzida
1 cm até certo ponto dentro da pele. A extremidade superior
do mesmo lado do bloqueio é flexionada ao nível do cotovelo e rodada medialmente, com a mão colocada sobre o
ombro oposto. Essa manobra eleva a escápula e a afasta da
parede torácica posterior, no sentido de prevenir um possível
pneumotórax. Preconiza 10 mL de bupivacaína 0,25%. É um
acesso posterior.
Wassef14
O ponto de entrada da agulha é entre a junção da borda medial
do músculo trapézio e a borda posterior do terço lateral da clavícula. O local é acima da clavícula, onde a agulha é direcionada
em sentido caudal e posterior, com leve inclinação medial.
Utiliza-se um estimulador de nervo periférico e injetam-se
3 mL de bupivacaína 0,25% com 1:200.000 de adrenalina.
Esse é um acesso anterior (Figura 1).
CL
Wertheim e Rovenstine17
Essa foi a primeira descrição do BNSE. Os autores a utilizaram em pacientes com dor crônica do ombro, ainda que sem
diagnóstico. Eles citaram que sua realização se fez necessária
como um recurso prévio à manipulação da região afetada.
Os limites são determinados e desenhados com auxílio de um
marcador. A linha é demarcada da borda superior da base espinal
da escápula até a face medial do osso. Outra linha é marcada do
ângulo inferior da escápula em direção cefálica, atravessando
a primeira linha. Do triângulo externo superior formado pelas
linhas, tira-se uma bissetriz e 1,5 cm, determinando-se o ponto
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
ESP
CO
AC
Figura 1
Técnica de Wassef. Visão lateral do ombro, com a agulha introduzida acima da clavícula e direcionada em sentido caudal e
posterior, com leve inclinação medial.
AC: acrômio; CL: clavícula; ESP: espinha da escápula; CO: processo coracoide.
617
Fernandes et al.
Risdall e Sharwood-Smith19
A primeira linha é desenhada para dividir o comprimento
da espinha da escápula em três partes, e a segunda linha é
perpendicular à primeira na junção do terço medial e os dois
terços laterais. A agulha é direcionada para a incisura escapular, situada 1–2 cm cranial do ponto de intersecção. O nervo
supraescapular é localizado utilizando-se um estimulador de
nervo periférico. Injetam-se 10 mL de bupivacaína 0,5% com
1:200.000 de adrenalina. É um acesso medial e posterior.
Dangoisse et al.20
A agulha é introduzida 1 cm acima da metade da espinha
escapular, paralela à lâmina, até o assoalho ósseo da fossa
supraespinal ser alcançado. Parestesias não são notadas, e os
riscos de pneumotórax e lesão nervosa diminuem. Injetam-se
8 mL de bupivacaína 0,5%, associados a 80 mg de metilprednisolona. É um acesso indireto (Figura 2).
Roark21
A borda lateral da espinha da escápula é palpada como referência, e a agulha deve ser direcionada para a margem lateral
da mesma, dentro da incisura espinoglenoidea. Injetam-se
10 mL de anestésico local (não foi mencionado qual). É um
acesso inferior e lateral.
Matsumoto et al.16
Desenha-se uma linha entre o ângulo anterolateral do acrômio
e a borda medial da espinha da escápula. O ponto de introdução
é no meio dessa linha. A agulha é inclinada 30° em direção
dorsal e inserida até alcançar a base do processo coracoide. A
solução anestésica é composta de lidocaína 1% e ropivacaína
0,75% em uma mistura 1:1, injetando-se 10 mL. É um acesso
superior e posterior.
Checcucci11
Identifica-se um ponto 2 cm medial à borda medial do acrômio,
ao longo da margem superior da espinha da escápula. Daí,
marca-se uma linha paralela à coluna vertebral e calculam-se
2 cm no sentido cranial. A agulha é inserida perpendicularmente
à pele no sentido craniocaudal. Utiliza-se um estimulador de
nervo periférico com 1 mA inicial. Injetam-se 15 mL de uma
mistura de 5 mL de lidocaína 2% e 10 mL de levobupivacaína
a 0,5% (Figura 3).
Barber13
A localização é de 1 cm medial à convergência entre a espinha da escápula e a borda posterior da clavícula (portal de
Neviaser).22 A agulha é introduzida em direção ao processo
coracoide em uma profundidade entre 3–4 cm. Usa-se a agulha anteriormente até a escápula não ser mais palpável. Daí,
move-se a mesma posteriormente até sentir o osso mais uma
vez. Isso localiza a agulha na base do processo coracoide na
fossa supraespinal, por onde passa o nervo supraescapular.
Nesse ponto, injetam-se 20–25 mL de bupivacaína 0,5%. É
um acesso lateral (Figura 4).
CL
CL
AC
AC
ESP
ESP
Figura 2
Técnica de Dangoisse. Visão posterior do ombro, com a agulha
introduzida 1 cm superior da metade da espinha da escápula até
o assoalho ósseo da fossa supraespinal.
Figura 3
Técnica de Checcucci. Visão posterior do ombro, com a agulha
introduzida em um ponto 2 cm medial à borda medial do acrômio
e 2 cm da margem superior da espinha da escápula, perpendicular
à pele no sentido craniocaudal.
AC: acrômio; CL: clavícula; ESP: espinha da escápula.
AC: acrômio; CL: clavícula; ESP: espinha da escápula.
618
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
Bloqueio do nervo supraescapular: procedimento importante na prática clínica. Parte II
ESP
CL
NP
AC
AC
CL
ESP
Figura 4
Técnica de Barber. Visão anterior do ombro, com a agulha introduzida a 1 cm (portal de Neviaser), em direção ao processo
coracoide.
AC: acrômio; CL: clavícula; ESP: espinha da escápula; PN: portal de Neviaser.
Figura 5
Técnica de Meier. Visão posterior do ombro. A linha conecta a
parte lateral do acrômio e a extremidade medial da espinha da
escápula. O ponto de inserção é localizado 2 cm cranial e 2 cm
medial à metade dessa linha.
AC: acrômio; CL: clavícula; ESP: espinha da escápula.
Alam23
O ponto de inserção do cateter epidural por um angiocath é
anterior e próximo à metade da espinha da escápula. O cateter é
tunelizado por meio de uma cânula de direção posterior- anterior.
O anestésico local e o volume utilizado não são mencionados.
Dahan4
É uma modificação da técnica de Dangoisse. A agulha é
introduzida 2 cm acima da metade da espinha da escápula,
perpendicular à pele e lateral à incisura escapular. Injetam-se
10 mL de bupivacaína 0,5%, porém sem corticosteroide. É
um acesso indireto.
Meier et al.24
Identifica-se uma linha que conecta a parte lateral do acrômio
e a extremidade medial da espinha da escápula. O ponto de
inserção é localizado a 2 cm cranial e 2 cm medial à metade
dessa linha. O ângulo é de 45° no plano coronal e de 30° de
inclinação ventral. Utiliza-se um estimulador de nervo periférico e injetam-se 15 mL de mepivacaína 1% (Figura 5).
Feigl25
O ponto de introdução é no portal de Neviaser,22 atrás da articulação acromioclavicular e processo coracoide, medial ao
acrômio e anterior à borda anterior da espinha da escápula.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
Avança-se a agulha em direção posterior e medial em relação à espinha da escápula até a fossa supraespinal. O ângulo
agulha-pele é de aproximadamente 70° no plano horizontal.
É um acesso lateral.
Dessa forma, os acessos diretos são os de Wertheim17 e
Barber;13 os acessos indiretos são os de Dangoisse20 e Dahan;4 o
anterior é o de Wassef;14 os posteriores são os de Meier,24 Parris,18
Risdall,19 Alam23 e Matsumoto;16 os acessos laterais são os de
Checcucci,11 Barber13 e Feigl;25 e o acesso inferior é o de Roark.21
Deve-se destacar que os acessos diretos de Wertheim17
e Barber13 têm maior risco de desencadear lesão nervosa,
como também pneumotórax. Por outro lado, as técnicas de
Dangoisse,20 Checcucci11 e Feigl25 apresentam menor probabilidade de essas complicações ocorrerem, já que não acessam a
incisura escapular, local em que o nervo supraescapular penetra
após passar por baixo do ligamento transverso superior, além
de a introdução da agulha ser distante da direção do pulmão.
COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS À
ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS LOCAIS
Muito pouco se tem discutido sobre as complicações do BNSE
no que tange à administração dos anestésicos locais para a
realização do procedimento. Entretanto, duas complicações,
em especial, merecem destaque pela repercussão: a toxicidade
sistêmica e a lesão nervosa.
619
Fernandes et al.
Toxicidade sistêmica
O BNSE faz parte dos bloqueios de nervos periféricos e a
análise das complicações inerentes ao uso dos anestésicos
locais se faz importante. As complicações são raras, mas deve-se
considerar a ocorrência de eventos adversos que podem ser
devastadores tanto para o paciente quanto para o médico.26
Esses eventos adversos variam de leves sintomas sistêmicos, tais como agitação e paladar metálico, a alterações
auditivas que podem seguir à absorção sistêmica do anestésico
local, a partir de uma dose adequada e corretamente infundida
para eventos cardiovasculares (taquicardia, arritmia ventricular, parada cardíaca) e do sistema nervoso central (convulsão,
parada respiratória, coma), muitas vezes por uma injeção
intravascular não intencional que pode resultar em óbito.26,27
Os principais fatores que influenciam a severidade da toxicidade sistêmica dos anestésicos locais (TSAL) são os riscos
individuais do paciente, anestésico local específico e dosagem
do mesmo, e uso de medicações concomitantes.27
A TSAL continua sendo a maior fonte de morbidade e mortalidade na prática do bloqueio regional. A prevenção permanece o melhor critério para aumentar a segurança do paciente
durante o método. A combinação de vários procedimentos,
como vigilância constante, aspiração cuidadosa e mínima dose
efetiva (subtóxica), reduzem a frequência da TSAL.28 O uso
do ultrassom para observar a colocação da agulha e a infusão
do anestésico podem ser procedimentos úteis, mas também
têm sido relatados como não completamente confiáveis.29–32
A incidência da TSAL no bloqueio do nervo supraescapular é desconhecida. Em um estudo de graves complicações
em anestesia locorregional os pesquisadores identificaram
um número de sérios eventos relacionados aos bloqueios do
membro superior (3.459 bloqueios interescalênicos; 1.899
bloqueios supraclaviculares; 11.024 bloqueios do plexo axilar;
e 7.402 bloqueios médio-umerais), mas não incluíram o
BNSE, e encontraram convulsões e neuropatia periférica como
complicações.33
A descrição clínica da TSAL inclui piora progressiva dos
sinais e sintomas neurológicos após infusão dos anestésicos
locais e aumento progressivo da concentração sanguínea desse
anestésico, resultando em convulsões e coma. Em casos extremos, sinais de instabilidade hemodinâmica podem evoluir
para eventos cardiovasculares.34
O tratamento é de suporte: aplicação suplementar de oxigênio, fármacos para a atividade convulsiva e condução dos
efeitos cardiovasculares. Entretanto, quando ocorre a toxicidade, é imperativo preparar o plano de ação necessário para
salvar a vida do paciente. Cuidados respiratórios, oxigenação,
12
620
ventilação e suportes básicos de vida são importantes fatores
para o sucesso da ressucitação.26,35
A infusão lipídica deve ser considerada precocemente, e a
equipe de tratamento deve estar familiarizada com o método.27
O uso da emulsão de lipídeos em humanos para o tratamento
da TSAL foi primeiramente descrito em 2006,36 e as pesquisas
buscaram elucidar a melhor dose para a segurança do paciente
e a combinação com outros agentes de ressucitação.26
Lesão do nervo periférico
No sentido de identificar uma lesão neural, é imprescindível
conhecer a anatomia do nervo periférico. As fibras nervosas
individuais são envolvidas pelo endoneuro e organizadas
dentro de fascículos que, por sua vez, são envoltos pelo
perineuro. O epineuro é a membrana externa de toda estrutura nervosa, com estroma em seu interior e um conjunto
de fascículos.26
Importante lembrar que de proximal para distal aumenta-se
o número de fascículos, enquanto seu diâmetro diminui. Na
região do plexo braquial em localização interescalênica, os
nervos são mais sólidos e oligofasciculares, visto que quanto
mais distais são os fascículos, mais dispersos, em maior número
e com mais estroma eles se apresentam. Isso explica por quê
uma simples penetração do epineuro do nervo supraescapular
não necessariamente conduz a um dano neural.37,38
A infusão de anestésico local no perineuro está associada
à alta pressão de injeção, com subsequente lesão fascicular e
dano neurológico. Porém, a infusão dentro do epineuro se dá
com baixa pressão, com retorno da motricidade à normalidade.39 Logo, infusão intraneural fora do perineuro não invariavelmente leva a dano neurológico.40
A lesão do nervo periférico após uma anestesia locorregional é uma rara complicação que conduz a um déficit neurológico e a uma sensação de dor que pode durar por vários meses.41
Felizmente, a maioria das lesões é transiente e muitas vezes
subclínica, ou se apresenta como mononeuropatia leve.26 Um
detalhe importante é que quanto mais longo o bisel da agulha,
maior a probabilidade de lesão fascicular.42
É muito difícil obter dados consistentes sobre sua incidência, que varia de 0,02%–0,4%,33,43 considerando todos os
bloqueios de nervos periféricos. A taxa é maior para as lesões
ditas transientes, chegando a 10% nos dias subsequentes ao
bloqueio.26,44,45
O que dizer sobre incidência apenas no BNSE? Essa questão carece de uma pesquisa clínica para respondê-la, já que a
literatura conhecida não apresenta tal resposta. O que se pode
afirmar é que o acesso direto tem maior probabilidade de lesão
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
Bloqueio do nervo supraescapular: procedimento importante na prática clínica. Parte II
nervosa, pois a agulha entra necessariamente na incisura escapular, em contato com o nervo supraescapular para a realização
do procedimento.13,17,18,20
A realização da anestesia regional sob a visualização
de ultrassom, apesar de popular, não significa diminuição
na incidência e na severidade dos sintomas neurológicos
pós-operatórios.44,45 Em uma metanálise de ensaios clínicos
randomizados comparando ultrassom com neuroestimulação
na realização do bloqueio de nervo periférico, sugere-se que
outros estudos sejam necessários em relação a complicações
como TSAL e lesão neurológica persistente.46
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O BNSE é um método eficaz e seguro no tratamento da dor
em enfermidades crônicas que acometem o ombro, e tem sido
amplamente utilizado por profissionais na prática clínica, como
reumatologistas, ortopedistas, neurologistas e especialistas em
dor. A dor nessa articulação é uma queixa frequente e leva a
considerável incapacidade funcional e redução na qualidade
de vida dos pacientes acometidos. Quando bem indicado, o
BNSE deve ser considerado.
Essa terapêutica também vem sendo cada vez mais utilizada
pelos anestesiologistas para analgesia pós-operatória de cirurgias realizadas no ombro, já que a dor, muitas vezes severa,
interfere no processo de reabilitação.
É importante salientar que esse procedimento, apesar de
ter baixo custo e fácil reprodutibilidade, tem como restrições
a falta de treinamento dos profissionais da área. Esta revisão
se reportou aos diversos acessos descritos na literatura para a
realização do bloqueio com a introdução da agulha, podendo
ocorrer anterior ou posterior, lateral ou medial e superior
ou inferior. Portanto, várias são as opções para se realizar o
BNSE. Cabe ao profissional da área de saúde realizar aquele
a que melhor se adapte, pois as complicações, apesar de raras,
podem acontecer.
A infusão do anestésico local na fossa supraespinal (BNSE)
interfere com a função dos canais de sódio, impedindo a propagação dos potenciais de ação nos axônios. Na eventualidade
de ocorrer um bloqueio motor prolongado dos músculos supra
e infraespinais, inervados pelo nervo supraescapular e importantes na abdução e na rotação externa do ombro, aumenta-se
significativamente a atividade do deltoide, assim como se altera
a cinemática escapular.47–50
O presente estudo não pretende esgotar o tema, mas oferecer uma contribuição científica ao profissional da área médica
envolvido no cuidado da saúde dos pacientes com dor no
ombro, patologia que exige terapêutica específica.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Taskaynatan MA, Yilmaz B, Ozgul A, Yazicioglu K, Kalyon TA.
Suprascapular nerve block versus steroid injection for non-specific
shoulder pain. Tohoku J Exp Med 2005; 205(1):19–25.
Allen ZA, Shanahan EM, Crotty M. Does suprascapular nerve block
reduce shoulder pain following stroke: a double-blind randomised
controlled trial with masked outcome assessment. BMC Neurology
2010; 10:83.
Fernandes MR, Fernandes RJ. Artroscopia no tratamento da
tendinite calcária refratária do ombro. Rev Bras Ortop 2010;
45:53–60.
Dahan TH, Fortin L, Pelletier M, Petit M, Vadeboncoeur R, Suissa S.
Double blind randomized clinical trial examining the efficacy of
bupivacaine suprascapular nerve blocks in frozen shoulder. The
Journal of Rheumatology 2000; 27(6):1464–9.
Fredrickson MJ, Krishnan S, Chen CY. Postoperative analgesia
for shoulder surgery: a critical appraisal and review of current
techniques. Anaesthesia 2010; 65(6):608–24.
Tan N, Agnew NM, Scawn ND, Pennefather SH, Chetser M,
Russel GN. Suprascapular nerve block for ipsilateral shoulder pain
after thoracotomy with thoracic epidural analgesia: a double-blind
comparison of 0.5% bupivacaine and 0.9% saline. Anesth Analg
2002; 94(1):199–202.
Brue S, Valentin A, Forssblad M, Werner S, Mikkelsen C, Cerulli G.
Idiopathic adhesive capsulitis of the shoulder: a review. Knee Surg
Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15(8):1048–54.
Shanahan EM, Ahern M, Smith M, Wetherall M, Bresnihan B,
FitzGerald O. Suprascapular nerve block (using bupivacaine and
methylprednisolone acetate) in chronic shoulder pain. Ann Rheum
Dis 2003; 62(5):400–6.
Woolf CJ. Somatic pain – pathogenesis and prevention. Br J Anaesth
1995; 75(2):169–76.
Chambers WA. Nerve blocks in palliative care. Br J Anaesth 2008;
101(1):95–100.
Checcucci G, Allegra A, Bigazzi P, Gianesello L, Ceruso M, Gritti G.
A new technique for regional anesthesia for arthroscopic shoulder
surgery based on a suprascapular nerve block and an axillary
nerve block: an evaluation of the first results. Arthroscopy 2008;
24(6):689–96.
Fernandes MR, Barbosa MA, Lima ALS, Ramos GC. Bloqueio do
nervo supraescapular: procedimento importante na prática clínica.
Rev Bras Anestesiol 2012; 62(1):96–104.
Barber FA. Suprascapular nerve block for shoulder arthroscopy.
Arthroscopy 2005; 21(8):1015.
Wassef MR. Suprascapular nerve block. A new approach for the
management of frozen shoulder. Anaesthesia 1992; 47(2):120–4.
Vorster W, Lange CP, Briët RJ, Labuschagne BC, du Toit DF,
Muller CJ et al. The sensory branch distribution of the
suprascapular nerve: an anatomic study. J Shoulder Elbow Surg
2008; 17(3):500–2.
Matsumoto D, Suenaga N, Oizumi N, Hisada Y, Minami A. A
new nerve block procedure for the suprascapular nerve based on a
cadaveric study. J Shoulder Elbow Surg 2009; 18(4):607–11.
Wertheim HM, Rovenstine EA. Suprascapular nerve block.
Anesthesiology 1941; 2:541–5.
621
Fernandes et al.
18. Parris WC. Suprscapular nerve block: a safer technique.
Anesthesiology 1990; 72(3):580–1.
19. Risdall JE, Sharwood-Smith GH. Suprascapular nerve block. New
indications and a safer technique. Anaesthesia 1992; 47(7):626.
20. Dangoisse MJ, Wilson DJ, Glynn CJ. MRI and clinical study of
an easy and safe technique of suprascapular nerve blockade. Acta
Anaesthesiol Belg 1994; 45(2):49–54.
21. Roark GL. Suprascapular nerve block at the spinoglenoid notch. Reg
Anesth Pain Med 2003; 28(4):361–2.
22. Neviaser TJ. Arthroscopy of the shoulder. Orthop Clin North
Am 1987; 18(3):361–72.
23. Alam S. Suprascapular nerve block. Reg Anesth 1996; 21(4):371–3.
24. Meier G, Bauereis C, Maurer H. The modified technique of
continuous suprascapular nerve block. A safe technique in the
treatment of shoulder pain. Anaesthesist 2002; 51(9):747–53.
25. Feigl GC, Anderhuber F, Dorn C, Pipam W, Rosmarin W, Likar R.
Modified lateral block of the suprascapular nerve: a safe approach
and how much to inject? A morphological study. Reg Anesth Pain
Med 2007; 32(6):488–94.
26. Jeng CL, Torrillo TM, Rosenblatt MA. Complications of peripheral
nerve blocks. Br J Anaesth 2010; 105(Suppl. 1):i97–107.
27. Neal JM, Bernards CM, Butterworth JF 4th, Di Gregorio G, Drasner K,
Hejtmanek MR et al. ASRA practice advisory on local anesthetic
systemic toxicity. Reg Anesth Pain Med 2010; 35(2):152–61.
28. Mulroy MF, Hejtmanek MR. Prevention of local anesthetic systemic
toxicity. Reg Anesth Pain Med 2010; 35(2):177–80.
29. Bigeleisen PE. Nerve puncture and apparent intraneural injection
during ultrasound-guided axillary block does not invariably result
in neurologic injury. Anesthesiology 2006; 105(4):779–83.
30. 30. Russon K, Blanco R. Accidental intraneural injection into the
musculocutaneous nerve visualized with ultrasound. Anesth Analg
2007; 105(5):1504–5.
31. Antonakakis JG, Scalzo DC, Jorgenson AS, Figg KK, Ting P, Zuo Z
et al. Ultrasound does not improve the success rate of a deep peroneal
nerve block at the ankle. Reg Anesth Pain Med 2010; 35(2):217–21.
32. Schafhalter-Zoppoth I, Zeitz ID, Gray AT. Inadvertent femoral nerve
impalement and intraneural injection visualized by ultrasound.
Anesth Analg 2004; 99(2):627–8.
33. Auroy Y, Benhamou D, Bargues L, Ecoffey C, Falissard B, Mercier F et al.
Major complications of regional anesthesia in France: The SOS Regional
Anesthesia Hotline Service. Anesthesiology 2002; 97(5):1274–80.
34. Di Gregorio G, Neal JM, Rosenquist RW, Weinberg GL. Clinical
presentation of local anesthetic systemic toxicity: a review of published
cases, 1979 to 2009. Reg Anesth Pain Med 2010; 35(2):181–7.
35. Weinberg GL. Treatment of local anesthetic systemic toxicity
(LAST). Reg Anesth Pain Med 2010; 35(2):188–93.
36. Rosenblatt MA, Abel M, Fischer GW, Itzkovich CJ, Eisenkraft JB.
Successful use of a 20% lipid emulsion to resuscitate a patient after
a presumed bupivacaine-related cardiac arrest. Anesthesiology 2006;
105(1):217–8.
622
37. Bonnel F. Microscopic anatomy of the adult human brachial plexus:
an anatomical and histological basis for microsurgery. Microsurgery
1984; 5(3):107–18.
38. Moayeri N, Bigeleisen PE, Groen GJ. Quantitative architecture
of the brachial plexus and surrounding compartments, and their
possible significance for plexus blocks. Anesthesiology 2008;
108(2):299–304.
39. Hadzic A, Dilberovic F, Shah S, Kulenovic A, Kapur E, Zaciragic A
et al. Combination of intraneural injection and high injection pressure
leads to fascicular injury and neurologic deficits in dogs. Reg Anesth
Pain Med 2004; 29(5):417–23.
40. Iohom G, Lan GB, Diarra DP, Grignon Y, Kinirons BP, Girard F et al.
Long-term evaluation of motor function following intraneural
injection of ropivacaine using walking track analysis in rats. Br J
Anaesth 2005; 94(4):524–9.
41. Borgeat A, Blumenthal S. Nerve injury and regional anaesthesia.
Curr Opin Anaesthesiol 2004; 17(5):417–21.
42. Macías G, Razza F, Peretti GM, Papini Zorli I. Nervous lesions as
neurologic complications in regional anaesthesiologic block: an
experimental model. Chir Organi Mov 2000; 85(3):265–71.
43. Borgeat A, Ekatodramis G, Kalberer F, Benz C. Acute and
nonacute complications associated with interscalene block and
shoulder surgery: a prospective study. Anesthesiology 2001;
95(4):875–80.
44. Liu SS, Zayas VM, Gordon MA, Beathe JC, Maalouf DB, Paroli L
et al. A prospective, randomized, controlled trial comparing
ultrasound versus nerve stimulator guidance for interscalene block
for ambulatory shoulder surgery for postoperative neurological
symptoms. Anesth Analg 2009; 109(1):265–71.
45. Fredrickson MJ, Kilfoyle DH. Neurological complication analysis
of 1000 ultrasound guided peripheral nerve blocks for elective
orthopaedic surgery: a prospective study. Anaesthesia 2009;
64(8):836–44.
46. Abrahams MS, Aziz MF, Fu RF, Horn JL. Ultrasound guidance
compared with electrical neurostimulation for peripheral nerve block:
a systematic review and meta-analysis of randomized controlled
trials. Br J Anaesth 2009; 102(3):408–17.
47. McCully SP, Suprak DN, Kosek P, Karduna AR. Suprascapular
nerve block disrupts the normal pattern of scapular kinematics. Clin
Biomech (Bristol, Avon) 2006; 21(6):545–53.
48. McCully SP, Suprak DN, Kosek P, Karduna AR. Suprascapular nerve
block results in a compensatory increase in deltoid muscle activity.
J Biomech 2007; 40(8):1839–46.
49. Nam YS, Jeong JJ, Han SH, Park SE, Lee SM, Kwon MJ et al. An
anatomic and clinical study of the suprascapular and axillary nerve
blocks for shoulder arthroscopy. J Shoulder Elbow Surg 2011;
20(7):1061–8.
50. Fernandes MR, Fernandes RJ. Descompressão artroscópica indireta
do cisto espinoglenoidal com neuropatia do supraescapular:
relato de dois casos e revisão da literatura. Rev Bras Ortop 2010;
45:306–11.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):610-622
ARTIGO DE REVISÃO
Artrite psoriásica: entidade clínica
distinta da psoríase?
Danilo Garcia Ruiz1, Mário Newton Leitão de Azevedo2, Omar Lupi da Rosa Santos3
RESUMO
Psoríase e artrite psoriásica são entidades clínicas complexas e heterogêneas que podem apresentar-se por meio de múltiplas
combinações entre seus subtipos; há dúvidas, inclusive, se são entidades distintas ou apenas variantes de uma mesma
doença. Epidemiologicamente, a psoríase pode ser considerada doença comum, por afetar cerca de 2% da população
mundial. Em relação à artrite psoriásica, não há consenso na literatura atual sobre suas reais incidência e prevalência
na população geral. Fatores genéticos, imunológicos e ambientais interagem entre si até culminarem nas manifestações
clínicas cutâneas e articulares da doença psoriásica. Atualmente, é reconhecido o papel central do linfócito T ativado na
patogenia tanto da psoríase quanto da artrite psoriásica. Além disso, citocinas pró-inflamatórias podem ser encontradas
em concentrações aumentadas tanto na sinóvia quanto na pele de portadores de artrite psoriásica. Desde 1964, quando
a relação entre psoríase e artrite psoriásica foi reconhecida oficialmente, muitos estudos foram conduzidos na tentativa
de melhor compreender o mecanismo em comum das duas doenças. O antígeno leucocitário humano já foi considerado
o centro da imunopatogenicidade psoriásica – hoje, o fator de necrose tumoral alfa exerce tal papel. Trata-se, portanto,
da revisão de variados fatores que associam psoríase e artrite psoriásica e que convergem para a hipótese de se tratar de
doença única com múltiplas apresentações, dentre elas a artropatia característica.
Palavras-chave: psoríase, artrite psoriásica, inter-relação.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A psoríase é uma afecção cutânea inflamatória poligênica com
fatores desencadeantes como traumas, infecções e medicações
que podem levar a diferentes manifestações clínicas em indivíduos predispostos. O fenótipo representado em 90% dos casos
caracteriza-se pela presença de placas eritematosas e descamativas de bordos bem definidos que atingem principalmente
áreas de extensão de membros como joelhos e cotovelos.1
Uma de suas variadas formas de apresentação clínica é a
psoríase artropática. Pela Reumatologia, é denominada artrite
psoriásica (AP) e pode ser definida como doença inflamatória
crônica das articulações sinoviais associada à psoríase, usualmente negativa para o fator reumatoide (FR).2 Encontra-se
atualmente classificada no grupo das espondiloartrites, doenças que compartilham, além da negatividade para o FR,
manifestações clínicas como artrite de articulações periféricas
e do esqueleto axial e entesite.3 Psoríase e AP são entidades
complexas e heterogêneas que podem apresentar-se em torno
de múltiplas combinações entre seus subtipos; há dúvidas,
inclusive, se são entidades distintas ou apenas variantes de
uma mesma doença.4
HISTÓRICO
Embora em papiros egípcios estejam descritas diversas doenças
cutâneas, não há registros de lesões semelhantes à psoríase.
Ainda na História Antiga, Hipócrates (460–377 a.C.) descreveu
Recebido em 10/08/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. DGR é Mestre pelo programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da UFRJ e foi bolsista do
CNPq. Os demais autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
1. Reumatologista, Mestre em Clínica Médica, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Professor de Medicina, Instituto Tocantinense Presidente Antônio
Carlos - ITPAC
2. Doutor; Professor-Associado da Faculdade de Medicina, UFRJ
3. Professor Adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Uni-Rio; Docente Permanente do Curso de Pós-Graduação em Clínica Médica,
UFRJ; Professor Titular do Curso de Pós-graduação Médica, Instituto Carlos Chagas
Correspondência para: Danilo Garcia Ruiz. Quadra 405 sul, Alameda 5, Residencial Ouro Preto, apto. 236-A - Plano Diretor Sul. Palmas, TO, Brasil.
CEP: 77015-640. E-mail: [email protected]
630
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
Artrite psoriásica: entidade clínica distinta da psoríase?
meticulosamente diversas lesões e, em sua classificação,
erupções descamativas e secas foram agrupadas em conjunto
sob o termo “lopoi”. Tal fato, acredita-se, foi o precursor do
agrupamento de lepra e psoríase com a consequente rejeição
de pacientes psoriásicos em suas comunidades, como descrito
no Antigo Testamento.
A confusão entre lepra e psoríase permaneceu por séculos.
Muitos pacientes psoriásicos, diagnosticados como leprosos,
receberam as mesmas modalidades de tratamento que incluíam
isolamento social, declaração pela igreja como oficialmente
mortos e, ainda, em 1313, ordens de Philip de Fair para serem
queimados em estacas.5
Foi somente no século XIX que a psoríase passou a ser
mais bem estudada e entendida como uma entidade clínica
distinta da hanseníase. Em 1809, Robert Willan, dermatologista
britânico, foi o primeiro a oferecer uma descrição detalhada da
psoríase e a propor o termo psoriasis (em inglês).1 Em 1841
a psoríase foi definitivamente separada da hanseníase por
Ferdinand von Hebra.5 A primeira associação entre psoríase e
artrite deu-se em 1818, pelas descrições de Alibert. Foi Bazin,
no entanto, quem primeiro referiu-se à doença, empregando
o termo “psoríase artrítica” em 1860; Bourdillon, em 1888,
forneceu descrições mais detalhadas da doença.6
Mesmo sendo conhecida desde as primeiras décadas do século
XIX, apenas nos anos 1950 ela passou a ser mais bem estudada,
quando Verna Wright notou a associação de psoríase com artrite
erosiva e baixa frequência de FR. Em 1959, o mesmo Wright
propôs o termo “artrite psoriásica”, e em 1964 o American College
of Rheumatology (naquela época ainda sob o nome de American
Rheumatism Association) a classificou pela primeira vez como
uma entidade clínica distinta da artrite reumatoide (AR).7
EPIDEMIOLOGIA
A psoríase, de acordo com a maioria dos estudos, afeta cerca
de 2% da população mundial, mas sua prevalência pode variar
de 0%–11,8%, dependendo da amostra estudada e dos métodos
de análise populacional.8 Asiáticos e populações indígenas
parecem ser as populações com menor prevalência.
Um estudo com mais de 5 milhões de chineses revelou
prevalência de 0,2%,9 e outro estudo não constatou nenhum
caso de psoríase entre quase 26.000 índios nativos do território
brasileiro.10 As maiores prevalências estão concentradas nos
povos nórdicos, como os 4,8% observados na Noruega.8 Em
relação à incidência, poucos foram os estudos conduzidos.
A incidência estimada de psoríase nos Estados Unidos é de
60,4:100.000 pessoas/ano, e no Reino Unido é de 140:100.000
pessoas/ano.11
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
Mesmo considerando variações de desenho epidemiológico, trata-se de uma doença comum, de distribuição universal
e que acomete em iguais proporções homens e mulheres.
Pode manifestar-se em qualquer idade, mas está dividida
atualmente em dois picos etários de incidência: o primeiro
com início entre 20 e 30 anos de idade (psoríase tipo 1), e
o segundo entre 50 e 60 (psoríase tipo 2).8 Em aproximadamente 75% dos casos a doença tem início antes dos 40
anos e, embora surja mais precocemente em mulheres, sua
história natural é semelhante em ambos os gêneros, caracterizada por curso crônico intermitente com remissões que
podem durar de 1 a 54 anos.5 Não há consenso na literatura
atual em relação às reais incidência e prevalência de AP
na população geral, uma vez que poucos foram os estudos
conduzidos com essa intenção.
Estima-se uma prevalência global de 0,04%–0,1%, mas
esse número pode estar subestimado.3 Nos Estados Unidos,
sua prevalência está estimada em 0,25% da população geral.12
A prevalência de queixas articulares, no entanto, pode ser tão
alta quanto os 90% observados por Gisondi em seu estudo
conduzido com 936 pacientes hospitalizados com psoríase.13
Uma síntese de alguns dos principais estudos de prevalência
e incidência de AP está apresentada na Tabela 1.
Na África subsaariana, a prevalência de AP é afetada devido
aos altos índices de infecção pelo vírus da imunodeficiência
humana (HIV). Historicamente, as artropatias soronegativas
sempre foram incomuns nessa região devido à baixa prevalência de HLA-B27, cuja presença é maior em populações caucasianas. Entretanto, um estudo conduzido na Zâmbia constatou
que hoje as espondiloartrites são a forma mais comum de artrite
naquela população (180/100.000 entre HIV positivos contra
15/100.000 da população geral).14
Estudo subsequente na mesma região revelou que 96% dos
pacientes com AP eram HIV positivos, contra 30% da população
geral.15 Na América do Norte, tal número fica entre 0,4%–2%.6
Tabela 1
Incidência e prevalência de artrite psoriásica
Autor
Ano
Local
Prevalência
Lomholt
1963
Ilhas Faroé
0,04%
Alamanos
2003
Grécia
0,06%
Shbeeb
2000
EUA
0,1%
Autor
Ano
Local
Incidência
Shbeeb
2000
EUA
6/100.000
Alamanos
2003
Grécia
2,9–3,1/100.000
Soderlin
2002
Suécia
8/100.000
Nota: adaptado de Bruce, 2008.6
631
Ruiz et al.
Em relação aos portadores de psoríase que desenvolvem
artrite, os números variam de 5% a 42%.16 Um amplo e recente
estudo epidemiológico alemão confirmou o diagnóstico de AP
em 20,6% de 1.511 pacientes com psoríase.17 Esse número (em
torno de 20%) é o mais aceito atualmente para ocorrência de
artrite em portadores de psoríase.
Ao contrário da AR, que tem predileção pela população
feminina, a AP afeta em proporções semelhantes homens e
mulheres (1:1), e a idade média de início da doença é entre
30 e 55 anos.6
IMPACTOS
A psoríase pode ser estigmatizante e afetar negativamente a
qualidade de vida de seus portadores.18 Seus sintomas físicos
são fonte de estresse e de piora da qualidade de vida, uma vez
que 76% dos pacientes sentem descamação e prurido a todo
tempo. Apesar disso, a gravidade clínica da doença aferida por
médicos não está associada estatisticamente a nenhuma das
crenças dos pacientes acerca de seus sintomas, o que reitera a
importância do fator subjetivo no curso da doença.19 A presença
significativa de outras comorbidades, como doença de Crohn,
diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica e transtornos do
humor, também contribui para essa sensação de desconforto
psicossocial e tendência ao isolamento.1
O impacto da psoríase também pode ser observado sob o
ponto de vista econômico. Nos Estados Unidos, aproximadamente 56 milhões de horas de trabalho são perdidas por
portadores da doença, e até 3,2 bilhões de dólares são gastos
por ano em seu tratamento.20
GENÉTICA E FATORES DESENCADEANTES
Fatores genéticos, imunológicos e ambientais interagem entre
si até culminar nas manifestações clínicas cutâneas e articulares
da doença psoriásica. Acredita-se que sua transmissão seja
multifatorial, possivelmente com traço poligênico e sabidamente com importante agregação familiar.21 Quando ambos
os pais apresentam psoríase, a chance de o filho também a
desenvolver é de 41%.22 Se somente o pai ou a mãe possui a
doença, a chance de transmissão é de 14%; quando há um irmão
afetado, a chance é de 6%, e apenas 2% quando não há história
na família.23 Entre irmãos gêmeos, a incidência de psoríase é
de 65% para os monozigóticos e de 30% para os dizigóticos.20
Atualmente, sabe-se que tal predisposição genética se dá
pela presença de antígenos leucocitários humanos (HLA). Em
relação à psoríase, diversos HLA podem estar associados, como
HLA-B13, HLA-B17, HLA-B37, HLA-Bw16, HLA-Bw57 e
632
HLA-DR7. O HLA-Cw6 é, no entanto, o mais importante.18,20
A presença do HLA-Cw6 em populações caucasianas confere
um risco relativo de 13 vezes de se desenvolver psoríase, e em
japoneses esse risco é de de 25 vezes.5
Um locus estudado foi o complexo de histocompatibilidade
maior (MHC) classe I associado ao gene A (MICA), comparando psoríase e AP com controles saudáveis. Os resultados
mostraram que o polimorfismo MICA-A9 (correspondente ao
alelo MICA-002) estava aumentado somente em AP, enquanto
o alelo Cw*0602 estava significativamente aumentado em
ambas (psoríase e artrite). O alelo MICA-002, portanto, pode
ser um possível candidato ao desenvolvimento de AP.24
Há associação descrita de HLA-B27 com psoríase pustulosa
e acrodermatite, HLA-B13 com psoríase guttata e frequências
aumentadas de HLA-B17 em pacientes com psoríase tipo
eritrodérmica.5
Apesar de nem sempre se reconhecer precisamente o
evento desencadeador da doença, um “gatilho” ambiental em
um indivíduo predisposto pode ser determinante, pois além do
fator genético, elementos ambientais e imunológicos interagem
para o surgimento da doença.25
Fatores externos que atuam diretamente sobre a pele podem desencadear psoríase. Prova disso é a reação positiva ao
fenômeno de Köebner em 25% dos pacientes psoriásicos. A
positividade para tal fenômeno sugere que a psoríase seja uma
doença sistêmica que pode desenvolver-se localmente a partir
de um evento traumático em um segmento corporal específico.5 As infecções, tanto bacterianas quanto virais, devem ser
lembradas como importantes fatores sistêmicos ambientais
que podem estar relacionados à indução e ao agravamento da
psoríase. As infecções por estreptococos do grupo A têm sido
associadas ao desenvolvimento de psoríase guttata, e o RNA
ribossômico dessa espécie tem sido detectado no sangue e no
líquido sinovial de pacientes com AP.3 Apesar disso, mesmo
sendo aceita a imunorreatividade ao antígeno estreptocócico,
ainda não está claro se a infecção desencadeia AP ou se a quebra
da barreira cutânea pela psoríase conduz a uma exposição ao
microrganismo e, consequentemente, a uma forma de artrite
reativa.26
Em populações soropositivas para o HIV, as manifestações clínicas da doença cutânea tendem a ser mais graves e
exuberantes.27 Em relação à forma artropática, pacientes HIV
positivo têm um curso variável, porém, na maioria dos casos
tendem a apresentar erosões e deformidades precoces, com
evolução progressiva e refratariedade à terapia convencional.28
Diversas drogas têm sido implicadas como indutoras de
psoríase, sendo importante destacar o carbonato de lítio, o interferon, os β-bloqueadores e os antimaláricos como principais.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
Artrite psoriásica: entidade clínica distinta da psoríase?
Retiradas rápidas de corticoides sistêmicos também podem
estar associadas tanto com a indução de psoríase pustulosa
quanto com a piora da psoríase em placas. Outras medicações
possivelmente associadas, mas com impacto clínico menos
contundente, são os inibidores da enzima conversão de angiotensina e os anti-inflamatórios inibidores da COX-1.25
Também estão descritos como fatores ambientais e sistêmicos associados à psoríase o consumo aumentado de álcool, o
tabagismo e a obesidade. Tais elementos, no entanto, não possuem ainda mecanismos patológicos plenamente elucidados.5
A frequência aumentada de AP em pacientes com psoríase
grave tem sido argumento para associar estresse psicológico,
envolvimento cutâneo e articular.29 Um possível papel do
estresse psicológico tem sido proposto, mas a real patogênese
permanece desconhecida.30
Vacinação para rubéola, úlceras orais recorrentes, mudança
de domicílio, ferimentos que necessitam cuidado médico e
fraturas ósseas também foram descritos como fatores associados ao desenvolvimento de artrite em pacientes com psoríase.
Estudo subsequentes, no entanto, são necessários para verificar
essas informações e examinar os mecanismos imunológicos
envolvidos.31
PATOGÊNESE
A patogenia da AP é complexa e ainda não foi plenamente
desvendada. Atualmente se reconhece o papel central do linfócito T ativado na patogenia tanto da psoríase quanto da AP.
Devido às suas características macroscópicas e por ser uma
doença eminentemente epidérmica, sempre se acreditou que o
defeito bioquímico ou celular principal residisse unicamente
no queratinócito. A patogenia central da psoríase está, sim,
relacionada a uma diferenciação e proliferação anormal dos
queratinócitos, mas há aspectos celulares, citocinas, quimiocinas e elementos da resposta imune inata e adaptativa, hoje
sabidamente envolvidos em sua patogenia.20
O foco das pesquisas e o consequente melhor entendimento
de sua fisiopatologia mudaram quando se notou melhora de
pacientes, diagnosticados com psoríase, que faziam uso de
ciclosporina para evitar a rejeição de órgãos transplantados.32
Essa medicação é inibidora da transcrição do RNA mensageiro
para a produção de diversas citocinas dos linfócitos T, cuja
ativação via IL-2 leva à produção de fator de necrose tumoral
alfa (TNF-α) e à perpetuação da cascata inflamatória. Em vista
disso, alguma atenção por parte da comunidade científica tem
sido dada em direção a considerar a psoríase como doença
autoimune, apesar de nenhum verdadeiro autoantígeno ter sido
identificado até então.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
Células do sistema imune inato como queratinócitos, células dendríticas, neutrófilos, monócitos/macrófagos e células
natural killer (NK) estão envolvidas no evento inflamatório
da articulação psoriásica. A quebra da integridade e de função
do queratinócito pode promover uma resposta inflamatória
por mecanismos que envolvem a ativação de linfócitos T e
sinalização via TNF-α.33
Citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1 podem
ser vistas em concentrações aumentadas na sinóvia e na pele
de portadores de AP, bem como podem ser responsabilizadas
diretamente pelo aumento de fatores locais de crescimento e
pelas alterações vasculares da doença, como espessamento
capilar e infiltrados inflamatórios periarticulares.5 Biópsias
de tecido ósseo de articulações psoriásicas demonstraram
grandes osteoclastos multinucleados em reabsorção profunda na junção osso-pannus. Há regulação para mais do
RANK-L e diminuição da expressão da osteoprotegerina
(OPG). 5 O tratamento com agentes anti-TNF-α diminui
drasticamente os níveis de precursores de osteoclastos
circulantes, o que evidencia o papel central dessa citocina
também em relação à desregulação do remodelamento
ósseo na AP.34
Circundando a patologia óssea e sinovial está o papel vascular, cujas alterações morfológicas são diferentes das observadas
na AR. Na AP, hiperplasia e hipertrofia de sinoviócitos são
mínimas, enquanto as paredes de capilares e pequenas artérias
demonstram importante espessamento e infiltrado inflamatório
perivascular.5
Esse padrão vascular específico e as altas concentrações de
fatores de crescimento (TGF-β, VEGF, PDGF) sugerem que a
angiogênese e a função vascular alterada têm importante função
no início do processo inflamatório, tanto na pele quanto nas
articulações,26 fato esse que fortalece a teoria de uma doença
sistêmica única.
CLASSIFICAÇÃO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Inúmeras foram as tentativas de se classificar a AP, mas
esbarra-se nas dificuldades naturais de se estudar uma doença
complexa e heterogênea, que por vezes se assemelha à AR, e
por outras à espondilite anquilosante, ou ainda, assume características próprias.35
Moll e Wright,2 quando classificaram a doença pela primeira vez, em 1973, utilizaram apenas três elementos: artrite
inflamatória, presença de psoríase e ausência de FR. Com o
passar do tempo, acompanhado de melhor entendimento das
características da doença, houve, pelo menos, outras cinco
tentativas de classificação. Ao longo dos anos foram acrescidos
633
Ruiz et al.
Tabela 2
Autores e grupos que propuseram classificações para artrite psoriásica e principais características de seus estudos
Autor(es)/Grupo
Ano
Principais características
Moll; Wright
1973
Artrite, psoríase, fator reumatoide negativo
Bennet
1979
Considera dactilite, exclui nódulos subcutâneos e infecções
Vasey; Espinoza
1984
Lesões radiológicas específicas (“pencil in cup”)
ESSG
1991
Dor vertebral de ritmo inflamatório
Considera pela primeira vez a história familiar de psoríase
McGonagle; Canaghan; Emery
1999
Entesite
Associação com outras artropatias [SAPHO, osteomielite crônica multifocal recidivante (CRMO)]
Fournié
1999
Dor em nádegas, calcanhares, parede torácica anterior
Valoriza a presença de HLA
Nota: adaptado de Helliwell e Taylor, 2005.35
ESSG: European Spondyloarthropathy Study Group; CMRO: Chronic Multifocal Recurrent Osteomyelitis.
elementos como dactilite, alterações radiológicas, história
familiar, entesite e presença de HLA.
A Tabela 2 apresenta os autores/grupos que trabalharam
na tentativa de organizar o conhecimento acerca da AP e traz
as principais características acrescidas em relação aos estudos
anteriores.
Para fins diagnósticos e padronização visando aos estudos
clínicos, a classificação mais atual é a CASPAR de 2006 (do
inglês, Classification Criteria for Psoriatic Arthritis). Nessa
classificação, a presença de artrite é imprescindível. Psoríase
atual contabiliza dois pontos, e cada um dos itens seguintes
contabilizam um ponto: história prévia de psoríase, história
familiar de psoríase, distrofia ungueal, FR negativo, dactilite e/
ou lesões radiológicas típicas em mãos e pés. São classificados
como portadores de AP os pacientes que somam três ou mais
pontos associados à presença de artrite.36
No entanto, a classificação de Moll e Wright de 1973 para
AP continua sendo a mais tradicional e, mesmo com suas
limitações, ainda é muito utilizada. A doença é subdivida em
relação ao padrão de envolvimento articular em artrite predominante de articulações interfalangeanas distais, oligoartrite
assimétrica, poliartrite simétrica, espondiloartropatia e artrite
mutilante2 (Figura 1).
Vale lembrar que a AP é uma doença inflamatória crônica
e dinâmica, o que na prática significa que um mesmo paciente
pode migrar de um subtipo para outro, ou acumular padrões de
envolvimento. O tempo de duração da doença e o momento em
que ela é analisada em determinado paciente podem interferir
em sua classificação diagnóstica e na contagem de articulações
acometidas, que tende a ser mono ou oligoarticular no começo,
e poliarticular em estágios mais avançados.6
De modo geral, as lesões de pele costumam surgir antes
da artrite em 75% dos casos. O início simultâneo da doença
634
Figura 1
Artrite psoriásica forma espondilítica. Observar a retificação
da coluna lombar e a acentuação da cifose dorsal, além das
lesões eritematosas da psoríase.
cutâneo-articular ocorre em 10% dos pacientes, e a artrite
precede as lesões de pele nos outros 15%.25
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
Artrite psoriásica: entidade clínica distinta da psoríase?
Apesar de a lesão crônica em placas ser a forma mais
comum de psoríase, a doença pode apresentar-se em um amplo espectro de manifestações cutâneas. Pode haver, ainda,
diferentes variantes coexistindo em um mesmo paciente, mas
todas as formas exibem três características em comum: eritema,
espessamento e descamação.5
Há também que se considerar as variações individuais, os medicamentos em uso, o meio que está inserido
o doente e, aliado a isso, suas características genéticas e
epidemiológicas.37
As lesões inflamatórias da psoríase geralmente são crônicas
e recidivantes, embora também possam ter início súbito. Tais
lesões podem ser classificadas de acordo com sua morfologia,
distribuição e presença ou ausência de pústulas. Os principais
subtipos são: psoríase vulgar (Figura 2), psoríase guttata,
eritrodérmica, pustulosa e invertida.38
A doença pustulosa palmoplantar tem sido comumente associada a lesões ósseas inflamatórias, recebendo a denominação
de síndrome SAPHO (sinovite, acne, pustulose, hiperostose
e osteíte).5
Lesões ungueais são muito comuns e podem, inclusive,
ajudar a diferençar a AP inicial da AR. Ocorrem em 40%–45%
dos pacientes com psoríase não complicada por artrite, e podem
chegar a 87% dos pacientes com AP.39
A mucosa oral também pode ser acometida sob a forma de
lesões eritematosas anulares migratórias (annulus migrans), e
a língua é o local mais comum. A região genital é acometida
em cerca de 30% dos casos.5
A
B
Figura 2
Psoríase em placas. A: Acometimento em dorso. B: Placas
eritematodescamativas localizadas em mama esquerda.
Fonte: Lima 2010, tese de doutorado.52
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES
Além das manifestações articulares propriamente ditas, a AP
também pode cursar com o envolvimento de outros órgãos e
sistemas, como dactilite, entesite, edema periférico, inflamações oculares, ulcerações orais, uretrite, doença da válvula
aórtica e distrofia ungueal.3 Inflamação intestinal subclínica foi
observada por meio de ileocolonoscopia em 16% dos pacientes
com AP, mas esses achados limitaram-se aos pacientes com
doença oligoarticular ou axial.40
O aparelho ungueal deve ser abordado como apêndice do
sistema musculoesquelético, e não somente da pele, tendo em
vista que ele tem íntimas relações anatômicas e funcionais
com as falanges distais e os tendões extensores dos dedos. A
associação de artrite de articulações interfalangeanas distais
com distrofia ungueal, portanto, não é apenas uma coincidência
anatômica.41
Cabe ressaltar ainda que a distrofia ungueal, as lesões
psoriásicas de couro cabeludo e da região interglútea/perianal
são aquelas associadas a maior probabilidade de desenvolvimento de AP.42
DOENÇAS DISTINTAS?
Há doenças sistêmicas que cursam com manifestações cutâneas e articulares, como o lúpus eritematoso sistêmico. Há
doenças predominantemente cutâneas, que podem apresentar
manifestações sistêmicas e articulares, como a síndrome de
Sweet.43 À parte disso, há a psoríase, que pode apresentar-se
com lesões quase imperceptíveis nos leitos ungueais e na fenda
interglútea ou atingir a totalidade da superfície corporal, no
caso do tipo eritrodérmica. Além disso, o acometimento articular da psoríase pode ser tanto mínimo quanto poliarticular,
grave e deformante.
Desde que a relação entre psoríase e AP foi reconhecida oficialmente, em 1964, pela American Rheumatism Association,7
muitos estudos foram conduzidos na tentativa de melhor
compreender o mecanismo em comum das duas doenças.35
Em relação à imunogenicidade das espondiloartrites,
sabe-se da associação positiva entre a presença de HLA-B27
e o desenvolvimento de doenças desse grupo, em especial da
espondilite anquilosante, na qual a positividade de tal antígeno
leucocitário é de 90%–95%. Com base em tal modelo, acreditava-se que esse HLA estaria relacionado apenas à espondilite
e a outras doenças axiais.44 No entanto, em 1977, Eastmond
e Woodrow45 descreveram um grupo de pacientes em que a
presença do HLA-B27 aumentava o risco de o paciente com
psoríase desenvolver não só doença axial, mas também artrite
635
Ruiz et al.
GALT
ÓRGÃOS
INTERNOS
ARTICULAÇÕES
▼
▼
HLA
ARTICULAÇÕES
▼
▼
PELE
▼
▼
AMBIENTE
AM
BI
EN
TE
TNF
▼
A
HL
PELE
Figura 3
Modelo patogênico proposto por Raffaele Scarpa em 1999 tendo o HLA no papel central (à esquerda)
e revisão do modelo proposto pelo próprio Scarpa em 2006 (à direita).
Fonte: Adaptado de Scarpa 199949 e 2006.4
periférica, incluindo artrite de interfalangeanas distais. Com
isso, esses pesquisadores britânicos deram os primeiros passos
no sentido de um melhor entendimento do papel imunogenético
na relação entre psoríase e AP.
Outro elemento que conta a favor da ligação entre as
duas doenças é o envolvimento ungueal associado à artrite. Em 1984, Scarpa et al. 46 observaram que alterações
ungueais estavam presentes em 63% dos pacientes com
AP, ao contrário dos 37% de pacientes com psoríase sem
artrite. Além disso, nos pacientes em que a artrite precedeu o surgimento das lesões cutâneas, em 88% dos casos
as alterações ungueais antecederam as lesões psoriásicas
propriamente ditas.46
A associação entre unha psoriásica e artrite também
foi observada por Jones et al. 47 em 1994 e, recentemente,
McGonagle48 tem publicado artigos para nos lembrar que
“embora a unha esteja embrionariamente relacionada à
pele e tradicionalmente seja vista como uma modificação
cutânea especializada, na verdade está funcionalmente
integrada ao sistema musculoesquelético, ancorada ao
osso pela entese”.
Assim, o fato de a inflamação da entese do tendão extensor
frequentemente envolver o leito ungueal nos remete a entender
a artrite de uma articulação interfalangeana distal e a distrofia
ungueal de um mesmo dedo como um processo único, e não
doenças distintas da pele e das articulações.
636
Na década de 1990, Scarpa49 acreditava que o HLA era
responsável pela expressão clínica multissistêmica da psoríase,
ocupando o centro de um modelo teórico que envolvia pele,
articulações e o tecido linfoide GALT.
Hoje é sabido que, além de haver mais de um tipo de HLA
envolvido na patogênese da psoríase, há outros elementos
moleculares importantes envolvidos. Um desses elementos é
o TNF-α, citocina capaz de participar da cascata inflamatória
ativando tanto queratinócitos epidérmicos quanto células
endoteliais e sinoviócitos. O próprio Scarpa, então, modifica
seu modelo hipotético e coloca o TNF-α no centro do mesmo,
circundando-o por elementos ambientais e intrínsecos, dentre
os quais, o HLA (Figura 3).4
O acúmulo histórico de conhecimento e o consequente
melhor entendimento no mecanismo patogênico da AP levou
Scarpa à seguinte indagação: “Psoríase, artrite psoriásica ou
doença psoriásica?”.4 Ele pressupõe estarmos diante de uma
mesma doença, fundamentado em achados que comprovam a
existência de um processo inflamatório cutâneo, sinovial e até
mesmo intestinal interligado.50
Corroboraram tal hipótese de doença única os estudos que
demonstram a importância da entesite para o diagnóstico de
inflamação sistêmica. Girolomoni e Gisondi demonstraram que
existe entesopatia subdiagnosticada comprovada por ultrassonografia em pacientes com psoríase, sugerindo, assim, que a
doença é multissistêmica e não se restringe à pele.51
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
Artrite psoriásica: entidade clínica distinta da psoríase?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Dermatologia classifica e subdivide a psoríase como doença
sistêmica com diversas possibilidades de manifestações clínicas.
Uma delas é a chamada psoríase artropática, havendo inclusive
um número específico para tal na atual Classificação Internacional
de Doenças, distinto daquele utilizado pela Reumatologia.
Diante do exposto, os autores acreditam que é necessário
abordar a AP como uma das diversas e possíveis formas de
apresentação clínica dentro de um amplo universo espectral
chamado psoríase.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Griffiths CEM, Barker JN. Pathogenesis and clinical features of
psoriasis. Lancet 2007; 370(9583):263–71.
Moll JM, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum 1973;
3(1):55–78.
Lan GK, Bingham CO. Artrite psoriática. In: Imboden J, Hellmann D,
Stone J. Current: Reumatologia – Diagnóstico e Tratamento. 2ª ed.
São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
Scarpa R, Ayala F, Caporaso N, Olivieri I. Psoriasis, psoriatic
arthritis, or psoriatic disease? J Rheumatol 2006; 33(2):210–1.
Van de Kerkhof PCM, Schalkwijk J. Psoriasis. In: Bolognia JL,
Jorizzo JL, Rapini RP. Dermatology. 2.ed. Espanha: Elsevier,
2008.
Bruce IN. Psoriatic arthritis: clinical features. In: Hochberg MC,
Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH. Rheumatology.
4.ed. Philadelphia: Elsevier, 2008.
Blumberg BS, Bunim JJ, Calkins E, Pirani CL, Zvaifler NJ.
ARA nomenclature and classification of arthritis and rheumatism
(tentative). Arthritis Rheum 1964; 7:93–7.
Gudjonsson JE, Elder JT. Psoriasis: epidemiology. Clin Dermatol
2007; 25(6):535–46.
Shao CG, Zhang GW, Wang GC. Distribution of psoriasis in China:
a nationwide screening. Proc Chin Acad Med Sci Peking Union Med
Coll 1987; 2(2):59–65.
Convit J. Investigation of the incidence of psoriasis among
Latin-American Indians. In: Proceedings of the 13th Congress on
Dermatology. Amsterdam: Excerpta Medica, 1962; p. 196.
Huerta C, Rivero E, Rodríguez LA. Incidence and risk factors
for psoriasis in the general population. Arch Dermatol 2007;
143(12):1559–65.
Gelfand JM, Gladman DD, Mease PJ, Smith N, Margolis DJ,
Nijsten T et al. Epidemiology of psoriatic arthritis in the population
of United States. J Am Acad Dermatol 2005; 53(4):573.
Gisondi P, Girolomoni G, Sampogna F, Tabolli S, Abeni D.
Prevalence of psoriatic arthritis and joint complaints in a large
population of Italian patients hospitalised for psoriais. Eur J Dermatol
2005; 15(4):279–83.
Njobvu P, McGill P, Kerr H, Jellis J, Pobee J. Spondyloarthropathy
and human immunodeficiency virus infection in Zambia. J
Rheumatol 1998; 25(8):1553–9.
Njobvu P, McGill P. Psoriatic arthritis and human immunodeficiency
virus infection in Zambia. J Rheumatol 2000; 27(7):1699–702.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
16. Schur PH. Artrite psoriásica e artrite associada a doenças
gastrointestinais. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL,
Longo DL, Jameson JL. Harrison - Medicina Interna. 15.ed. Rio de
Janeiro: McGrawHill, 2002; p. 2125–7.
17. Zachariae H, Zachariae R, Blomqvist K, Davidsson S, Molin L,
Mørk C, et al. Quality of life and prevalence of arthritis reported
by 5,795 members of the Nordic Psoriasis Association. Acta Derm
Venereol 2002; 82(2):108–13.
18. Fortune DG, Richards HL, Main CJ, Griffiths CEM. What patients
with psoriasis believe about their condition. J Am Acad Dermatol
1998; 39(2 Pt 1):196–201.
19. Myers WA, Gottlieb AB, Mease P. Psoriasis and psoriatic arthritis:
clinical features and disease mechanisms. Clin Dermatol 2006;
24(5):438–47.
20. Chandran V, Schentag CJ, Brockbank JE, Pellett FJ, Shanmugarajah S,
Toloza SM et al. Familial aggregation of psoriatic arthritis. Ann
Rheum Dis 2009; 68(5):664–7.
21. Fitzpatrick TB, Johnson RA, Wolff K, Suurmond D. Dermatologia –
Atlas e texto. 4.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2001.
22. Andressen C, Henseler T. Inheritance of psoriasis. Analysis of 2035
family histories. Hautarzt 1982; 33(4):214–17.
23. Marsal S, Armadans-Gil L, Martínez M, Gallardo D, Ribera A,
Lience E. Clinical radiographic and HLA associations as markers
for different patterns of psoriatic arthritis. Rheumatology (Oxford)
1999; 38(4):332–7.
24. Sampaio-Barros PD, Azevedo VF, Bonfiglioli R, Campos WR,
Carneiro SCS, Carvalho MAP et al. Consenso brasileiro de
espondiloartropatias: espondilite anquilosante e artrite psoriásica.
Diagnóstico e tratamento – primeira revisão. Rev Bras Reumatol
2007; 47(4):233–42.
25. Antoni CE. Psoriatic arthritis: etiology and pathogenesis. In:
Hochber MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH.
Rheumatology. 4.ed. Philadelphia: Elsevier, 2008.
26. Rieger A, Chen TM, Cockerell CJ. Cutaneous manifestations of HIV
infection and HIV-related disorders. In: Bolognia JL, Jorizzo JL,
Rapini RP. Dermatology. 2.ed. Espanha: Elsevier, 2008.
27. Siqueira-Batista R, Gomes AP, Nacif MS, Guerra JEH, MonteAlto CR, Lima OAT et al. Manifestações reumáticas da síndrome
de imunodeficiência adquirida (AIDS). Rev Bras Reumatol 2004;
44(5):339–46.
28. Bruce IN, Silman AJ. The etiology of psoriatic arthritis. Rheumatology
(Oxford) 2001; 40(4):363–6.
29. Fortune DG, Main CJ, O’Sullivan TJ, Griffiths CE. Quality of life
in patients with psoriasis: the contribution of clinical variables and
psoriasis-specific stress. Br J Dermatol 1997; 137(5):755–60.
30. Pattison E, Harrison BJ, Griffiths CE, Silman AJ, Bruce IN.
Environmental risk factors for the development of psoriatic
arthritis: results from a case-control study. Ann Rheum Dis 2008;
67(5):672–6.
31. Mueller W, Hermann B. Cyclosporin A for psoriasis. N Engl J Med
1979; 301(10):555.
32. Ritchlin CT, Haas-Smith SA, Hicks D, Cappuccio J, Osterland CK,
Looney RJ. Patterns of cytokine production in psoriatic synovium.
J Rheumatol 1998; 25(8):1544–52.
33. Ritchlin CT. Psoriatic arthritis. Pathology and pathogenesis. In:
Klippel JH, Stone H, Crofford LJ, White PH. Primer on the rheumatic
diseases. 13.ed. New York: Springer, 2008: 178–84.
637
Ruiz et al.
34. Helliwell PS, Taylor WJ. Classification and diagnostic criteria for
psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2005; 64(Supl. 2):ii3–8.
35. Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P,
Mielants H. Classification criteria for psoriatic arthritis: development
of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum
2006; 54(8):2665–73.
36. Sociedade Brasileira de Dermatologia. Consenso Brasileiro de
Psoríase. Rio de Janeiro: SBD, 2009, 116 p.
37. Ciocon DH, Kimball AB. Psoriasis and psoriatic arthritis: separate
or one and the same? Br J Dermatol 2007; 157(5):850–60.
38. Gladman DD, Antoni C, Mease P, Clegg DO, Nash P. Psoriatic
arthritis: epidemiology, clinical features, course and outcome. Ann
Rheum Dis 2005; 64(Supl 2): ii14–7.
39. Schatteman L, Mielants H, Veys EM, Cuvelier C, De Vos M,
Gyselbrecht L et al. Gut inflammation in psoriatic arthritis: a
prospective ileocolonoscopic study. J Rheumatol 1995; 22(4):680–3.
40. McGonagle D, Tan AL, Benjamin M. The nail as musculosketal
appendage – implications for an improved understanding of the link
between psoriasis and arthritis. Dermatology 2009; 218(2):97–102.
41. Wilson FC, Icen M, Crowson CS, McEvoy MT, Gabriel S,
Kremers HM. Incidence and clinical predictors of psoriatic arthritis
in patients with psoriasis: a population-based study. Arthritis Rheum
2009; 61(2):233–9.
42. Levin J, Werth VP. Skin disorders with arthritis. Best Pract Res Clin
Rheumatol 2006; 20(4):809–26.
43. Maksymowych WP. Etiology, pathogenesis and pathology of ankylosing
spondylitis. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME,
Weisman MH. Rheumatology. 4.ed. Philadelphia: Elsevier, 2008.
638
44. Eastmoond CJ, Woodrow JC. The HLA system and the arthropathies
associated with psoriasis. Ann Rheum Dis 1977; 36(2):112–20.
45. Scarpa R, Oriente SP, Pucino A, Torella M, Vignone L, Riccio A
et al. Psoriatic arthritis in psoriatic patients. Br J Rheumatol 1984;
23(4):246–50.
46. Jones SM, Armas JB, Cohen MG, Lovell CR, Evison G,
McHugh NJ. Psoriatic arthritis: outcome of disease subsets and
relationship of joint disease to nail and skin disease. Br J Rheumatol
1994; 33(9):834–9.
47. McGonagle D. Enthesitis: an autoinflammatory lesion linking nail
and joint involvement in psoriatic disease. J Eur Acad Dermatol
Venereol 2009; 23(Supl 1):9–13.
48. Scarpa R. What do rheumatologists think about psoriatic arthritis
today? J Rheumatol 1999; 26(12):2509–10.
49. Scarpa R, Manguso F, D’Arienzo A, D’Armiento FP, Astarita C,
Mazzacca G et al. Microscopic inflammatory changes in colon of
patients with both active psoriasis and psoriatic arthritis without
bowel symptoms. J Rheumatol 2000; 27(5):1241–6.
50. Girolomoni G, Gisondi P. Psoriasis and systemic inflammation:
underdiagnosed enthesopathy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;
23(Supl 1):3–8.
51. Lima EVA. Avaliação do teste T-SPOT.TB no diagnóstico de infecção
tuberculosa latente em pacientes com psoríase. São Paulo, 2010. 153
f. [Tese (Doutorado)] – Programa de Dermatologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, 2010.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):623-638
CASE REPORT
Síndrome antifosfolípide e dermatomiosite/
polimiosite: uma rara associação
Fernando Henrique Carlos de Souza1, Maurício Levy-Neto2, Samuel Katsuyuki Shinjo3
RESUMO
A associação entre a síndrome antifosfolípide e as miopatias inflamatórias idiopáticas tem sido raramente descrita na
literatura. No presente trabalho relatamos dois pacientes com síndrome antifosfolípide diagnosticados com dermatomiosite ou polimiosite. Realizamos também uma revisão da literatura acerca dessa sobreposição de duas entidades
autoimunes sistêmicas.
Palavras-chave: dermatomiosite, polimiosite, síndrome antifosfolipídica, relatos de casos.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A síndrome antifosfolípide (SAF) pode ser primária ou secundária a uma série de condições, tais como neoplasias, doenças
infecciosas, drogas1 ou, ainda, a outras doenças autoimunes,
como lúpus eritematoso sistêmico (LES).2,3 A dermatomiosite
(DM) e a polimiosite (PM) também ocorrem isoladamente ou
em associação a outras doenças autoimunes, das quais o LES e
a síndrome de Sjögren são as mais frequentemente observadas.4
Entretanto, há poucos trabalhos que mostram a associação entre a SAF e a DM ou a PM5–7 – há apenas quatro casos
que ilustram a SAF cursando com PM,5–7 dos quais dois são
associados a mielite transversa,7,8 além de um relato de caso
de SAF com DM.5
Devido à raridade dessa sobreposição, apresentamos dois
pacientes com SAF e DM ou PM simultaneamente, e realizamos uma revisão da literatura.
RELATO DE CASO
Caso 1
Paciente do gênero masculino, 40 anos, com história de
fraqueza muscular proximal dos quatro membros e sintomas
constitucionais há cerca de três meses. Na ocasião, apresentava aumento de enzimas musculares [creatinoquinase (CK):
1.876 U/L (valor de referência: 26–190 U/L) e aldolase de
146 U/L (valor de referência: até 7,6 U/L)], com eletroneuromiografia (ENMG) e biópsia muscular do bíceps braquial
compatíveis com miopatia inflamatória. Foram afastadas causas infecciosas e neoplásicas. Com a hipótese de PM, iniciou-se
prednisona 1 mg/kg/dia e metotrexato (dose máxima: 25 mg/semana). Posteriormente, pela refratariedade clínico-laboratorial,
associou-se um segundo imunossupressor, azatioprina (dose
máxima: 3 mg/kg/dia), com controle da atividade da doença.
Após um ano do diagnóstico da PM o paciente apresentou
trombose venosa profunda (TVP) do membro inferior direito
(MID), confirmado por ultrassonografia doppler, sem causa
aparente. Naquela ocasião apresentava anticardiolipina IgM de
110 MPL (valor de referência: < 20 MPL) e, portanto, iniciou-se
cumarínico com controle adequado de coagulograma. O valor
de anticardiolipina IgM, após 12 semanas do evento trombótico, foi de 100 MPL, confirmando o diagnóstico de SAF.
Atualmente, o paciente encontra-se estável clínico-laboratorialmente, sem uso de prednisona há apenas um ano, em
uso de azatioprina 3 mg/kg/dia e metotrexato 10 mg/semana,
além de varfarina 5 mg/dia.
Recebido em 30/01/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Disciplina de Reumatologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP.
1. Reumatologista, Médico-Assistente do Serviço de Reumatologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HC/FMUSP
2. Doutor em Medicina; Médico-Assistente do Serviço de Reumatologia, HC/FMUSP; Professor Colaborador da Disciplina de Reumatologia, FMUSP
3. Doutor em Ciências; Médico-Assistente do Serviço de Reumatologia, HC/FMUSP; Professor Colaborador da Disciplina de Reumatologia, FMUSP
Correspondência para: Samuel Katsuyuki Shinjo. Disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Av. Dr. Arnaldo, 455,
3° andar – sala 3150. CEP: 01246-903. São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
642
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):639-644
Síndrome antifosfolípide e dermatomiosite/polimiosite: uma rara associação
Caso 2
Paciente do gênero feminino, 48 anos, com quadro de fraqueza
proximal nos quatro membros, heliótropo e sinal de Gottron
há sete meses. Apresentava, na primeira avaliação médica,
CK de 3.500 U/L e aldolase de 376 U/L, tendo sido submetida à biópsia muscular de bíceps braquial compatível com
DM. Iniciou-se prednisona 1 mg/kg/dia e azatioprina (dose
máxima: 3 mg/kg/dia, peso de 50 kg). Entretanto, após seis
meses, devido a pouca resposta clínico-laboratorial, optou-se por
pulsoterapia com metilprednisolona (1 g/dia por três dias consecutivos), além da associação de metotrexato, com aumento
progressivo da dose até 25 mg/semana.
Durante o seguimento houve recidivas da doença após
redução do corticosteroide, realizando-se então dose única de
imunoglobulina intravenosa humana (1 g/kg/dia por dois dias
consecutivos), com melhora do ponto de vista clínico-laboratorial. Associou-se, no mesmo período, ciclosporina 100 mg/
dia, com boa resposta.
Dois anos após o diagnóstico da DM a paciente apresentou
TVP do MID, confirmado por ultrassonografia doppler, sem
causa aparente. Além disso, apresentava histórico de aborto na
16a semana de gestação e um óbito neonatal, com feto morfologicamente normal. Após reavaliação clínica, observou-se
presença de anticoagulante lúpico positivo (duas amostras
positivas com intervalo superior a 12 semanas), tendo sido
iniciado cumarínico, com controles satisfatórios, sem demais
episódios trombóticos.
Atualmente a paciente encontra-se em uso de ciclosporina
200 mg/dia, azatioprina 75 mg/dia (dose reduzida devido à
linfopenia já revertida) e prednisona 15 mg/dia, com dificuldade de redução de dose; a última recidiva foi há cinco anos.
DISCUSSÃO
Somando aos poucos casos clínicos disponíveis na literatura,
apresentamos dois casos de pacientes com SAF, cursando
simultaneamente com miopatia inflamatória idiopática (DM
ou PM).
A associação entre SAF e outras doenças autoimunes sistêmicas tem sido descrita na literatura. Tarr et al.8 relataram
cerca de 30% da SAF em seus 362 pacientes com LES. Além
disso, quando há essa sobreposição, há maiores índices de
TVP, acidente vascular cerebral/ataque isquêmico transitório,
perda fetal recorrente e infarto agudo do miocárdio, quando
comparados aos pacientes que apresentam apenas LES.
A coexistência da SAF é relatada também em 10% dos
pacientes com síndrome de Sjögren que apresentam anticorpos
antifosfolípides.9 Esses pacientes apresentam mais Raynaud, lesões de pele (púrpura e livedo reticular), bem como citopenias.9
A SAF também tem sido descrita em pacientes com doença
mista do tecido conectivo (DMTC).10–12 No entanto, mesmo
nesses casos, quando os achados PM-símile foram incluídos,
o diagnóstico de DMTC estava firmado, devido à existência
de elevados níveis de anticorpos específicos.
No entanto, a associação entre SAF e miopatias inflamatórias idiopáticas é extremamente rara. Até o presente momento,
há apenas cinco casos (quatro com PM e um com DM) descritos
dessa sobreposição.5–7 Esses casos estão ilustrados na Tabela 1.
Tabela 1
Associação entre SAF e miopatias inflamatórias idiopáticas relatada na literatura
Gênero
Idade
Miopatia
Síndrome antifosfolípide
Overlap
Medicações
1
M
24
PM
MT; aCL IgG (+)
Não
CE, MTX, CFF, ACO
2
F
61
DM
EP; aCL IgG (+)
Não
CE, ACO
3
F
50
PM
AVCi, gestacional; LAC, aCL, IgG (+)
Não
CE, MTX, ACO
F
41
PM
TVP MIE, aCl IgM (+), IgG (+)
AR, antissintetase
CE, SSA, CICL, ACO
M
46
PM
MT, Anti-β2GPI
Não
CE
1
M
40
PM
TVP MID, aCL IgM (+)
CE, AZA, MTX, ACO
2
F
48
DM
TVP MID, gestacional, LAC (+)
CE, AZA, MTX, IgIV, CICL, ACO
Sherer et al. (2000)
Ponyi et al. (2004)
1
Mori et al. (2010)
1
Souza et al. (2011)
M: masculino; F: feminino; PM: polimiosite, DM: dermatomiosite, MT: mielite transversa; aCL: anticardiolipina; CE: corticosteroide (EV, VO); MTX: metotrexato; CFF: ciclofosfamida; ACO: anticoagulante oral;
EP: embolia pulmonar; AVCi: acidente vascular cerebral isquêmico; LAC: anticoagulante lúpico; TVP: trombose venosa profunda; MIE: membro inferior esquerdo; SSA: sulfassalazina; CICL: ciclosporina;
Anti-β2GPI: anticorpo anti-β2-glicoproteína I; AZA: azatioprina; MID: membro inferior direito; IgIV: imunoglobulina intravenosa.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):639-644
643
Souza et al.
Ainda não se sabe se a associação entre SAF e DM/PM é
marcada por anticorpos miosite-específicos, nem se há algum
papel patogênico desses nas miopatias, sendo o dano endotelial
indubitavelmente o processo patogênico base da DM.13
O que observamos em nossos pacientes e nos relatados
na literatura é a comum refratariedade às terapêuticas realizadas, todos tendo recebido altas doses de corticosteroide
por via oral ou em forma de pulsoterapia,5–7 dos quais quatro
apresentaram recidiva de doença e necessidade de uso de pelo
menos dois imunossupressores (azatioprina, metotrexato e/ou
ciclosporina).5–7
Fica a dúvida se a associação dessas entidades torna a DM/
PM de pior prognóstico. São necessários trabalhos futuros para
tal esclarecimento.
A imunoglobulina intravenosa pode ser uma opção de
tratamento para os pacientes que demonstram a coexistência
de SAF e a miopatia refratárias, sendo atualmente aceita no
tratamento da DM/PM, com algumas descrições de seu uso na
SAF.14,15 Nosso paciente com DM, devido à refratariedade à
terapia medicamentosa convencional, recebeu imunoglobulina
intravenosa com boa resposta clínico-laboratorial.
Em síntese, a coexistência de SAF e DM/PM é raramente
descrita na literatura. No presente estudo, apresentamos dois
casos que, a exemplo dos casos já descritos, mostraram curso
da miopatia relativamente mais agressiva.
REFERENCES
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
644
Asherson RA, Cervera R. “Primary”, “secondary” and other variants
of the antiphospholipid syndrome. Lupus 1994; 3(4):29–38.
Asherson RA, Cervera R, Pitte JC, Shoenfeld Y. The antiphospholipid
syndrome: history, definition, classification and differential
diagnosis. Boca Raton: CRC Press, 1996; 3–12.
Mitrović D, Popović M, Stefanović D, Cirković M, Glisić B,
Pavlica L et al. Antiphospholipid syndrome in systemic connective
tissue diseases. Vojnosanit Pregl. 1998; 55(2 Suppl):29–33.
15.
Ng KP, Ramos F, Sultan SM, Isenberg DA. Concomitant diseases
in a cohort of patients with idiopathic myositis during long-term
follow-up. Clin Rheumatol 2009; 28(8):947–53.
Sherer Y, Livneh A, Levy Y, Shoenfeld Y, Langevitz P. Dermatomyositis and polymyositis associated with the antiphospholipid
syndrome – a novel overlap syndrome. Lupus 2000; 9(1):42–6.
Mori A, Nodera H, Nakane S, Kaji R. Transverse myelitis and
polymyositis associated with antiphospholipid antibody syndrome.
Clin Neurol Neurosurg 2010; 112(8):713–6.
Ponyi A, Constantin T, Dankó K. Antiphospholipid and antisynthetase syndrome in a patient with polymyositis-rheumatoid
arthritis overlap. Clin Rheumatol 2004; 23(4):371–2.
Tarr T, Lakos G, Bhattoa HP, Szegedi G, Shoenfeld Y, Kiss E.
Primary antiphospholipid syndrome as the forerunner of systemic
lupus erythematosus. Lupus 2007; 16(5):324–8.
Ramos-Casals M, Brito-Zerón P, Font J. The overlap of Sjögren’s
syndrome with other systemic autoimmune diseases. Semin Arthritis
Rheum 2007; 36(4):246–55.
Jackson J, McDonald M, Casey E, Kelleher S, Murray A,
Temperley I et al. Mixed connective tissue disease with arterial
thrombosis, antiphospholipid antibodies and heparin induced
thrombocytopenia. J Rheumatol 1990; 17(11):1523–4.
Perinbasekar S, Chawla K, Rosner F, Depestre M. Complete recovery
from renal infarcts in a patient with mixed connective tissue disease.
Am J Kidney Dis 1995; 26(4):649–53.
Zuber M, Kranzhöfer N, Lindemuth R, Hartmann F. A patient with
mixed collagen disease, antiphospholipid syndrome and Sjögren
syndrome. Med Klin (Munich) 1998; 93(1):34–8.
Crowson AN, Magro CM. The role of microvascular injury in the
pathogenesis of cutaneous lesions of dermatomyositis. Hum Pathol
1996; 27(1):15–9.
Krause I, Blank M, Kopolovic J, Afek A, Goldberg I, Tomer Y
et al. Abrogation of experimental systemic lupus erythematosus
and primary antiphospholipid syndrome with intravenous gamma
globulin. J Rheumatol 1995; 22(6):1068–74.
Bakimer R, Guilburd B, Zurgil N, Shoenfeld Y. The effect of
intravenous gama-globulin on the induction of experimental
antiphospholipid syndrome. Clin Immunol Immunopathol 1993;
69(1):97–102.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):639-644
RELATO DE CASO
Retocolite ulcerativa e artrite reumatoide:
uma rara associação – relato de caso
Vitor Alves Cruz1, Lúcio Yamaguchi2, Carolina Nazeozeno Ribeiro3,
Vanessa de Oliveira Magalhães4, Jozelia Rego5, Nilzio Antonio da Silva6
RESUMO
A retocolite ulcerativa é uma desordem autoimune de etiologia desconhecida. Embora o intestino grosso represente o principal
foco de autoimunidade, trata-se, na verdade, de uma doença sistêmica com inúmeras manifestações extraintestinais, inclusive articulares. A associação frequente entre diversas doenças autoimunes em um mesmo paciente é descrita na literatura.
No entanto, é rara a coexistência entre retocolite ulcerativa e artrite reumatoide. Os autores relatam um caso de retocolite
ulcerativa associada à artrite reumatoide em que a colite precedeu em 12 anos o aparecimento da artropatia inflamatória.
Palavras-chave: artrite reumatoide, proctocolite, espondiloartropatias.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
A retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória sistêmica, de causa desconhecida e de natureza essencialmente
autoimune. Afeta predominantemente o cólon e o reto, resultando em diarreia crônica. Embora a associação entre doenças
autoimunes seja conhecida, é rara a coexistência de retocolite
e artrite reumatoide (AR).1
O envolvimento articular ocorre tanto na RCU quanto
na doença de Crohn, observado em até 30% dos casos. São
descritos dois padrões de acometimento: a forma espondilítica e a forma periférica. Ambas podem preceder o quadro
intestinal, embora geralmente a artropatia se manifeste posteriormente à colite.2
A forma espondilítica é clínica e radiologicamente similar
à espondilite anquilosante. A artropatia periférica costuma
apresentar-se como oligoartrite assimétrica, afetando predominantemente os membros inferiores. É geralmente de curso
mais agudo em relação à AR, não erosiva e, em geral, o controle
da inflamação intestinal induz sua remissão. No entanto, pode
ser crônica e erosiva em 10% dos pacientes – Norton et al.3
descreveram pacientes com artropatia atípica, com erosões,
destruição e deformidades em associação à doença de Crohn.
Na maioria dos casos é soronegativa, embora o fator reumatoide (FR), em baixo título, possa ocorrer eventualmente. Não
há descrição de associação com o autoanticorpo contra as
proteínas citrulinadas (anti-CCP). É rara a artrite das pequenas
articulações das mãos e dos punhos. Tal envolvimento torna
obrigatório o diagnóstico diferencial com a AR – especialmente
quando o FR é positivo.2–4
Em muitos casos, torna-se um desafio o diagnóstico diferencial entre a artropatia secundária à própria doença inflamatória
intestinal, também chamada de enteropática, e a ocorrência
de manifestações articulares relacionadas a outras entidades
nosológicas concomitantes à RCU.
Os autores relatam um caso de associação entre RCU e
AR, em que a colite precedeu em 12 anos o aparecimento da
artropatia inflamatória.
Recebido em 07/02/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Serviço de Reumatologia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás – UFG
1. Reumatologista; Médico-Assistente do Serviço de Reumatologia e Coordenador do Ambulatório de Artrite Reumatoide, Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina, Universidade Federal de Goiás – HC-UFG
2. Residente (R1) de Reumatologia, HC-UFG
3. Residente (R2) de Reumatologia, HC-UFG
4. Reumatologista; Médica-Assistente do Serviço de Reumatologia, HC-UFG
5. Reumatologista; Doutora em Ciências da Saúde, UFG; Professora-Adjunta da Disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina, UFG
6. Doutor em Reumatologia, Universidade de São Paulo – USP; Professor Titular da Disciplina de Reumatologia da Faculdade de Medicina, UFG
Correspondência para: Vitor Alves Cruz. Departamento de Clínica Médica – Serviço de Reumatologia. 1ª Avenida, s/n – Setor Leste Universitário. CEP: 74605-020.
Goiânia, GO, Brasil. E-mail: [email protected]
648
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):645-650
Retocolite ulcerativa e artrite reumatoide: uma rara associação – relato de caso
RELATO DE CASO
DISCUSSÃO
IOR, mulher, natural e procedente de Santana, Bahia, procurou
o Ambulatório de Reumatologia em maio de 2005 com queixas
de dor e edema em segundo, terceiro e quarto interfalangeanos proximais (IFP) de ambas as mãos e punhos, com rigidez
matinal de 1h e 30 min. Referia início dos sintomas em 2001.
Negava outras queixas articulares, síndrome seca, fotossensibilidade, úlceras orogenitais, erupção cutânea e fenômeno de
Raynaud. Relatou quadro de diarreia crônica em tratamento
com coloproctologista. Antecedentes: diagnóstico de RCU
em 1989. Na época, apresentava diarreia líquida com muco,
pus e sangue há seis meses, com colonoscopia evidenciando
pancolite, úlceras longitudinais e pseudopólipos. A biópsia exibia infiltração intensa de polimorfonucleares na mucosa, com
abscessos de cripta. Fazia uso regular de sulfassalazina 2 g/dia.
Ao exame físico, apresentava artrite em segundo, terceiro
e quarto IFP das mãos e punhos, sem outras anormalidades.
Os exames complementares apresentaram hemograma normal,
velocidade de hemossedimentação 60 mm, proteína C-reativa
positiva, função renal e hepática normais, FR 451 UI/mL,
anti-CCP 439,5 UI/mL, fator antinuclear 1:40 padrão nuclear
pontilhado fino, ANCA negativo. Raio x de mãos mostrou
acentuada redução do espaço articular no carpo e erosões marginais no processo estiloide da ulna, bilateralmente (Figura 1).
Concluiu-se por AR associada à RCU. Foi prescrito metotrexato
15 mg/semana, com melhora do quadro articular. Em dezembro
de 2009 houve reativação dos quadros intestinal e articular. Foi
rediscutida a abordagem terapêutica e optou-se pelo início de
terapia anti-TNF, com melhora significativa dos sintomas tanto
articulares quanto intestinais.
Não é incomum a coexistência entre a AR e outras doenças
autoimunes, como tireoidite autoimune, vitiligo e lúpus eritematoso sistêmico. A principal associação relatada é com
a síndrome de Sjögren, ocorrendo em até 30% dos casos. A
associação com doença inflamatória intestinal é raramente
observada.2,5
A associação entre AR e RCU é uma descrição rara na
literatura. Aoyangi et al.,6 em coorte prospectiva realizada
entre 1980 e 1989 com pacientes portadores de RCU, não observaram nenhum caso de sobreposição com AR. Utsunomiya7
encontrou em seu estudo prevalência de 0,4% de AR em 5.833
pacientes portadores de RCU. Sawada8 identificou a mesma
prevalência em estudo menor, com 1.433 pacientes. Snook et al.9
descreveram apenas sete casos de AR em 858 pacientes com
RCU. Na maioria dos relatos, a RCU complicava o curso da
AR estabelecida.5–9
Em nosso estudo, o início insidioso, o envolvimento das
pequenas articulações de mãos e punhos, os achados radiológicos e o FR e o anti-CCP positivos sustentam a hipótese
da coexistência de AR e RCU. O anti-CCP está raramente
presente em outras doenças reumáticas, como a artrite psoriásica. Parece estar diretamente relacionado ao tabagismo, que
amplifica o processo de citrulinação de autoantígenos. Até 1%
dos controles saudáveis, e de 2%–5% dos controles doentes,
têm reatividade ao anti-CCP, geralmente em títulos baixos, com
valor médio de 39 UI/mL. Altas concentrações do anti-CCP
são quase exclusivamente associadas à AR.10
A relação entre AR e RCU não está claramente definida.
Supõe-se que determinados genes poderiam predispor simultaneamente às duas condições. Até o momento, porém, nenhum
fator de risco genético foi apontado. Estudos realizados em
pacientes portadores de RCU e controles sugerem que o
HLA-DR4 atuaria como fator protetor para colite. Tal fato
poderia justificar a rara associação, uma vez que tal antígeno
do complexo principal de histocompatibilidade classe II tem
papel importante na patogênese da AR.11
O uso de imunossupressores no tratamento da RCU
também pode exercer papel relevante na baixa frequência da
associação com a AR. Fármacos como a sulfassalazina e os
corticosteroides inibem a resposta inflamatória sistêmica, o que
justificaria a menor incidência de outras patologias autoimunes
concomitantes à doença inflamatória intestinal.
A resposta imune anormal a bactérias intestinais foi demonstrada em diferentes tipos de artrite. Alguns estudos em
modelos animais revelaram que fragmentos da parede celular
bacteriana, principalmente os complexos de polissacarídeos,
Figura 1
Redução simétrica do espaço articular nos punhos com erosões
bilaterais no processo estiloide da ulna.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):645-650
649
Cruz et al.
podem desencadear tanto sinovite quanto colite por meio da
ativação das células T. A infecção no trato gastrintestinal pode,
portanto, ter papel relevante tanto na RCU quanto na AR.12,13
Asada et al.2 descreveram a associação RCU/AR concomitantemente à deficiência seletiva de IgA. Tal alteração predispõe a
quebra da barreira contra a flora intestinal, ampliando a exposição das células imunes da mucosa a antígenos bacterianos.2
A confirmação do aumento da expressão de interleucina 15
na mucosa intestinal – tal como ocorre na sinóvia reumatoide – e
ainda a fraca evidência do predomínio da resposta Th2 na RCU,
sustentam o elo entre as duas entidades. No entanto, tais achados
são ainda insuficientes para a total compreensão dos mecanismos
envolvidos na coexistência entre as duas doenças.12,13
Recentemente, Amezcua et al.14 descreveram um caso de
RCU em paciente portador de AR após uso do abatacepte.
Especula-se que o uso de tal fármaco modificaria o balanço
de mediadores pró-inflamatórios e o perfil linfocítico, favorecendo a ocorrência de uma nova doença autoimune. O
bloqueio à coestimulação poderia interferir na manutenção e
no desenvolvimento das células T regulatórias, que controlam
a inflamação intestinal.14
A colite pode complicar o curso da AR. Nesse caso,
ocorrência de vasculite reumatoide, colite fármaco-induzida,
amiloidose secundária e ainda colites infecciosas (colite
pseudomembranosa e colite por citomegalovírus) devem ser
consideradas.13,14
Em pacientes nos quais a AR ocorre no curso da RCU estabelecida, o principal diagnóstico diferencial é com a artropatia
secundária à própria doença inflamatória intestinal.13
Na ocorrência de artrite periférica em pacientes com doença
inflamatória intestinal, o diagnóstico de artropatia enteropática
deve ser aventado com cautela. Embora até 30% dos pacientes
possam apresentar tal manifestação sistêmica, diagnósticos
diferenciais como sobreposição com AR não devem ser
negligenciados. Mais estudos são necessários para melhor
compreensão dos mecanismos fisiopatogênicos determinantes
nessa rara associação.
650
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Adachi Y, Hinoda Y, Takahashi H, Nakagawa N, Sakamoto H,
Itoh F et al. Rheumatoid arthritis associated with ulcerative colitis.
J Gastroenterol 1996; 31(4):590–5.
Asada Y, Isomoto H, Shikuwa S, Wen CY, Fukuda E, Miyazato M et al.
Development of ulcerative colitis during the course of rheumatoid
arthritis: Association with selective IgA deficiency. World J
Gastroenterol 2006; 12(32):5240–3.
Norton KI, Eichenfield AH, Rosh JR, Stern MT, Hermann G. Atypical
artropathy associated with Crohn’s disease. Am J Gastroenterol
1993; 88(6):948–52.
Lanna CCD, Ferrari MLA, Carvalho MAP, Cunha AS. Manifestações
articulares em pacientes com Doença de Crohn e na Retocolite
Ulcerativa. Rev Bras Reumatol 2006; 46(Suppl. 1):45–51.
Sugisaki K, Honma F, Hiwadate H, Shio K, Shioya Y, Fulaya E et al.
Ulcerative colitis occurring in the course of rheumatoid arthritis:
A case successfully treated with mesalamine enema. Intern Med
2004; 43(11):1046–50.
Utsunomiya T, Kitahora T, Shinohara H, Suzuki K, Yokota A.
An epidemiological study of idiopathic proctocolitis in Japan.
Gastroenterol (Tokyo) 1989; 11(18):140–9.
Aoyanagi T, Nakajima H, Ozaki M. Inflammatory bowel disease and
extra bowel lesions. Internal Med 1990; 66(7):1068–71.
Sawada T, Higuchi Y, Shinozaki M. Extra-intestinal complications
in IBD. Annual Report of the Research Committee of Inflammatory
Bowel Disease 1993; 105-8.
Snook JA, de Silva HJ, Jewell DP. The association of autoimmune
disorders with inflammatory bowel disease. Q J Med 1989;
72(269):835–40.
Silva AF, Matos AN, Lima AMS, Lima EF, Gaspar AP, Braga JAF,
Carvalho EM. Valor diagnóstico do anticorpo antipeptídio
citrulinado cíclico na artrite reumatoide. Rev Bras Reumatol 2006;
46(3):174–80.
Toyoda H, Wang SJ, Yang HY, Redford A, Magalong D, Tyan D
et al. Distinct associations of HLA class II genes with inflammatory
bowel disease. Gastroenterology 1993; 104(3):741–8.
Kobayashi H, Fuchigami T. Gastrointestinal lesions in rheumatoid
arthritis. Stomach and intestine 2003; 38:521–8.
Aydin Y, Ozçakar L, Yildiz M, Akinci A. Liason between rheumatoid
arthritis and ulcerative colitis. Rheumatol Int 2003; 23(1):47–8.
Amezcua-Guerra LM, Hernández-Martínez B, Pineda C, Bojalil R.
Ulcerative colitis during CTLA-4Ig therapy in a patient with
rheumatoid arthritis. Gut 2006; 55(7):1059–60.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):645-650
RELATO DE CASO
Uso de infliximabe em paciente com artrite
reumatoide e hepatite B crônica
Eloisa Doubrawa1, Renê Augusto de Mattos Ricca1, Tiago Osternack Malucelli1,
Vanessa Irusta Dal Pizzol1, Danilo Hamilko de Barros2, Eduardo Santos Paiva3
RESUMO
Os agentes anti-TNF-α emergiram como potente tratamento para os pacientes com artrite reumatoide que não respondem
às drogas modificadoras de doença convencionais. Por induzir à imunossupressão, essas drogas têm como principal
complicação o aumento da suscetibilidade a várias infecções. A reativação do vírus da hepatite B (HBV) é um dos efeitos
colaterais mais preocupantes em pacientes recebendo agentes anti-TNF-α com infecção pelo HBV. Descrevemos o caso
de um paciente de 56 anos com quadro de hepatite B estável, com boa resposta à associação dos antivirais lamivudina
e tenofovir quando iniciou infliximabe. O paciente obteve boa resposta ao anti-TNF-α, atingindo remissão da doença.
Durante os 30 meses de tratamento com o biológico, manteve função hepática estável, sem reativação do HBV.
Palavras-chave: artrite reumatoide, hepatite B, terapêutica.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
INTRODUÇÃO
O fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) é um mediador
envolvido na inflamação e na resposta imune celular, desempenhando importante papel no sistema de defesa frente a um
processo infeccioso.1 Na infecção pelo vírus da hepatite B
(HBV), essa citocina promove aumento do clearance viral,
por meio da inibição da replicação do HBV nos hepatócitos.
Já na hepatite C crônica, seu papel no controle da replicação
viral não parece ser fundamental, apesar de desempenhar ações
diferentes, como a indução de apoptose de hepatócitos, a manutenção da resposta inflamatória e a contribuição na gênese
da fibrose hepática.2
Os agentes anti-TNF-α, utilizados no tratamento de artrite
reumatoide (AR) e de outras doenças autoimunes, têm como
principal complicação o aumento da suscetibilidade a várias
infecções. O risco torna-se maior em indivíduos infectados
cronicamente, e a imunossupressão induzida pela medicação
pode promover reativação do processo infeccioso.
O infliximabe (IFX) é um dos agentes biológicos mais
utilizados no tratamento de pacientes com AR. De acordo
com a literatura, sua segurança e eficácia ainda não estão
bem-estabelecidas quando utilizado em pacientes com AR em
vigência de infecção pelo HBV.
Descrevemos o caso de um paciente do gênero masculino
portador de AR e de hepatite B crônica, em uso de lamivudina
e tenofovir, utilizando IFX por 30 meses sem reativação do
HBV durante todo o tratamento.
RELATO DE CASO
Paciente masculino, 56 anos, com AR e fator reumatoide
positivo iniciada há 11 anos. Há cinco anos, quando iniciou
acompanhamento reumatológico, descobriu ser portador de
hepatite B crônica.
Em sua primeira consulta em nosso serviço, apresentava
doença ativa, com rigidez matinal de 30 minutos, tendo ao exame
físico sinovite em punhos, metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais, além de velocidade de hemossedimentação
(VHS) 12 mm/h, proteína C-reativa (PCR) 0,5 mg/dL (< 0,33)
e DAS28 (Disease Activity Score 28) 5,63. Nos achados radiográficos havia presença de erosões na quinta articulação
Recebido em 21/02/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse.
Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – HC/UFPR.
1. Residente em Reumatologia, Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – HC/UFPR
2. Residente em Clínica Médica, HC/UFPR
3. Professor-Assistente de Reumatologia, HC/UFPR
Correspondência para: Eloisa Doubrawa. Rua Nilo Cairo, 36/105 – Centro. Curitiba, PR, Brasil. CEP: 80060-050. E-mail: [email protected]
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):651-655
653
Doubrawa et al.
metatarsofalangeana esquerda, segunda metacarpofalangeana
direita e segunda interfalangeana proximal direita. O paciente
encontrava-se sem medicação para tratamento da AR, mas já
havia feito uso de difosfato de cloroquina 250 mg por seis
meses. Quanto ao quadro de hepatite B, estava fazendo uso
de lamivudina (150 mg/dia) e apresentava, naquela ocasião,
HBeAg negativo, carga viral com menos de 20.000 cópias e
fibrose grau II em biópsia hepática. Optou-se pela introdução de
hidroxicloroquina 400 mg/dia para controle do quadro articular.
No primeiro retorno, em dois meses, constatou-se presença
de sinovite em mãos, punho direito e pé direito. Realizou-se
infiltração com corticoide intra-articular em quinta metatarsofalangeana direita e punho direito, e acrescentou-se sulfassalazina (1 g/dia) ao tratamento.
Após seis meses da introdução da segunda droga antirreumática modificadora de doença (DMARD) o paciente obteve
melhora dos sintomas, sem queixas de rigidez matinal, tendo
ao exame físico apenas acometimento de terceira metacarpofalangeana. Decidiu-se por aumentar a dose de sulfassalazina
(2 g/dia) e manter a hidroxicloroquina.
No início do tratamento o paciente apresentava-se com
quadro de hepatite B controlado (transaminases normais e
carga viral descendente), com boa resposta ao uso da lamivudina (150 mg/dia) e do tenofovir (300 mg/dia). Nos meses
seguintes, evoluiu com piora da atividade da doença, quando
aumentou-se a dose de sulfassalazina (3 g/dia). Devido a não
resposta à mudança de tratamento, optou-se pela introdução
de um imunobiológico.
Iniciou-se IFX na dose de 200 mg a cada oito semanas.
Naquele momento o paciente apresentava marcadores de
atividade de doença elevados: VHS 40 mm/h, PCR 2,40 mg/dL
(< 0,33), DAS28 5,68 e Questionário de Avaliação de Saúde
(HAQ) 0,75. Três meses depois, já havia respondido moderadamente ao tratamento, com queda de 0,79 no DAS28
(de 5,68 para 4,89), além de HAQ de 0,315 e VHS de 31.
Quatorze meses depois, apresentava sinovite apenas de ombro
esquerdo, DAS28 de 2,36 e VHS de 4 mm/h.
Durante todo o período de uso do anti-TNF-α o paciente
manteve função hepática estável, sem oscilações das transaminases, além de negativação do HBV-DNA. Atualmente, 30
meses após a introdução do IFX, ele mantém boa resposta ao
tratamento, com acometimento apenas de ombro esquerdo.
DISCUSSÃO
Os agentes anti-TNF-α emergiram como potente tratamento
para pacientes com AR que não respondem às DMARDs
convencionais. Apesar da comprovação da efi cácia dos
654
imunobiológicos para o tratamento de inúmeras doenças
autoimunes, o risco de infecção associada a esses agentes
é bem documentado. 3,4 A reativação do HBV é um dos
efeitos colaterais bem conhecidos em pacientes com infecção pelo HBV recebendo drogas citotóxicas ou tratamento
imunossupressor.5
Informações de modelos animais indicam que as citocinas
TNF-α e IFN-γ poderiam agir sinergicamente na inibição da
expressão e da replicação de genes do HBV, levando à redução
da transcrição intracelular do vírus. Além disso, o TNF-α induzido por antígenos HBV parece ser benéfico para o clearance
viral.6 Assim, a ação anti-TNF-α poderia induzir à perda do
mecanismo antiviral, reativando a doença ou impulsionando
o surgimento de HBV resistente.
A segurança e a eficácia do uso de agentes anti-TNF-α em
pacientes com infecção pelo HBV não são bem estabelecidas.
Devido à baixa frequência de positividade para sorologias
infecciosas em pacientes em uso de terapia anti-TNF,7 não
há estudos randomizados controlados e há poucas evidências
restritas a séries de casos mostrando uma relativa segurança
dos imunobiológicos nesses pacientes. Uma das complicações
mais graves já descritas em relatos foi a indução de hepatite
fulminante pelo IFX em um paciente com doença de Still e
hepatite B crônica sem tratamento prévio antiviral, para o qual
foi sugerida a reativação de um mutante pré-core do HBV
promovida pelo agente anti-TNF-α.8
Evidência de infecção por HBV ou HCV deve ser procurada
em todos os pacientes candidatos à terapia com anti-TNF, por
meio de testes sorológicos (HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBC e
anti-HCV). Nos casos de infecção ativa por HBV, a carga viral
deve ser mensurada.2
Há descrições de hepatite autoimune induzida por IFX,
devendo ser considerada como diagnóstico diferencial de
reativação da hepatite B. Nesses casos, o dano hepático é
predominantemente hepatocelular, e o diagnóstico é feito
por suspeita clínica, com uma relação temporal em relação à
exposição à droga, sorologia viral negativa e surgimento de
autoanticorpos.9
Alguns estudos preconizam, ainda, o uso de terapia antiviral profilática com lamivudina ou tenofovir em pacientes
com hepatite B, além de tratamento concomitante com agentes
anti-TNF-α.1 Essa prática, no entanto, tem sido questionada por
vários autores, que argumentam que a relação risco-benefício
da terapia profilática antiviral em pacientes recebendo um
longo curso de imunossupressão é indeterminada, e que o
tratamento prolongado com lamivudina pode estar relacionado ao desenvolvimento de cepas resistentes de HBV.10 Dessa
forma, o uso profilático de antiviral em pacientes candidatos
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):651-655
Uso de infliximabe em paciente com artrite reumatoide e hepatite B crônica
à terapia com imunobiológicos deve ser criterioso, não sendo
recomendado de rotina.11
Muitas questões ainda não foram respondidas em relação
aos agentes anti-TNF-α e à hepatite B devido à falta de estudos
controlados. Não se conhece qual dos agentes é mais eficaz
nesses casos, assim como desconhecemos o risco após a interrupção do tratamento imunossupressor quando a resposta de
reconstituição imune ocorre. Finalmente, é preciso avaliar os
riscos e os benefícios dos agentes anti-TNF-α nesses pacientes,
facilitando assim a decisão terapêutica mais adequada nesse
grupo de alto risco.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
Roux CH, Brocq O, Breuil V, Albert C, Euller-Ziegler L.
Safety of anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthritis and
spondylarthropathies with concurrent B or C chronic hepatitis.
Rheumatology (Oxford) 2006; 45(10):1294–7.
Nathan DM, Angus PW, Gibson PR. Hepatitis B and C virus
infections and anti-tumor necrosis factor-alpha therapy: guidelines
for clinical approach. J Gastroenterol Hepatol 2006; 21(9):1366–71.
Lipsky PE, van der Heijde DM, St Clair EW, Furst DE, Breedveld FC,
Kalden JR et al. Infliximab and methotrexate in the treatment
of rheumatoid arthritis. Anti-Tumor Necrosis Factor Trial in
Rheumatoid Arthritis with Concomitant Therapy Study Group. N
Engl J Med 2000; 343(22):1594–602.
Keane J, Gershon S, Wise RP, Mirabile-Levens E, Kasznica J,
Schwieterman WD et al. Tuberculosis associated with infliximab, a
tumor necrosis factor alpha neutralizing agent. N Engl J Med 2001;
345(15):1098–104.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):651-655
5.
Yeo W, Chan PKS, Zhong S, Ho WM, Steinberg JL, Tam JS et al.
Frequency of hepatitis B virus reactivation in cancer patients
undergoing cytotoxic chemotherapy: a prospective study of 626
patients with identification of risk factors. J Med Virol 2000;
62(3):299–307.
6. Ostuni P, Botsios C, Punzi L, Sfriso P, Todesco S. Hepatitis
B reactivation in a chronic hepatitis B surface antigen carrier
with rheumatoid arthritis treated with infliximab and low dose
methotrexate. Ann Rheum Dis 2003; 62(7):686–7.
7. Silva BSP, Endo AC, Medeiros AC, Gonçalves C, Moraes JCB,
Bonfá E et al. Frequência de anticorpos aos agentes etiológicos da
síndrome da imunodeficiência adquirida, sífilis, hepatites virais B e
C e doença de Chagas em pacientes reumatológicos em tratamento
com antifator de necrose tumoral (TNF). Rev Bras Reumatol 2009;
49(5):590–8.
8. Kuwabara H, Fukuda A, Tsuda Y, Shibayama Y. Precore mutant
hepatitis B virus-associated fulminant hepatitis during infliximab
therapy for rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2010. Available
from: http://www.springerlink.com/content/k443l80g1n860u03/
fulltext.pdf. [Accessed on 9th April, 2010].
9. Aithal GP. Hepatotoxicity related to antirheumatic drugs. Nat Rev
Rheumatol 2011; 7(3):139–50.
10. Calabrese LH, Zein NN, Vassilopoulos D. Hepatitis B virus (HBV)
reactivation with immunosuppressive therapy in rheumatic diseases:
assessment and preventive strategies. Ann Rheum Dis 2006;
65(8):983–9.
11. Di Marco V, Marzano A, Lampertico P, Andreone P, Santantonio T,
Almasio PL et al. Clinical outcome of HBeAg-negative chronic
hepatitis B in relation to virological response to lamivudine.
Hepatology 2004; 40(4):883–91.
655
COMUNICAÇÃO BREVE
Malondialdeído e grupo sulfidrila como
biomarcadores do estresse oxidativo em
pacientes com lúpus eritematoso sistêmico
Yenly G. Pérez1, Lissett Caridad González Pérez1, Rita de Cássia M. Netto2, Domingos S. N. de Lima3, Emerson S. Lima4
RESUMO
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune de origem desconhecida, associada ao estresse oxidativo. O
presente estudo teve como objetivo investigar a presença de estresse oxidativo em pacientes com LES recém-diagnosticado.
Pacientes com LES (n = 36) e controles (n = 28) foram incluídos no estudo. Amostras de sangue foram usadas para dosagem
de malondialdeído (MDA), grupo sulfidrila (SH) e ácido úrico no soro. Os níveis de MDA (µmol/L) foram maiores nos
pacientes (3,9 ± 2,6) que nos controles (1,6 ± 2,6). Os níveis de SH foram significativamente menores nos pacientes. Os
achados sugerem que o MDA pode ser um bom marcador de estresse oxidativo no LES.
Palavras-chave: estresse oxidativo, antioxidantes, lúpus eritematoso sistêmico, ácido úrico.
© 2012 Elsevier Editora Ltda. Todos os direitos reservados.
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune
crônica caracterizada por amplo espectro de manifestações
clínicas, com produção de diversos autoanticorpos e deposição
de complexos imunes fixadores de complemento, resultando
em lesão dos tecidos.1 Embora a causa específica do LES seja
desconhecida, vários estudos associam a doença a imunidades
celular e humoral defeituosas, provavelmente influenciadas por
fatores genéticos, ambientais e hormonais.2,3
Acredita-se que radicais livres e outras espécies reativas
de oxigênio/nitrogênio/cloro contribuam para a ocorrência de
várias doenças crônicas, causando estresse e lesão oxidativos.
As doenças em que a lesão oxidativa foi implicada são câncer,
aterosclerose, doença de Alzheimer, diabetes mellitus e doenças
autoimunes.4–8
Muitos estudos clínicos se concentram na mensuração da
lesão oxidativa mediante o uso de biomarcadores – oxidantes
e antioxidantes. O malondialdeído (MDA), um produto da
oxidação da lipoperoxidação, tem sido detectado em níveis
elevados em várias doenças.9 Os grupos sulfidrila (SH) são
considerados os maiores e mais frequentes antioxidantes no
plasma.10 Diversos estudos experimentais apontam para um
papel qualitativa e quantitativamente importante do ácido úrico
como substância antioxidante, funcionando como eliminador
de radicais livres e quelador de íons metálicos temporários,
que são convertidos em formas pouco reativas.11
A finalidade deste estudo foi determinar a presença de
estresse oxidativo em pacientes com LES, mediante a determinação desses biomarcadores nas amostras de sangue. Os
parâmetros foram correlacionados com atividade da doença e
comorbidades; os resultados foram comparados com indivíduos normais no grupo-controle.
O estudo abrangeu 36 pacientes com LES e 28 voluntários saudáveis (controles) com idades entre 10 e 56 anos.
O diagnóstico baseou-se em pelo menos quatro dos 11
critérios diagnósticos estabelecidos pelo American College
of Rheumatology (ACR).12 Todos os pacientes estavam em
Recebido em 07/09/2011. Aprovado, após revisão, em 08/05/2012. Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse. Suporte Financeiro: FAPEAM, CNPq.
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Amazonas – UFAM.
1. Aluno de Medicina, Universidade Federal do Amazonas – UFAM
2. Pós-graduando, Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia – UFU
3. Doutor; Médico Reumatologista, Hospital Universitário Getúlio Vargas
4. Doutor; Professor-Adjunto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, UFAM
Correspondência para: Emerson S. Lima. Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Amazonas. CEP: 69010-300. Manaus, AM, Brasil.
E-mail: [email protected]
658
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):656-660
Malondialdeído e grupo sulfidrila como biomarcadores do estresse oxidativo em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico
tratamento, e a atividade da doença foi avaliada pelo Systemic
Lupus Erythematosus Disease Active Index (SLEDAI, do
inglês, Índice de Atividade da Doença em Lúpus Eritematoso
Sistêmico). A doença era considerada ativa quando SLEDAI
> 6.13 O protocolo do estudo foi aprovado pela Comissão de
Ética para Pesquisas com Seres Humanos da Universidade
Federal do Amazonas (CAAE n. 0043.0.115.000.08). Todos os
participantes (pacientes e controles) assinaram consentimento
informado antes de tomar parte no estudo, e responderam a um
questionário padronizado para fatores demográficos.
A coleta de sangue venoso (10 mL) de cada participante foi realizada com um sistema de tubos a vácuo (BD
Vacutainer® System), com centrifugação (800 g, 15 min).
O soro foi utilizado para determinar os marcadores bioquímicos e imunológicos.
O MDA foi determinado por Cromatografia Líquida de Alto
Desempenho (HPLC); os cromatogramas foram monitorados
a 532 nm e a concentração das amostras foi determinada em
µmol/L.14 O ácido úrico foi medido usando um analisador
espectrofotométrico Cobas Mira® (Roche Instruments Inc.),
com kits comercializados (Labtest, Minas Gerais, Brasil). Os
grupos SH foram determinados pelo método de Ellmans, modificado por Hu et al.15 Os resultados foram expressos como
média ± desvio-padrão (DP). Utilizamos o teste t de Student
para comparar os valores médios. Foram aplicadas correlações de Pearson e Spearman para correlacionar os parâmetros
com SLEDAI. P < 0,05 foi considerado estatisticamente
significativo.
As características gerais e demográficas dos pacientes com
LES e dos controles saudáveis estão apresentadas na Tabela 1.
Não foi observada diferença entre duração, número de critérios
e atividade da doença e estresse oxidativo (P > 0,05).
O lúpus caracteriza-se pela agressão direta de autoanticorpos e pela deposição de complexos imunes fixadores de
complemento, resultando em lesão dos tecidos associada ao
estresse oxidativo.16 Waszczykowska et al.17 sugeriram que os
radicais livres intracelulares são capazes de induzir a síntese de
citocinas que participam e modulam as respostas inflamatórias
com a criação de radicais superóxido.
O estresse oxidativo, medido por níveis de MDA, estava
aumentado em 78,9% (n = 30) dos pacientes com LES, enquanto
apenas 21,1% (n = 8) dos controles apresentaram esse aumento
(OR = 12,5; 95% IC 3,7–41,5). Conforme ilustrado na Tabela 2,
observou-se que os níveis de MDA estavam significativamente
aumentados em pacientes com LES em comparação aos controles. Não foi observada diferença significativa entre os níveis de
MDA e a duração da doença ou comorbidades. Níveis aumentados de MDA no soro18 e nos eritrócitos19 foram informados em
pacientes com LES. Wang et al.20 e Shah et al.21 associaram uma
resposta mais forte de estresse oxidativo com escores SLEDAI
mais altos, achado similar ao relato de Tewthanom et al.18 No
entanto, não identificamos, em nosso estudo, a associação dos
níveis de MDA ou de SH com escores SLEDAI. Os altos níveis
de MDA em pacientes com LES indicam que a membrana celular
lipídica foi atacada, e que o MDA pode ser um bom marcador
de estresse oxidativo nessa doença.
Não ocorreu alteração significativa nos níveis séricos de
ácido úrico em pacientes com LES, em comparação aos controles (4,1 ± 1,5 e 3,8 ± 0,9 mg/dL, respectivamente). Não foi
observada correlação entre os níveis séricos desse composto
e atividade da doença. Deminice et al.22 associaram o ácido
úrico como resposta de biomarcador de estresse oxidativo a
uma sessão aguda tradicional de interval training e de circuit
training com resistência à hipertrofia. Mas Ikeda et al.23 não
puderam estabelecer a mesma associação, quando o estresse
oxidativo foi observado em pacientes com esclerose lateral
amiotrófica progressiva. Embora o ácido úrico seja considerado importante antioxidante, e embora seja esperado que seus
níveis séricos fiquem mais baixos em pacientes com LES em
comparação aos controles, em nosso estudo também não foi
Tabela 1
Características gerais e demográficas de pacientes com lúpus
eritematoso sistêmico e controles saudáveis
Tabela 2
Comparação entre os parâmetros de oxidantes e de antioxidantes
em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e em controles
saudáveis
Dados gerais
LES (n = 36)
Controles (n = 28)
Idade
28,2 ± 13
27,9 ± 9,9
Média
LES (n = 36)
Controle (n = 28)
P*
3,9 ± 2,6
1,6 ± 2,6
0,001
Gênero (feminino)
33 (91,6%)
28 (100%)
MDA (µmol/L)
ACR, número
5,3 ± 1,1
NA
Grupo SH (µmol/L)
260,2 ± 182,7
339,4 ± 104,3
0,04
Ácido úrico (mg/dL)
4,1 ± 1,5
3,8 ± 0,9
0,48
TD (mês)
5,9 ± 3,5
NA
SLEDAI, número
10,3 ± 6,6
NA
ACR: American College of Rheumatology; TD: tempo da doença; NA: não aplicável.
Os valores estão expressados como média ± DP.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):656-660
LES: lúpus eritematoso sistémico; MDA: malondialdeído; SH: sulfidrila.
Os valores são expressados como média ± desvio padrão (DP). As
diferenças foram consideradas significativas quando P < 0,05.
659
Pérez et al.
possível associar essa substância como um biomarcador de
confiança de estresse oxidativo.
Morgan et al.24 demonstraram que marcadores da oxidação
proteica têm correlação com um estado de deterioração da
doença em pacientes com LES. Em nosso estudo, observamos
que os níveis do grupo SH estavam significativamente diminuídos em pacientes com LES em comparação aos controles
(260,2 ± 182,7 versus 339,4 ± 104,3 µmol/L), achado similar
ao do estudo de Zhang et al.25 Esse achado reforça o papel do
estresse oxidativo na patogênese do LES.
Concluímos que pacientes com LES exibem aumento no estresse oxidativo. No entanto, essa resposta não está correlacionada
à atividade da doença ou à sua duração. Os níveis de MDA e dos
grupos SH podem ser utilizados como biomarcadores para medir
o estresse oxidativo em pacientes com LES, enquanto o ácido
úrico não pode ser utilizado com a mesma finalidade. Há ainda
necessidade de novos estudos sobre estresse oxidativo e LES, para
que aumente nossa compreensão da patogênese dessa doença.
REFERENCES
REFERÊNCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
660
Karanam SA, Dharmavarapu PK, D Souza R, Upadhya S, Kumar V,
Kedage V et al. Lúpus eritematoso sistêmico. In: Goldman L,
Ausiello, Cecil D (eds.). Tratado de medicina interna. 22.ed. Rio
de Janeiro: Elsevier; 2005, p.1937–47.
Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Adaptação, dano e morte celular.
In: Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Robbins & Cotran (eds.). Bases
patológicas das doenças. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2005, p.17–9.
Nery FG, Borba EF, Neto FL. Influence of the psychosocial stress
on systemic lupus erythematosus. Rev Bras Reumatol 2004;
44(5):355–61.
Valko M, Rhodes CJ, Moncol J, Izakovic M, Mazur M. Free radicals,
metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chem
Biol Interact 2006; 160(1):1–40.
Bonomini F, Tengattini S, Fabiano A, Bianchi R, Rezzani R.
Atherosclerosis and oxidative stress. Histol Histopathol 2008;
23(3):381–90.
Zawia NH, Lahiri DK, Cardozo-Pelaez F. Epigenetics, oxidative
stress, and Alzheimer disease. Free Radic Biol Med 2009;
46(9):1241–9.
Chang YC, Chuang, LM. The role of oxidative stress in the
pathogenesis of type 2 diabetes: from molecular mechanism to
clinical implication. Am J Transl Res 2010; 2(3):316–31.
Filippin LI, Vercelino R, Marroni NP, Xavier RM. Redox influence
on the inflammatory response in rheumatoid arthritis. Rev Bras
Reumatol 2008; 48(1):17–24.
Amara A, Constans J, Chaugier C, Sebban A, Dobourg L,
Peuchant E et al. Autoantibodies to malondialdehyde-modified
epitope in connective tissue diseases and vasculitides. Clin Exp
Immunol 1995; 101:233–8.
10. Kolagal V, Karanam SA, Dharmavarapu PK, D´souza R, Upadhya S,
Kumar V et al. Determination of oxidative stress markers and their
importance in early diagnosis of uremia-related complications. Indian
J Nephrology 2009; 19(1):8–12.
11. Glantzounis GK, Tsimoyiannis EC, Kappas AM, Galaris DA. Uric
acid and oxidative stress. Curr Pharm Des 2005; 11(32):4145–51.
12. Surita FGC, Cecatti JG, Barini R, Parpinelli MA, Silva JLC. Lúpus
e gravidez. Rev Bras de Ginec e Obstetrícia 1997; 19(6):413–7.
13. Morgan PE, Sturgess AD, Davies MJ. Increased levels of serum
protein oxidation and correlation with disease activity in SLE.
Arthritis Rheum 2005; 52(7):2069 –79.
14. Fukunaga K, Takama K, Suzuki T. High performance liquid
chomatography determination of plasma malondialdehyde level
without a solvent extraction procedure. Anal Biochem 1995;
230(1):20–3.
15. Hu ML, Louie S, Cross CE, Motchnik P, Halliwell B. Antioxidant
protection against hypochlorous acid in human plasma. J Lab Clin
Med 1993; 121(2):197–8.
16. Ferguson JD. Stress that causes palpitations: oxidative stress and
atrial fibrillation. Heart Rhythm 2009; 6(7):941–2.
17. Waszczykowska E, Robak E, Wozniacka A, Narbutt J, Torzecka JD,
Sysa-Jedrzejowska A. Estimation of SLE activity based on the
serum level of chosen cytokines and superoxide radical generation.
Mediators of Inflammation 1999; 8(2):93–100.
18. Tewthanom K, Janwityanuchit S, Totemchockchyakarn K,
Panomvana D. Correlation of lipid peroxidation and glutathione
levels with severity of systemic lupus erythematosus: a pilot study
from single center. J Pharm Pharm Sci 2008; 11:30–4.
19. Turgay M, Durak I, Erten S, Ertugrul E, Devrim E, Avci A et al.
Oxidative stress and antioxidant parameters in a Turkish group of
patients with active and inactive systemic lupus erythematosus.
APLAR J Rheumatol 2007; 10:101–6.
20. Wang G, Pierangeli SS, Papalardo E, Ansari GA, Khan MF.
Markers of oxidative and nitrosative stress in systemic lupus
erythematosus: correlation with disease activity. Arthritis Rheum
2010; 62(7):2064–72.
21. Shah D, Kiran R, Wanchu A, Bhatnagar A. Oxidative stress in
systemic lupus erythematosus: Relationship to Th1 cytokine and
disease activity. Immunol Letters 2010; 129:7–12.
22. Deminice R, Sicchieri T, Mialich MS, Milani F, Ovidio PP,
Jordan AA. Oxidative stress biomarker response to an acute session
of hypertrophy-resistance traditional interval training and circuit
training. J Strenght Cond Res 2011; 25(3):798–804.
23. Ikeda K, Kawabe K, Iwasaki Y. Do serum acid reflect oxidative
stress in the progression of ALS? J Neurol Sci 2009; 287(1–2):294.
24. Morgan PE, Sturgess AD, Davies MJ. Evidence for chronically
elevated serum protein oxidation in systemic lupus erythematosus
patients. Free Radic Res 2009; 43:117–27.
25. Zhang Q, Ye DQ, Chen GP, Zheng Y. Oxidative protein damage
and antioxidant status in systemic lupus. Eryth Clin Exp Dermatol
2009; 35:287–94.
Rev Bras Reumatol 2012;52(4):656-660