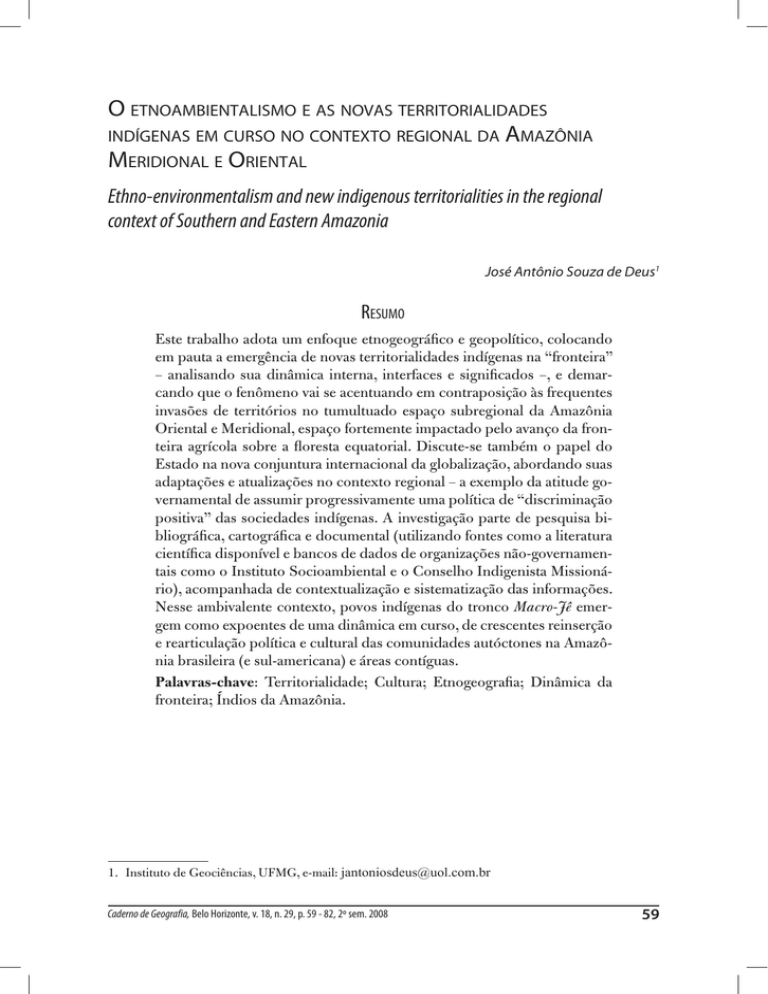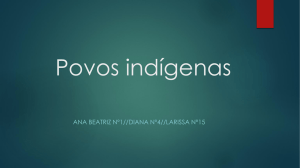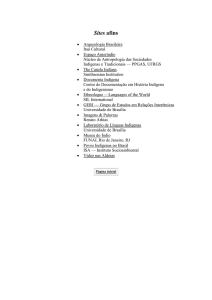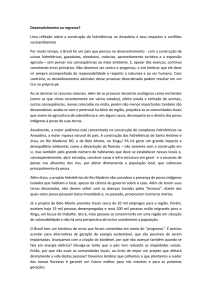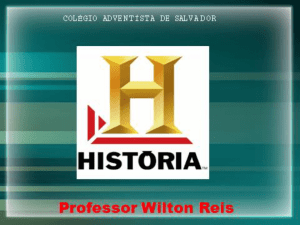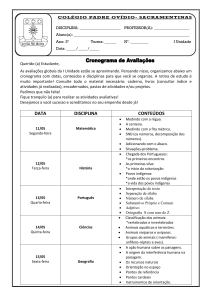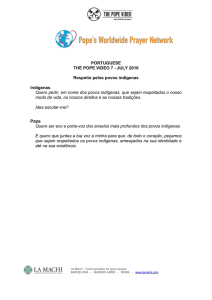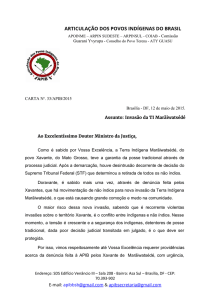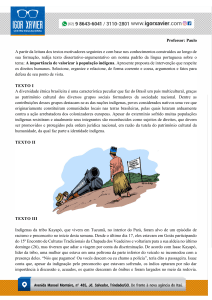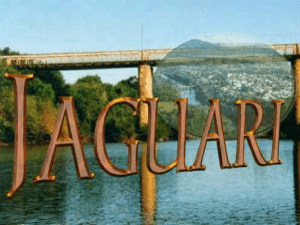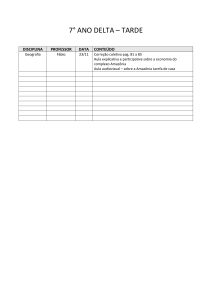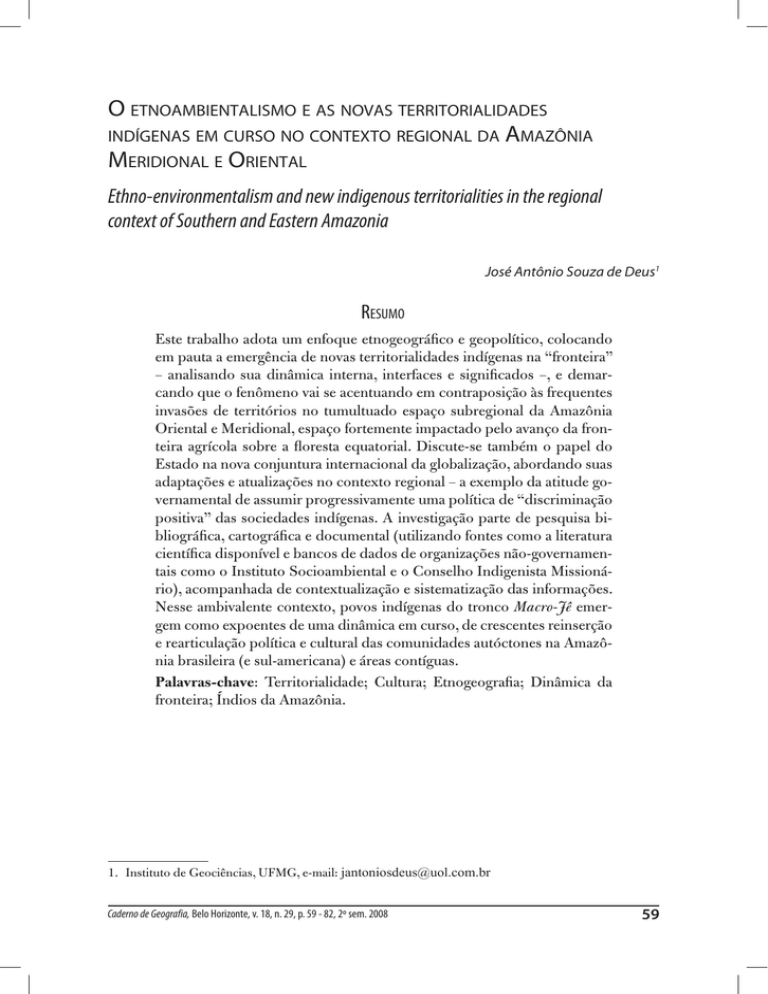
O etnoambientalismo e as novas territorialidades
indígenas em curso no contexto regional da Amazônia
Meridional e Oriental
Ethno-environmentalism and new indigenous territorialities in the regional
context of Southern and Eastern Amazonia
José Antônio Souza de Deus1
Resumo
Este trabalho adota um enfoque etnogeográfico e geopolítico, colocando
em pauta a emergência de novas territorialidades indígenas na “fronteira”
– analisando sua dinâmica interna, interfaces e significados –, e demarcando que o fenômeno vai se acentuando em contraposição às frequentes
invasões de territórios no tumultuado espaço subregional da Amazônia
Oriental e Meridional, espaço fortemente impactado pelo avanço da fronteira agrícola sobre a floresta equatorial. Discute-se também o papel do
Estado na nova conjuntura internacional da globalização, abordando suas
adaptações e atualizações no contexto regional – a exemplo da atitude governamental de assumir progressivamente uma política de “discriminação
positiva” das sociedades indígenas. A investigação parte de pesquisa bibliográfica, cartográfica e documental (utilizando fontes como a literatura
científica disponível e bancos de dados de organizações não-governamentais como o Instituto Socioambiental e o Conselho Indigenista Missionário), acompanhada de contextualização e sistematização das informações.
Nesse ambivalente contexto, povos indígenas do tronco Macro-Jê emergem como expoentes de uma dinâmica em curso, de crescentes reinserção
e rearticulação política e cultural das comunidades autóctones na Amazônia brasileira (e sul-americana) e áreas contíguas.
Palavras-chave: Territorialidade; Cultura; Etnogeografia; Dinâmica da
fronteira; Índios da Amazônia.
1. Instituto de Geociências, UFMG, e-mail: [email protected]
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2º sem. 2008
59
Deus, J. A. S.
V
ivemos um momento de vitalidade e efervescência no campo das investigações
e práticas geográficas – e que vêm se materializando particularmente
nas linhas interpretativas da geografia cultural, percepção ambiental e
etnogeografia, áreas do conhecimento cujas categorias de análise e paradigmas
de interpretação (AMORIM FILHO, 2007; CLAVAL, 1996, 2008; DEUS,
2005; McDOWELL, 1996) vêm sendo retrabalhados em densas discussões
sobre conceitos e temas em foco (CASTELLS, 1998; HALL, 2001; LACOSTE,
1996), como as relações entre território, identidade e cultura; as tendências de
transformação do território no Brasil – incluindo seu ordenamento e gestão –; as
diferentes categorias de território e territorialidade (territórios de confinamento,
“territórios-rede”, territórios “corporificados”, “territorialidades cíclicas”); os
dinâmicos processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização
(HAESBAERT, 2007), incluindo as sugestivas discussões sobre o indigenismo e
a territorialização; a releitura do conceito de região – agora visualizada como foco
de identidade cultural ou como “espaço vivido”; a caracterização de paisagens
culturais alternativas, emergentes e excluídas; a geopolítica da biodiversidade
e o consequente desenvolvimento de práticas como o etnoambientalismo e a
etnoconservação;2 o estabelecimento de relações topofílicas e topofóbicas dos
indivíduos e comunidades com esses territórios, lugares e paisagens (bem como a
identificação dos fenômenos de topocídio e toporreabilitação aí incidentes) etc.
Essas inflexões na pesquisa têm ocorrido paralelamente à consolidação de
processos de organização e manifestação coletivas de grupos étnicos, culturais e
religiosos por vezes minoritários, mas que, emergindo como contraprojetos refratários à marcha da globalização e coesos em torno de suas visões de mundo, imaginário e paradigmas, exercem expressiva influência no cenário cultural e social
contemporâneos. Sugestivamente, a emergência de movimentos sociais diversos
– índios, quilombolas, gays, grupos ecológicos etc. – vem superando, em termos de
visibilidade e influência, segmentos e formas de luta mais clássicas (operários, es2. Essas práticas têm contribuído para a superação de processos históricos de etnocídio, de discriminação
e marginalização. A etnoconservação pode ser definida como gestão comunitária dos recursos naturais renováveis (FARIA, 2002).
60
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
tudantes, moradores de bairros etc.) – demonstrando o quanto é relevante a busca
política de um espaço próprio, que reivindica a diferença e recusa a fatalidade de
uma sujeição dissolvida em um tipo (ou padrão) único de comportamento. Essa
questão é sobretudo clara no movimento indígena que hoje se articula, e seu direito
a reivindicar um espaço próprio passa fundamentalmente pela consciência de uma
forma concreta de sujeição (e marginalização). Llancaqueo (2005, p. 67, tradução
nossa) caracteriza a transformação dos indígenas em atores políticos fundamentais
no cenário latino-americano “como um dos fenômenos mais notáveis ocorridos
no final do século XX no continente e que sem dúvida terá impactos de longa
duração”. Enquanto Rocha (2007, p. 134) registra que poucos povos chegaram a
cativar tanto “a imaginação mundial, quanto os Yanomami”.3 E Giraldin (2004, p.
129) assinala: “Parece que quanto mais ocorrem movimentos que indicariam para
um processo de universalização cultural, mais vemos manifestarem-se as chamadas
culturas locais, num sentido de valorização das particularidades culturais”.
Bertha Becker, ao abordar a questão ambiental no contexto regional da Amazônia brasileira no cenário recente, demarca com muita propriedade: “O fato é
que houve uma tomada de consciência enorme por parte da população, um aprendizado social e político, e a sociedade se organizou como nunca antes tinha se
verificado, nem na região nem, talvez, no Brasil” (BECKER, 2007, p. 24). E nesse cenário de novas e contínuas transformações, transparece que “na busca por
uma alternativa viável de desenvolvimento sustentável, os povos tradicionais foram
considerados pelos ambientalistas como parceiros” (LIMA; PEREIRA, 2007, p.
117). E novas territorialidades indígenas vão assim se forjando e se consolidando,
em contraposição às sistemáticas invasões de territórios, nos conturbados espaços
subregionais da Amazônia Oriental e Meridional,4 espaços significativamente degradados pela expansão da fronteira agrícola sobre áreas florestais e de cerrado,5
que ameaça cada vez mais os povos indígenas e “populações tradicionais”6 e que,
como assinala o geógrafo carioca Carlos Walter, “têm hoje uma possibilidade histórica maior de afirmar seus direitos do que tinham há trinta ou quarenta anos atrás”
(GONÇALVES, 2007, p. 396).
3. Nação indígena de Roraima, atingida por impactos da garimpagem de depósitos aluvionares de ouro e
cassiterita (minério de estanho), principalmente nas décadas de 1970 e 1980. É lamentável – e paradoxal –
que os povos nativos das Américas ainda sejam vitimizados pela exploração de um metal imemorialmente
considerado precioso pelos povos do Velho Mundo, por mera fascinação e “fetiche”. Uma das comunidades yanomâmi sofreu violento massacre (na maloca de Haximu, em 1993) – evento que, à época, repercutiu
enormemente no mundo inteiro (BIRRAUX-ZIEGLER, 1995; BRINCOURT, 1991; JONES, 2008).
4. O “Arco do desmatamento”, que inclui as pré-Amazônias mato-grossense e maranhense.
5. Avanço esse praticamente negligenciável até 1960 aproximadamente (THÉRY, 1997).
6. Segmentos caracterizados de forma reducionista e imprópria por certos autores como um campesinato
da floresta (SILVA, 2007).
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
61
Deus, J. A. S.
Como exemplificam os pesquisadores da prestigiada organização Instituto
Socioambiental (RICARDO, 2000, p. 631), o futuro do Parque Indígena do Xingu7 está hoje “ameaçado pela ocupação predatória do entorno” e a sobrevivência
de povos que mantêm modo de vida tradicional e preservam a sustentabilidade da
região depende “de esforços duradouros e articulados entre índios e não-índios”.
O território indígena é delimitado a oeste, sul e sudeste por extensas linhas geometricamente traçadas, que deixam de fora da área protegida as nascentes dos
principais cursos fluviais formadores do grande rio, o que acarreta a degradação e
poluição hídrica das grandes artérias que drenam a área. Hoje, alarmados com o
desmatamento e poluição dos rios, índios xinguanos como os Suyá já reivindicam
a ampliação dos limites do parque (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 1996).
Mesmo garantias legais e constitucionais não têm conseguido impedir que
nos últimos anos – com o consentimento ou não dos povos indígenas –, grupos
econômicos diversos permaneçam explorando os ricos recursos naturais (minerais, vegetais, hídricos...) dessas estratégicas áreas. Presentemente, de fato, madeireiros, garimpeiros, castanheiros, pecuaristas e posseiros continuam avançando e
provocando extensa degradação ambiental em áreas indígenas (e outras unidades
de conservação da região, a exemplo do que vem ocorrendo em Rondônia e sudeste do Pará). A ocupação ilegal de terras indígenas no Brasil, envolvendo elevado
número de invasores, tem sido denunciada por diversas entidades da sociedade
civil no Brasil e no mundo. Consequentemente, para garantir a sobrevivência das
culturas e territórios indígenas e aborígines em todo o mundo, a ONU aprovou em
2007 uma “Declaração Sobre os Direitos dos Povos Indígenas” (TAVARES, 2007;
WALLS, 1993).
As invasões de madeireiras são particularmente intensas na área de distribuição do mogno (sudeste do Pará, Rondônia e norte de Mato Grosso, além do Maranhão, Acre e vale do Javari-AM). O mogno constitui uma madeira nobre, hoje
exportada para muitos países, sobretudo por Brasil e Bolívia (RICE; GULLISON;
REID, 1997).
Metodologia da pesquisa
Realizamos uma investigação que, alimentando-se dos aportes teóricos sobre
territorialidade e cultura, e alinhando-se com as propostas de Paul Claval (1996),
privilegiou a dimensão territorial como categoria de análise. Para Claval, a adoção
dessa perspectiva corresponde, aliás, a uma inflexão extremamente significativa na
pesquisa geográfica. Nossa investigação procurou se perfilar também com a pers7. O parque situa-se ao norte de Mato Grosso e é habitado por 14 etnias, incluindo os Kamayurá, Juruna,
Waurá, Kalapalo e Kuikuro.
62
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
pectiva de Cosgrove (1998), no sentido de rastrear o emergente na organização do
território e na distinção de paisagens, sem subestimar a relação das territorialidades
com os seus contextos. A pesquisa empreendida correspondeu a um estudo explicitamente geográfico, que, reconhecendo e respeitando as classificações e concepções etnológico-etnográficas, sinaliza entretanto com um nível de análise específico
e diferenciado ao buscar a sistematização e contextualização das informações.
Como primeiro passo metodológico, analisamos os fenômenos e processos
concernentes às dimensões da territorialidade e cultura das nações indígenas das
áreas meridional e oriental da região amazônica, incluindo o inventário de lutas de
cunho político-territorial, iniciativas de gerenciamento ambiental e econômico das
reservas, parcerias estabelecidas pelas comunidades tribais com diferentes atores/
agentes no cenário regional etc., com o objetivo de obter um diagnóstico integrado
da atual situação dos povos indígenas na região. As informações retrabalhadas tiveram muitas vezes como fonte primária de dados, registros obtidos junto à Funai.
Buscamos complementar nossa investigação com o levantamento das diferenças conspícuas que tornam determinados povos indígenas mais atuantes e influentes nos dias de hoje, levantando hipóteses sobre a influência na emergência das
novas territorialidades indígenas de fatores bem definidos, e estabelecendo critérios de identificação das comunidades indígenas mais bem posicionadas e mais
articuladas no cenário regional, classificação essa criada como tentativa de aproximação da realidade (recurso eventualmente capaz de captar alguns aspectos ou
flashes de um cenário provavelmente muito mais denso e vívido). As estratégias
utilizadas para materializar avanços no plano político-territorial e político-cultural
foram também rastreadas. Os fatores considerados corresponderam às dinâmicas
territorial e cultural dos grupos, as quais se desdobram em um leque de diferentes
variáveis. A dinâmica territorial envolve questões como: a soberania territorial dos
povos indígenas sobre áreas, por vezes extensas, em grande parte já demarcadas e
ocupadas por populações por vezes ponderáveis, com taxas de crescimento significativas; a fiscalização e controle de territórios e a utilização das potencialidades
naturais das reservas como instrumento de barganha para viabilizar melhorias para
as comunidades. A dinâmica cultural está por sua vez imbricada com a valorização
e reafirmação da identidade étnica e sua utilização como estratégia de contato com
o mundo exterior para viabilizar conquistas ou atrair alianças no plano político
(interconectividade político-cultural) – assegurando, em paralelo, a codificação/
transmissão das línguas nativas e a produção de material de formação e divulgação
da identidade tradicional –, além da eleição de representantes étnicos em prefeituras e câmaras e da projeção de lideranças. A reafirmação da identidade étnica propicia ainda novas formas de inserção no mercado através da “venda de imagem” e
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
63
Deus, J. A. S.
da utilização do “selo verde” (DEUS, 2007) para a comercialização de produtos
artesanais, agroextrativistas etc. (interconectividade econômico-cultural).
Como enfatiza Albert (2000, p. 198), os povos indígenas têm obtido financiamentos de empresas “tradicionais”, interessadas em “produtos com alto valor
etno-ecológico agregado, como a Body Shop (Reino Unido), a Aveda (Minnesota
- EUA) e a Hermès (França)...” ou estabelecido “parcerias comerciais privilegiadas” com empresas como as importadoras de guaraná Guayapi Tropical (França) e CTM (Itália). “As comunidades Kayapós de A-Ukre e Pukanuv, com cerca
de duzentas pessoas cada uma, iniciaram suas relações comerciais com a Body
Shop em 1991 e 1992, respectivamente” (ANDERSON; CLAY, 2002) – relações
que se consolidaram com a assinatura, em 1997, de convênio com a Funai como
representante oficial dos índios. É uma tendência que, aliás, se universaliza: os
índios Guajá (MA), por exemplo, encontraram uma nova alternativa de sobrevivência criando uma associação voltada para a produção sustentável de mel, polpa
de açaí, bacuri e óleo de copaíba, artigos comercializados a partir de 2000, com
o selo Guajá.
Diagnóstico da realidade indígena na Amazônia Oriental
e Meridional
No Pará, garimpeiros e madeireiros têm assediado, invadido e provocado
alterações no meio ambiente e modo de vida de povos como os Kayapó, Arara,
Parakanã, Panará e Kuruaya. Em 1994, foram abertos garimpos nas terras dos
Parakanã – que no ano seguinte tiveram, por sua vez, de desativar um acampamento que servia de apoio logístico de madeireiros. Já em 1999, foi denunciada
a extração de mogno na área dos Arara – município de Altamira; e também os
Tembé, Timbira, Urubu-Kaapor e Guajá do Maranhão denunciaram à Procuradoria da República, Ibama e Incra, a invasão de seus territórios por agricultores e
madeireiros, recorrentes há pelo menos uma década. Em 2002, o Ibama apreendeu em Santa Luzia do Paruá madeira ilegalmente retirada da Área Indígena Alto
Turiaçu, onde, desde 1995, vinham se tornando tensas as relações entre indígenas e invasores. Na mesma época, a Justiça Federal tomou medidas para proteger
também as terras dos Mundurukú (em Novo Progresso, sudoeste do Estado),
invadidas por garimpeiros. A presença de invasores tensionou o clima na região,
criando risco de eclosão de conflitos. Nesse período, surgiram ainda denúncias
de extração ilegal de minérios e madeira na área dos Kuruaya, na bacia xinguana
(também em Altamira-PA).
Já a divisa de Mato Grosso e Rondônia corresponde hoje ao principal foco
de conflitos entre índios e invasores e vários povos aí domiciliados sofrem o as64
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
sédio de madeireiros, garimpeiros de diamantes e pecuaristas, como os Suruí,
Gaviões, Cintas Largas e Tupari (MINDLIN, 1993; SILVA, 1998). E outra sociedade indígena da região, os Zoró, teve o seu território esquadrinhado por estradas e picadas abertas para exploração de madeira e palmito (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 1996). Em 1999, a Funai denunciou a invasão de garimpeiros e madeireiros também na Reserva Uru-Eu-Wau-Wau – em Seringueiras
(Rondônia). E em 2002, força-tarefa do Exército, Polícia Federal, Ministério
Público e Funai empreendeu operação de retirada de três mil garimpeiros das
terras dos Cintas Largas, Gaviões, Zoró, Suruí, para deter o processo de desagregação social, cooptação de lideranças, desnutrição, prostituição e alcoolismo
gerado pela presença dos garimpeiros nessas áreas. Da Reserva Roosevelt, dos
Cintas Largas, 300 garimpeiros foram removidos, mas o maior desafio consiste
em mantê-los permanentemente fora da reserva. Seu retorno à área resultou, em
2004, em massacre de 29 invasores pelos índios. As violências recíprocas entre
índios e “civilizados” são recorrentes na região: em 1963, os habitantes de uma
aldeia cinta larga foram vítimas de bárbaro extermínio, internacionalmente conhecido como o “Massacre do Paralelo 11” (RIBEIRO, 1992). No município
de Comodoro-MT, a exploração de mogno, peroba e cerejeira é feita à revelia
de grupos da nação nambikwára aí domiciliados (como constatou a Funai em
1993, na área Mamaindê; e o Ibama em 1998, na área alantesu). Em 1992, outro subgrupo, os Kithaulu da Área Indígena Sararé (municípios de Vila Bela da
Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Conquista d’Oeste-MT), teve sua área
degradada por oito mil garimpeiros (utilizando centenas de dragas) e madeireiros. Os garimpeiros foram removidos em 1997 por iniciativa de órgãos federais
e estaduais (Polícia Federal, Polícia Militar, Exército, Funai e Ibama). Entretanto,
o avanço de madeireiros sobre o território indígena e o aliciamento de lideranças
tribais continuaram ocorrendo na região. E após anos de exploração garimpeira
e madeireira, os córregos foram assoreados, as nascentes obstruídas, os rios contaminados e milhares de hectares de floresta desmatados na reserva. Em 2001, a
Funai criou o “Projeto de Gestão Territorial e Economia Etnoambiental do Sararé” com o objetivo de repovoar e vigiar a área indígena, produzindo e plantando
mudas de açaí, juçara, pupunha... e de viabilizar o manejo sustentável das riquezas da floresta. Em 2002, os Hahaintesu obtiveram do TRF sentença favorável
contra invasores que retiraram ilegalmente, até 1988, madeiras nobres na Terra
Indígena Vale do Guaporé. No norte de Mato Grosso, índios Apiaká e Kayabi
perceberam que, com a fundação, em 1973, de Juara – centro de colonização
situado a apenas 50 km de sua área e com a instalação de fazendas e empresas
próximas a suas terras, “as reservas estarão expostas a uma invasão dificilmente
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
65
Deus, J. A. S.
controlável e urge salvar os recursos necessários à sobrevivência dos dois grupos” da região tapajônica (KAYABI, 1981, p. 138).8
Dinâmica populacional, universo cultural e experiências
históricas de contato: uma pluralidade de situações
Quanto à dinâmica populacional, após terem reduzido sua população a um
patamar mínimo de 97 mil indivíduos em 1970, nossos índios somariam hoje, de
acordo com levantamentos do Instituto Socioambiental, 350 mil indivíduos, de
216 etnias, distribuídos por 3.500 aldeias (RICARDO, 2000) – falando 170 idiomas diferentes. Existem ainda mais de 50 mil índios desaldeados, aglomerados
na periferia de áreas urbanas ou na zona rural. Os povos indígenas hoje se concentram sobretudo nos Estados do Amazonas (48), Pará (27), Mato Grosso (27)
e Rondônia (22). Só no Amazonas, a população indígena soma atualmente 80
mil indivíduos. E na Amazônia há regiões (Rio Negro, Roraima, Solimões, Jutaí,
Oiapoque...), em que os índios constituem percentualmente parcela significativa
da população regional. Em São Gabriel da Cachoeira-AM, por exemplo, mais de
90% dos 30 mil moradores são índios, que se expressam, além do português, em
nheengatú (língua geral ou tupi amazônico), formando uma das maiores concentrações indígenas do país – distribuída por 750 povoados e aldeias e incluída em
23 etnias diferentes, como os Tukano, Baníwa, Baré e Maku (ROCHA, 1995).
Em 1997, índios constituíam 85% dos homens incorporados ao 5º Batalhão de
Infantaria de Selva, na região.
Levantamentos realizados pelo Conselho Indigenista Missionário (organismo
da Igreja Católica vinculado à CNBB), com base em dados do IBGE, apresentados em 2000 à Comissão de Direitos Humanos da OEA, reúnem informações não
apenas dos índios localizados em áreas indígenas (reconhecidas ou em processo de
regularização), mas também de povos em processo de resgate da identidade étnica
(“emergentes, ressurgentes”); índios que decidiram migrar para cidades (“desaldeados, destribalizados”) e povos ainda não contactados (“ïsolados, arredios”).
“O resultado do levantamento apontou uma população de 551.991 pessoas, pertencentes a 225 povos” (CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2001,
p. 144). Desse total, 358.310 (65%) seriam aldeados e 193.781 (35%) estariam
estabelecidos nos centros urbanos. Em 2002, foram divulgados resultados do censo do IBGE que já contabilizavam 701.462 índios no Brasil. Sociedades que se
julgava extintas há séculos têm “ressurgido” a partir de pesquisas etnológicas ou
da necessidade de certos grupos, até então ocultos, imersos ou indistintos dentro
8. Já os índios Bakairi, do leste do Estado, retomaram em 1980 área excluída de demarcações anteriores e
grilada por fazendeiros.
66
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
do complexo sociocultural da sociedade regional (e vivendo um processo de “desterritorialização aparente”), em reassumir sua identidade. Os povos “isolados”
corresponderiam, por sua vez, a frágeis microssociedades perdidas na floresta, em
situação de risco e refugiadas em remotas áreas como o vale do Javari e faixa de
fronteira Brasil/Peru-Acre (DALMOLIN, 2004).
Em toda a Amazônia sul-americana, estima-se que o contingente populacional indígena se aproxime de um milhão de indivíduos, de 379 grupos étnicos distintos (EGG, 1992). Na Amazônia brasileira e Brasil Central, de acordo com o
banco de dados do ISA, as etnias com população mais numerosa correspondiam
aos: Tikuna (Alto Solimões-AM), com 32.613; Makuxi (Roraima-Lavrado), com
16.500; Yanomâmi (Roraima-Mata), com 11.700; Xavante (Rio das Mortes-MT),
com 9.602; Mundurukú (Tapajós-PA), com 7.500; Sateré-Mawé (Área TapajósMadeira), com 7.134; Wapixána (Roraima-Lavrado), com 6.500; Kayapó (SE/
Pará e norte/MT), com 6.306; Mura (bacia do Madeira), com 5.540; Baníwa (Rio
Negro-AM), com 4.000; Kaxinawá (Acre), com 3.964; e Tukano (Rio Negro-AM),
com 3.670 indivíduos (RICARDO, 2000).
Após os primeiros contatos com a nossa civilização – o que para muitos povos
ocorreu de 1960 a 1970 (CRAVEIRO; PERRET, 2004), os grupos tribais perdem
fração considerável de sua população e experimentam acelerada desorganização
social. Em consequência da ação dissociativa da sociedade nacional, muitos grupos
indígenas acabaram extintos, e outros ficaram profundamente descaracterizados.
Entre os povos mais desarticulados da Amazônia, já sem domínio da língua materna, podemos citar os Omágua e Miranha no Solimões (AM); os Arikém, Koaiá e
Puruborá, em Rondônia; os Arara do Aripuanã (MT); e os Xipaya e Kuruaya, do
sudeste do Pará. No contexto de uma ampla retrospectiva histórica, à medida que
se consolidava a conquista do território, o declínio demográfico e a regressão social das comunidades foram se intensificando. Em 1970, os Nambikwára viveram
“uma tragédia que resultou em drástica depopulação em virtude da implantação de
fazendas e construção da BR-364 seccionando seu território tradicional em Mato
Grosso e Rondônia”. À época do contato, o subgrupo sabanês foi rapidamente
dizimado, reduzindo sua população de mil indivíduos em 1926, para apenas 21,
em 1938. Berta Ribeiro registrou a “agressão contra os Nambikwára e a destruição
de valioso patrimônio ecológico em Rondônia” (RIBEIRO, 1992, p. 197, tradução
nossa). E o Banco Mundial (BIRD), reconheceu que cometera grande equívoco
ao financiar o asfaltamento dessa rodovia no Projeto Polonoroeste, devido aos impactos ambientais e sociais desencadeados. Nesse contexto de crescentes preocupações com o ambiente foi reconhecida, aliás, após amplo debate, a necessidade
“de mitigar as consequências ambientalmente perversas geradas pelas rodovias e
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
67
Deus, J. A. S.
de encontrar limites para o processo de modernização” em um contexto regional
próximo, no Acre (COSTA; ALONSO; TOMIOKA, 1999, p. 127).
Hoje se constata entretanto que, quando as sociedades indígenas conseguem
sobreviver ao choque cultural decorrente do contato, tendem a refazer seu contingente populacional original, podendo mesmo ultrapassá-lo. Estudos sobre a transição demográfica de diferentes povos indicam que após a queda de mortalidade – infantil, sobretudo –, decorrente da transição epidemiológica que se segue à vacinação
de populações e com atendimento de saúde eficaz, ocorre durante certo período
um incremento populacional, que varia de acordo com componentes estruturais de
cada sociedade (AZEVEDO, 2000) – embora esse avanço em termos de assistência
médica não explique totalmente a reversão do processo histórico de desaparecimento dos povos indígenas, porque grupos como os Guató e Ofayé (MS) e etnias
do Acre e Rondônia sobreviveram após sofrerem significativa depopulação, sem ter
recebido ajuda de ninguém. O desaparecimento das culturas indígenas não é uma
fatalidade ou necessidade histórica e o relacionamento com outros grupos sociais e
o estabelecimento de solidariedades mais amplas (de classe, nacional, regional etc.)
não implicam automaticamente a desestruturação do grupo. Consequentemente,
as diferenças culturais podem persistir, apesar do contato interétnico e da interdependência. O índio sabe, pela sua prática social concreta, como achar seu lugar
no meio de uma sociedade que tem com ele as mais duras relações de conflito. Ele,
na maioria das vezes, não se integra como sertanejo regional: muito pelo contrário,
continua sendo Gavião, Xavante ou Kayapó, ativando sua identidade cultural na sua
especificidade, que hoje pode reproduzir com menos insegurança.
À medida que as relações de contato foram se estendendo e seus impactos
iniciais superados, o resultado óbvio seria mesmo a reversão da curva demográfica. Comunidades que tinham reduzido sua população a contingentes ínfimos
– menos de 50 indivíduos, posteriormente ingressaram em curva ascendente de
recuperação, aumentando e por vezes até multiplicando seu contingente populacional. Após enfrentarem ameaça de extinção, os Kaapor, Bororo, Txukahamãe,
Xinguanos, Nambikwára, Tapirapé restabeleceram-se biológica e culturalmente.
Em aldeias maiores, o incremento populacional ocorre com mais vigor. É o que
aconteceu com os Xavantes. O contato, em 1946, levou para eles divisões, lutas,
doenças... e houve dificuldades de transmissão do patrimônio cultural. Entretanto,
após um período de desorientação (SEREBURÃ et al., 1998), o que se verificou
foi o restabelecimento da cultura xavante em quase todas as aldeias. Hoje, eles
constituem um dos grupos indígenas brasileiros mais aguerridos, com contingente
populacional expressivo, que se elevou de dois mil indivíduos em 1973, para 9602
na virada do milênio (RICARDO, 2000).
68
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
Na Amazônia, segundo perícias técnico-antropológicas, a longa experiência
de contato alterou profundamente a cultura de certos grupos, banindo a prática
das curas xamânicas e rituais religiosos. Muitas vezes, os indígenas passaram a se
equilibrar também precariamente em termos econômicos, além de enfrentarem
epidemias ou conviverem com problemas como alcoolismo, mendicância e prostituição.9 Em áreas onde a fronteira agrícola já se consolidou, como o Mato Grosso, a intensificação dos contatos introduziu novos valores nas sociedades tribais,
como ocorreu com os Mynky – bruscamente confrontados com a lógica de mercado baseada no individualismo e muito distinta do sistema de reciprocidade em
que até então a coletividade mynky se fundamentava, o que promoveu a releitura/
readaptação de alguns costumes e o completo abandono de outros. Contudo, mesmo comunidades que enfrentam grandes desafios ainda conservam a língua nativa,
permanecendo como grupos étnicos diferenciados e desenvolvendo estratégias de
sobrevivência ao contato com a utilização, em seu cotidiano, de código cultural
próprio. Informações obtidas por antropólogos, missionários e funcionários da
Funai sobre outro povo, os Pirahá, mostraram que o grupo, embora mantenha
estreito contato com os “brancos”, conserva sua cultura tradicional e estilo próprio
de vida. O caráter intermitente do contato, a própria filosofia de vida pirahá, que
não valoriza objetos materiais dos estrangeiros, e as condições naturais do território tradicional têm lhes permitido “permanecer a certa distância das pressões regionais e conservar ditames de sua própria cultura” (GONÇALVES, 2001, p. 59).
Outro povo indígena, os Rikbátsa (Canoeiros), apesar das tentativas de aculturação promovidas por missionários, da redução brutal da área original (no município
de Brasnorte-MT) e da perda parcial do domínio da língua nativa pelos mais jovens, também experimentaram, a partir de 1980, uma retomada do vigor físico, da
dignidade tribal e do contingente populacional, graças ao território relativamente
protegido da reserva e à assistência na área de saúde. Já o povo krikati (MA), grupo
timbira que reduzira drasticamente e dispersara sua população, voltou a se reunir,
a cultuar sua memória, readaptando seus rituais e reinterpretando o mundo a partir
de seus mitos. Após longo processo de negociações e lutas, eles (re)conquistaram
seu território, pressionando o governo a demarcar sua reserva e retirar invasores
do território tribal.
Há registros de revitalização populacional indígena também no sudeste do
Pará. É o caso dos Parakanã, que ocupam “uma mesma área há mais de quinze
9. Surtos de epidemias atingiram recentemente comunidades como os Araweté do sudeste do Pará e os
Deni e Maku do Estado do Amazonas. Problemas de alcoolismo afetam atualmente várias comunidades
indígenas da Amazônia como os Mura Pirahá do Amazonas, Kulína e Kaxinawá do Acre, Makuxi e Wapixána de Roraima. Problemas de prostituição, mendicância etc. afetam, por exemplo, certos grupos jamináwa do Acre.
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
69
Deus, J. A. S.
anos, com uma população bem maior do que aquela do momento da pacificação”
(FAUSTO, 2001, p. 124). E os Kayapó Xikrin pareciam em vias de extinção em
1963, mas o ano de 1967 marca nova etapa em sua história, com a retomada das
instituições tribais. Os Xikrin, apesar das inevitáveis adaptações inerentes à situação de contato, souberam se reciclar, voltando a manifestar em sua vida cotidiana
certo gosto de viver, expresso na retomada de diversos rituais e brincadeiras, na
animação que reinava na casa dos homens, na preparação de uma expedição coletiva ou simplesmente no convívio familiar.
A partir de 1970 aproximadamente, as nações indígenas da Amazônia foram
adquirindo crescente visibilidade. Esse fenômeno não foi isolado. Coincidiu com
a redemocratização do país e com a emergência de diversas organizações não-governamentais. Gradativamente, lideranças indígenas emergiram no cenário nacional reivindicando direitos, especialmente relativos à demarcação de suas terras de
ocupação tradicional; à assistência governamental em programas de saúde e educação; ao respeito à diferença cultural e linguística etc. Para isso foi determinante
a ação política dos tuxáuas, que, promovendo reuniões frequentes para debater
problemas comunitários, conseguiram resgatar e reforçar a coesão tribal. Por volta
de 1980, multiplicam-se as organizações não-governamentais de apoio aos índios
e se organiza um movimento indígena de âmbito nacional (MINDLIN, 2006). Na
região norte, surgem entidades representativas de grande expressão, como a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, a Federação das Organizações
Indígenas do Rio Negro, o Conselho Indígena de Roraima, a União das Nações
Indígenas do Acre e Sul do Amazonas e o Conselho Geral da Tribo Tikuna. Em
1992, foi criado o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas
do Brasil,10 durante encontro realizado em Luziânia, em Goiás, com a participação
de lideranças de 101 povos e 55 organizações.
A recuperação demográfico-cultural indígena e suas implicações políticas e
jurídicas são documentadas por diversos pesquisadores. Grupioni (1998, p. 21)
observa:
Não obstante a crença generalizada de decréscimo das populações indígenas, bem
como sobre sua degeneração e empobrecimento cultural, fato é que a partir dos
anos 70, e mais ainda nos últimos anos, o contingente populacional indígena tem
crescido de forma constante, como se mostram também revigoradas suas culturas,
com o aumento de seu reconhecimento e autoestima. Ao lado disto, consolidamse os instrumentos jurídicos que garantem a proteção e direitos específicos a estes
grupos, e embora muitos ainda considerem que os índios se constituem como
10. O Capoib foi constituído como uma organização formalizada mediante estatuto e personalidade jurídica própria, com sede em Brasília (CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, 2001; ROCHA,
BITTTENCOURT, 2007).
70
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
obstáculos para a expansão de atividades econômicas capitalistas em muitas regiões,
não é mais concebível a admissão pública do extermínio destas populações, como
tantas vezes ocorreu no passado. Por força constitucional hoje o próprio Ministério
Público está preocupado com os índios e os seus direitos, e o Estado, apesar de
sua ineficiência, conta com condições materiais objetivas para atender as demandas
formuladas pelas sociedades indígenas, a quem deve assistir.
A apropriação indígena desse horizonte legal é um mecanismo essencial na
formação das etnias da Amazônia atual e de sua organização política. Há um caso
emblemático: os índios Panará (ARNT; PINTO; PINTO, 1998; GIRALDIN,
1997; INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2000; SOUZA FILHO, 2003), que,
depois de removidos de sua área de ocupação original na Serra do Cachimbo, no
sul do Pará, devido à construção da BR-163, e transferidos para o Parque do Xingu (onde não se adaptaram), retornaram a seu território tradicional, conseguindo
obter em 2001 homologação e posse permanente de 494 mil hectares de terra no
Mato Grosso e Pará – além de uma indenização no valor de quatro mil salários
mínimos por danos morais e materiais sofridos durante o processo de contato em
1971. A União pagará a indenização, em função de decisão judicial irrevogável,
proferida em 2001 pelo TRF em Brasília.
Até 1996, tinham sido demarcadas no país 510 áreas indígenas. E em 1992,
57,5% da extensão dessas terras estavam demarcadas, 23,4% delimitadas e 19%
encontravam-se em identificação (OLIVEIRA, 1998a). Dados anteriores da Funai
indicam que as áreas demarcadas constituíam, em 1981, apenas 32% do montante
das terras indígenas do país (OLIVEIRA, 1998b) – o que evidencia o processo
acelerado de avanço na demarcação nas últimas décadas do século XX. O Amapá
foi o primeiro Estado a ter todas as terras demarcadas. As áreas indígenas representam 8,6% do território do Estado (totalizando 140.276 km2). Mas é em Roraima, Amazonas e Pará que as áreas indígenas – demarcadas ou apenas identificadas
– correspondem a uma parcela maior do território: respectivamente 39%, 20% e
17% da extensão de cada Estado.
Para José de Souza Martins (1996, p. 39), outro aspecto novo e fundamental é que as sociedades indígenas têm pressionado os “brancos”, com êxito, “no
sentido da expansão de seus territórios de confinamento, como tem se dado com
os Kayapó, ou reocupando fazendas abertas em seus antigos territórios... como
ocorre com os Xavante”. Esses índios, cuja atuação e posicionamentos já destacamos, têm sido muito hábeis em utilizar instrumentos de lutas como a manifestação política e a propaganda para reivindicar da Funai verbas destinadas a avanços
para suas comunidades, como a mecanização de lavouras e a obtenção de sementes
selecionadas. Em 1973/74, as reservas xavantes tornaram-se foco de tensão, porque os índios ameaçaram expulsar os fazendeiros que insistiam “em permanecer
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
71
Deus, J. A. S.
nas áreas que lhes foram estipuladas por lei” (BELTRÃO, 1977, p. 70). “Desde
então, tem havido uma atuação decidida dos Xavantes no sentido de garantir a
posse das terras que eles ocupam” e a recuperação de parcelas do território tradicional no leste do Mato Grosso (SILVA, 1998, p. 375). O desmembramento e
proliferação de aldeias transformaram-se nos últimos anos em uma ação deliberada dos Xavantes como tática de ocupação física das áreas de reserva de modo
a permitir a fiscalização constante de seus limites. De 1974 a 1985, o número de
aldeamentos xavantes saltou de seis para 35. Segundo Graham (2000, p. 696), as
associações e comunidades xavantes também estão trabalhando de maneira intensiva “para difundir informações sobre seu modo de vida e as dificuldades que eles
enfrentam atualmente, assim como conquistar o respeito pela sua cultura”. Já os
índios Kayapós não apenas valorizam sua identidade étnica (BEAZLEY, 1990),
como entendem que é importante divulgá-la com o objetivo de despertar interesse
na mídia e resgatar sentimentos guardados com carinho no inconsciente coletivo.
Segundo Cummings (1990, p. 85, tradução nossa), esses índios têm conseguido
propagar a discussão sobre temas de seu interesse “e tirar vantagem de oportunidades de exposição pública e realização de denúncias”. Um dos grupos kayapós, os
Txukahamãe do norte de Mato Grosso, permanecem até hoje pouco influenciáveis
a processos aculturativos. Em maio/2008, foi aberto em Altamira – “epicentro” da
mobilização kayapó – o encontro “Xingu Vivo”, reunindo mais de três mil pessoas
para debater a construção da planejada hidrelétrica de Belo Monte. O documento
final do evento, que veiculou a posição dos índios e seus aliados (indigenistas e
ambientalistas) sobre megaprojetos como as barragens na bacia do Xingu, declara
explicitamente:
Vimos a público comunicar a nossa decisão de fazer valer o nosso direito e o de nossos
filhos e netos a viver com dignidade, manter nossos lares e territórios, nossas culturas
e formas de vida, honrando também nossos antepassados, que nos entregaram um
ambiente equilibrado. Não admitiremos a construção de barragens no Xingu e seus
afluentes, grandes ou pequenas, e continuaremos lutando contra o enraizamento de
um modelo de desenvolvimento socialmente injusto e ambientalmente degradante,
hoje representado pelo avanço da grilagem de terras públicas, pela instalação de
madeireiras ilegais, pelo garimpo clandestino que mata nossos rios, pela ampliação
das monoculturas e da pecuária extensiva que desmatam nossas florestas. Queremos
o Xingu vivo para sempre! (KRAUTLER, 2008, p. 7)
O papel do Estado: inovações e realinhamentos
Na Amazônia, o processo de rearticulação política dos povos indígenas é influenciado por fatores tanto de natureza exógena (a exemplo das preocupações globais com o meio ambiente), quanto endógena, como a diversidade cultural desses
72
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
povos, sua localização geográfica e experiências históricas de contato etc. Nesse
vasto leque de condicionantes, Barazal (2001, p. 25) coloca em evidência, entretanto, a singularidade e relevância do papel do Estado:
O desafio consiste em encontrar alternativas que desconsiderem os extremos, ou
seja, nem o isolamento total, nem o fatalismo da extinção. Como encontrar uma
solução pluricultural que permita a convivência entre partes, respeitando suas
dinâmicas próprias? Tais respostas podem variar devido aos diversos fatores
envolvidos, mas um deles é decisivo e depende exclusivamente da forma como as
questões são politicamente encaminhadas pelos Estados-nacionais.
Até porque a problemática indígena historicamente sempre correspondeu a uma
“questão de Estado” (ainda que o Estado tenha hoje convertido ou modificado sua
natureza, operando através de inúmeras parcerias). No Brasil, com a implementação
de novas políticas governamentais, desenvolvidas em parte em resposta à mobilização de indígenas e ambientalistas, os povos nativos vêm readquirindo autoconfiança
(BELTRÃO, 1977) e intervindo progressivamente, através de alianças e parcerias,
no cenário político e econômico regional. As parcerias estabelecidas agregam atores
diversos, como explicita Bruce Albert (2000), incluindo organizações governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais. Mas as igrejas e as ONGs indiscutivelmente se destacam como agentes intervenientes nesses acordos. Franchetto
(2001) destaca que é relevante o papel das organizações não-governamentais ao operarem como entidades responsáveis pelo incentivo à pesquisa de temas relacionados
à questão indígena. Trata-se principalmente do apoio financeiro e/ou logístico para
que se desenvolvam pesquisas concomitantemente à assessoria educacional. É o caso,
especifica a autora, do ISA, com trabalhos no Parque do Xingu (MT); da Comissão
Pró-Yanomami em Roraima; e da Comissão Pró-Índio, no Acre.
Sugestivamente, a ação governamental tem se reorientado, reciclando-se, através do desenvolvimento de projetos destinados a viabilizar medidas de compensação a comunidades tribais afetadas, por exemplo, pela construção de hidrelétricas.
É o caso da assistência prestada pela Eletronorte à comunidade parakanã, que
ocupa área legalmente homologada e registrada nos municípios de Itupiranga e
Novo Repartimento-PA. O programa emblematiza a nova ação política estatal frente às sociedades indígenas (FAUSTO, 2001). A trajetória dos Parakanã merece ser
resgatada. Em 1972, estavam reduzidos a 80 indivíduos. Foram impactados por várias mudanças socioeconômicas e políticas, como a construção da Transamazônica
(1970) e a implantação da Hidrelétrica de Tucuruí (1974). Recentemente, com o
desenvolvimento do Programa Parakanã (implantado através do convênio Funai/
Eletronorte), elevaram sua população a uma taxa de 9,9% ao ano, atingindo um
contingente populacional de 624 indivíduos em 1995. A comunidade hoje conCaderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
73
Deus, J. A. S.
ta com escolas, atendimento médico e tradições cuidadosamente preservadas. Os
Parakanã plantam grandes roças, produzindo excedentes, além de desenvolverem
práticas de extrativismo e a coleta de frutas como açaí, cupuaçu e castanha.
Já no Tocantins, um grupo timbira, os Khahó (Craôs), conscientizados da importância de uma “volta ao passado” como forma de lhes garantir melhores condições de sobrevivência, e interessados em retomar a agricultura diversificada substituída há décadas pela monocultura de arroz, obtiveram da Embrapa amostras de um
tipo de milho antigamente cultivado por eles, cujas sementes tinham sido coletadas
em território de seus parentes xavantes e armazenadas pela empresa em 1970. Liderados por uma associação (Kapey) que congrega 16 aldeias, os Krahó assinaram com
a Embrapa contrato prevendo pesquisas para a conservação de recursos genéticos,
o que na prática colocou à disposição da comunidade uma equipe multidisciplinar
altamente capacitada. Um “projeto de produção e comercialização de polpa de frutos nativos do cerrado” inaugurou, aliás, a partir de 1993/94, “alternativas econômicas viáveis para as comunidades timbira do Maranhão e Tocantins” e para seus
vizinhos regionais não-índios (SIQUEIRA Jr., 2000, p. 667).
Marco histórico da experiência vivida pelos povos indígenas, a aceleração do
processo de demarcação de terras é um fenômeno que se intensifica progressivamente, como já assinalamos. Após séculos de espera, indígenas do Rio Negro, Juruá, Amapá e norte do Pará tiveram assim suas áreas legalizadas graças ao desenvolvimento do Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas
da Amazônia Legal (PPTAL) do “Programa Piloto para Proteção das Florestas
Tropicais do Brasil” (PPG7). O programa é fruto de iniciativa conjunta dos governos brasileiro e do G7, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente,
Banco Mundial e organizações não-governamentais – desdobrando-se em quatro
vertentes: regularização fundiária, ações de vigilância nas terras indígenas, estudos
e capacitação, apoio ao gerenciamento (BECKER, 2005a; MENDES, 2002; NEVES, 2003). De acordo com Becker (2005b, p. 86), o PPG7
foi o grande indutor desta mudança, que se expressou territorialmente, sobretudo
na ampliação de áreas protegidas (hoje correspondendo a 33% da Amazônia), na
introdução de novos modelos de posse de terra (como as Resex) e na multiplicação
de projetos comunitários baseados em novas formas de produção (como é o caso do
agroextrativismo e da agrossilvicultura).
Recursos financeiros do governo alemão contratados com a União no âmbito do PPTAL/PPG7 e repassados através do KfW,11 com fiscalização técnica do
GTZ,12 foram canalizados para a demarcação física e plano de proteção e fiscaliza11. Agência de cooperação financeira do banco estatal germânico.
12. Agência de cooperação técnica e desenvolvimento alemã.
74
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
ção dos territórios tribais. A parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), além do apoio técnico, teve o papel de facilitar a liberação
de recursos de bancos de desenvolvimento internacionais, no âmbito da proposta
da agência direcionada ao estímulo econômico e social de países e comunidades.
Visando à conservação dos recursos naturais, o PPTAL promoveu a regularização
de 460 mil km2 de terras indígenas. Em 2003, houve a liberação de 1,3 milhão de
reais para comunidades com propostas aprovadas pelos PDPI iniciados em 2001.
As propostas beneficiaram povos do Pará, Acre e sul do Amazonas. Nessa nova
conjuntura, a própria União se transformou. Ao tentar recuperar o crescimento
econômico e o seu papel nesse processo, o Estado reconheceu a necessidade de
nele incorporar a variável ambiental, de se flexibilizar mediante atuação em parceria e de fundamentar sua atuação na ciência e tecnologia.
Considerações finais
Graças à sua própria iniciativa e determinação, à solidariedade da sociedade
civil e à proteção do Estado, as sociedades indígenas têm vivenciado, portanto,
uma experiência favorável e totalmente inédita, se comparada com períodos históricos precedentes. E nada impede que os povos indígenas diversifiquem ainda mais
sua autonomia política, renascimento cultural e opções de sustentação econômica
(fazendo uso de toda a gama de produtos disponíveis na floresta e explorando-os
com baixo impacto ambiental para que possam ser comercializados e atender a
suas necessidades). As comunidades indígenas podem assim viabilizar alternativas
para o etnodesenvolvimento, colocando-se como agentes e protagonistas no processo histórico atual, garantindo sua reinserção no seio da “sociedade envolvente”
mais ampla, na ótica da “etnossustentabilidade” social e ambiental. Nesse contexto de inovações e mudanças, e ao mesmo tempo de ambiguidades e contradições
(LÉNA; ESTERCI; LIMA, 2003), sociedades indígenas do tronco macro-jê13
como os Kayapó, Xavante, Panará e Timbira, caracterizados por etnólogos como
13. Os Kayapós constituem um grupo étnico atualmente distribuído pelo sudeste do Pará e norte de Mato
Grosso (autodenominado Mebengokré), subdividido em várias comunidades autônomas (algumas delas ainda “isoladas”) e que utilizam dialetos muito próximos, caracterizando-se ainda pelo grande dinamismo e
combatividade no cenário histórico e atual. Incluem os Gorotire, Mekragnotire, Mentuktire (Txukahamãe),
Kararaô, Xikrin, Kubenkrangken, Kokraimoro e outros segmentos ou “tribos”. Os Xavantes, domiciliados
na região do Rio das Mortes-MT, e os Xerentes – povo proximamente aparentado a eles, sediado no Tocantins –, integram por sua vez o grupo étnico akwén. Os Panará, também conhecidos como Kreen-Akarôre, são
presumivelmente descendentes dos antigos Kayapó do Sul, como indicam pesquisas recentes. Os Timbiras
constituem outro grupo étnico (do cerrado), concentrado sobretudo nos Estados do Maranhão e Tocantins.
Congregam vários segmentos proximamente relacionados entre si, como os Krahó, Krikati, Parakateyê
(Gaviões do Pará) e Pukobyê (Gaviões do Maranhão). Já os Apinayé (Tocantins) são também conhecidos
como Timbiras ocidentais. Todos esses povos da Amazônia e Brasil Central integram a família jê (do tronco
macro-jê), por vezes caracterizados pelos etnólogos como “sociedades dialéticas” (GONÇALVES, 1983).
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
75
Deus, J. A. S.
notáveis exemplos de resistência sociocultural (GONÇALVES, 1983; TURNER,
1998), emergem como expoentes de uma dinâmica diferenciada em curso, de rearticulação política e sociocultural das comunidades autóctones, nos contextos intra
e extrarregionais.
Abstract
In a geopolitical and ethno-geographical perspective, this paper examines
the rising of new indigenous territorialities at the “frontier”, analyzing their
internal dynamics, interfaces and meanings, and pointing out that the phenomenon occurs and expands as a counterpoint to lasting land invasions in
the turbulent southern and eastern Amazonian territories – regional spaces
widely affected by an increasing agricultural expansion over the equatorial forest. It also discusses the role of nation-states in the framework of
globalization, describing governmental adaptations and innovations in the
regional context, such as new ‘reverse discrimination’ policies progressively developed on behalf of indigenous societies. The study is based on
bibliographical, cartographical and documental research, drawn from the
available scientific literature and non-governmental organizations’ databases, including reports from the Instituto Socioambiental and Conselho
Indigenista Missionário (Social-Environmental Institute and Missionary
Indigenous Council). Subsequent information systematization and contextualization have also been accomplished. It is worth observing that, in this
ambivalent context, Brazilian indigenous societies of the Macro-Jê branch
emerge as exponents of an unexpected dynamics in progress, in a growing
reinsertion, as well as political and cultural re-articulation, of those communities in the Brazilian and South American rain forests and adjacent areas.
Key words: Indigenous territoriality and culture; Ethno-geography; Frontier dynamics; Amazonian Indians.
Referências
ALBERT, Bruce. Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. In: RICARDO, Carlos Alberto. Povos indígenas no Brasil: 1996/2000. São Paulo: Isa, 2000. p. 197-203.
AMORIM FILHO, Oswaldo Bueno. A pluralidade da geografia e a necessidade das abordagens culturais. In: KOZEL, Salete; SILVA, Josué da Costa; GIL FILHO, Sylvio Fausto.
Da percepção e cognição à representação: reconstruções teóricas da geografia humanística. São Paulo: Terceira Imagem, 2007. p. 15-35.
ANDERSON, Anthony; CLAY, Jason. Esverdeando a Amazônia: comunidades e empresas em busca de práticas para negócios sustentáveis. São Paulo: Ed. Fundação Petrópolis, 2002.
ARNT, Ricardo; PINTO, Lúcio Flávio; PINTO, Raimundo. Panará: a volta dos índios
gigantes. São Paulo: Isa, 1998.
76
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
AZEVEDO, Marta. Censos demográficos e “os índios”: dificuldades para reconhecer e
contar. In: RICARDO, Carlos Alberto. Povos indígenas no Brasil: 1996-2000. São Paulo: Isa, 2000. p. 79-83.
BARAZAL, Neuza Romero. Yanomami: um povo em luta pelos direitos humanos. São
Paulo: Edusp, 2001.
BEAZLEY, Mitchell. The last rain forests. London: Mitchell Beazley, 1990.
BECKER, Bertha K. A Amazônia e a política ambiental brasileira. In: SANTOS, Milton;
BECKER, Bertha K. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 3.
ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p. 22-42.
BECKER, Bertha K. Amazônia: nova geografia, nova política regional e nova escala de
ação. In: COY, Martin; KOHLHEPP, Gerd. Amazônia sustentável: desenvolvimento
sustentável entre políticas públicas, estratégias inovadoras e experiências locais. Rio de
Janeiro: Garamond, 2005a. p. 23-44.
BECKER, Bertha K. Organização e conflitos na sociedade civil da Amazônia. In: MATA,
Pe. Raimundo Possidônio C., TADA, Ir. Cecília. Amazônia: desafios e perspectivas para
a missão. São Paulo: Paulinas, 2005b, p. 83-108.
BELTRÃO, L . O índio: um mito brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1977.
BIRRAUX-ZIEGLER, Pierrete. La territorialité des indiens Yanomami du nord du Brésil: aspects ethnogeographiques et geopolitiques. In: CLAVAL, Paul; SINGARAVELOU.
Ethnogéographies. Paris: L’Harmattan, 1995. p. 173-191.
BRINCOURT, Christian. Amazonie: les derniers indiens. Paris: Atlas, 1991.
CASTELLS, Manuel. The power of identity. Oxford: Blackwell, 1998.
CLAVAL, Paul. Geografia e dimensão espacial: a importância dos processos na superfície
da Terra. In: ALMEIDA, Maria Geralda; CHAVEIRO, Eguimar Felíceo; BRAGA, Helaine Costa. Geografia e cultura: os lugares da vida e a vida dos lugares. Goiânia: Vieira,
2008. p. 17-46.
CLAVAL, Paul. Le territoire dans la transition à la postmodernité. Géographies et Cultures, Paris, n. 20, p. 93-112, 1996.
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO. Outros 500: construindo uma nova
história. São Paulo: Salesiana, 2001.
COSGROVE, Denis E. A geografia está em toda a parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. Paisagem, tempo
e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. p. 92-122.
COSTA, Sérgio; ALONSO, Ângela; TOMIOKA, Sérgio. A re-significação das tradições:
o Acre entre o rodoviarismo e o socioambientalismo. Cadernos Ippur, Rio de Janeiro, v.
13, n. 2, p. 115- 131, ago./dez. 1999.
CRAVEIRO, Sílvia; PERRET, Nathalie. Programa de formação intercultural diferenciada
e bilíngue de professores indígenas. In: TEIXEIRA, Marco Antônio Carvalho; GODOY,
Melissa G.; COELHO, Carla. Vinte experiências de gestão pública e cidadania. Ciclo de
Premiação 2004. São Paulo: Programa Gestão Pública e Cidadania, 2004, p. 109-120.
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
77
Deus, J. A. S.
CUMMINGS, B. J. Dam the rivers, damn the people: development and resistance in
Amazonian Brazil. London: Earthscan, 1990.
DALMOLIN, Gilberto Francisco. O papel da escola entre os povos indígenas: de instrumento de exclusão a recurso para emancipação sociocultural. Rio Branco: Edufac,
2004.
DEUS, José Antônio Souza. Linhas interpretativas e debates atuais no âmbito da geografia cultural, universal e brasileira. Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 15, n. 25, p.
45-59, 2º sem. 2005.
DEUS, José Antônio Souza. Sustentabilidade na agricultura, experiências agroflorestais
na Amazônia brasileira e o exercício de novas territorialidades indígenas na fronteira. In:
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 3, 2007, Londrina,
Anais... Londrina: UEL, 2007, p. 1-25.
EGG, Antonio Brack. A Amazônia possível. Nossa América, São Paulo, n. 6, p. 74-87,
mar. 1992.
FARIA, Alexandre Agripa. Etnoconservação como política do meio ambiente no Brasil:
desafios políticos de resistência e integração ao mundo globalizado. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v. 3, n. 3, p. 55- 64, jul./set. 2002.
FAUSTO, Carlos. Inimigos fiéis: história, guerra e xamanismo na Amazônia. São Paulo:
Edusp, 2001.
FRANCHETTO, Bruna. Línguas indígenas no Brasil: pesquisa e formação de pesquisadores. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi; VIDAL, Lux Boelitz; FISCHMANN, Roseli. Povos indígenas e tolerância: construindo práticas de respeito e solidariedade. São
Paulo: Edusp, 2001. p. 133-153.
GIRALDIN, Odair. A (trans)formação histórica do Tocantins. 2. ed. Goiânia: Editora
UFG, 2004.
GIRALDIN, Odair. Cayapó e Panará: luta e sobrevivência de um povo Jê no Brasil Central. Campinas: Editora Unicamp, 1997.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A invenção de novas geografias: a natureza e o homem em novos paradigmas. In: SANTOS, Milton; BECKER, Bertha K. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
p. 375-409.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A resistência cultural dos Apinayé. Ciência Hoje,
Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 70-75, fev. 1983.
GONÇALVES, Marco Antônio G. O mundo inacabado: ação e criação em uma cosmologia amazônica – etnografia Pirahã. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.
GRAHAM, Laura. Os Xavantes na cena pública. In: RICARDO, Carlos Alberto. Povos
indígenas no Brasil: 1996-2000. São Paulo: Isa, 2000. p. 693-697.
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. As sociedades indígenas no Brasil através de uma exposição integrada. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios no Brasil. São Paulo:
Global, 1998. p. 13-28.
78
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
HAESBAERT, Rogério. Concepções de território para entender a desterritorialização.
In: SANTOS, Milton; BECKER, Bertha K. Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 3. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p. 43-71.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2001.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - Os Panará consolidam o retorno. In: RICARDO,
Carlos Alberto. Povos indígenas no Brasil: 1996-2000. São Paulo: Isa, 2000. p. 491-494.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - Povos indígenas no Brasil: 1991/1995. São Paulo: Isa, 1996.
JONES, Bob. Everybody loves gold! Rock & Gem, Ventura, v. 38, n. 7, p. 12-20, July.
2008.
KAYABI, Mairawe. Projeto de ampliação da reserva indígena do Tatuí/índios Kayabi-MT.
Cadernos da Comissão Pró-Índio/SP. São Paulo, n. 2, p. 137-139, 1981.
KRAUTLER, Erwin. Xingu vivo para sempre. Porantim, Brasília, v. 30, n. 306, p. 7, jun./
jul. 2008.
LACOSTE, Yves. Encore et toujours des territoires. Géographie et Cultures, Paris, n.
20, p. 119-124, 1996.
LÉNA, Philippe; ESTERCI, Neide; LIMA, Débora. Dinâmicas predatórias e projeto socioambiental. Boletim Rede Amazônia, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 3-8, 2003.
LIMA, Marta Goretti Marinho; PEREIRA, Elves Marcelo Barreto. Populações tradicionais e conflitos territoriais na Amazônia. Geographias, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, jan./jun.
2007, p. 107-119.
LLANCAQUEO, Victor Toledo. Políticas indígenas y derechos territoriales en América
Latina: 1990/2004. In: DÁVALOS, Pablo. Pueblos indígenas, Estado y democracia.
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005, p. 67-102.
MARTINS, José de Souza. O tempo da fronteira: retorno à controvérsia sobre o tempo
histórico da frente de expansão e da frente pioneira. Tempo Social, São Paulo, v. 8, n. l,
p. 25-70, maio 1996.
McDOWELL, L. As transformações da geografia cultural. In: GREGORY, Dereck; MARTIN, Ron; SMITH, Graham. Geografia humana: sociedade, espaço e ciência social. Rio
de Janeiro: Zahar, 1996. p 159-188.
MENDES, Artur Nobre. O PPTAL e as demarcações participativas. In: LIMA, Antônio
Carlos; BARROSO-HOFFMANN, Maria. Estado e povos indígenas: bases para uma
nova política indigenista. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2002. p. 37-40.
MINDLIN, Betty. Diários da floresta. São Paulo: Terceiro Nome, 2006.
MINDLIN, Betty. Tuparis e Tarupás. São Paulo: Iamá, 1993.
NEVES, Lino João de Oliveira. Olhos mágicos do sul (do sul): lutas contra-hegemônicas
dos povos indígenas no Brasil. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para
libertar: os caminhos do cosmopolitismo cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2003. p. 111-152.
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
79
Deus, J. A. S.
OLIVEIRA, João Pacheco. Indigenismo e territorialização: poderes, rotinas e saberes
coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1998a.
OLIVEIRA, João Pacheco. Redimensionando a questão indígena no Brasil: uma etnografia das terras indígenas. In: OLIVEIRA, João Pacheco. Indigenismo e territorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra
Capa Livraria, 1998b. p. 15-42.
RIBEIRO, Berta G. Amazonia urgent: five centuries of history and ecology. Belo Horizonte: Itatiaia, 1992.
RICARDO, Carlos Alberto. Povos indígenas no Brasil: 1996/2000. São Paulo: Isa,
2000.
RICE, Richard E.; GULLISON, Raymond E.; REID, John W. Can sustainable management save tropical forests? Scientific American, New York, v. 276, n. 4, p. 34-39, Apr.
1997.
ROCHA, A. A. Negro River and São Gabriel da Cachoeira – the silent speech of the forest. In: ROCHA, Ana Augusta. Brasil aventura II. São Paulo: Terra Virgem, 1995. p.
104-121.
ROCHA, Jan. Haximu: o massacre dos Yanomami e as suas consequências. São Paulo:
Casa Amarela, 2007.
ROCHA, Leandro Mendes; BITTENCOURT, Libertad Borges. Indigenismo e participação política na América Latina. Goiânia: Editora UFG, 2007.
SEREBURÃ et al. Wamrêmé Za‘ra: nossa palavra: mito e história do povo Xavante. São
Paulo: Ed. Senac, 1998.
SILVA, Aracy Lopes. Dois séculos e meio de história xavante. In: CUNHA, Manuela
Carneiro. História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
p. 357-380.
SILVA, Joana A. Fernandes Silva. Economia de subsistência e projetos de desenvolvimento econômico em áreas indígenas. In: SILVA, Aracy Lopes; GRUPIONI, Luís Donisete.
A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. 2. ed.
São Paulo: Global, 1998. p. 341-368.
SILVA, Sílvio Simione. A floresta como dimensão territorial: novos e velhos apontamentos para a compreensão do desenvolvimento na Amazônia acreana. In: FERNANDES,
Bernardo Mançano; MARQUES, Marta Inez Medeiros; SUZUKI, Júlio César. Geografia
agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007. p. 289-312.
SIQUEIRA Jr., Jaime G. A organização Timbira e a “Rede Frutos do Cerrado”. In: RICARDO, Carlos Alberto. Povos indígenas no Brasil: 1996-2000. São Paulo: Isa, 2000.
p. 667-669.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Multiculturalismo e direitos coletivos. In:
SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 71-110.
TAVARES, Clarissa. ONU aprova declaração sobre os direitos dos povos indígenas. Porantim, Brasília, n. 299. Encarte, p. 1-4, out. 2007.
80
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
O etnoambientalismo e as novas territorialidades indígenas
em curso no contexto regional da Amazônia Meridional e Oriental
THÉRY, Hervé. Environnement et développement en Amazonie brésilienne. Poitiers:
Bélin, 1997.
TURNER, Terence. Os Mebengokre Kayapó: história e mudança social: de comunidades
autônomas para a coexistência interétnica. In: CUNHA, Manuela Carneiro. História dos
índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 311-338
WALLS, James. The international year of the world’s indigenous people: ‘first nations’
speak out. Choices, New York, v. 2, n. 2, p. 14-19, June. 1993.
Caderno de Geografia, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 59 - 82, 2o sem. 2008
81