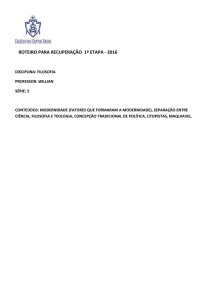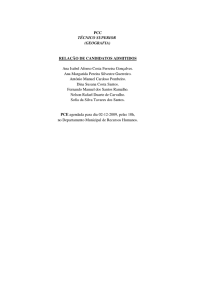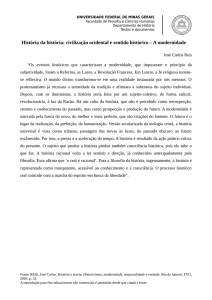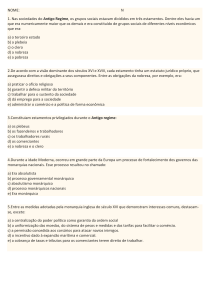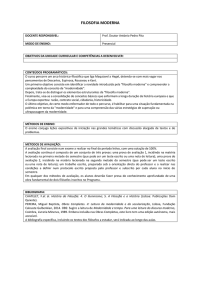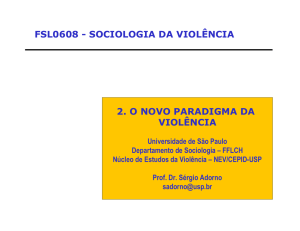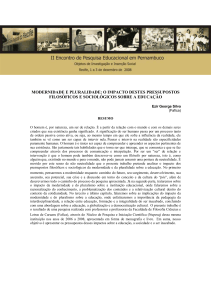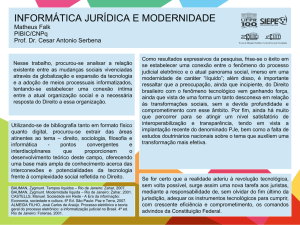A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
1
2
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
A POLÍTICA PERDIDA
Ordem e Governo antes da Modernidade
3
4
Antônio Manuel Hespanha
CONSELHO EDITORIAL DA COLEÇÃO “BIBLIOTECA DE HISTÓRIA DO DIREITO”:
Prof. Andrei Koerner (UNICAMP)
Prof. Antonio Carlos Wolkmer (UFSC)
Prof. Airton Cerqueira Leite Seelaender (UFSC)
Prof. Arno Dal Ri Júnior (UFSC)
Prof. Gilberto Bercovici (USP e Mackenzie)
Prof. José Ramón Narváez (Universidad
Nacional Autonoma do México)
Profª. Joseli Nunes Mendonça (UFPR)
Prof. Luis Fernando Lopes Pereira (UFPR)
Prof. Manuel Martínez Neira (Universidad
Carlos III de Madrid)
Prof. Massimo Meccarelli (Università
degli Studi di Macerata)
Prof. Paolo Cappellini (Università degli
Studi di Firenze)
Prof. Samuel Rodrigues Barbosa (USP)
Prof. Sergio Said Staut Jr. (UFPR)
Profª. Silvia Hunold Lara (UNICAMP)
Coordenador:
Prof. Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR)
ISBN: 978-85-362-2477-0
Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 3352-3900
Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil
Editor: José Ernani de Carvalho Pacheco
??????
????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????./ Curitiba: Juruá, 2009.
??????????
CDD ????????
CDU ????????
Visite nossos sites na internet: www.jurua.com.br
www.editorialjurua.com
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
António Manuel Hespanha
Professor de Direito da Universidadade Nova de Lisboa - Portugal
A POLÍTICA PERDIDA
Ordem e Governo antes da Modernidade
Curitiba
Juruá Editora
2010
5
6
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
7
PREFÁCIO
Há mais de quinze anos encontrámo-nos, eu e Bartolomé Clavero, um
querido companheiro de armas de algumas batalhas historiográficas, num colóquio sobre “razão de Estado”, organizado pelo Istituto de Studi Filosofici de
Nápoles (l’Istituto dell’Avvocato Marotta, como era geralmente conhecido
entre os taxistas que me levavam e traziam). Logo na conversa inicial, chegámos à conclusão, com divertida surpresa, que íamos tratar do mesmo tema. Não
sendo ambos nem peritos nem apaixonados pela “razão de Estado”, tínhamos
ambos resolvido virar o tema do avesso. Eu levava um textozinho intitulado:
“Les autres raisons de la politique. L'économie de la grâce”1; Bartolomé uma
comunicação que era já o embrião do seu livro, hoje um clássico Antidora.
Antropología católica de la economía moderna (1991)2. Dois anos depois, Pipo
agenciou a edição deste e de outros textos em que era glosado, a vários propósitos, o mesmo tópico do carácter pluralista da ordem jurídica do Antigo Regime num livro a que chamámos La gracia del derecho3, e que teve a sorte de ter
bonne presse4, estando hoje esgotado há anos. A linha de reflexão histórica que aí
abri frutificou em desenvolvimentos, mas também em perplexidades e críticas5.
1
2
3
4
5
Depois publicado em Pierangelo Schiera (a cura di), Ragion di Stato e ragione dello Stato
(secoli XV- XVII), Napoli: Istituto Italiano di Studi Filosofici, 1996. p. 38-67.
Milano. Giuffrè, 1991.
Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1993. p. 351
La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales, 1993. p. 351 (recensões: Journal of modern history, 67(1995), p.
758-759 (J. Kirschner). Comentários: José Ignacio Lacasta Zabalza, “Antiformalismo jurídico
‘Fin de siglo’: su gracia e inconvenientes. Contraponto jurídico y moderadamente formalista
al ideario plenamente antiformalista de Antonio Hespanha”, Ius fugit, 3/4 (1994-1995),
437-456; Carlos Petit, “Estado de Dios, gracia de Hespanha”, Quaderni fiorentini per la st. del
pensiero giuridico moderno, 1998. (também em Initium. Revista Catalana d'Història del
Dret. 1 [Homenatge al prof. Josep M. Gay i Escoda] (1996); Javier Barrientos (Revista chilena
de historia del derecho, 17, Santiago, 1992-1993. p. 225-226); Javier Barrientos Grandon, “La
Gracia del Derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna, Madrid, 1993, por Antonio
Manuel Hespanha”, en Revista Chilena de Historia del Derecho, 17, Santiago, 1992-1993. p.
225-226. Disponível em: <http://www.idr.unipi.it/iura-communia/Bibl_JBG.html>.
Refiro, apenas, em Espanha, o livro de um querido amigo, Salustiano de Dios. Graça, mercê e
patronazgo real. La Camara de Castilla entre 1474-1530. Madrid, C.E.C., 1944 e, em Por-
8
Antônio Manuel Hespanha
Não se justifica muito que reeditemos hoje esse livro. Já tenho deixado cair outros. Por razões idênticas: estamos sempre a aprender mais, a enriquecer e complexificar as ideias simplórias que de início nos surgem. Hoje doume claramente conta, que o papel normativo da graça era parte de uma questão
muito mais vasta e, mutatis mutandis, ainda actual – a da dimensão pluralista
das ordens que nos comandam, umas superiores, outras alheias, outras, paradoxalmente, de nós mesmos. E, para além disso, também me resulta muito claro
que aquele pluralismo normativo fazia parte de uma matriz antropológico
-cultural, características das sociedades modernas da Europa do Sul, bem como
das suas extensões ultramarinas. Com diferenças, mas também com identidades
centrais.
Com o tempo, fui estudando isso a vários propósitos, alguns menos
próximos dos meus temas usuais de estudo. E, quando o Ricardo Marcelo Fonseca, um querido colega da Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Paraná, me sugeriu a reedição, em português, de La Gracia del Derecho, eu lhe
propus que, explorando um acrescento ao título original, que Pipo Clavero
então me sugeriu (“Economía de la Cultura en la Edad Moderna”), pegássemos agora o tema grande, aproveitando para reformatar o conjunto dos textos a
reunir.
E assim se fez.
Primeiro, reuni um texto mais teórico sobre a questão geral das categorias, como formas de organização do mundo geral6, e um outro, de âmbito
mais local, sobre as categorias antropológicas da sociedade moderna7. Em
seguida, os textos começam a particularizar os temas, inventariando “geometrias da alma”, “gramáticas da mente” e “ordens do discurso” características
de universos epistémicos submersos ou em submersão.
As exigência normativas do universo dos amores8, estreitamente ligado a esse mundo em que as atracções e solicitudes geradas por um sentido ex-
6
7
8
tugal e em França, respectivamente, os traços que deixou, por exemplo em Fernanda Olival (As
Ordens Militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789), Lisboa:
Estar, 2001) e em Jean-Frédéric Schaub (Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640).
Lisboa: Livros Horizonte, 2001).
“Categorias. Uma reflexão sobre a prática de classificar”. Análise social, 38.168 (2003), p.
823-840. Com alguma modificação.
“Las categorías del político y de lo jurídico en la época moderna”. Ius fugit, 3-4(1994-1995),
p. 63-100.
“La senda amorosa del derecho. Amor e iustitia en el discurso jurídico moderno”. Carlos Petit.
(Ed.). Pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación. Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1997, p. 23-74. Rec.: Emanuele Conte, Rechtshistorisches Journal,
17(1998), p. 53-59.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
9
celente da ordem melhoram o mundo, mais impessoal e neutro, da justiça9;
nesta altura, não resisti a incluir um texto mais actualista, imaginando no que
daria, hoje, essa justiça dirigida pela solicitude e cuidado pelo Outro10.
A pluralidade das ordens, desde a ordem familiar11 à ordem nobiliárquica ; desde a ordem do cálculo financeiro13 até a ordem do direito dos rústicos14 ou à ordem... das cores15.
12
E, no final, as técnicas de acomodação desta “governabilidade” préestatal pelos técnicos do governo e da ordem – os juristas –, no âmbito de uma
complexa arte de ponderação de múltiplos ordenamentos a que se chamou o
direito comum (ius commune)16.
Hoje, quando o que está em submersão já visível é a cultura da modernidade, e rememoração das formas profundas da sensibilidade pré-moderna
tem suscitado interesse. Esse interesse não se justifica, seguramente, por algum
projecto de reconstituir sentidos antropológicos irremediavelmente perdidos e
nem pelos mais eruditos sequer suficientemente entendidos. Por muito que se
9
10
11
12
13
14
15
16
“Les autres raisons de la politique. L'économie de la grâce”, em J.-F. Schaub (ed.),
Recherches sur l'histoire de l'État dans le monde ibérique (15e.-20e. siècles), Paris, Presses
de l'École Normale Supérieure, 1993. p. 67-86; também em Pierangelo Schiera (a cura di).
Ragion di Stato e ragione dello Stato (secoli XV-XVII). Napoli: Istituto Italiano di Studi
Filosofici, 1996. p. 38-67.
“Que espaço deixa ao direito uma ética da pós-modernidade?”. Themis, VII.14 (2007); também em Phronesis. Revista do Curso de Direito da FEAD, 4 jan./dez. 2008. p. 9-26.; versão
francesa: “Le droit face à une éthique post-moderne”. In: Studi in ommaggio di Paolo Prodi.
Bologna, 2008.
“O estatuto jurídico da mulher na época da expansão”, In: O rosto feminino da expansão
portuguesa. Congresso internacional, Lisboa. Comissão da Condição Feminina, 1994, p. 5464; “Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos histórico-antropológicos
da família na época moderna”. Análise social, 123/124.I (1993), 951-974.
“A nobreza nos tratados jurídicos dos sécs. XVI a XVIII”. Penélope, 12(1993), p. 27-42.
A ordem moral da fazenda”, adaptado de A. M. Hespanha, “O cálculo financeiro no Antigo
Regime”, In: Actas do Encontro Ibérico sobre história do pensamento Económico. Lisboa:
CISEP, 1993; também em: “Cálculo financiero y cultura contable en el Antiguo Régimen”. In:
PETIT, Carlos (Ed.); Del ius mercatorum al derecho mercantil. Madrid: Marcial Pons, 1997.
p. 91-108.
2003_Orality and law Tromso (text) – “The everlasting return of orality”, paper presented to
Readings of Past Legal Texts. International Symposium in Legal History in Tromsø, 13th and
14th June 2002, In: Dag Michalsen (Ed.). Reading past legal texts, Oslo: Unipax, 2006, p. 2556.; versão portuguesa em Sequência. Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da
UFSC, Santa Catarina (Brasil), 25(2005)47-107. ou “Savants et rustiques. La violence douce
de la raison juridique”. Ius commune, Frankfurt/Main, 10(1983) 1-48; recensão: Révue
d'histoire du droit, 1984. (A.-J. Arnaud); versão portuguesa, Revista crítica de Ciências
Sociais. 25/26 (1988) p. 31-60.
“As cores e a instituição da ordem no mundo de Antigo Regime”. In: Philosophica. Filosofia
da Cultura, 27(2006), p. 69-86.
“Os juristas como couteiros”. Análise Social. 161 (2001), p. 1.183-1.209.
10
Antônio Manuel Hespanha
aposte na nossa capacidade hermenêutica, há sentidos hoje irrecuperáveis,
mesmo quando restos das fórmulas, das palavras ou das instituições que os
suportavam, pode parecer que ainda subsistem. Um pouco de bom senso e de
rigor arqueológico rapidamente destruirá essas ilusões. Mas como um novo
paradigma não está ainda claramente desenhado e quando muitos apostam que,
realmente, a história parece que parou na estação da modernidade, um olhar
estranhado para este mundo perdido, de valores, de imagens e de práticas não
deixará de nos ensinar que, se há algo de natural no ser humano, é justamente o
fato de ele ter muito pouco de natureza.
António Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
11
SUMÁRIO
CATEGORIAS – UM POUCO DE TEORIA DA HISTÓRIA DO IMAGINÁRIO
SOCIAL .................................................................................................................................15
1 – AS CATEGORIAS DO DIREITO: O DIREITO DO INÍCIO DA ERA MODERNA E A
IMAGINAÇÃO ANTROPOLÓGICA DA ANTIGA CULTURA EUROPEIA ..................41
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Sujeitos e Objetos...................................................................................................42
Substância e papéis – indivíduos e status ...............................................................45
Substância e papéis – uma propriedade multiforme ...............................................46
Ritos e emoções......................................................................................................47
Vontade livre e ordem social ..................................................................................49
A doutrina jurídica como fonte da antropologia histórica do Antigo Regime ........53
2 – O AMOR NOS CAMINHOS DO DIREITO: AMOR E IUSTITIA NO DISCURSO
JURÍDICO MODERNO ...............................................................................................57
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Introdução ..............................................................................................................57
Os sentimentos como objeto de estudo...................................................................58
Os “estados de espírito” como princípios de ação ..................................................60
“Estados de espírito”, contextos, práticas e representações ....................................61
A tradição literária teológico-jurídica como habitus social ....................................63
Textos ideológicos e textos descritivos ..................................................................65
Política e paixão .....................................................................................................66
Modelo de amor .....................................................................................................67
Amor e prática política ...........................................................................................68
Amor e ordem.........................................................................................................71
Amor e unidade ......................................................................................................73
O amor concreto: a amizade ...................................................................................75
Amor, amizade e justiça .........................................................................................78
A reconstituição do amor e a função dos juristas....................................................82
3 – AS OUTRAS RAZÕES DA POLÍTICA: A ECONOMIA DA “GRAÇA” ..............85
4 – QUE ESPAÇO DEIXA AO DIREITO UMA ÉTICA DA PÓS-MODERNIDADE? ...111
12
Antônio Manuel Hespanha
5 – O ESTATUTO JURÍDICO DA MULHER NA ÉPOCA DA EXPANSÃO ............ 131
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Mulheres .............................................................................................................. 132
Menos dignas ....................................................................................................... 134
Frágeis e passivas................................................................................................. 140
Lascivas, astutas e más ........................................................................................ 141
Portugal................................................................................................................ 144
6 – “CARNE DE UMA SÓ CARNE” – PARA UMA COMPREENSÃO DOS
FUNDAMENTOS HISTÓRICO ANTROPOLÓGICOS DA FAMÍLIA NA
ÉPOCA MODERNA................................................................................................... 147
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
Uma comunidade natural ..................................................................................... 147
Carne de uma só carne ......................................................................................... 148
Uma comunidade fundada no amor ..................................................................... 151
As hierarquias do amor ........................................................................................ 152
A família, comunidade generativa ....................................................................... 153
A economia dos deveres familiares...................................................................... 154
Obediência e liberdade pessoal ............................................................................ 155
Política das famílias e política da república ......................................................... 157
Uma comunidade de bens e de trabalho............................................................... 158
Marido e mulher: uma igualdade de geometria variável ...................................... 158
A perpetuação da unidade: primogenitura e indivisibilidade sucessória do
património familiar .............................................................................................. 160
Entre a unidade da família e a igualdade dos filhos ............................................. 161
Outras fidelidades domésticas.............................................................................. 162
A força expansiva do modelo doméstico ............................................................. 164
Orientação de leituras ......................................................................................... 165
7 – A NOBREZA NOS TRATADOS JURÍDICOS DOS SÉCULOS XVI A XVIII..... 169
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Direito e Classificações Sociais ........................................................................... 169
Natureza das Classificações ................................................................................. 170
O Imaginário Nobiliárquico ................................................................................. 175
Títulos de Aquisição ............................................................................................ 176
Prova .................................................................................................................... 181
Categorias ............................................................................................................ 182
Efeitos .................................................................................................................. 185
8 – A ORDEM MORAL DA FAZENDA: O CÁLCULO FINANCEIRO DO
ANTIGO REGIME ..................................................................................................... 187
8.1
8.2
A teoria financeira do Antigo Regime ................................................................. 187
Constrangimentos do cálculo financeiro .............................................................. 191
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
13
9 – O CONTÍNUO REGRESSO DA ORALIDADE.........................................................205
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Da Oralidade à Escrita..........................................................................................205
Lembranças da juventude .....................................................................................206
A decadência do diálogo ......................................................................................211
Suporte comunicativo e estratégias discursivas....................................................212
Oralidade e escrita no direito contemporâneo ......................................................215
Narrativas da Galáxia pós-Gutenberg...................................................................216
Velhos papéis de um novo direito ........................................................................218
De volta para a dogmática jurídica(?)...................................................................220
A Pluralidade de Narrativas no direito Continental Europeu................................222
10 – AS CORES E A INSTITUIÇÃO DA ORDEM NO MUNDO DO ANTIGO
REGIME.....................................................................................................................225
11 – OS JURISTAS COMO COUTEIROS: A ORDEM NA EUROPA OCIDENTAL
DOS INÍCIOS DA IDADE MODERNA ..................................................................243
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
A modernidade, antes e depois ............................................................................243
Os juristas medievais como couteiros ..................................................................248
Uma constelação de ordens normativas ...............................................................249
Flexibilidade por via da graça..............................................................................251
Flexibilidade por via da equidade ........................................................................254
Legisladores coloniais..........................................................................................256
Conhecimento imperial........................................................................................258
A graça impeditiva: império, humanidade e decência enquanto limites ao
autogoverno .........................................................................................................260
11.9 Uma questão prática ............................................................................................261
11.10 Conclusão – Voltando a Bauman: flexibilidade e ética contemporânea ..............264
ÍNDICE ALFABÉTICO .....................................................................................................269
14
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
15
CATEGORIAS – UM POUCO DE TEORIA DA
HISTÓRIA DO IMAGINÁRIO SOCIAL
“Você conhece o meu método, meu caro Watson. Parte da observação das coisas insignificantes”. Sir Arthur Conan Doyle, The
Bascombe Valley Mistery, 1891,
O tema deste texto é “categorias”. Podia chamar-lhes “imagens”, “representações” ou “conceitos”. Escolho a primeira palavra propositadamente.
Categoria remete, na reflexão sobre o conhecimento, para a ideia de modelos de
organização das percepções, da “realidade”, se quisermos. Ou seja: conota uma
capacidade activa, estruturante, criadora (poiética) na modelação do conhecimento. E este é um sinal metodológico que queria deixar desde já, o de que
pressuponho que estas entidades a que me referirei têm essa capacidade de criar
conhecimento (se não – adianto já toda a provocação... – de criar realidade).
Nisso “categoria” leva vantagem sobre as restantes palavras, nomeadamente sobre “imagem”, ou “representação”. Tradicionalmente, “imagem” ou
“representação” eram palavras que denotavam alguma passividade. A imagem
era a cópia, ou representação, de uma coisa. Representar, em termos jurídicos,
era “estar em vez de”. Já em termos teatrais – e políticos, no Antigo Regime –
era um tanto mais do que isso: era antes, apresentar algo escondido, mesmo
inevitavelmente escondido; com o que “representar” podia constituir a primeira
visão de uma coisa, uma “apresentação”, como quando apresentamos – tornamos conhecidas pela primeira vez – pessoas. Do mesmo modo, o reino, como
corpo místico, via-se pela primeira vez (apresentava-se) nas Cortes17. Com isto,
já havia alguma novidade e criação. Hoje em dia, os historiadores – mesmo
aqueles que não se confessam de bom grado como construtivistas – fazem dos
termos “imagens”, “imaginário” e “representação” um uso que lhes realça, além
do aspecto arbitrário, o seu aspecto poiético. Ou seja: por um lado, sublinham
que a imagem não mantém nenhum vínculo forçoso com a “realidade”, antes
17
Hasso Hofmann: Repräsentation – Studien zur Wort – und Begriffsgeschichte von der Antike
bis ins 19. Jahrhundert. Habilitationsschrift. Schriften zur Verfassungsgeschichte,
CAPPELLINI, Paolo. Berlin, 1974. v. 22. Rapresentanza in Generale – Diritto Intermedio, In:
Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1987. v. XXXVIII.
16
Antônio Manuel Hespanha
sendo criações autónomas dos sujeitos (colectivos, prefere-se hoje pensar). Por
outro lado, realçam que, uma vez instalados, estes imaginários modelam as percepções, as avaliações, os comportamentos. Com esta revisão, o termo convémme e, por isso o usarei por vezes, para evitar a monotonia do discurso. Em todo
o caso, “categoria” tem uma vantagem suplementar – a de realçar o carácter
orgânico, arrumado, destes quadros mentais. O facto de eles constituírem conjuntos tendencialmente coerentes entre si, com lógicas internas de organização e
de desenvolvimento. Para além de que, apesar de tudo, me parece mais forte a
evocação da sua natureza activamente organizadora.
Esta remissão para a lógica de organização existe também na palavra
“conceito”. Na sua etimologia está o verbo latino capere, que significa agarrar,
tomar; tal como, no correspondente alemão (Begriff), está o verbo greifen, com a
mesma conotação activa, ao passo que ao sinónimo Auffassung subjaz o verbo
fassen, agarrar, apanhar, tomar. O que me afasta da palavra é o facto de estar
muito embebida por concepções racionalistas; por insinuar um esforço mental
consciente e reflectido, típico dos pensadores e dos filósofos, gente de que não
me vou ocupar muito, enquanto tais, ou seja, enquanto produtores conscientes e
individualizados de ideias. Temo que, se optasse por falar de “conceitos” se
confundisse o meu trabalho com uma empresa de “história das ideias”, concebida como história de ilusres pensadores e dos seus intencionais pensamentos. E
não é disso que vou tratar. Qualquer grande pensador que aqui apareça aparece
sem galões, reduzido a um soldado raso (eventualmente mais eloquente) de um
grande exército anónimo. É certo que a ideia de uma “história dos conceitos”18
foi relançada por Reinhardt Koselleck intenções muito semelhantes às que exprimi19. Em todo o caso o peso da palavra “conceito” ainda é, nos discursos
usuais, demasiado para que se utilize sem a preocupação de ser mal entendido,
aproximando-nos à força de uma história individualista, subjectivista, intencionalista das construções intelectuais.
O projecto de uma história das categorias tem que combater em duas
frentes.
18
19
BÖDEKER, Hans Erich. (Ed.), Begriffsgeschichte – Diskursgeschichte – Metapherngeschichte,
com contributos de Reinhart Koselleck, Ulrich Ricken, Hans Erich Bödeker, Jacques
Guilhaumou, Mark Bevir, Rüdiger Zill und Lutz Danneberg, Göttingen: Wallstein Verlag 2001
(publ. do Max-Planck Institut für Geschichte). Já o Archiv für Begriffsgeschichte, ed. por Gunter Scholtz, em colaboração com Hans-Georg Gadamer e Karlfried Gründer (desde 1955), tinha
a intenção de constituir um ponto de partida para um dicionário dos conceitos filosóficos.
Cf. KOSELLEK, Reinhardt. Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps
historiques. Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990.;
Koselleck, Reinhart. Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts.
Stanford University Press, 2002 (com prefácio de Hayden White). Fora da Alemanha, uma
proposta semelhante tem sido avançada por J. G. A. Pocock, Q. Skinner [James Tully (ed.),
Meaning and Context: Quentin Skinner and His Critics, Princeton University Press, 1989. p.
370); Giuseppe Duso: La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica. Laterza.
Biblioteca di cultura moderna, 1999, M. Barberis, Libertà, Bologna, Il Mulino, 2002.
Introdução.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
17
Por um lado, tem que combater, na frente da “história social”, aqueles
que acham – decerto vacinados pela história tradicional das ideias – que, como a
história se faz de actos humanos e não de palavras, é lá, nesse plano dos actos e
comportamentos, que a historiografia tem que assentar arraiais. Claro que esses
homens que agem também pensam e também falam. Mas esse pensar e esse falar
limitar-se-iam a pensar em coisas e a falar de coisas. Por outras palavras: os
homens construiriam o pensamento a partir da “realidade”, avaliariam a realidade em função de “interesses” e, em função da realidade e da sua avaliação, assumiriam “comportamentos”, uns dos quais eram discursos, com os quais traduziriam em “palavras” o modo como viam e avaliavam a realidade e a forma
como reagiriam; os quais, de novo, seriam apreendidos por outros como “realidades”, avaliados segundo outros “interesses” e respondidos com outros “comportamentos”. “Interesses”, “realidades”, “comportamentos” seriam, termos
sociais, coisas. O resto, incluindo as “palavras”, seriam, nos mesmos termos,
não coisas. Como a história social se devia ocupar de coisas, as ideias e as palavras não faziam parte dela, por justamente lhes faltar “espessura social”.
Hoje já poucos põem as coisas assim. Quase todos percebem que há
mediações, refracções, criação: (i) na passagem da “realidade” à sua “representação” intelectual; (ii) na identificação dos nossos interesses; (iii) na avaliação
da realidade em face deles; (iv) na formulação de programas de acção-resposta
(reacção).
Mas algumas manhas persistem. Por exemplo, a de, quando se fala na
autonomia e criatividade dos discursos e das sua figuras, se responder com o
facto de que estes não falam por si, mas que são apropriados socialmente. E
que, sendo-o, perdem uma lógica própria e se dobram à lógica dos “interesses”
dos grupos apropriadores. E, com isto, voltamos à vaca fria. Pois os tais “interesses” voltaram a ser coisas perante as quais as palavras recebidas (“apropriadas”, tornadas “coisa própria” pelas imperiais coisas) voltaram a perder qualquer
autonomia). Que existe uma sobredeterminação de sentido local sobre o sentido
geral, que falamos, ouvimos, sentimos, avaliamos “em situação” e que isso redefine os sentidos gerais, parece evidente. Mas que essa redefinição decorra de
“interesses em bruto”, no “estado de natureza”, não mediados por representações
particulares, é uma coisa totalmente diferente.
Outra via de recuperar a soberania das coisas é a de, falando-se em
discursos, se responder com as práticas. As práticas serão, naturalmente, coisas.
Puras e duras. Gestos, gestos cruzados, contragestos, contagens, frequências,
viagens, tiros, cópulas, cultivos, coisas meramente exteriores, sem qualquer
interioridade. Uma vénia já é duvidoso que o seja; uma palavra, quase nunca;
uma ideia, isso jamais. Se houver um qualquer interior na prática, ela já deixa de
ser prática e passa a representação. De modo que a tal dialéctica entre práticas e
representações, entre práticas e discursos, é uma quadratura do círculo. É, na
verdade, uma maneira de simular alguma abertura às representações, por quem,
na verdade, crê que elas cantam ociosamente, enquanto as práticas, afanosamente, constroem a história. Bondosamente, sugere-se agora que a formiga para às
vezes um bocadinho para ouvir a cigarra. Mas segue, imperturbada, a sua lida.
18
Antônio Manuel Hespanha
Num texto de síntese20, Koselleck sistematiza algumas das razões da
autonomia da história dos discursos.
A primeira delas parece banal; mas contém mais de razão que aquilo
que aparenta. Trata-se do uso de conceitos técnicos ou enfaticamente carregados
de sentido. Uns e outros têm uma evidente espessura, que os faz dizer para além
do que aquilo que os locutores querem.
No primeiro caso – de que os exemplos típicos são as linguagens formalizadas, como, por exemplo, as linguagens de programação dos dias de hoje –,
estamos perante aquilo a que Umberto Eco chamou os “limites da interpretação”21: o conceito, na sua fixidez técnica ou formalista, resiste à “apropriação”.
E, por isso, a “história social” não tem grande volta a dar-lhe. Dir-se-á que, na
longa duração, isto raramente ou nunca acontece, pois não há formalismo que
resista ao tempo. É verdade, mas, no curto e médio termo é claro que há discursos e categorias não disponíveis.
Existe, no entanto, uma segunda espécie de indisponibilidade: a dos
conceitos tão carregados de sentido, que este sentido (positivo ou negativo)
sobreinveste o sentido dos utilizadores. As categorias dizem mais do que se
quer, têm sentidos preterintencionais. É por isso que nem um honesto ateu está à
vontade com a palavra Deus; ou que um rebento das boas velhas famílias portuguesas nunca usa, deliberadamente, a rabiosa palavra “vermelho”, mas apenas
“encarnado”. Num plano menos fútil, Kosellek descreve o impacto objectivo de
palavras polémicas na história política europeia, como “revolução”, “feudal”,
“cidadão”. Mesmo ciciada, melosamente insinuada, “revolução” é sempre Revolução.
Daí que estas palavras fecundas não sejam domesticamente apropriáveis, senão limitadamente, pelos grupos sociais. Realmente, elas estão antes
deles22.
E com isto entramos num segundo aspecto da autonomia da história
dos discursos. Os discursos como palcos de lutas sociais. As categorias como
praças fortes que se conquistam ou se perdem, na luta social.
20
21
22
KOSELLEK, Cf. Reinhardt. Le futur passé…, cit.
ECO, Umberto. I limiti dell'interpretazione. Milano 1990; tradução de ingl. The limits of
interpretation. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1990.
Cerruti (Simona), La construction des catégories sociales, In: Boutier (Jean), Julia (Dominique)
(Dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers de l'histoire. Paris: Autrement, 1995. p. 224234. Aplicação: Cerutti (1990), Simona. La ville et les métiers. Naissance d'un langage
corporatif, Turin, 17e-18e siècle), Paris: EHESS, 1990. Para Portugal, uma alusão ao problema
em Nuno L. Madureira (Coord.). História do trabalho e das ocupações. III. A agricultura:
Dicionário. Lisboa: Celta, 2002. “Introdução” (Conceição Martins, Nuno Monteiro)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
19
Realmente, muitos nomes não são apenas nomes. “Intelectual”, “burguês”, “proletário”, “homem”, “demente”, “rústico”, são, além de sons e letras,
estatutos sociais pelos quais se luta, para entrar neles ou para sair deles. Numa
sociedade de classificações ratificadas pelo direito, como a sociedade de Antigo
Regime, estes estatutos eram coisas muito expressamente tangíveis, comportando direitos e deveres específicos, taxativamente identificados pelo direito. Daí
que, ter um ou outro destes nomes era dispor de um ou outro estatuto. Daí que
por outro lado, classificar alguém era marcar a sua posição jurídica e política. A
mobilidade de estatuto que então existia não era tanto uma mobilidade social,
nos termos em que hoje a entendemos (enriquecer, estudar, melhorar o círculo
das suas relações, mudar de bairro); era antes e sobretudo uma mobilidade onomástica ou taxinómica – conseguir mudar de nome, conseguir mudar de designação, de categoria (discursiva), de estado (nobre, fidalgo, jurista, peão, lavrador). Claro que a mudança de vida podia ter importância; mas quem decidia
dessa importância era a própria entidade conceptual que designava o estado
pretendido. Ou seja: era o conceito de nobreza (a definição da categoria da nobreza) que decidia que mudanças de vida eram necessárias para se ser admitido.
Pierre Bourdieu generalizou esta perspectiva a todos os mecanismos
de distinção social, construindo uma teoria geral sobre o modo de organizar
estratégias de luta por símbolos, por marcas de distinção23. E também explicou
que, já quando se fala, se estão a fazer coisas muito mais complicadas do que
designar objectos existentes aí, em estado bruto, fora do discurso. Na verdade,
não apenas se estão a construir, de novo, objectos; como se está a construir poder, por vezes um poder imenso, com essas coisinhas aparentemente voláteis e
frágeis que são as palavras24.
Por isso é que podemos encarar a categorização social como uma forma de institucionalização de laços políticos; e as tentativas de recategorização
como uma espécie de revolução.
Simona Cerruti estudou este impacto político das categorias na sociedade torinense dos fins do Antigo Regime e o modo como a reforma social e
política passava sobretudo pelo refazer do âmbito e hierarquia dessas categorias.
Em Portugal, Nuno Monteiro e Fernanda Olival, entre outros, têm, por sua vez,
estudado as lutas pelo poder de classificar; os seus trabalhos25 mostram a persistência da política da coroa para se arrogar o direito de classificar pessoas
como nobres (nobilitar) ou como cavaleiros das ordens militares, enquanto a
nobreza mais antiga e os juristas – cada grupo pelas suas razões – se manifestavam frequentemente no sentido de que essa classificação era feita pela “nature-
23
24
25
BOURDIEU, P. La distinction, Paris: Minuit, 1979.
BOURDIEU, P. Ce que parler veut dire: économie des échanges linguistiques. Paris, 1982.
Nomeadamente, MONTEIRO, Nuno G. O crepúsculo dos Grandes. Lisboa: ICS, 2000;
OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado moderno. Honra, mercê e venalidade em
Portugal (1641-1789), Lisboa: Estar, 2002.
20
Antônio Manuel Hespanha
za”, pelo valor, pelos usos e fama estabelecidos, níveis de leitura em que eles
eram os peritos com o poder de classificar26.
Num estudo de há uns anos mostrei como o uso pelos juristas medievais de categorias de classificação dos oficiais públicos provindas do Império
bizantino e já sem qualquer correspondência com a realidade políticoadministrativa tinha efeitos políticos concretos, inculcando a ideia de centralização política e de hierarquia dos funcionários entre si27. Neste caso, o conjunto
das categorias nem sequer é aplicado a pessoas. Apenas funciona como um modelo de organização política com o qual a situação administrativa instalada é continuamente confrontada, sendo por ele avaliada e paulatinamente conformada.
O próprio facto de estas categorias serem objecto de um confronto social – i.e., de os seus contornos e conteúdos serem objecto de despique – fá-las,
evidentemente, mover, mas apenas nos termos de uma gramática que é a delas.
Ou seja: é o próprio sistema das categorias que selecciona as regras da luta. Nem
todos os argumentos serviam, nem todas as autoridades eram sempre invocáveis,
nem todos os limites eram sempre ultrapassáveis28.
Mas nem apenas no plano da categorização têm os conceitos um impacto nas lutas sociais. Todo o conflito é, de algum modo, raisonné. Ou seja:
debate-se mais do que se combate. Esgrimem-se argumentos, tentando desvalorizar os argumentos do adversário e reforçar o consenso social sobre os nossos.
Argumentos, há-os para todos os gostos e para todas as causas. As Escrituras
Sagradas e a tradição textual do direito (nomeadamente, o Corpus iuris civilis)
foram fontes inesgotáveis e muito variadas de tópicos políticos. Mas também os
argumentos são relativamente indisponíveis. Quanto à argumentação e à retórica
constituíam elas a base dos estudos propedêuticos da universidade, todas as
pessoas cultas, que participavam nos grandes debates, estavam conscientes das
regras de uso de cada argumento. Para isso existiam os tratados De argumentibus et locis communibus (Dos argumentos e lugares comuns). Hoje, não dispomos deste ensino formal. Mas cada argumento, para além de ter as suas regras
próprias, chama por outros ou repele outros. Realmente, o campo dos argumentos está organizado por regras de implicação, de simpatia, de antipatia ou de
exclusão. De tal modo que o uso de um tópico conveniente pode implicar a
aceitação de outros muito inconvenientes. Por exemplo, e como veremos mais
tarde. Era conveniente, para a justificação da escravatura, aceitar o tópico aris26
27
28
Cf. HESPANHA, A. M. A nobreza nos tratados jurídicos dos sécs. XVI a XVIII, Penélope,
12(1993), p. 27-42.
HESPANHA, A. M. “Représentation dogmatique et projets de pouvoir. Les outils conceptuels
des juristes du ius commune dans le domaine de l'administration”, In: HEYEN, E.-V. (Ed.),
Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Régime. Frankfurt/Main : Vitt.
Klostermann, 1984. p. 1-28.
Cf. KOSELLECK, op. cit, p. 103.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
21
totélico de que havia homens que, por natureza, estavam destinados a servir.
Mas a aceitação deste tópica implicava reconhecer que o género humano não era
uno e que, portanto, a Salvação não podia ser universal29.
Ou seja: nem tudo se pode invocar. E, mais do que isso, invocar certas
razões pode ter consequências indesejadas e indesejáveis. De onde, as intenções
políticas de quem fala – as “razões dos políticos”, colhidas na história política
conjuntural – podem não ser a única instância decisiva do que é dito. A lógica
interna do próprio discurso em que elas se exprimem fornece, seguramente,
outra leitura. Os seus argumentos existem previamente nas memórias tópicas –
no senso comum – de uma cultura local (por exemplo, a cultura política, ou a
cultura parlamentar); os argumentos têm competências demonstrativas limitadas
e organizam-se entre si segundo relações objectivas.
É este facto da relativa indisponibilidade do discurso30 que autoriza
uma história autónoma das categorias e dos discursos. Koselleck exprime esta
ideia com nitidez: “cada conceito abre certos horizontes, tal como fecha outros,
define experiências possíveis e teorias pensáveis... A linguagem conceptual é
um médio dotado da sua própria coesão que permite exprimir tanto a capacidade
de experiência (Erfahrungsfähigkeit) como a dimensão teórica (Theoriehaltigkeit)”31. Koselleck vai bem fundo na justificação do carácter criativo do discurso. Na verdade, ele sublinha o modo como o discurso conforma a própria vida:
ao predeterminar a sua apreensão (experiência). Poder-se-ia acrescentar: ao avaliar essa experiência, ao identificar os interesses, ao escolher os comportamentos. Em suma, antes dos momentos pragmáticos, existem sempre momentos
dogmáticos.
Daí que, muito coerentemente, Koselleck inclua a história das categorias no âmbito da história estrutural. As categorias constituem, de facto, modelos
muito permanentes de atribuir sentido aos comportamentos individuais e individualizados (“cada um dos significados ligados a uma palavra ultrapassa a unicidade própria dos acontecimentos históricos”, idem, 115). Tal como as estruturas (virtuais) da língua (langue) atribuem sentido à língua falada (langage) e aos
actos de fala (linguistic utterances). É neste sentido que as categorias conceituais
escapam a uma história cronológica dos seus sucessivos usos, reclamando antes
29
30
31
Sobre este tema da cogência das regras de argumentação, o melhor é, ainda, PERELMAN,
Chaini; OLBRECHTS-Tyteca, L. Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris:
PUF, 1958; LOMBARDI, Luigi [Vallauri], Saggio sul diritto giurisprudenziale. Milano:
Giuffrè, 1975. Recente e muito útil, MEYER, Michel; CARRILHO, Manuel Maria;
TIMMERMANS, Benaêt: História da Retórica. Lisboa: Temas e Debates, 2002.
Pode ir-se mais longe neste “descentramento do sujeito locutor”. Do discruso pode passar-se à
materialidade do suporte da comunicação: a oralidade, a escrita; ou, mesmo, a materialidade do
layout tipográfico, como tem sido sugerido pela material bibliography e pelos estudos de história do livro.
KOSELLECK. Le futur passé…, cit. 110.
22
Antônio Manuel Hespanha
uma história da gramática abstracta que dá sentido aos seus usos verificados e a
verificar; a história de um conceito não é, por isso, uma mera cronologia (uma
narrativa empirista de usos), comportando, também, aspectos sistémicos32.
De onde vem às categoria esta autonomia frente à história ? Se não
vem das intenções dos locutores ou dos interesses dos grupos, de onde vem este
seu poder de organizar as vidas?
Há mais de trinta anos, Michel Foucault escreveu um livro muito importante sobre as categorias da cultura clássica europeia33, descrevendo aquilo
que, a um nível muito profundo, o das suas categorias mais fundamentais, separara essa cultura, quer da anterior, quer da de hoje. Para descrever essas grandes
formas culturais, essas molduras mais gerais do conhecimento, Foucault cunhou
um conceito, o de episteme. Num momento em que as explicações sociologistas
da história cultural tinham um impacto muito forte na cultura universitária francesa, Foucault foi severamente criticado pelo facto de não providenciar uma
explicação sociológica para a génese destes modelos intelectuais.
Dois anos depois, um novo livro aparece expressa e exclusivamente
dedicado a explicitar a sua metodologia subjacente. O seu título – L’archéologie
du savoir, 1969 – remete já para a ideia de que o saber tem uma “origem”. Só
que Foucault recusa enfaticamente uma concepção “humanista” desta origem,
quer ele estivesse num sujeito individual (psicologismo, racionalismo clássico),
quer num sujeito colectivo (sociologismo, nomeadamente o materialismo histórico da vulgata estabelecida)34. Essa origem encontra-a Foucault em dispositivos
materiais da produção cultural – desde as tradições textuais aos circuitos de
comunicação, desde as bibliotecas aos “campos de objectos” disponíveis, desde
as linguagens técnicas aos arquivos da memória cultural invocados, desde as
formas de divisão social e de institucionalização do trabalho intelectual às suas
relações com as estruturas sociais mais globais. É nesses dispositivos e nas práticas discursivas que eles suscitam que as formações discursivas, ou seja, as
particulares configurações dos discursos num determinado período, têm a sua
origem.
Glosado e adaptado de muitas formas, por vezes desenvolvido e estendido no seu âmbito de aplicação, este texto continua, a meu ver, a ter uma
32
33
34
“Uma vez ‘forjado’, um conceito contém, pelo único facto de constituir ‘língua’ a possibilidade
de ser empregue de forma generalisante, de constituir um elemento de tipologia ou de abrir
perspectivas de comparação. Os conceitos não nos informam somente do carácter único dos
significados passados, mas contêm possibilidades estruturais, apresentam estruturas contemporâneas em conjunto com outras que o não são, de uma forma que que não é possível reduzir
ao simples desenrolar dos acontecimentos na história”. (Idem, p. 115)
FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris, 1966.
Que não inclui toda a sociologia cultural marxista, nomeadamente a gramsciana e pósgramsciana.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
23
enorme operacionalidade na resposta à questão acima formulada. Os discursos
não vêm do nada, nem vêm de um Todo que seja a Razão universal. Mas também não são, tão pouco, a expressão, dócil e disponível, de intenções dos sujeitos. Vêm de práticas de discurso, em que, seguramente, há sujeitos que falam e
que escutam; mas em que uns e outros falam e escutam em lugares e com meios
sobre os quais não dispõem de um poder de conformação. Estas práticas fazem
parte da história, mas de uma história em que, no centro, não está o Sujeito, com
o seu poder de atribuição de sentido. Mas antes dispositivos objectivos que,
objectivamente, constituem os sentidos possíveis. Dispositivos, uns intelectuais,
outros materiais, outros sociais. Entre os primeiros estão as nossas categorias.
Sem querer dar ao tema um desenvolvimento que, aqui, seria desproporcionado, remeto, com estas linhas, para uma obra canónica que estabelece a
base teórica e metodológica de que aqui parto, e que explicitei melhor – com
especial aplicação aos discursos dos juristas – em outros lugares35.
Na obra de M. Foucault, esta ideia de “descentramento do sujeito”, de
substituição do sujeito como instituidor do sentido dos discursos por estruturas
objectivas de produção discursiva não abria explicitamente para aquilo que se
veio a chamar “bibliografia material”. Ou seja, para a ideia de que na génese dos
sentidos do discurso podem estar elementos puramente materiais dos suportes da
comunicação. Embora esta ideia – que seguramente agradaria a Foucault – já
tivesse sido suficientemente explicitada por Walter Ong, no final dos anos 50, a
propósito da história da lógica ocidental36. Para ele, a evolução de um pensamento argumentativo, dominante até ao séc. XVI, para um pensamento sistemático, cujo emblema vem a ser a nova lógica de Pierre de la Ramée (Petrus Ramus), relaciona-se estreitamente com a difusão massiva da imprensa e com uma
nova organização da folha escrita37. Alguns anos depois, Marshall McLuhan
35
36
37
HESPANHA, A. M. Cf. Una história de textos, In: F. Tomás y Valiente et al. Sexo barroco y
otras transgresiones premodernas. Madrid: Alianza, 1990. p. 187-196; Tradizione letteraria
del diritto e ambiente sociale. In: BENEDICTIS, Angela de; MATTOZI, Ivo (Eds.). Giustizia,
potere e corpo sociale nella prima étà moderna. Argomenti nella litteratura giuridicopolitica. Bologna: Clueb, 1994. p. 23-36.; v. também: A história do direito na história social.
Lisboa: Horizonte, 1978.
RAMUS, Walter (Ong.). Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to
the Art of Reason. Cambridge: Harvard University Press, 1958
A “folha corrida” substituindo o fólio glosado, em que o texto canónico aparece rodeado dos
comentários (individualizados) de sucessivos autores. A segunda, materializando graficamente
a situação discursiva de diálogo, de posições dissonantes e não integradas, era menos compatível com a arte tipográfica do que a primeira. Mas esta, promovia a redução da pluralidade de
opiniões a uma exposição sistemática. Cf., do mesmo autor: The Presence if the Word: Some
Prolegomena for Cultural and Religious History. New Haven: Yale University Press, 1967;
Rhetoric, Romance and Culture. Ithaca: Cornell University Press, 1971; Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Ithaca: Cornell University Press, 1982. Síntese e aplicação ao direito no meu texto, António Manuel Hespanha, “Form and content in early modern le-
24
Antônio Manuel Hespanha
voltou ao tema da influencia da estrutura material dos media na criação de sentido, alargando o âmbito da discussão aos novos “textos” da galáxia audiovisual
(por oposição à galáxia do impresso38. Do lado da antropologia, o tema é completado por Jack Goody, numa obra clássica sobre o modo como a oralidade e a
escrita condicionam o pensamento, mesmo nas suas operações mais básicas
(listar, analisar, sistematizar, contextualizar)39. Até que surge também num seu
lugar natural – a história do livro – com a redefinição do próprio conceito de
“bibliografia”, levada a cabo por de Donald F. McKenzie. De modo a incorporar
no estudo dos textos, todos os elementos que contribuem para lhes dar sentido,
começando pela sua apresentação gráfica, da responsabilidade dos editores e,
antes deles, da própria organização da produção material do livro40/41.
Perspectivas deste tipo têm dois tipos de consequências. Por um lado,
afastam a ideia de sujeito e de intencionalidade do sentido ainda mais do centro
da interpretação e da constituição das categorias. Por outro, convidam a um
estudo das origens do sentido – a uma “arqueologia dos saberes” – muito atenta
aos detalhes mais materiais da comunicação: no caso dos impressos: a estrutura
do trabalho editorial e as suas consequências no livro42, a organização da página,
os tipos43, o uso das maiúsculas44, a divisão do texto impresso45, a “ilustração”
do texto, o número de páginas46, o formato do livro, a organização das bibliote-
38
39
40
41
42
43
44
45
46
gal books. Bridging the gap between material bibliography and the history of legal thought”.
Rechtsgeschichte, 12(March, 2008).
MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto:
University of Toronto Press, 1962; Understanding Media: The Extensions of Man, New
York: McGraw-Hill, 1964.
GOODY, Jack. 1977. The domestication of the savage mind. Cambridge: Cambridge University Press [cujo título, na versão francesa, é muito feliz: La raison graphique]; Jack Goody,
(Ed.), Literacy in Traditional Societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.
Fundamentais: D. F. McKenzie: Bibliography and the sociology of texts. London: British
Library, 1986; bem como os seus ensaios recolhidos em Making meaning. “Printers of the
mind” and other essays (ed. Por Peter D. McDonald & Michael F. Suarez, S.J. AmherstBoston, University of Massachusetts Press, 2002. Sobre o novo conceito de bilbiografia (material ou analítica), cf. a primeira obra, pp. 9 ss. Síntese e aplicação ao direito no meu texto, António Manuel Hespanha: “Form and content in early modern legal books. Bridging the gap
between material bibliography and the history of legal thought”, Rechtsgeschichte, 12(March,
2008).
Note-se que D. F. McKenzie se refere a um conceito muito alargado de texto, que engloba a
escrita, a imagem parada ou em movimento, o som etc.
“Printers of the Mind: Some Notes on Bibliographical Theories and Printing-House Practices”, In: Making meaning…, cit, 13-85.
“‘Indenting the Stick’ in the First Quarto of King Lear (1608)”, idem, p. 86-90; “Stretching a
Point: Or, The Case of the Spaced-out Comps”, idem, p. 91-109.
Cf. um texto meu, já antigo, “Forma e valores nos Estatutos Pombalinos”. Vértice, 347 (1972),
927-941.
McKenzie refere um dito de Th. Hobbes sobre o impacto que a atomização da Bíblia em versículos teria tido na sua apropriação por várias seitas cristãs. Biblography..., cit., 56.
O exemplo aduzido por McKenzie é tirado de James Joyce, adaptando o número de páginas à
sugestão subliminar da importância do número 13.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
25
cas e as suas políticas de aquisições47 a própria forma escrita e os significados
que ela pode revestir para os seus utilizadores48. A obra de McKenzie, um erudito estudioso da edição (além de, no começo da sua vida profissional, ele mesmo um tipógrafo), está repleta de exemplos de todo o peso que estes elementos
materiais têm na produção de sentido.
Mas – abordando agora a questão de outro ponto de vista – fará sentido a teoria da acção implícita nesta estratégia de explicação histórica? Na qual
modelos ou horizontes mentais tendem a preformar, tanto o diagnóstico das
situações, como as estratégias de comportamento ? Em que o macro é a condição da interpretação do micro?49
Sirva-me de contraexemplo, para clarificar o meu ponto, uma obra recente sobre história da cultura, inserida em prestigiadas correntes actuais e escrita com uma grande nitidez de contornos teóricos50. E o que lá encontrei, na
proposta inicial e na concretização, é, ponto por ponto, um ataque em forma a
esta maneira de ver as coisas.
Aí, todo o sentido reside no contexto. É a situação, o caso, que, nas suas
características irrepetíveis e irredutivelmente complexas, constrói os sujeitos da
acção (ou seja, os põe em acção). Ou melhor, os põe em acções, já que a complexidade das situações e dos sentidos que os contextos envolvem é múltipla e
inesgotável51. Uma visão destas tem várias consequências historiográficas, diametralmente oposta às que adopto, mas que o autor explicita com legitimidade
teórica.
A primeira é a de que todas as evocações de quadros gerais de referência – ou horizontes de expectativas, ou quadros de avaliação, ou padrões de
47
48
49
50
51
“Our Textual Definition of the Future: The New English Imperialism?”, In: Making meaning…, cit., p. 276 ss..
Notável, a sua análise do Tratado de Waitangi, celebrado, em 1840, entre a coroa britânica e 46
chefes maori: “The sociology of a text: oral culture, literacy, and print in early New Zealand”,
In: Bibliography..., cit. 77-130. Sobre as transições de suporte comunicativo, mas na Europa
do séc. XVII, v. “Speech – Manuscript - Print”, In: Making meaning..., cit., p. 237-258.
Cf., sobre a oposição entre “macro-historia” e “micro-história”, por último, Jürgen Schlumbohm (ed.), Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär oder inkommensurabel?, 2.
ed. com contributos de Maurizio Gribaudi, Giovanni Levi, Jürgen Schlumbohm und Charles
Tilly, Göttingen: Wallstein Verlag 1998, 2000 [publ.Max-Planck-Insitut für Geschichte].
Refiro-me a Diogo Ramada Curto: A cultura política em Portugal (1578-1642). Comportamentos, ritos e negócios, diss. Doutoramento na FCSH, UNL, 1994. (não publicado).
“Ao oporem-se deliberadamente à grande obra de síntese, investida de um carácter de substância unitária, os Discursos na sua natureza dispersa e fragmentada constituem-se em fonte
de inspiração para as abordagens interessadas em analisar o significado plural dos actos – incluindo os actos de linguagem - considerados políticos [...]. Em esquema, pode dizer-se que
actos, negócios, experiências ou práticas não poderão separar-se dos significados, representações ou discursos, que os agentes em relação produzem em diferentes situações, necessariamente contingentes”. (CURTO, Diogo R., cit., p. 2)
26
Antônio Manuel Hespanha
valoração – são deliberadamente suspensos (ou mesmo definitivamente excluídos)52. Cultura de elites, cultura popular, sistemas de crenças, modelos de religiosidade, de disciplina, de poder e de resistência, regularidades disciplinares53,
quadros institucionais e, evidentemente, sistemas jurídicos54, tudo isto são formas de iludir o verdadeiro sentido dos actos humanos, justamente porque são
modelos gerais pelos quais a acção concreta nunca se deixa moldar.
A segunda é pôr a tónica na recepção55, mais do que na produção,
tema um tanto trivial nos dias de hoje; mas que aqui aparece com uma coloração
52
53
54
55
“Uma opção analítica desta natureza implica uma maior atenção ao comportamento dos
actores envolvidos em cada um dos acontecimentos, em detrimento das instituições, dos sistemas normativos, das estruturas ou dos processos, com os quais os seus actos se relacionam.
Assim, sem nunca perder de vista o horizonte principal constituído pelos acontecimentos, a insistência no comportamento dos actores visa, por um lado, a análise das diversas relações que
entre eles se estabelecem e, por outro lado, a interpretação subjectiva das suas acções [cita
Simmel, Weber e Goffman].” (DIOGO, 1994. p. 2)
“Neste sentido, a cultura política, enquanto conceito que dá acesso a um problema geral,
constitui-se numa hipótese retrospectiva, espécie de grande quadro que articula diferentes
unidades de actos e de situações. Em cada urna dessas unidades, será possível reconstituir
uma modalidade diferente da cultura politica”. (DIOGO, 1994. p. 3)
Note-se a crítica que o Autor dirige à história cultural que tenta superar o formalismo e imobilismo da história institucional tradicional: “Numa das suas utilizações mais consolidadas disciplinarmente, as explicações que procuram valorizar a importância dos aspectos culturais na
análise dos sistemas políticos fazem parte de urna reacção geral contra os estudos legais,
constitucionais e institucionais [...] Primeiro, existe a possibilidade de se cair numa espécie de
idealismo, através do qual as ideias identificadas com a cultura seriam a causa dos actos considerados políticos. Tornear este obstáculo implica dispor de uma concepção alargada de
cultura, e prestar particular atenção aos contextos e configurações sociais em que as mesmas
ideias adquirem significado. Segundo risco: o de radicalizar os aspectos subjectivos da cultura. Neste caso, para evitar os exageros será necessário ter sempre presente o horizonte dos
actos e das situações. Finalmente, um terceiro risco reside, mais do que no carácter ecléctico
da noção de cultura política, na circularidade das explicações que consideram a cultura determinada pelos actos políticos e vice-versa. Ora, frente a esta indeterminação será necessário
aproveitar os ensinamentos da sociologia política, que oscila entre o estudo da base social do
poder em todos os sectores institucionais, mais ou menos articulados, e a análise dos grupos
políticos específicos, que têm a seu cargo as práticas de controlo, incluindo as mais eufemizadas, da violência (burocracia, sistema judicial, elites, grupos de interesse etc.)” (CURTO, Diogo R., cit., p. 4). Se bem entendo, o primeiro ponto tem sido eficazmente ultrapassado por
muita da melhor história da cultura dos dias de hoje. O segundo ponto corresponde a uma versão amputada daquilo a que se costuma chamar a morte do sujeito; digo amputada, porque as
limitações da subjectividade não são apenas as que decorrem dos horizontes dos actos e das situações; decorrem também de constrangimentos genéricos à liberdade de receber, de criar e de
reagir. Quanto ao terceiro ponto, ele corresponderia a substituir a história da cultura jurídicoinstitucional pela história social dos agentes e processos institucionais, em particular dos grupos de que decidem na base das normas institucionalizadas”. Ou seja, ficam de forma as funções “automáticas” de inculcação ou de insinuação dos discursos e dos ritos institucionais e das
instituições, bem como a consideração do seu papel “geral” na formação de sensos comuns.
Bem como, evidentemente, as suas dimensões “não sociais” (lógicas “autónomas” de reprodução dos textos, dos géneros e dos estilos; “bibliografia material” incluída).
Cf., sobre a teria da recepção, R. Jauss e W. Iser: Teoria della ricezzione. Tradução de It,
Torino: Eiaudi, 1997. ECO, Umberto. Lector in fabula: la cooperazione interpretativa nei testi
narrativi. Milano: Bompiani, 1979.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
27
um pouco diferente das formulações clássicas, tanto ao substituir a noção de
“horizonte pessoal de leitura” pelo de “contexto prático de utilização”56, como
ao propor uma capacidade poiética ilimitada e arbitrária por parte dos leitores
em situação57.
A terceira é a de que a única escala de observação é, portanto, a pequena escala, aquela que reconstrói aquela situação que, por sua vez, constrói os
actores, os lances (enjeux) e as estratégias58. É claro que, se por “atender às situações” apenas se quer significar contextualizar adequadamente as “aplicações” de
modelos gerais e verificar a ambivalência das suas apropriações, o método não
passa de um truísmo59.
56
57
58
59
“[...] uma definição alargada dos discursos - conotada quer com as formulações teóricas ditas
da alta política, quer com determinadas séries organizadas em função de uma instância de
controlo discursivo (hospital, penitenciária, universidade, etc.) - terá ainda de integrar a multiplicidade de sentidos que se encontram nas práticas que dão a ler esses mesmos discursos,
bem como nas diversas maneiras de politização de enunciados inicialmente criados fora da
esfera considerada política. Esta inevitável dispersão de significados encontra uma disciplina
de análise em torno dos materiais impressos, mas revela-se mais difícil de seguir no caso dos
discursos de maior circulação, dos sermões aos rumores, bem como no caso dos discursos baseados em formas mais ou menos estereotipadas, da fórmula de chancelaria ao capítulo de
corte. Se um mesmo enunciado pode ser lido de diferentes maneiras, como começou por propor a teoria da recepção, o importante é procurar analisar as reacções suscitadas pelos diferentes discursos. Um ponto de vista desta natureza sugere uma interrogação mais profunda
acerca das modalidades de crença, legitimação ou reconhecimento baseadas em discursos”.
(CURTO, Diogo R., cit., p. 6)
“[...] surpreender a capacidade de uma audiência e de certos agentes construírem outros
significados nos próprios actos de recepção. Prolongar este jogo de relações supõe conferir
aos agentes, aos grupos ou às audiências uma capacidade de conferir significados, a uma ordem social, a um sistema de crenças ou a um simples acto, significados que não se encontram
previamente determinados”. (CURTO, Diogo R., cit., p. 179)
Um ponto de vista desta natureza aspira também a uma reconstituição mais precisa dos contextos e das situações em que ocorrem os diversos tipos de actos, tendendo, por isso, a acentuar
uma escala de análise microssociológica. Partindo desta mesma escala, será mais fácil reconstituir as diferentes situações de negociação, decisão e conflituosidade que caracterizam as relações dos indivíduos ou dos grupos; e, simultaneamente, escapar ao círculo vicioso de muitas
interpretações que, situadas a uma escala de análise macrossociológica, se bloqueiam nas ideias
feitas sobre o sentido dos movimentos de mudança, os processos, as revoltas e as revoluções
[cita literatura sociológica sobre a relação micro-macro (CURTO, Diogo R., cit., p. 2).
Na verdade, não tem grande novidade chamar a atenção para o seguinte. “Inventariar estes
comportamentos, sem perder de vista o contexto conflitual em que se situam, constitui uma espécie de salvaguarda frente às leituras que tendem a reduzir a cultura popular à lógica do
processo de civilização, centrado nos mecanismos e nos modelos de controle da violência. Em
suma, compreender a lógica dos comportamentos populares supõe deixar em aberto a sua diversidade de pequenas tácticas, elaboradas ao sabor dos acontecimentos, e a não querer reiterar através de análise histórica as categorias da cultura hegemónica, quando atribui aos populares e de forma geral aos inimigos as marcas da selvajaria e de uma violência a controlar.
Supõe, ainda, uma maior atenção à diversidade das situações e a uma verificação das bolsas
que, no interior da sociedade global, permanecem isoladas, sem que tais situações impliquem
necessariamente comportamentos de violência”. (CURTO, Diogo R., cit., p. 177)
28
Antônio Manuel Hespanha
A quarta é a de que a interpretação das situações nunca fornece chaves
que ultrapassem essa situação, uma vez que os contextos são irrepetíveis. Quando muito, facilita “alusões” (que bem se podem transformar em “ilusões”...). A
reconstrução de um “objecto geral” – como “cultura política” – surge assim
como um problema metodológico central60.
A quinta é que, vista esta irrepetibilidade dos contextos e a inextensibilidade dos modelos interpretativos, a narrativa histórica é inverificável61. Por
muito que se sobrecarreguem os textos de citações eruditas e de papelada de
arquivo, ou por muito enfáticas, fortes ou mesmo terrorizantes que sejam as
afirmações dos autores, as conclusões a que se chega são apenas problemáticas e
provisórias alusões a sentidos inatingíveis, locais e efémeros62.
Seja como for, as questões postas ao modelo aqui proposto (que é
também o que tenho cultivado, mas nem sempre aquele que tenho sugerido, em
momentos de maior desvario...) não deixam de ser pertinentes.
A meu ver, sobretudo, em dois pontos:
60
61
62
“Uma perspectiva analítica que se desenvolve em função da interpretação dos actos e dos
acontecimentos terá de explicar a própria dispersão das unidades que constrói, ou seja, terá
de saber encontrar na prática os critérios que justificam a resolução de um problema — o que
é uma cultura política ? – através de uma abordagem fragmentária ‘cita bibliografia sobre
fragmentação e história’” (CURTO, Diogo R., cit., p. 10). Daí que, coerentemente, o A. afirme: “Sem pretender oferecer qualquer tipo de síntese, este livro será construído sob a égide da
descontinuidade dos espaços, dos tempos e dos objectos. E se nas suas três partes se encontrarem velhas questões sobre níveis de cultura e grupos sociais, o poder carismático, a construção de um espaço público, a burocracia e a formação das elites, não se julgue que através delas se pretende restaurar uma qualquer unidade temática perdida. À partida, a questão de se
saber qual a cultura política em Portugal, no período que decorre entre 1578 e 1642, oferece
um quadro propositadamente vago para poder inscrever nele uma sucessão de fragmentos e de
pequenas histórias. Tal como numa viagem sem destino certo, nenhum porto parece seguro...”.
(CURTO, Diogo R., cit., p. 11)
“[...] Toda e qualquer preocupação de exaustividade fica excluída de uma análise apostada em
provar a vantagens da fragmentação, na resposta a um problema de lógica de acção dos
agentes e dos grupos. Por isso, a necessidade de alargar o inventário de tais comportamentos
deverá ser orientada em função de uma preocupação mais comparativa do que exaustiva
[...].Frente às definições unívocas da cultura popular em progressiva tomada de consciência
política [...], uma análise destinada a compreender a lógica dos comportamentos políticos populares, circunscrita à descrição de um conjunto de acontecimentos, procede por insinuação”.
(CURTO, Diogo R., cit., p. 175-176)
E a verdade é que, muito frequentemente, se encontram no texto referido confissões de non
liquet, alertando para a indecidível complexidade, para a ambígua polissemia, para a insuficiência da análise. v.g., “Mas a verdade é que muito pouco se sabe acerca do significado de tais
conjuntos de actos ou dos símbolos de representação que neles se utilizam” (CURTO, Diogo
R., cit., p. 106). “A mostra militar constitui exemplo por excelência da sua convergência. A sua
difusão constitui um processo social complexo, que dificilmente poderá ser identificado com o
da criação de uma cultura de massas. Pois, tal como se verificou, a mostra pode ser considerada como um modo de organização formal sujeito a usos sociais diferenciados, o mesmo
acontecendo com determinados argumentos passíveis de ser utilizados por agentes situados em
posições contrárias”. (CURTO, Diogo R., cit., p. 121)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
–
–
29
Ao requerer uma melhor dilucidação da tensão entre categorias
culturais dominantes (simplificando um pouco, de senso comum)
e categorias alternativas, bem como uma atenta ponderação dos
seus equilíbrios;
Ao insistir numa melhor explicitação da matriz de transacções
que, num contexto determinado, se realizam entre o modelo do
senso comum e os impulsos induzidos pela situação concreta.
A minha convicção pessoal é a de que existem matrizes gerais de percepção, avaliação e reacção, históricas e integrantes do senso comum. Que estas,
tendo espaços de incerteza e limites de variação, são tendencialmente coerentes.
Que é disso que se fala quando se fala de categorias de senso comum. E que este
senso comum – mais do que as situações que nos enredam – pesa duramente
sobre as nossas vidas. Neste sentido, creio que a história da cultura comum,
como a que tento fazer e como a que outros a têm feito, tem um sentido explicativo muito grande, sobretudo se se quiserem entender os processos sociais seriais
e massivos.
Não me comove muito o descentramento do sujeito que com isto se
opera; por um lado, porque não creio do seu descentramento venha algum mal à
história; mas, mesmo que viesse, o sujeito não é menos descentrado se o escravizarmos à lógica das situações concretas63.
O ponto teórico crítico, aqui, é outro. É o da capacidade trans-histórica
de aceder a esses universos categoriais dadores de sentido. Porém, tenho que
dizer que não conheço nenhum fundamento metodológico que garanta que, se
descermos do macro para o micro, das categorias para as práticas, das estruturas
para os indivíduos, esses problemas de inacessibilidade desapareçam.
Esta última observação permite-nos um curso excurso sobre uma das
novas modas da história – a biografia.
Nos últimos tempos, a biografia ficou de moda. Os méritos da novidade vão para um grupo de companheiros de ofício, de inspiração relativamente
consistente, com referências culturais também bastante partilhadas e todos eles
comungando, se não me engano, de um certo desfastio pela história chamada
estrutural. Em comum têm também a escrita sedutora e um bom conhecimento,
pelo menos ao nível que lhes interessa, do período sobre que trabalham64.
63
64
Recorde-se novamente Diogo Ramada Curto: “Segundo risco: o de radicalizar os aspectos
subjectivos da cultura. Neste caso, para evitar os exageros será necessário ter sempre presente
o horizonte dos actos e das situações”. (CURTO, Diogo R., cit., p. 4)
Em Portugal, a teorizadora desta nova história política, entendida como história biográfica, tem
sido Fátima Bonifácio. Os “operacionais” são vários, colaborando muitos deles num número de
Análise social dedicada ao tema – 21.160 (2001).
30
Antônio Manuel Hespanha
Na teorização desta história biografia, a que também chamam “política”, ressaltam sobretudo duas ideias-chave.
Uma delas é a recusa de esquemas interpretativos “fortes”, daqueles
usados pelos cientistas sociais dos vários matizes, substituindo-os por uma interpretação “evidente” (pelo menos, de “senso comum”), do género daquela que
nós usamos para nos orientarmos na vida. O que, sendo pacífico para nós interpretarmos a vida de hoje, é bastante mais problemático para nós interpretarmos a
vida de há muitos anos. Os nossos filhos sabem, disso, quando procuram entender os pais; e nós próprios o sabemos também quando temos a sorte de ainda
poder tentar entender os nossos. Na minha opinião, por detrás da “evidência” de
alguns enredos, podem esconder-se retroprojecções da sensibilidade de hoje. E
isto, já se vê, tem perigos graves.
A outra ideia-chave do nóvel biografismo é a de que são os homens
concretos – e não os desenvolvimentos anónimos “das estruturas” / também
mentais) – que modelam a história. Mas como não são muitos os homens que
estão em condições de modelar a história – pelo menos, a história de um país –,
quem acaba por interessar a esta corrente historiográfica são os “grandes homens”, nomeadamente os “grandes políticos”.
A “grande biografia” exige, em princípio, um “grande biografado”
(pressupondo, naturalmente, que é escrita por um grande biógrafo). Na sua falta,
a biografia transforma-se num acto de cruel assassinato de um personagem,
sempre confrontado com o personagem ideal que nunca foi, que nas condições
não poderia ter sido e que porventura nem sequer quis ser. Ressalvado o último
livro de Vasco Pulido Valente (Glória, Lisboa: Círculo de Leitores, 2001), que
pode ser a boa contraprova do que acabo de dizer, e a reabilitação de João Franco, da autoria de Rui Ramos (João Franco e o fracasso do reformismo liberal
(1884-1908), Lisboa: ICS, 2001), a última literatura (e não apenas deste género)
sobre o século XIX português tem ganho, por isso mesmo, um tom ácido, corrosivo, e subrepticiamente moralista, de inventariação de mediocridades; que só
não espanta muito, porque parece herdeira da auto-avaliação dos próprios contemporâneos, também eles cultivando já um o juízo azedo sobre uma sociedade
que, um pouco olimpicamente, consideravam decadente. Para além de que, no
mínimo, esta pré-compreensão implica um confronto sem sentido entre países
modelos (a Inglaterra, a Prússia, a França) e países medíocres (designadamente,
Portugal).
Daí que – voltando um pouco atrás –, talvez se deva repensar na hipótese mais tradicional de investigar a vida dos outros homens, traçando os tais
grandes frescos sociais ou mentais – que, necessariamente, haverão de ser informados por algum modelo interpretativo geral –, de onde resultem os grandes
cenários (económicos, culturais, institucionais, jurídicos) em que os homens –
pequenos e Grandes – se movem. E aí retornaremos, seguramente, a uma história das categorias, dos sentidos comuns, mais gerais ou mais locais, que comandavam os cálculos pragmáticos (que definiam, por exemplo, o que era “glória”,
e, depois, que papel a sua busca devia ocupar numa estratégia de vida).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
31
Em suma, o que se pretende, aqui, sublinhar é a necessidade de ter em
conta o modo de transacção entre ideias e interesses, entendidos estes últimos
como os resultados mais directos da interacção social65.
Poder-se-á então entender como um sistema de ideias (o liberal) cuja
lógica era a da generalização absoluta da cidadania, posto em contacto com um
certo “ambiente” de práticas e interesses políticos inóspito a essa generalização,
é deformado por ele, e obriga a desenvolver elementos teóricos capazes de introduzir critérios selectivos nas anteriores teorias da Nação e do indivíduo.
É justamente este tipo mediatizado de conversação entre “sistema” e
“ambiente”66 que permite ultrapassar, quer uma história das ideias que ignora os
mecanismos de transacção com o exterior do sistema ideológico, quer com uma
história social (ou uma história política) que pressupõe que as “ideias” são ilimitadamente mobilizáveis e disponívelmente funcionalizáveis a quaisquer projectos, estratégias ou interesses sociais e políticos. Assim, o que aqui nos interessa sublinhar é o modo como interesses até aí justificados teoricamente nos
quadros de uma concepção – que, por motivos também teóricos, deixou de poder
servir – buscaram novas justificações nos quadros da nova teoria, para poderem
sobreviver socialmente. E, ao mesmo tempo, é ver esta teoria a alterar-se si
mesma para poder incluir em si desenvolvimentos capazes de justificar os novos/antigos interesses. O processo pode ser assim descrito: uma nova teoria
deslegitima interesses estabelecidos. Nem a primeira nem os segundos podem
ser sacrificados. Assim, a teoria tem que se equipar com módulos teóricos suplementares que permitam relegitimar (em novos quadros) os interesses “permanentes/subsistentes”.
Uma nota final sobre “interesses”. Interesses são também, muito claramente, representações, neste caso acerca das vantagens (ou inconvenientes) do
65
66
Literatura recente acerca da história dos interesses tem salientado como estes são inevitavelmente mediatizados pelas representações da “realidade social”; e, deste modo, como tão pouco
eles escapam à capacidade poiética das categorias. Cf. ORNAGHI. Interesse. Bologna: Il Mulino, 2000.
Com estas referências a “sistema” e “ambiente”, remete para os modelos teóricos autopoiéticos, que me parecem muito produtivos neste contexto. Cf., por todos, N. LUHMANN,
Essays on self-reference. Columbia: Col. U.P., 1990. No mesmo sentido de evocação de uma
perspectiva sistémica, v. A seguinte formulação de M. Barberis: “Si potrebbe forse aggiungere
— riformulando le posizioni della Storia concettuale e della Scuola di Cambridge nel gergo
dell’evoluzionismo filosofico — che i concetti giuspolitici nascono ed evolvono come le specie
naturali, adattandosi ai mutamenti dell’ambiente. Coloro i quali, nei diversi contesti storici,
partecipano ai giochi della politica o del diritto, compiono certo atti intenzionali, come
deliberate mosse del gioco; tali atti intenzionali, però, generano spesso effetti inintenzionali,
né voluti né previsti dagli autori, fra i quali occorre annoverare gli stessi concetti, sempre
intesi come regole d’uso del linguaggio. Dunque, i concetti si formano e si affermano
compatibilmente con le esigenze dell’ambiente, e sopravvivono solo a patto di adattarsi ai
mutamenti di questo”. (BARBERIS, M. Libertà. Bologna: Il Mulino, 1999)
32
Antônio Manuel Hespanha
alargamento do universo político a certas categorias pessoas. Mas, ao estudarmos estes interesses, não estamos a tocar numa realidade bruta (isto é, não mediatizada por representações). Pelo contrário, estamos em pleno mundo das imagens e de representações acerca de categorias de pessoas e acerca de vantagens e
desvantagens políticas. Identificamos mulheres, dementes, falidos, loucos, menores, a partir das imagens (dos esquemas de percepção) que aplicamos à realidade contínua do universo dos nossos parceiros sociais. Atribuímos ou não vantagens à sua participação política, em função imagens sobre as suas qualidades,
sobre a ordem política, sobre as nossas qualidades e, finalmente, sobre o que nos
convém da ordem política67.
Neste texto, vamos utilizar quase apenas categorias e conceitos tirados
dos corpos literários do direito comum europeu. Isto obriga-nos a esclarecer um
pouco as razões desta fixação no discurso jurídico e, a partir daí, dizer duas
palavras de um elogio da história do direito.
Começo por salientar que o direito dispunha, realmente, de um corpo
textual imponente. No plano dos livros impressos, as matérias jurídicas (de direito civil ou de direito canónico, de direito comum ou de direitos pátrios, na
tratadística ou na praxística) cobriam uma elevada percentagem da edição. Pelos
finais do séc. XVIII, se excluirmos os temas puramente literários, o direito vinha
em segundo lugar, logo a seguir à teologia, no panorama editorial português,
espanhol ou napolitano:
Assuntos
Teologia
Filosofia
Medicina
Direito
Ética
Matemática
História
Literatura
Outras
Portugal
Espanha
< c. 1750, %
31
3
3
5
3
4
29
20
2
< ad c. 1670, %
40
4
4
9
2
3
22
12
6
(Cômputos feitos com base em Barbosa Machado, Bibliotheca luzitana, crítica e chronologica, Lisboa, Of. Gráficas Bertrand (Irmãos) Lda, 1741-1759, 4
vols.; Nicolas António: Bibliotheca hispana nova: sive hispanorum scriptorum
qui ab anno MD. ad MDCLXXXIV. flourere notitia: tomus primus. Matriti
[Madrid]. Apud Joachimum de Ibarra typographum regium, 1783.)
67
Sobre o carácter construído do “interesse”, Ornaghi, 2000, Lorenzo, Interesse. Bari: Laterza,
2000, “Introduzione”.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
33
Ainda sem abandonar o plano dos escritos de natureza “culta”, uma
base de dados de textos jurídicos de índole teórica ou doutrinal produzidos em
Portugal, nos sécs. XV a XVIII, e mantidos em arquivos ou bibliotecas portuguesas pôde reunir mais de 6 000 peças, sem excessivas pretensões de exaustividade. Para além disto, a mole imensa dos escritos jurídicos práticos, produzidos quotidianamente por escrivães e notários. Numa quantificação muito grosseira, feita a partir dos emolumentos destes funcionários, pude calcular que, só
no domínio da administração judiciária, se escreveriam em Portugal, por ano,
milhares de laudas68.
Estes escritos, situados a níveis diversos da comunicação social – desde as universidades até às escrivaninhas das pequenas terras –, infiltravam-se
continuamente no diálogo social, disseminavam aí imagens e tópicos acerca da
sociedade e dos seus vários grupos.
Mas esta centralidade não decorria apenas do carácter massivo de produção escrita, que inaugurou aquilo a que Pierre Legendre chamou “espaços
dogmáticos industriais”69. Decorria também do lugar que a cultura ético-política
do direito comum reservava à justiça, lugar esse a que, provavelmente, não era
estranho o funcionamento dessa industria dogmática.
A justiça – como equilíbrio, como atribuição do seu lugar a cada coisa
(ius suum cuique tribuendi) – era, de facto, um virtude central numa imagem do
mundo dominada pela ideia de ordem, como era a Weltanschaung de Antigo
Regime. “Arte das artes e governo das almas” (ars artium, & animarum regimen), chama-lhe Manuel Álvares Pegas, logo no proémio do seu monumental
comentário às Ordenações filipinas (Pegas, 1669, I, in proem., gl. 23, n. 2). Com
bom fundamento, pois já S. Tomás de Aquino lhe atribuíra uma posição destacada no quadro da sua lista das virtudes (Summa theol., IIa.IIae, p. 57-122). A
justiça tinha virtudes anexas: a religião, a piedade, a reverência, a gratidão, a
verdade, a amizade, a liberalidade e a equidade. Em todas elas, havia “alteridade”, ou seja, havia deveres a cumprir para com outrem; ou para com Deus, ou
para com os pais ou superiores, ou para com os amigos, ou para com a propria
natureza das coisas (como no caso da verdade e da honestidade). Por isso,
“como a justiça diz respeito aos outros – explica S. Tomás – todas as virtudes
relativas a outrem são conexas com a Justiça, pois têm algo em comum com ela.
O mundo das virtudes só não se reduzia à justiça ou porque, estando esta última
relacionada com a igualdade (cf. idem, a.11), nem todas as outras se lhe podiam
identificar, uma vez que algumas careciam de igualdade nas recíprocas prestações (o caso mais típico era a religião cf. p. 80, a. un.); ou porque, noutras delas,
a “razão do débito” não era estritamente jurídica.
68
69
HESPANHA, A. M. “Centro e periferia no sistema político português do Antigo Regime”. Ler
história, 8(1986), p. 35-60.
LEGENDRE, Pierre. L'empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels.
Fayard, 1983
34
Antônio Manuel Hespanha
Mas, basicamente, podia ser dito que justo era todo o comportamento
devido e que se podia pretender, em nome da justiça, não apenas as dívidas do
direito, mas também, o respeito filial, a reverência social, a gratidão pelas mercês, a amizade merecida e aprópria correspondência no amor. E, por isso, o que
Deus erigia, no Fim dos Tempos, era precisamente um Tribunal, um juízo, chamando “justos” aos da sua direita e “injustos” ao da sua esquerda70.
A centralidade a que acabamos de aludir explica a pervasividade de
conceitos jurídicos no discurso cultural e social pré-moderno. A. Gurevic descreve a cultura medieval como “construída sobre o direito”, retomando a conhecida designação utilizada por F. Chabod para descrever a cultura da Europa
meridional, no Antigo Regime – la civiltà della carta bollata, a cultura do papel
selado.
De facto, a centralidade, aliada à longa permanência da cultura jurídica ocidental – cujo corpus doutrinal se mantém durante séculos e séculos –,
fizera com que ela tivesse embebido os esquemas mais fundamentais de apreensão cognitiva e valorativa do mundo, instituindo grelhas de distinção e de classificação, maneiras de descrever, constelações conceituais, regras de inferência,
padrões de valoração. Esquemas que se tinham incorporado na própria linguagem; que se tinham tornado comuns numa literatura vulgar ou em tópicos e
brocardos; que se exteriorizavam em manifestações litúrgicas, em programas
iconológicos, em práticas cerimoniais, em dispositivos arquitectónicos. E que,
por isso, tinham ganho uma capacidade de reprodução que ia muito para além
daquela que decorria dos textos originais em si mesmos. A tradição literária
teológica, ética e jurídica constituía, assim, um habitus de autorrepresentação
dos fundamentos antropológicos da vida social. Neste sentido, a sua acção de
modelação dos comportamentos antecedia mesmo qualquer intenção explícita e
conscientemente normativa, pois decorria de que a tradição jurídica inculcava
necessariamente uma panóplia completa de utensílios intelectuais de base, necessários à apreensão da vida social.
Porém, a literatura jurídica era tudo menos puramente descritiva. A
sua carga preceptiva era enorme.
Primeiro porque, nela, o tom descritivo decorre, desde logo, de uma
crença na indisponibilidade da ordem do mundo. As suas proposições apareciam
ancoradas, ao mesmo tempo, na natureza e na religião. De facto, o que aparece,
como que descrito, nos livros de teologia e de direito constitui o dado inevitável
da natureza ou o dado inviolável da religião. Os estados de espírito dos homens
(affectus), a relação entre estes e os seus efeitos externos (effectus), eram apresentados como modelos forçosos de conduta, garantidos a montante pela inder-
70
HESPANHA, A. M. Justiça e administração nos finais do Antigo Regime, In: Hispania. Entre
derechos propios y derechos nacionales. Milano: Giuffrè, 1989. p. 135-204.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
35
rogabilidade da natureza e, a jusante, pela ameaça da inevitável perdição eterna
e também da eventual punição terrena.
Depois porque, para além de decorrer de uma crença, a descrição era,
também, um expediente retórico para reforçar a perceptividade. Este tom descritivo inculcava, na verdade, a inelutabilidade natural de que as normas morais e
jurídicas apareciam revestidas.
Em suma, apesar de todas as aparências estilísticas, intenção dos textos ético-jurídicos não era a de descrever o mundo, mas de o transformar. Transformar, porém, mais por meio da sua eficácia simbólica de constituir imagens,
do que pela sua capacidade de enunciar normas de comportamento efectivamente dotadas de coação71.
Deste modo, os textos jurídicos têm, ao nível da sociedade, uma estrutura semelhante à do habitus, tal como é concebido por Pierre Bourdieu. Por
um lado, constituem uma realidade estruturada (pelas condições de uma prática
discursiva embebida em dispositivos textuais, institucionais e sociais específicos), que incorpora esquemas intelectuais cuja adequação ao ambiente fora comprovada72. Mas, por outro, constituem uma realidade estruturante que continua a
operar para o futuro, inculcando esquemas de apreensão, avaliação e acção.
Tanto os intuitos práticos, como o apelo a valores universais como a
natureza e a religião, favoreciam a difusão destes modelos mentais e pragmáticos em auditórios culturalmente muito diferentes do grupo dos produtores. Para
além disso, os ambientes institucionais em que os textos eram produzidos dispunham de “interfaces de vulgarização” muito eficazes (a parenética, a confissão
auricular, a literatura de devoção, a liturgia, a iconologia sagrada, para a teologia; as fórmulas notariais, a literatura de divulgação jurídica, os brocardos, as
decisões dos tribunais, para o direito), por meio dos quais os textos-matriz obtinham traduções adequadas a uma grande multiplicidade de auditórios.
É este secular embebimento que tornaram a moral e o direito em saberes consensuais. De resto, esta consensualidade em torno das suas proposições
fundamentais constituía uma vocação central destes discursos.
Esta vocação para a consensualidade provém, antes de mais, das próprias condições de produção da tradição literária em que os textos se incluem.
Trata-se, com efeito, de uma tradição que, durante vários séculos, tinha trabalhado sobre bases textuais imodificadas e que tinha podido produzir, como que
71
72
Cf. SARAT, Austin; KEARNS, Thomas R. (Cords.): The Rhetoric of Law. Ann Harbor:
University of Michigan Press, 1995.
Esta é uma vantagem deste corpo literário sobre a tradição literária ficcional ou puramente
ensaística. É que, aqui, os mecanismos de controlo de adequação prática das proposições ou
não existem ou têm muito menos força reestruturante. Uma personagem psicologicamente inverosímil não obriga necessariamente o autor a reescrever uma novela.
36
Antônio Manuel Hespanha
por sedimentação, as opiniões mais prováveis, i.e., as mais aceitáveis pelo auditório73. Esta sedimentação tinha cristalizado o acquis consensual em tópicos,
brocarda, dicta, regras, opiniones communes. Era aí, portanto, que estavam
depositadas as opiniões mais comuns e mais duráveis do imaginário sobre o
homem e a sociedade.
Mas provinha também da intenção prática a que antes já nos referimos. A educação pela persuasão não se pode levar a cabo senão a partir de um
núcleo de proposições geralmente aceites. Para modificar eficazmente os comportamentos dos homens, a moral e o direito tinham que partir de bases consensuais de argumentação e exigir atitudes também não muitos distantes daquilo
que era consensualmente tido como justo.
O carácter consensual deste núcleo de representações fundamentais
não excluía, evidentemente, visões conflituais, sobre as quais era preciso optar,
em vista da formação de uma regra de comportamento.
O saber teológico-jurídico tinha desenvolvido métodos de encontrar a
solução justa que, por um lado, deixavam aparecer a pluralidade de visões conflituais e que, por outro, faziam depender a opção entre elas dos consensos possíveis, registando a solução mais consensual (opinio communis) como a solução
provável (embora não forçosa).
Estes processos metodológicos eram, por um lado, o esquema expositivo da quaestio e, por outro, a combinação da tópica (ars topica) e da opinião
comum74.
A quaestio era, simplificando um tanto, um processo metódico de decidir questões problemáticas: (i) colocando o problema em discussão; (ii) enunciando as objecções à posição que virá a ser adoptada; (iii) enunciando ainda cursivamente os contra-argumentos a estas objecções (sed contra); (iv) enunciando a
resposta adoptada (responsio, respondeo quod); (v) replicando as objecções
iniciais, agora já explicitamente em função da resposta adoptada75. O uso deste
modo de raciocinar e apresentar os resultados garantia, portanto, um diálogo
regrado e exaustivo entre os argumentos presentes no auditório, tomando em
linha de conta dos conflitos provenientes, nomeadamente, de diferentes apropriações dos textos, e visando convencer, ganhar adesão, popularizar a resolução, e
não impor unilateral e dogmaticamente uma saída. Uma vez resolvida a quaes-
73
74
75
Sobre esta íntima relacionação entre o discurso do direito (nomeadamente, do direito de Antigo
Regime) e a aquisição do consenso no âmbito de um auditório, cf. clássicos, Ch. PERELMAN,
Chaini; OLBRECHTS-Tyteca, L.: Traité de l’argumentation..., cit; Luigi Lombardi
[Vallauri]: Saggio sul diritto giurisprudenziale..., cit.
Sobre quaestio e topica, v. HESPANHA, A. M.: Cultura jurídica europeia. Síntese de um
Milênio. Florianópolis: Fundação Boiteux, cap. 5-6.
Cf. bibl. acima sobre retórica e argumentação (Perelman, Lombardi).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
37
tio, a responsio transforma-se num tópico, integrando-se num capital de proposições (ou lugares) comuns, que será tratado pela tópica.
A tópica, por sua vez, acede ao catálogo das bases consensuais de
qualquer discussão, i.e., aos topoi (argumentos) socialmente aceitáveis. Mas a
tópica garante ainda que a solução final, registada para a posteridade como opinião comum, é a solução mais consensual, tomada de futuro como base de novos
desenvolvimentos textuais.
Quaestio e topica são, assim, dois poderosos mecanismos de enraizamento dos textos teológico-jurídicos nos contextos sociais, mecanismos que
transformam estes textos em testemunhos particularmente fiáveis acerca dos dados
culturais embebidos na prática. O lugar central ocupado pelo imaginário jurídico na
representação da sociedade e do poder são disso uma prova convincente76.
No entanto, não eram apenas estes mecanismos de achamento da solução jurídica que mantinham em contacto textos e senso comum. Existiam outros.
As soluções jurídicas letradas eram continuamente justificadas pelo
facto de serem aceites pelas pessoas comuns: por serem longamente usadas
(usus receptae), por estarem enraizadas em práticas sociais (radicatae, praescriptae), por corresponderem à ordem das coisas, tal como esta era geralmente
concebida (honestae, bonnae et aequae). O próprio quadro das fontes de direito
aceite pela doutrina exprimia este sentido comum de justiça. No topo estava o
costume (consuetudo), a doutrina mais comumente aceite (opinio communis) e a
prática judicial (stylus curiae, praxis). E era este contínuo escrutínio do senso
comum que era completado pelas referidas técnicas de decisão da quaestio e da
topica.
Mas a conversação entre direito letrado e senso comum ainda não
termina aqui.
Uma vez obtida, a decisão torna-se num osso mais desse esqueleto da
vida quotidiana formado pelo “direito praticado e recebido” (ius receptum vel
praticatum). De facto, os casos decididos integrariam o horizonte das normas
76
Outra forma de enraizamento de normas, mas este relevando já mais da retórica do que da
dialéctica era o exemplum, em que um padrão abstracto era corporizado num caso exemplar,
susceptível de concitar adesão emocional. Sobre o tema, cf. John D. Lyons; Exemplum: The
Rhetoric of Example in Early Modern France and Italy. Princeton Univ Press, 1990; Peter von
Moos, Geschichte als Topik: das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die
historiae im “Policraticus” Johanns von Salisbury. Hildesheim (Olms) 1988; Claude Bremomy:
L’exemplum, Paris, Brepols, 1982; Jacques Berlioz: “Le récit efficace: l’exemplum au service
de la prédication (XIIIe-XVe siècle”, dans Rhétorique et histoire. L’exemplum et le modèle
de comportement dans le discours antique et médiéval, Rome, Ecole française, 1979, p. 113146; P. J. SCHNEEMANN: Lire et parler. La réception de l’exemplum virtutis. In:
GAEHTGENS, Thomas W., et al.: L’art et les normes sociales au XVIIIe siècle. Paris: MSH,
2001; DELCORNO, Carlo. Exemplum e letteratura: tra Medioevo e Rinascimento. Bologna:
Il Mulino, 1989; José Aragues Aldaz: “Deus concionator.”Mundo predicado y retórica del
“exemplum” en los Siglos de Oro. Rodopi Bv Editions, 1999. Bibliografia de exempla, em
<http://www.ehess.fr/centres/gahom/Bibliex.htm>. Acesso em: 20 fev. 2003.
38
Antônio Manuel Hespanha
morais e das expectativas da comunidade. De novo, o processo de reelaboração
doutrinal do sentido social de justiça continuava. Trabalhando sobre esta acquis
de decisões práticas os juristas destilavam regula ou brocarda, curtas frases ou
epigramas em que se concentrava a sabedoria jurídica prática e que podiam ser
facilmente apreendidos pelos não leigos em direito. Nesta fase, as construções
letradas estruturadas pelo senso comum voltavam à vida quotidiana, tornandose, de novo, estruturantes. Enfim, a conhecida imagem bifronte – estruturado/estruturante – que P. Bourdieu aplica ao habitus.
Mas não será que justamente o intuito preceptivo da teologia, da moral
e do direito prejudica a relevância dos seus textos como testemunhos das relações sociais? Ou seja: nestes textos o pathos normativo não os fará estar mais
atentos ao dever ser do que ao ser? Não lhes dará uma coloração mistificadora,
“ideológica”, que os inutilize como fontes idóneas da história?
Alguns reparos feitos por historiadores à utilização destas fontes insistem justamente neste ponto.
Por isso é que, para alguns, a estas fontes carregadas de intenções seriam de preferir fontes não intencionais, subprodutos brutos da prática, como
peças judiciais, petições, descrições e memoriais. Ou seja, textos que não foram
escritos para constituir modelos de acção, mas antes que foram escritos sob a
modelação da acção.
É provável que a preferência pelas “fontes meramente aplicativas” em
relação às “fontes doutrinais”, do ponto de vista da sua “fidelidade ao real”,
repouse num conceito de ideologia como consciência deformada e do discurso
ideológico como discurso mistificador, discurso que poderia ser oposto a outros
meramente denotativos, que reproduziriam sem mediações o “estado das coisas”. Este conceito de ideologia não reúne hoje muitos sufrágios, pois não se
aceita geralmente que, por oposição ao discurso ideológico, existam discursos
não deformados, dando neutralmente conta da realidade. E, assim, entre um
texto explicitamente normativo e um texto aparentemente denotativo, a diferença que existe é apenas a de duas gramáticas diferentes de construção dos objectos. Porque, afinal, a realidade dá-se sempre como representação. Com a desvantagem de que, nos discursos não explicitamente normativos, esta gramática
se encontra escondida, encapsulada em actos discursivos aparentemente neutros,
ou fragmentada em manifestações parciais, pelo que as suas explicitação e reconstrução globais constituem um trabalho suplementar. Até por razões de economia da pesquisa, vale mais a pena ler o que os teólogos e juristas ensinavam,
longa e explicadamente, sobre, por exemplo, a morte, do que procurar, através da
leitura de milhares de testamentos, perscrutar a sensibilidade comum sobre ela.
A vocação consensualista da literatura teológico-jurídica, a que nos referimos não excluía, porém, que na sociedade moderna convivessem representações diversas dos valores que, por sua vez, comandavam práticas de sentidos
diversos ou até abertamente conflituais.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
39
A sociedade moderna não era, evidentemente, uma sociedade unânime. As pessoas não actuavam sempre da mesma maneira, mesmo em contextos
práticos objectivamente equivalentes. Ou seja, os seus sistemas de apreensão e
avaliação do contexto, bem como os de eleição da acção e de antecipação das
suas consequências não eram sempre os mesmos.
Alguns destes conflitos situam-se a um nível mais superficial de avaliação e decisão, no seio de um espaço de variação deixado pelos modelos mais
profundos de representação e de avaliação veiculados pela tradição teóricojurídica. Ou seja: os actores sociais tiram partido da própria natureza argumentativa do discurso teórico-jurídico, optando por um ou por outro tópico, mais
coerente com os outros seus sistemas particulares de cálculo pragmático.
Estas situações não escapam, porém, à análise discursiva proposta. Por
um lado, estes submodelos “tópicos” são apenas opções possíveis dentro de um
sistema de categorias mais profundo. Pode optar-se pela preferência das “armas”
sobre as “letras” ou, pelo contrário, pela das “letras” sobre as “armas” e construir-se, sobre cada uma das opções, uma estratégia discursiva e prática própria.
Mas o catálogo dos argumentos a favor de cada posição e até as formas alternativas de os hierarquizar estão fixadas num metamodelo comum compendiando
as bases culturais de consenso que, justamente, permitem que as suas posições
dialoguem77. Ou seja: as diferentes apropriações do conjunto contraditório de
tópicos que integram o sistema discursivo do direito não saltam para fora da sua
sistematicidade, a um nível mais profundo, tal como as posições contraditórias
das partes num processo não estoiram com as normas de decisão processual78.
Não cremos, no entanto, que seja prudente erigir o modelo cultural
subjacente ao espírito das instituições e da literatura doutrinal do direito como
um modelo global, um pouco como faz Louis Dumont para os quadros mentais
subjacentes às hierarquizações sociais da cultura hindu79. Existem, evidentemente, modelos de representação estranhos ao discurso dos teólogos e dos juristas. Por exemplo, para a época primo-moderna peninsular, o modelo do mundo dos “políticos”, fundado em valores (como o da oportunidade ou da eficácia,
concebidas como adequação a um único ponto de vista)80, que são claramente
antipáticos aos fundamentos da imagem da sociedade que enforma o discurso da
teologia moral e do direito. Como há outros modelos radicalmente alternativos,
de minorias culturais (judeus, mouros, heréticos) ou de grupos subalternos (bruxas, “libertinos”, mulheres), embora haja, a meu ver, que ir com cuidado na
pretensão, muito comum hoje, de buscar “outros”... naqueles que, nas suas es77
78
79
80
Mas que, por exemplo, exclui uma discussão do mesmo género sobre a preferência do estado
“nobre” e do estado “mecânico”.
Ou as estratégias opostas de dois jogadores não dessoram o património comum das regras do
jogo.
Homo Hierarchicus: Essai sur le système des castes. 1966 (há trad. port., EDUSP).
V.g., a oportunidade ou eficácia do ponto de vista do interesse da coroa, deixando inatendidos
os pontos de vista de outros interesses, cuja consideração conjunta e equilibrada constituía, precisamente, a justiça.
40
Antônio Manuel Hespanha
truturas básicas de pensamento e sensibilidade são “mesmos”. Bem como há que
não cair na ilusão de que estes discursos minoritários ou reprimidos são os protagonistas da história cultural da época, tema a que já voltarei.
O discurso dos teólogos e dos juristas apenas permite o acesso a estas
“outras” constelações cognitivas e axiológicas em contraface, na medida em que
com elas polemiza. E nem isso, quando nem sequer é obrigado a polemizar com
elas, limitando-se a desqualificá-las pelo silêncio ou pelo desdém81.
Naturalmente que estes modelos “variantes” (num caso) ou “alternativos” (no outro) devem ser considerados pelo historiador ao traçar o quadro dos
paradigmas de organização social e política da sociedade moderna.
A sua eficácia em meios sociais determinados deve ser contextualizada. Não necessariamente nos termos de uma contextualização “social”, sobretudo atenta aos “interesses” dos grupos, mas de uma contextualização cultural, que
tenha em conta os sistemas cognitivos e axiológicos próprios desses grupos de
que, justamente, decorrem os seus “interesses”.
Porém, os respectivos peso e difusão sociais – e, logo, a sua capacidade para dar sentido (para “explicar”) às práticas – destes modelos alternativos de
cálculo pragmático devem ser tidos em conta.
Ora, pelas razões já antes referidas, parece-me que os discursos alternativos à teologia moral e ao direito são, durante toda a Época Moderna, francamente minoritários. Não devendo ser sobrevalorizados quando se trata de
descrever condutas massivamente dominantes, são, em todo o caso, muito importantes para explicar as resistências aos poderes estabelecidos e, também, os
processos de ruptura e desintegração do universo cultural moderno que conduzem à substituição pelo universo cultural contemporâneo.
81
Como acontece com o “direito dos rústicos”, ignorado ou referido depreciativamente como os
usos dos ignorantes ou dos rudes, a que adiante nos referiremos.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
41
1
AS CATEGORIAS DO DIREITO: O DIREITO DO
INÍCIO DA ERA MODERNA E A IMAGINAÇÃO
ANTROPOLÓGICA DA ANTIGA
CULTURA EUROPEIA
Desde a metade do século XIX até a década de 70 do século XX, a
história jurídica constitucional foi não raramane inspirada pela hipótese de que
organização social e axiomas da tradição européia formam uma continuidade.
Enquanto a terminologia jurídica – desde o antigo latim até os modernos pandectistas – é muitas vezes a mesma: superficiais interpretações dos textos fazem
com que essa assertiva se torne autoevidente.
A própria peculiar forma em que os historiadores do Direito costumam escrever história fez o resto: (I) o significado é separado do contexto do
imaginário subjacente da época e dos usos do discurso pragmático; (II) os textos
jurídicos são isolados de seu contexto não-jurídico; (III) a interpretação é moldada por categorias contemporâneas; (IV) entidades discursivas de origem “nativa” são reduzidas a antecipações de modernos conceitos de regras. Mas, mais
do que isso, o aspecto insólito, exótico, bizarro e perturbador do imaginário
social na doutrina jurídica é omitido e sacrificado no altar da perene continuidade do “direito ocidental”.
No texto seguinte, tenciona-se explorar as inesperadas criações do
imaginário medieval e do imaginário da era moderna em sua plena singularidade, desde a imprecisa distinção entre pessoas e coisas até a rígida correlação
entre emoções e comportamento externo; desde a quase irrelevância da vontade
livre na formação da interação humana até a surpreendente contiguidade entre
lei e amor. Esses são alguns exemplos que tornam a cultura institucional medieval e do início da era moderna tão distinta do anódino retrato que prevalece na
atual história do Direito.
Minha estruturação metódica discrepa de algumas das mais comuns
tendências da historiografia jurídica clássica:
42
Antônio Manuel Hespanha
a) é distinta da hermenêutica pelo fato de que o que deve ser revelado é não simplesmente a identidade de um significado “humano”,
mas, principalmente, as particularidades de passadas elaborações
mentais;
b) discrepa da concepção do direito natural, realçando as ilimitadas
variações de percepções, valores e emoções humanas;
c) rejeita a clássica “história das ideias”, em razão do caráter inconsciente e não-intencional das elaborações humanas;
d) finalmente, diverge da história social de ideias porque afirma a capacidade constitutiva de representações mentais (por exemplo, a capacidade que eles têm de formação de realidade e interação social).
1.1
SUJEITOS E OBJETOS
Em um capítulo do seu Tratado a respeito de Justiça e Lei (Tractatus
de iustitia et de iure), escrito em 1586, Domingo de Soto, um dominicano espanhol, famoso teólogo e jurista, expressou uma estranha teoria a respeito da capacidade dos animais e mesmo das feras de serem sujeitos de direito.
Pode realmente afirmar-se que, a seu modo, os animais têm direito de propriedade das pastagens [...]. Parece também que a rainha das abelhas tem
domínio sobre o enxame [...] e, entre os irracionais, parece que o feroz leão
reina sobre os demais animais; da mesma forma que o abutre parece exercer
domínio sobre os frágeis pássaros. O mesmo pode ser dito sobre o inanimado
firmamento, que tem domínio sobre este mundo sublunar, difundindo calor e
vigor proveniente daquilo de que se nutre e que o desenvolve. (IV, 1 2, p.
284, col. 1)
A ideia de que animais, feras e mesmo coisas inanimadas, como o firmamento ou uma rocha, estavam jungidos por liames de propriedade ou de poder
político não era uma metáfora poética de um erudito imaginativo. Personagens
práticos, escrevendo textos prosaicos a respeito de temas quotidianos da vida, compartilharam a mesma convicção de que irracionais ou coisas podiam ser sujeitos
dos mesmos direitos e faculdades jurídicas reivindicados por seres humanos.
Ulpiano, num conhecido texto jurídico romano, escreveu a respeito do direito natural como sendo uma norma que “a natureza ensina a todos os animais [...],
que se impõe na terra ou nos mares, mesmo aos pássaros”82. E um jurista alemão
do início da era moderna, Hermann Wissman, escrevendo a respeito da lei relativa
às cores, sustentou a primazia de algumas delas (como a cor púrpura e a dourada),
como um direito em si, que poderia ser reivindicado judicialmente83.
82
83
Ulpiano, Digesto de Justiniano, 1, 1, 1, 3
De iure circa colores, Lipsiae, 1683
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
43
Infinitos exemplos de ilustrações práticas dessa “pan-jurisdição” do
mundo no senso comum da era moderna podem ser dados. Os animais eram
responsabilizados por ferimentos (actio de pauperie) e sujeitos a sanções criminais. Na metade do século XIX, um jurista português (Dias Ferreira) dá notícia
de um processo contra um boi que quebrara o braço de alguém, numa pequena
aldeia do norte de Portugal, Alfândega da Fé (FERREIRA, 1870, 1, 6). Um
século antes (aproximadamente em 1751), destruíram-se casas, salgaram-se e
esterilizaram-se terras como punição por haverem sido propriedades dos Duques
de Aveiro, portugueses condenados por alta traição. De outro lado, propriedades
imobiliárias tinham direitos a serviços humanos (servidão) ou a servidões prediais, como direitos de passagem. E, como todos sabem, alguns homens ou mulheres (escravos) eram jurídicamente alienados, como coisas, embora sob um regime jurídico um tanto diferente.
Nítidas distinções entre pessoas e coisas simplesmente não existiam,
ao menos com a mesma estrutura que a de hoje. A fonte dessa indistinta linha
era uma concepção bem diferente da ordem do mundo.
A natureza era um universo mais homogêneo, um todo interativo,
onde todas as criaturas – animadas ou não, inteligentes ou irracionais – gozavam
de proteção judicial ou eram juridicamente responsáveis perante outros. Este
modelo panteísta – comum a um vasto âmbito de culturas – foi compartilhado
por gregos e romanos. O cristianismo apenas acrescentou o pormenor de um
Deus Criador. A Criação tomou-se um grande – embora polifônico – coro onde
cada indivíduo cantava a seu próprio modo uma prece a Deus.
Embora a Criação fosse um mundo ordenado, essas distintas canções e
diferentes modos de procurar harmonia tinham a mesma hierarquia em relação
ao seu objetivo final. Um episódio expressa perfeitamente essa equivalência das
diferentes partículas do ser. Em sua última entrada em Jerusalém, Cristo foi
acusado pelos fariseus de permitir que seus discípulos o proclamassem rei. Sua
resposta evoca a própria unidade e inter-relação de criaturas: “Digo-lhes, mesmo que,
se eles (meus seguidores) silenciassem, as próprias pedras me proclamariam”. (Lucas, p. 19)
De outra parte, uma sensibilidade jurídica mais moderna introduziu
uma nova e íntima relação entre razão e vontade. Algumas décadas mais tarde,
Francisco Suarez explicou que apenas metaforicamente o conceito de direito
poderia aplicar-se a coisas inanimadas ou irracionais, implicitamente criticando
os juristas romanos e São Tomás por sua adesão a um excessivamente amplo
conceito de direito.
Porque Platão – escreve ele (Tractatus de legibus ac Deo legislator Conimbricae, 1613, I, ch. 3) – [...] aparentemente conceitua ‘direito natural’
como todas as inclinações naturais colocadas nas coisas por seu Criador,
pela qual elas frequentemente tendem para os atos e finalidades que lhes são
próprias [...], mesmo assim deu o nome de direito natural à participação
neste princípio racional, que foi incutida em todas as criaturas para que pudessem tender para suas finalidades preestabelecidas. São Tomás (I-II, qu
44
Antônio Manuel Hespanha
91, art. 2) disse mesmo que todas as coisas governadas pela divina providência compartilham de alguma forma da lei eterna na medida em que derivem
de sua eficácia, inclinações a seus peculiares atos e finalidades. Os jurisconsultos, por sua vez, enquanto sustentam que o direito natural é comum a outros seres vivos, tanto quanto aos homens, aparentemente excluem coisas
inanimadas da participação nesse direito, um fato que é comprovado pelas
Institutas (I.ii, § 1) e pelo Digesto ( 1.1 ,1).
Todavia, acrescenta, estreitando o antigo conceito a respeito da extensão da lei natural
como declara no primeiro capítulo, deve ser aplicado a coisas irracionais
não em seu sentido estrito, mas apenas metaforicamente [...]. Nem mesmo os
rudes animais são capazes de participação no direito em sentido estrito, uma
vez que não têm uso da razão ou de liberdade; destarte, é somente por uma
espécie de metáfora que o direito natural pode ser-lhes aplicado. Pois, embora mesmo que difiram de coisas irracionais sob esse aspecto, isto é, que sejam guiados não simplesmente pela força da natureza, mas também pelo conhecimento e instintos naturais, um instinto que é para eles uma forma de lei;
embora a segunda interpretação dos jurisconsultos possa, portanto, ser sustentada de alguma forma; não obstante isso, falando em termos absolutos, essa interpretação é metafórica e, em grande extensão, dependente de analogia.
Essa espetacular mudança no conceito de direito não se deveu a um
progresso da razão ou a um avanço em inteligência. Simplesmente, o contexto
teológico e antropológico de pensamento jurídico modificou-se.
A controvérsia dos universais abalou o conceito de uma ordem mantida por contingência interna, havendo introduzido o conceito oposto de energia
individual e autônoma (impetus), como base da organização dos elementos. Em
outras palavras: no mundo humano, o império da vontade, como fonte da ordem
social, estava chegando.
Também, na teologia católica pós-Trento, por outra série de fatores, o
livre-arbítrio humano tornou-se um valor fundamental, tanto mais quanto na
polêmica teológica antiprotestante sobre a salvação, o tema central debatido foi
a antinomia entre predestinação e livre-arbítrio.
Portanto, o universo juridicamente ativo teve que se restringir a seres
capazes de realizar voluntariamente ações racionais. Uma distinção decisiva foi
então introduzida entre seres humanos e não-humanos. Seres humanos tornaram-se
nitidamente o centro e os únicos sujeitos da ordem jurídica. “Só os homens podem
ser sujeitos de direitos e obrigações”, declara enfaticamente o artigo primeiro do
Código Civil Português (1867). A unidade original da criação foi destruída. Desde
então, a personalidade jurídica tornou-se o monopólio e também a especificidade
de seres humanos. Com isso, a existência de seres humanos que eram juridicamente
considerados como coisas em breve se tornaria insustentável.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
1.2
45
SUBSTÂNCIA E PAPÉIS – INDIVÍDUOS E STATUS
Discutindo a relação jurídica entre a Coroa e a Casa dos Duques de
Bragança, que se tornaria na Casa Real Portuguesa do século XVII em diante,
um jurista lusitano escreveu que diversas pessoas simbólicas podiam ser vistas
no corpo do rei, “cada uma retendo e conservando sua natureza e qualidades e
devendo ser considerada distinta das outras” (cf. PEGAS, 1669, idem.). Essa é
mais uma expressão de superposição de entidades simbólicas no mesmo corpo
físico, como foi descrito por Ernst Kantorowicz em seu clássico trabalho
(King’s two bodies, 1957).
O que deve ser sublinhado aqui é que tal reverberação simbólica não
era exclusiva de pessoas reais. A sociedade – de acordo com o conceito jurídico
– era uma infinita pletora de pessoas, cada uma correspondendo a uma particular
inserção de qualquer indivíduo na organização social, isto é, correspondendo a
um status. Como Manuel Pegas, um praxista português do século XVII, escreveu, “não é nem novo, nem contrário aos termos da razão que um mesmo homem exerça diferentes direitos, sob diferentes aspectos” (PEGAS, 1669, XI, ad
“Ord., 2, 35, cap. 265, n. 21). Além disso, para esse desdobramento de personalidades, havia o exemplo teológico da Santíssima Trindade.
Todavia, a relação entre status e indivíduo era ambivalente. Status podia tanto explodir como implodir indivíduos. A desintegração individual ocorria
quando o status passou a representar atributos, condições ou posições do mesmo
indivíduo (como pai, filho, profissional, natural de um reino). Implosão ocorria
sempre que um status atribuísse uma única identidade a um grupo plural de
indivíduos (“Pai e filho são uma e a mesma pessoa no que concerne à lei”, escreveu Álvaro Valasco (VALASCO, 1588, cons. 126, n. 12). A explosão davase nos casos acima referidos de desdobramento de uma pessoa nos seus diversos
estados. Já a força explosiva do status podia mesmo modificar a própria natureza física da substância somática. Uma filha que herdasse no lugar de seu pai
(pelo denominado direito de representação) tinha que tomar-se num varão para
herdar bens que só podiam ser havidos em herança por homens (v. g., feudos).
Do ponto de vista jurídico os indivíduos eram tão despiciendos quanto
o status era fundamental. O direito era uma espécie de pintura impressionista em
que a rígida materialidade das coisas (ou pessoas físicas) era substituída pelos
incontáveis reflexos nelas provocados pelas diferentes luzes da interação social.
Portanto, substâncias físicas tornaram-se uma mera reverberação cromática.
Seres humanos eram atores que representavam diversos papéis sociais. Enquanto
nossa imaginação é centrada no ator, a imaginação moderna era centrada no
personagem. É por isso, provavelmente, que o vocabulário político carecia de
palavras para expressar um sujeito com vontade livre. Sujeito significava uma
pessoa submetida, persona, um ator que desempenha um papel preestabelecido.
Numa palavra, a definição de indivíduos (e coisas, como veremos) estava relacionada com suas funções, e não com sua essência isolada.
46
Antônio Manuel Hespanha
Essa prevalência de função sobre atores individuais explicará, de outro
lado, o implosivo efeito de status. Indivíduos com a mesma função eram classificados como entidades transindividuais; como famílias, guildas e todas as espécies de corporações, para as quais um sem-número de palavras eram aplicáveis
(collegium, corpus, societas, communitas, civitas). Portanto, a sociedade era
vista mais como um conjunto ordenado de status (società di ceti, Ständengesellschaft, société d’ordres), do que uma congregação de indivíduos. A ideia é
dada por Charles Loyseau, em seu Traité das ordes et simples dignités (1610),
de uma forma muito significativa:
[...] E assim, por meio dessas múltiplas divisões e subdivisões, de muitas ordens é formada uma ordem geral, e de muitos estados um bem ordenado estado, em que há boa harmonia e consonância e uma correspondência e interrelação desde o mais alto até o mais baixo: de forma que, através da ordem,
um número infinito resulta em unidade. Tal como diz o direito canônico (Decretum, D. 89, c. 7): ‘[...], a comunidade, como todo, não poderia subsistir a
não ser que uma grande ordem de diferenças a preservasse, pois nenhuma
criatura pode ser governada por uma e mesma qualidade. O modelo das
hostes celestiais ensina-nos isto: há anjos e arcanjos; por isso, evidentemente, que não são iguais; ao contrário, diferem uns de outros em poder e ordem
(Préface, 4).
Em tal imaginário social, indivíduos simplesmente desapareciam, seja
por explosão em seus diversos papéis sociais, seja por subsunção a uma função
social transindividual.
1.3
SUBSTÂNCIA E PAPÉIS – UMA PROPRIEDADE
MULTIFORME
A mesma concepção “relacional” ou “antirreificante” dominava a
imaginação das coisas. Também as coisas estavam longe de ser objetos bem
delimitados, com uma individualidade singular e propriedades permanentes.
Também aqui há uma pré-compreensão de um universo harmônico,
abrangendo homens e coisas com funções recíprocas. As coisas, conforme o
Gênese, foram criadas para o homem; destarte, o natural funcionamento das
coisas importava na noção de “uso humano”.
Portanto, mais do que objetos fisicamente identificáveis, coisas eram
dispositivos ou processos através dos quais desejos (affectiones) podiam ser
satisfeitos - coisas eram “utilidades”; em termos jurídicos, “utilidades” juridicamente exigíveis. “Coisa” – diz-se numa definição jurídica comum (AMARAL,
1740, s. v. res, n. 1) - “é um nome genérico, que compreende direitos, contratos
e todas as obrigações [...]”. Considerando a volatilidade e mobilidade do objeto
definido, mesmo esta ampla acepção era “uma definição perigosa porque, não
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
47
obstante o fato de que a definição é apenas uma demonstração da substância de
uma coisa definida, nesse particular, poderiam ocorrer muitas variações, conforme as circunstâncias dos casos”. (cf. AMARAL, 1740, s. v. res, ad 2, p.363, 2)
Realmente, coisas apresentavam-se completamente desmaterializadas.
Poderiam existir sem nenhum substrato material (como direitos, atuais ou virtuais,
a exemplo das expectativas de direitos [fundatae intentiones], ou o direito de
herdeiros legitimados à herança de uma pessoa viva). Ou coisas podiam, por
outro lado, compartilhar do mesmo objeto material, como os diferentes direitos
que são suscetíveis de incidência sobre a mesma coisa (propriedade, posse, usufruto, reivindicações comunitárias, direitos fiscais etc.).
Este último significado conceitual explica por que os juristas medievais não se preocupavam com o fato de que diversos dominia (ou direitos de
propriedade) – em princípio reciprocamente excludentes e sem limites – podiam
existir, simultaneamente, sobre a mesma propriedade. De fato, suas infinitas
reivindicações podiam subsistir, porque se adequavam a diferentes utilidades
(para diferentes coisas) do objeto físico comum subjacente.
Tudo isso significa que as coisas não preexistiam à ordem das relações
humanas; ao contrário, foram criadas pelo fato de que essa ordem existia e lhes
atribuía precisas utilizações.
Assim como acontece com as pessoas, também coisas eram privadas
de materialidade física e reduzidas a funções ou relações dentro de um mundo
organizado.
1.4
RITOS E EMOÇÕES
O cerimonial era conhecido. Sempre que o Rei de Espanha desejasse
alçar um cortesão ao grau de Grande, solenemente convidaria o nobre, na presença da Corte, a cobrir sua cabeça com um chapéu. Essa alteração de protocolo
expressava os sentimentos de igualdade e intimidade do rei com relação a um
súdito particular. Daí por diante, a manifestação externa de sua situação social, a
saber, o fato de que um nobre usasse um chapéu diante do rei, expressava, por
si, o substrato emocional de sua relação.
Esse é um exemplo de uma ideia comum, segundo a qual havia uma
relação de necessidade entre atitudes externas e emoções.
Presumia-se que a vida emocional tinha uma arquitetura rígida. Sentimentos e emoções não dependiam do temperamento individual; ao contrário,
deviam consistir em disposições internas, espécie de padrões psicológicos, tal
como foram identificados e aquilatados por teólogos da moral. Um bom exemplo de tal mapeamento da “anatomia da alma”84 é o conjunto de questões de São
Tomás a respeito de amor e amizade, em que diferentes espécies de afetos são
84
Anatomia dell’Anima. Bergamo, 1991
48
Antônio Manuel Hespanha
bem rigidamente tipificadas, assim como sua hierarquia, sentimentos relacionados e manifestações externas (corporais, litúrgicas).
Realmente, a existência dessa ordem natural de emoções transformava
afeições em entidades objetivas, com dimensões externas bem estabelecidas.
Tanto quanto a fé deveria materializar-se em obras, cada espécie de
emoção devia, presumidamente, expressar-se em atitudes determinadas, ritos e
procedimentos práticos. Desse modo, as afeições políticas (affectus) tinham uma
lógica objetiva e indisponível que limitava a vontade ou paixões das pessoas e
expressava-se em atos tipificados (effectus).
Portanto, os afetos devidos deviam ser retribuídos com comportamentos externos, determinados por padrões objetivos, ínsitos na natureza das
coisas. Curvar-se ou levantar-se, beijar as mãos ou a face, tirar o chapéu ou colocá-lo, eram atitudes corporais de que se podiam inferir as atitudes internas
correspondentes. Mesmo as mais íntimas relações tinham rigorosas regras de
significado. A dramaturgia do amor íntimo, por exemplo, dependia não da criatividade e do êxtase emocional, mas da ordem natural de diferentes posições e
práticas sexuais. O amor honesto, por exemplo, podia ser manifestado apenas
pela dramaturgia expressada em uma formulação muito comum “[vir cum femina], recta positio, recto vaso” ([homem com mulher], na posição correta, no
“vaso” correto).
De fato, o vínculo entre effectus e affectus era tão forte que o primeiro
poderia substituir o último. Modificação de atitude externa equivalia a uma alteração de sentimentos internos.
Essa ideia de uma ordem natural de emoções e a contiguidade entre
emoções e comportamento tinham uma forte influência no objetivo do direito. Enquanto sentimentos eram naturalmente (e juridicamente) devidos e necessariamente
ligados a atitudes externas, ritos e cerimônias não eram apenas questão de “estilo” ou educação pessoal, mas questão de respeito para com a natural ordem das
coisas; uma questão de “honra” ou “honestidade” (honestas), virtualmente postulável em juízo.
O direito, o guardião da ordem, estava intimamente relacionado com
esse tema. Etiqueta e boas maneiras eram tratadas pelo direito, e sua observância
podia ser objeto de processo judicial. Precedência, manifestação corporal - como
beijar, curvar-se, ajoelhar-se, ou mesmo relação sexual - ou a forma pessoal de
falar eram juridicamente regulamentados e, muitas vezes, discutidos judicialmente. Na prática juríca contemporânea, litígios a respeito de precedência, etiqueta, cortesia, sinais de reverência, foram prática comum.
Ao mesmo tempo que regulava o comportamento externo, o direito
dispunha também sobre as atitudes internas correspondentes. Isso significa que,
embora tratando com a alma, somente através da interpretação de suas manifestações externas, o direito medieval e do início da era moderna considerava que o
mundo interior era domínio seu. Nesse sentido, o direito medieval não era mais
cego para a interioridade do que o nosso. Formalismo ou ritualismo legais não
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
49
significam que a relevância da “alma” fosse negada; pelo contrário, significava a
confiança do direito na possibilidade de controlar a alma, controlando suas dimensões corporais, asseverando a correspondência entre alma e seus sucedâneos
externos.
A ambição otimista do direito, tratando do controle das mais íntimas
dimensões do sujeito turvou as fronteiras entre o direito e outras ordens normativas, como a ordem do amor e da gratidão, explicando a contiguidade que os
juristas modernos creem haver entre mecanismos disciplinares do direito, da
religião, do amor, da amizade e da gratidão etc. Sendo a Ordem, em sua origem,
um ato de amor e sendo as criaturas (inclusive homens) naturalmente ligadas por
afeições, o direito não é senão uma forma (embora rudimentar, de qualquer maneira, externa) de corrigir alguns déficits ocasionais dessa compaixão universal.
Nesse sentido, os deveres religiosos – tanto quanto os derivados de amizade,
dívidas de gratidão, compensação de favores, dívidas de honra – eram quase
deveres jurídicos (quasi legales, antidorales). Tais eram: a adoração de Deus e a
veneração dos Santos, a compensação de favores, a remuneração de serviços
espontâneos (como os serviços dos vassalos), o pagamento de juros de dinheiro,
o exercício da caridade, a proteção de amigos.
É evidente que, dentro desse círculo, compreendem-se quase todos os
deveres sociais que garantem a sociedade bem organizada, conforme os ideais
europeus do início da era moderna (cf. CLAVERO, 1991; HESPANHA, 1993b).
Também o amplo círculo de deveres dos parentes na família provinha
da ordem das emoções. Tomando um exemplo menos direto, podemos citar o
jurista português Baptista Fragoso, quando fez a distinção entre o trabalho mercenário, devido por lei como contraparte do salário, e o trabalho feito por crianças dentro da casa paterna.
O filho que trabalha para o pai, estando sob sua patria potestas, não tem direito a salário. De outra forma, não poderia ser diferenciado de um estranho,
que não trabalha sem salário [...] A razão é que não se presume que o filho
sirva ao pai por salário, mas por amor, devendo submissão ao pai.
(FRAGOSO, 1641. III, 648, n. 117 e p. 118)
1.5
VONTADE LIVRE E ORDEM SOCIAL
Desde o século XVII, a filosofia social e a teoria constitucional têm
sido dominadas pela hipótese de uma base voluntária de sociabilidade e de instituições políticas, isto é, pela hipótese de um contrato social. Mesmo aqueles
que procuravam uma origem transcendental para convivência encontravam
mormente a pura vontade de Deus para justificar o controle político e as instituições políticas.
De outro lado, a teoria social medieval e do início da era moderna subestimou o papel da vontade livre (mesmo que fosse a vontade de Deus) na
50
Antônio Manuel Hespanha
formação da interação humana. “A lei de Deus não está em sua vontade, mas em
sua compreensão [...]”, escreveu Domingo de Soto em seu tratado a respeito da
justiça e do direito. (SOTO, 1556. q. 1, la. 1.1. 1, q. 1, art. 1)
Também o direito humano não depende da livre vontade humana.
Portanto, “a doutrina jurídica não tem como fonte nem o édito dos pretores, nem
a Lei das Doze Tábuas, mas a própria essência íntima da filosofia” (SOTO,
1556, Proemio 5). Ou “discutir as razões das leis (como direito voluntário)
revela mais ignorância do que conhecimento”. (DOMINGO DE SOTO, idem)
Em resumo, direito e vontade estavam unidos pela prudência. “A luz
não existe na vontade, que é cega, mas na compreensão [...] pelo que Platão
sabiamente afirma que não se fingirá ou asseverará que tudo obedece à vontade, mas, pelo contrário, que nossa vontade obedece ou à prudência ou à razão
prática”. (SUAREZ, 1613, liv. I, cap. 1, art. 1)
A plena justificativa do princípio de que in iure stat ratio pro voluntas
aparece um pouco mais adiante.
Além disso, com respeito ao direito, enquanto pode existir num sujeito humano, inquestionavelmente consiste em um ato da mente, e de si exige somente
um julgamento pelo intelecto, e não um ato de vontade, uma vez que, se um
ato de vontade é necessário para a observância ou a execução do direito, não
o é para sua existência. O direito precede a vontade do sujeito e obriga essa
vontade, enquanto um ato do intelecto é necessário para que o próprio direito possa, desse modo, ser posto diante e em contato direto com a vontade;
e, consequentemente, exige-se um julgamento pela razão. É nesse sentido, em
verdade, que a lei natural é comumente referida como o julgamento natural
da razão humana; mais ainda, isto é, na medida em que a dita lei existe no
homem como em alguém que lhe é sujeito.
Joannes Damascenus, também, fala dessa mesma forma, dizendo (De
Fide Orthodoxa, Bk. IV, cap. III, [cap. XXII]):
a lei de Deus, enquanto se destina a nós, incendiando nossas mentes, atrai-as
para si própria e desperta nossas consciências, que a consideram a lei de
nossas próprias mentes. O mesmo é verdadeiro, guardadas as proporções,
relativamente ao direito positivo. Pois, após ter sido editado, aplica-se a todos os indivíduos por meio de um julgamento da razão, de forma que o que
não era necessário per se é considerado necessário em virtude da lei; destarte, esse ato de julgamento é agora a lei (por assim dizer), como existe no
próprio sujeito. (Tractatus de Legibus..., cit Bk. I, cap. 3, n. 5)
Essa desvalorização do papel da livre vontade na constituição da ordem política foi difundida na imaginação jurídica e política, no início da era
moderna.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
51
No plano da teoria política, provocou uma consciência permanente do
caráter natural (isto é, não-artificial) da regra e de sua limitação através de princípios que escapavam ao arbitrium do rei.
Embora alguns proclamem que é sacrílego discutir os poderes dos reis, e que
sua vontade é a fonte da lei, uma resposta segura e certa pode ser dada a
essa asserção. Realmente, o que é criminoso e sacrílego é afirmar que não é
legítimo pôr em dúvida poderes reais. Esse é o próprio sinal de política sem
Deus, suavizada por meio da sugestão de que não há Deus. Destarte, é algo
ímpio – semelhante ao preceito dos Turcos – sustentar que a vontade real,
85
iníqua, absoluta e sem regras [arbitrária] tem a força de lei .
Portanto, a lei real tinha que ser esclarecida pela razão jurídica (ratio
iuris), isto é, pelo conhecimento das coisas humanas e divinas, que era discutida
pela filosofia, para tornar-se juridicamente fértil.
No plano da teoria jurídica, essa limitação da vontade livre da pessoa,
pela razão, estava na origem de uma suspeita em face da lei, particularmente
quando contradizia os princípios estabelecidos da doutrina jurídica comum
(contra tenorem iuris rationis), ou introduzia exceções a eles (Digesto de Justiniano, cf. 1, 3, p. 14-16).
Instituições específicas eram também entendidas num semelhante
molde antivoluntarístico. A propriedade, por exemplo, não era esse ilimitado
poder sobre as coisas que caracteriza nossos conceitos de domínio desde o início
do século XIX.
Para tornar efetivo o conceito de propriedade – escreve Luis de Molina
(1535-1600) – é suficiente usar as coisas de acordo com sua própria vontade,
mas nos limites da forma exigida pela natureza e permitida pelas leis divinas
e humanas. Assim, uma pessoa é senhora de seu escravo, embora não o possa
matar, ou é proprietária de suas próprias coisas, não obstante não poder
86
destruí-las .
Também os contratos não eram esse domínio de escolha e vontade livres como foram considerados pela legislação liberal do século XIX.
Aqui, protagonismo de elementos voluntarísticos é circundado por
uma construção teórica sobre as causas dos contratos (causa contractus) que é
frequentemente desconsiderada. Para os juristas teóricos, a causa era o elemento
que dava racionalidade à vontade, o motivo subjacente sem o qual a execução
dos contratos ou não teria sentido ou consistiria em uma vantagem eventual para
85
86
ARAÚJO, João Salgado de. Carta que un cavallero biscaino esccrivió en discursos politicos
y militares, la outra del Reyno de Navarra [...], Lisboa, 1643. p. 15
De Iustitia et de Iure, Conchae, 1593. I, 18
52
Antônio Manuel Hespanha
a parte contrária. O jurista francês Domat afirmou, ainda no início do século
XVIII, “tout engagement doit avoir une cause honnêt’” isto é, conforme a ordem das coisas”. Outros autores preferiram outra construção dogmática, centrada na ideia da natureza dos contratos (“todos os contratos têm uma natureza
inerente” [natura ergo inest omnibus contractibus], escreveu Mantica: Vaticanae locubrationes..., citado por Grossi, 1986)
A natura contractus deveria estruturar os compromissos contratuais
com uma lógica objetiva, exigida pela própria natureza da organização social e
incrustada na tradição.
Em qualquer construção dogmática que observemos, o peso de elementos voluntarísticos no imaginário do contrato era muito leve. Um advogado
português resumiu muito expressivamente esse surpreendente equilíbrio entre
vontade e racionalidade social objetiva. “A obrigação – escreve António Cardoso do Amaral, 1740, Obligatio, n. 6 – é contraída pelas próprias coisas, verbalmente ou por escrito [...] e às vezes também pelo simples acordo” (aliquando
tamen obligatur quis solo consensu). Como um grande historiador do direito
italiano escreveu, para essa visão naturalística “o homem desapareceu, absorvido por uma rerum natura (natureza das coisas), plena de energia vital”. (Grossi, 1991, p. 161)
Essa concepção não-consensual de contratos sofreu algumas limitações pela condenação da mentira, contida em preceito (“Cumprirás o que sai da
tua boca”, Deut., 23, 23). Todavia, até ao (suavizado) triunfo do individualismo
na filosofia social da metade do século XVIII, a irrelevância da vontade livre na
imaginação da interação social seria mantida.
Uma das mais conhecidas consequências da ideia do caráter objetivo
do trato social era o severo regime do casamento, em que a vontade era quase
impotente na formação da relação matrimonial. Mais surpreendente ainda era a
maneira pela qual António Cardoso do Amaral (AMARAL, 1740, v. Obligatio)
acentua o fato de que os liames naturais de amizade e gratidão poderiam, por si
mesmos, gerar obrigações. Portanto, haveria obrigações “oriundas apenas do
instinto natural, por causa de serviços ou benefícios, de tal forma que estamos
naturalmente obrigados a retribuir os que nos beneficiaram” (AMARAL, 1740,
v. Obligatio, n. 4). O amplo (além disso, comum) objetivo do scholium de Amaral é compreensível somente se considerarmos a extensão que “serviço”, “graça”, “piedade” ou “caridade” tinham na estrutura da interação humana na sociedade europeia do início da era moderna.
O princípio de que a natureza (humana) mecanicamente gerava obrigações compreendia, também, aqueles deveres impostos por virtudes morais,
como “liberdade”, “amizade”, “caridade” ou “magnanimidade”. Os amigos deviam-se mutuamente “obséquios” e “favores”; pessoas poderosas tinham deveres de “proteção” para com pessoas humildes (“amizade”, “liberalidade”). Os
ricos deviam esmolas aos pobres (“caridade”). E magnatas (como o rei), por
causa da mais alta posição em que estavam situados, deviam tudo isso em grau
superlativo (“magnanimidade”).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
1.6
53
A DOUTRINA JURÍDICA COMO FONTE DA
ANTROPOLOGIA HISTÓRICA DO ANTIGO REGIME
Os poucos exemplos dados acima conduzem às mesmas conclusões fundamentais: (i) nas relações entre direito e cultura, tanto quanto (ii) nos papéis, a
história legal-jurídica pode desincumbir-se dentro de disciplinas históricas e legais.
Comecemos com o primeiro ponto.
A primeira conclusão é a de que as instituições jurídicas podem ser o
objeto de uma hermenêutica cultural que leve à revelação em núcleos de categorias que organizam a percepção da sociedade e guiam a avaliação da equidade e
justiça. Essas categorias não são inorgânicas. São combinadas em uma global e
harmônica interpretação da realidade. Peças guias desse modelo (ou paradigma)
são conceitos (imagens ou representações), ou oposições conceituais, como
ordem (versus confusão ou homogeneidade), natureza (versus artifício), razão
(versus livre vontade), todo (versus partes), pessoas (versus coisas), essência ou
interioridade (versus aparência). Esse paradigma concretiza-se em miríades de
manifestações concretas de manifestações jurídicas ou institucionais, de tal forma que sintetiza o conjunto institucional da cultura política medieval ou do início da era moderna, tornando-o familiar e previsível em todas as minúcias.
A segunda conclusão é a de que tal paradigma está tão profundamente
enraizado que abarca um amplo conjunto de discursos normativos, como a teologia moral, a ética, a economia (no antigo sentido, acepção de oikonomia, como
administração da casa) e política. Ao mesmo tempo, todas essas disciplinas
mergulham profundamente no senso comum e no comportamento quotidiano de
vida. São, hoc sensu, uma teoria de práxis, para relembrar um conhecido título
de Pierre Bourdieu (cf. também KAHN, 1999). Isso explica o anacronismo de
aplicar a organização contemporânea do conhecimento (arbor scientiarum) ao
sujeito desse discurso normativo, em que o direito está indissoluvelmente conectado com a teologia e a ética. Ademais, isso esclarece a permanente e contagiante migração de conceitos e modelos de fundamentação e de justificação de
um campo literário para outro. E, finalmente, esclarece as razões da continuidade entre a literatura e as práticas quotidianas.
A terceira conclusão diz respeito às asserções comumente implícitas
dos juristas a respeito da natureza dos paradigmas subjacentes à lei. Ao menos
desde a Escola Histórica Alemã, os juristas estão cientes da existência de um
sistema coerente de valores atrás de todas as proposições e regras jurídicas. Mas,
com exceção da primeira geração da Escola Histórica Alemã, ainda tendem a
pensar que esses paradigmas são o resultado de uma fundamentação permanente, e
não universos de crenças culturalmente incrustados. Isto é, no que tange ao direito
romano, ou à grande tradição do ius commune continental, afirmava-se que as modernas categorias legais “racionais” já existiam, embora ainda em forma embrionária. A tradição jurídica ocidental seria uma continuidade, onde a Razão desenvolvia
progressivamente e sem ruptura seu monótono sistema conceitual.
Portanto, ressaltar descontinuidade e ruptura não é uma atitude teórica
comum entre juristas, e mesmo entre historiadores do direito. De fato, o caráter
54
Antônio Manuel Hespanha
atemporal das construções legais é um postulado básico do pensamento jurídico
ocidental, desde o iluminismo, quando o racionalismo culturalmente contagiante
criou a utopia de um sistema jurídico baseado em axiomas racionais desenvolvidos a um ritmo matemático.
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) ou Jeremy Bentham
(1748-1832) são dois representantes notáveis dessa corrente de juristas, que
conceituava a fundamentação jurídica e a descoberta de soluções jurídicas
(Rechtsfindung) como uma forma de calculus, embora específico.
O formalismo neokantiano realçava a tendência de equiparar doutrina
jurídica a uma ciência formal, isolada de qualquer contexto cultural ou social. O
último passo nessa tendência foi dado pela Teoria pura do direito (KELSEN,
1897-1955), quando, avaliou o cientificismo do discurso por sua capacidade de
alienar a realidade (de a “purificar”).
Mesmo o historicismo e o sociologismo incidiram nesse essencialismo
aculturalista. De fato, mesmo quando as raízes sociais das instituições ou doutrinas jurídicas eram investigadas, o modelo adotado considerava que grupos sociais,
tanto no presente, como no passado, compartilhavam os mesmos modelos básicos de representação da realidade ou de interesses. O conflito social ou a emulação social eram, em matéria de história, frequentemente representados como se
os atores fossem cidadãos europeus contemporâneos. Para eles, riqueza devia ser
mais importante do que honra; afirmação individual, mais decisiva do que desempenho de um papel natural preestabelecido; progresso, mais desejável do
que estabilidade; direitos, mais impositivos do que deveres; indivíduos, mais
visíveis do que comunidade; obrigações jurídicas formais, vínculos mais rigorosos do que os objetivamente gerados (preterintencional). Essa contextualização
contemporânea do comportamento formaria uma espécie de razão prática natural
que poderia ser exportada para qualquer situação humana ou tomada como base
para a pesquisa da justiça natural (como na teoria da justiça de John Rawls).
A atual consciência antropológica deu à historiografia, máxime, à
historiografia jurídica, uma nova sensibilidade quanto à ruptura cultural e à diferença histórica, liberando a gramática autônoma de cada uma das diferentes
culturas do passado europeu. Essa liberação de diferença tem duas grandes vantagens; uma, no plano jurídico, outra, na dimensão histórica.
No plano da teoria do direito, recuperar o sentido da diferença histórica tem sido um fator importante para recuperar o sentido restrito ao âmbito local
dos valores ocidentais. Hoje, a consciência jurídica é confrontada com as falhas
das tecnologias jurídicas ocidentais exportadas, ou com sua reticente recepção
de culturas alheias. Em um mundo que, vertiginosamente, tende para a integração, o choque do universalismo jurídico e a correspondente consciência do caráter local do direito suscita o problema vital da reconstrução de uma teoria
geral do direito, que passa a ser operativa, liberada do cronocentrismo e do etnocentrismo, dentro da estrutura e em prol do pluralismo.
No que tange à dimensão histórica, a sensibilidade quanto à diferença
é a condição de uma exitosa recriação de ambientes culturais extintos. A cultura
medieval e do início da era moderna é uma delas. Forma um universo coerente
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
55
de imagens, crenças e valores que dá sentido a milhões de decisões concretas da
vida quotidiana. Não se pode mais assistir a esses atos silenciosos e sem rastros.
Alternativamente, temos ainda o impressionante corpus da tradição em que está
embebido, que funcionou no mesmo arcabouço cultural e que engendrou diversos dispositivos discursivos que permitiram um contínuo intercâmbio entre senso comum e cultura assimilada. Um deles foi a receptividade permanente, por
parte da doutrina jurídica, de valores da vida quotidiana ou sociais, por meio de
conceitos, como equitas (equidade) bonum ou rectum (v.g., bonus paterfamilias,
pessoa comum, recta ratio (razão comum), interest (cf. BARBERIS, 2000), natura rerum (natureza das coisas), id quod plerumque accidit (normalidade estatística), enraizamento (v.g. iura radicata, expectativas sociais radicadas [no tempo ou
na tradição]), e assim por diante. Outro dispositivo era o papel de topica, como a
arte de obter consenso na descoberta de soluções jurídicas doutrinais.
Uma última palavra sobre esse tema, na medida em que pode ser a
resposta a uma pergunta comum a respeito da capacidade da literatura jurídica
doutrinal de se tornar numa fonte de história cultural e intelectual.
Não obstante os últimos progressos no sentido da reconstrução de um
direito da vida quotidiana (notável, SARAT, 1996), a doutrina jurídica atual
(maxime a doutrina continental europeia) é, nessa medida, permeável ao senso
comum e aos sentimentos de justiça social. Em certos domínios, onde é decisiva
a adesão aos valores de equidade, conforme o senso comum, há dispositivos
discursivos que proporcionam alguma espécie de sistema jurídico conceitual à
vida quotidiana. É o caso de cláusulas gerais ou conceitos abertos, tais como:
boa-fé (em temas contratuais), “discrição ou arbítrio prudentes” (em decisões
judiciais), “homem prudente” (na administração patrimonial). Todavia, em geral, os conceitos são rígidos e autorreferenciais.
Pelo contrário, essa referência ao mundo de valores e de avaliações
radicado no senso comum foi permanente na doutrina jurídica do ius commune.
As soluções jurídicas assimiladas eram justificadas pelo fato de que eram aceitas
por pessoas comuns, de serem utilizadas há muito tempo (usu receptae), de se
radicarem em usos sociais (radicatae, praescriptae), de corresponderem à ordem das coisas ou à ordem moral, como essas eram comumente percebidas (honestae, bonnae et aequae). Mesmo a estrutura das fontes do ordenamento jurídico – como era entendida pela doutrina – expressava o peso de um senso espontâneo de equidade. No topo estavam o costume (consuetudo), a doutrina recebida (opinio juris) e a prática judicial (stylus curiae, praxis).
Além disso, essa permanente investigação do senso comum era completada por técnicas de elaborar decisões. Ao invés de inferir soluções de um
padrão doutrinal rígido, os juristas elaboravam soluções em duas etapas. A primeira (inventio iuris, ars inveniendi), descobrindo e coligindo pontos de vista
comuns (loca communia, topoi); a segunda identificando os metacritérios de
hierarquizá-los em cada caso.
A inter-relação entre doutrina recebida e senso comum não findava
com a decisão. Uma vez alcançada a decisão – esse produto de uma razão colhida dos fatos da vida – torna-se mais uma peça nesse esqueleto moral da vida
56
Antônio Manuel Hespanha
quotidiana formada pelo “direito recebido ou praticado (ius receptum vel praticatum). Realmente, os casos decididos integrarão o horizonte dos padrões morais e das expectativas sociais da comunidade. Ainda mais, prosseguia o processo da reelaboração doutrinal do senso social de equidade. Trabalhando nesse
acquis decisional prático, os juristas cunhavam regula ou brocarda, frases curtas
ou epigramas, em que a sabedoria jurídica prática estava concentrada e podia ser
facilmente disseminada e assimilada pelos leigos. Agora, as construções assimiladas a partir do senso comum regressam à vida quotidiana, tornando-se estruturantes. O discurso, de seu refúgio efêmero nos livros, retorna à vida.
REFERÊNCIAS
AMARAL, António Cardoso do. Uber utilisimus judicum: Summa seu praxis judicum.
Ulysipone, 1610. consulted edition, Conimbricae, 2 v.1740.
BARBERIS, Interesse. Bologna: II Mulino, 2000.
BERGAMO, Mario. L’anatomia dell’anima. De François de Saies à Fénélon. Bologna: II
Mulino, 1991.
CLAVERO, Bartolomé. Antidora. Antropolgía católica de la economía moderna. Milano:
Giuffrè, 1991.
FERREIRA, José Dias. Código civil anotado. Lisboa, 1870.
FRAGOSO, Baptista. Regimem reipúblicae christianae. Collonia Allobrogum, t. 3, 16411652.
GROSSI, Paolo, Sulla ‘natura’ del contratto (qualche note sul ‘mestiere’ di storico del diritto,
la proposito di un recente ‘corso’ di lezioni). Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico. 15(1986) p. 593-619.
HESPANHA, António Manuel. Pré-compréhension et savoir historique. La crise du modèle
étatiste et les nouveaux contours de l’histoire du pouvoir, In: Juristische Theoriebildung
und rechtliche Einheit. Beiträge zu einem rechtshistorischen Seminar in Stockholm im
September 1992, (Rättshistoriska Studier, 19[1993]), p. 49-67.
HESPANHA, António Manuel. Les autres raisons de la politique. L’économie de la grâce. In:
_______. La gracia del derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
KANTOROWICZ, Ernst H. The king’s two bodies. A study in mediaeval political theology.
Princeton: N.J., 1957.
KAHN, Paul W. The cultural study of law. Reconstructing legal scholarship. Chicago: The
Univ. of Chicago Press, 1999.
PEGAS, Manuel Alvares. Commentaria ad Ordinationes Regni Portugalliae. Ulysipone
1669-1703. 12 v. 2.
SARAT, Austin. Law in everyday life. Ann Arbour, The University of Michigan Press, 1996.
SOTO, Domingo. De iustitia et de iure. Cuenca, 1556; P. Venancio Diego Carro, O.P. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1968.
SUAREZ, Francisco. De legibus ac Deo legislatore. Coimbra, 1613.
VALASCO, Álvaro. Consultationum ac rerum judicatarum in regno Lusitaniae. Ulysipone, 1588. Cons., Cornimbricae, 1730.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
57
2
O AMOR NOS CAMINHOS DO DIREITO:
AMOR E IUSTITIA NO DISCURSO
JURÍDICO MODERNO
87
‘Brief, le plus grand plaisir qui soit après l' amour, c' est d'en parler’ .
(L. LABÉ. Débat de folie et d'amour, Discours IV)
2.1
INTRODUÇÃO
Amor a deliberatione privat88, o amor priva o juízo; amor furoris species est , o amor é uma espécie de loucura da alma, tão violenta que não é superada por nada; amor modum non admittit, cum humanus amor ex iis affectionibus fit, quorum virtus regula esse non potest90, o amor não tem medida, até o
ponto de não poder ter como regra a virtude.
Assim diziam os antigos. Decididamente, a proximidade entre o amor
e a justiça não faz parte dos tópicos de nossa cultura. Entretanto, deveríamos
afirmar o contrário, pois nosso imaginário social está repleto, como podemos
notar, de exempla e lugares-comuns que dão conta da antipatia mútua reinante
entre estes dois sentimentos. A invocação da justiça em situações estruturadas
pelo amor (como uma família feliz, uma casal de namorados, um grupo de bons
amigos) é tão estranha assim como é inútil (e irrelevante como critério de decisão) a invocação do amor no âmbito de um processo judicial. Pior ainda: como
regra, considera-se que o recurso à justiça destrói as relações de amor (ou só se
verifica quando estas já estão arruinadas), da mesma forma que acreditamos que
o surgimento dos afetos separa a justiça de seu caráter neutro e cego.
89
87
88
89
90
Tradução do original em espanhol de Douglas da Veiga Nascimento.
PEGAS, M. Alvares. Commentaria ad Ordinationes Regni Portugaliae, (Ulyssipone 1669),
ad. I, 1, gl. t. I 13, n. 2.
Idem, t. I, ad. I, 1, gl. 13, n. 2 (a. 13).
ldem, t. V, ad. I, 65, gl. 45, n. 5.
58
Antônio Manuel Hespanha
É verdade que, se observarmos a justiça e o amor do ponto de vista da
paz social, é possível então encontrar algum parentesco entre ambos, na medida
em que os dois fatores são importantes – os mais importantes, na verdade – para
os “estados de paz”. Entretanto, convém salientar que ambos cumprem esta
função servindo-se de procedimentos diversos e excludentes entre si91. Simplificando um pouco as coisas, pode-se dizer que a justiça pacifica pela disciplina,
enquanto que o amor pacifica pelo consenso.
E, no entanto, como veremos, as coisas nem sempre foram assim.
No discurso moral e jurídico tradicional europeu, o amor aparece com
frequência associado à justiça, quer como estado de espírito que promovia o
sentimento do justo (amor iustitiae), quer como uma virtude anexa, por mais
distinta que tenha sido, à justiça. Não se pode esquecer que a justiça podia ser
invocada, no que diz respeito ao amor, em relação ao débito recíproco dos
amantes (debitum amoris, debitum antidoralis, quasi debitum).
2.2
OS SENTIMENTOS COMO OBJETO DE ESTUDO
Não há dúvida de que ao discorrer sobre o amor e a justiça (ou, para
ser mais preciso, sobre o amor na perspectiva da justiça) irremediavelmente
adentramo-nos no terreno dos “estados de espírito”, dos sentimentos. E este é
um território muito mal definido do ponto de vista metodológico. Realmente, a
historiografia que tem sido praticada habitualmente nos últimos anos é uma
historiografia da exterioridade: descrevem-se atos exteriores e se fabricam cadeias explicativas de atos exteriores para atos exteriores. A introspecção nunca é
convocada, nada tem a dizer, apesar de todos nós sermos conscientes de que as
coisas mais importantes de nossas vidas não consistem em atos exteriores, mas
em disposições do espírito, e apesar, também, de todos nós sabermos que, no
fundo, na origem de qualquer ação encontra-se um sentimento.
Desse modo, falar dos sentimentos dos juristas ou levantar uma história jurídica dos sentimentos constituem um passo justificável na medida em que
permitem restaurar um momento fundamental da ação jurídica. Neste momento,
temos também que estar conscientes dos enormes riscos envolvidos neste passo
da exterioridade e da interioridade, riscos que derivam afinal, como é bem sabido, da dificuldade de compatibilizar a quase irresistível tentação hermenêutica
de interpretar os atos visíveis (como se fossem práticas discursivas) em função
91
Sobre o amor e a justiça como tecnologias de obtenção de “estados de paz”, cf. Luc
BOLTANSKY. L'amour et la justice comme compétences. Tros essais de sociologie de
l'action. Paris: Métaillé, 1990. Note que a oposição que estabelece este autor entre eros e agapé parece inspirar-se em A. Ngyren, o qual, segundo alguns intérpretes do tomismo, teria interpretado mal São Tomás ao incluí-lo, seguindo uma leitura tradicional luterana, entre os seguidores de uma filosofia “erótica” ou interessada em oposição a outra “extática” ou desinteressada do amor (vide A. NGYREN: Eros et agapé, Paris, 1944-1953. 3 v., e A. MALET: Personne et amour dans la théologie trinitaire de Saint Thomas d'Aquin. Paris: Vrin, 1956).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
59
dos sentimentos com a crua realidade, ou seja, com a impossibilidade material
de entrar dentro das cabeças das pessoas (sobretudo quando estão mortas!)
Aqui, e segundo os especialistas, estão os dois principais perigos que
devem ser destacados: em primeiro lugar, o objetivismo que tende a equiparar os
sentimentos com estados psíquicos (ou até fisiológico) objetivamente caracterizáveis; em segundo lugar, o impressionismo que, ao seu modo, pretende buscálos mediante um exercício de introspecção culturalmente pura (ou seja, não
contaminada por modelos de apreensão culturalmente induzidos). Estes dois
perigos são, por sua vez, manifestações de outro, mais geral, que é esse naturalismo que concebe os sentimentos como realidades relacionadas com a natureza
anímica do homem, isto é, providos de uma identidade capaz de sobreviver às
determinações dos tempos, das culturas e de outros contextos sociais.
Devemos começar, ao contrário, a prestar grande atenção ao que já
fora em seu momento enfatizado por Wittgenstein: especificamente, ao fato de
que qualquer forma de introspecção que identifica sentimentos distingue-os com
a ajuda dos esquemas lingüísticos ou quadros de classificação de “manifestações
externas de sentimentos”, sendo ambos dependentes de um contexto cultural
determinado92.
Isto significa que parece pouco fundado do ponto de vista metodológico iniciar esta breve investigação, carregando nas costas os esquemas linguísticos e categoriais que governam no mundo de hoje estados de espírito tais como
o amor. E isso é o que veremos em seguida, que o sistema de classificação que
hoje aplicamos aos sentimentos – e a partir do qual dotamos de sentido a palavra
“amor”– é muito diferente do que estava em vigor durante o Antigo Regime. O
amor de hoje não tem nenhuma semelhança com o amor de ontem. Não evoca as
mesmas emoções. Não se exterioriza segundo o mesmo conjunto de ações e
reações externas. Não se conecta na mesma sequência de práticas.
Estamos, portanto, obrigados a iniciar pela reconstrução histórica do
campo semântico ao qual a palavra “amor” se vincula. Para alcançar esta reconstrução de um sentido, o mais sensato é proceder com o estudo das suas formas de materialização externa, isto é, o modo em que se materializam em atos
externos, em descrições, cerimônias, comportamentos e textos. É neste plano
puramente exterior ou bruto que os sentimentos se cristalizam, permitindo-nos
seguir o rastro das constelações, as gramáticas e os dispositivos que conformam
e servem para dirigir as ações.
A partir da reconstrução da geometria deste sistema de sentimentos,
desta alma objetivada, trata-se já de identificar duas coisas. Por um lado, o campo de emergência do amor. Ou seja, o conjunto de situações sociais do qual o
amor é suscetível de irromper ou do qual ele é suscetível de ser invocado. Por
outro lado, o conjunto típico de condutas e práticas (typical behaviour display)
92
Cf. ARMON-JONES, Claire. The Thesis of Constructivism, In: R. HARRÉ (Ed.). The Social
Construction of Emotions. London: Basil-Blackwell, 1986. p. 36 ss.
60
Antônio Manuel Hespanha
que, nesses contextos, considera-se relacionado com o amor; isto é, o conjunto
de práticas que cabalmente pode ser considerado como amoroso.
2.3
OS “ESTADOS DE ESPÍRITO” COMO PRINCÍPIOS
DE AÇÃO
Como veremos, para a reconstrução do sistema de sentimentos na Idade Moderna católica nos serviremos, sobretudo, da monumental análise dos
estados de espírito levado a cabo por São Tomás de Aquino na segunda parte da
Summa Theologica (quando desenvolve uma teoria da virtude). A eleição deste
corpo literário levanta por si só uma interessante questão prévia, de caráter geral
e relativo à relação existente entre os sentimentos efetivamente vividos e as
práticas que por outro lado os objetivam. Vale dizer, e expressado de outra forma: O que se dizia sobre o amor tinha algo relacionado com o que se fazia com
e por amor?
Esta é uma questão que ultimamente tem avivado a discussão metodológica no âmbito da história. Pois interessa saber se estas representações que
se colhem nos textos – e, mais concretamente, nos textos teológico-morais e
jurídicos – podem ser elevadas à classe de fontes para o conhecimento das práticas efetivamente vividas.
A primeira observação que convém formular a este respeito afeta o
plano fundamental de uma teoria da ação e pretende banir certas formas de mecanismo objetivista inclinados à explicação da ação humana a partir de um jogo de
determinações puramente externas, que podem ir desde as necessidades fisiológicas até as leis do mercado, passando pelos ritmos dos preços, as curvas de natalidade ou as estruturas de produção. Nós, ao contrário, não nos cansaremos de
insistir em que as práticas das quais a história se ocupa são práticas realizadas
pelos homens, isto é, práticas que de algum modo procedem através de atos de
cognição, de avaliação e de volição. Em qualquer destes níveis de atividade
mental pressuposta na ação se dão momentos irredutíveis de seleção, nos quais
os agentes elaboram determinadas versões do mundo exterior, as avaliam, optam
por formas alternativas de reação, configuram os resultados e antecipam as consequências para o futuro. Todas estas operações intelectuais não são senão representações construídas pelo agente, representações eventualmente fabricadas a
partir de estímulos (de natureza muito variada) procedentes do exterior, mas que
em qualquer caso se reprocessam em virtude de mecanismos puramente intelectuais: trata-se de utensílios mentais tais como esquemas de apreensão e classificação, sistemas de valores, processos de inferência, baterias de exemplos, modelos típicos de ação etc.
Um mundo de representações, enfim. E assim, por exemplo, quando
K. Polanyi insiste na natureza “antropologicamente configurada” do mercado
não está dizendo outra coisa senão que as “leis do mercado” não constituem
lógicas de implacável cumprimento, derivadas da lógica das coisas ou de uma
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
61
razão econômica, sem modelos de ação que descansam em sistemas de crenças e
de valores próprios de uma cultura determinada (de uma época, de um grupo
social)93. Paralelamente, quando M. Bakhtin defende que o mundo não pode ser
apreendido senão enquanto texto94 e que, portanto, a reação entre “realidade” e
representação deve ser necessariamente entendida como uma forma de comunicação intertextual, não vem no fundo senão para insistir nesta ideia de que todo
o contexto da ação humana é algo que já passou por uma fase de atribuição de
sentido95. A realidade, na medida em que é apreendida como contexto da ação
humana, é consumida pela representação. Todas as questões anteriores convém
ressaltar para poder extirpar qualquer tipo de idealismo ou de essencialismo
psicologista. As raízes mentais da prática não são inatas, senão externamente
dependentes. As operações intelectuais e emocionais comportam momentos de
relação com o mundo exterior (isso que alguns denominam de momentos cognitivos). Por isso é que a mente está submetida a processos de incorporação de
dados ambientais para os quais de um modo simplificado poderíamos denominar
“de aprendizagem”96.
2.4
“ESTADOS DE ESPÍRITO”, CONTEXTOS, PRÁTICAS
E REPRESENTAÇÕES
Não é fácil, em nenhuma hipótese, gerar um modelo que explique os
intercâmbios de informação entre o mundo mental e o contexto da prática. Neste
momento ressalvaremos a ideia de autonomia do funcionamento mental, que
exige descartar todo o modelo de determinação direta ou mecânica do mundo
exterior sobre os estados de espírito, como se os estímulos internos cunhassem
emoções, ideias ou juízos de valor. Parece-nos assim, de modo contrário, mais
interessante o modelo autopoiético, que considera a mente como um sistema
fechado e auto-equilibrado (homeostático) e para a qual o ambiente (Umwelt) só
é suscetível de operar mediante “percussões” e estímulos; “percussões” e estímulos que, estando em níveis abaixo da comunicação, não determinam diretamente os estados do sistema, apesar de darem causa à dissipação de processos
93
94
95
96
POLANYI, Karl. The Great Tansformation: The Political and Economic Origins of Our
Times. New York, 1944. Cf. Uma apreciação mais recente em Ida FAZIO. Piccola scala per
capire i mercati. Meridiana 14 (1992), maxime p. 107-116.
Sobre esta ideia da pan-textualidade de Bakhtin, cf. Peter V. ZYMA, Textsoziologie. Eine
kritische Einführung. Stuttgart: Metzler, 1980. p. 66-88.
Atribuição que se transformou em “texto”, isto é, em realidade significativa, dominada por um
código.
Na linha deste construtivismo, mas com maior radicalidade, cf., por exemplo, H.
MATURANA/R. VARELA: Autopoiesis and Cognition. Boston: Reidel, 1979 e P. HEJL/W.
KÖCK; Wahmehmung und Kommunikation, Frankfurt am Main, 1978. Mais tarde, Niklas
LUHHMANN: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1984. Uma boa introdução a estas correntes encontra-se em Siegfried J. SCHMIDT.
Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.
62
Antônio Manuel Hespanha
internos de reequilíbrio que levam à aparição de novos estados. Este ambiente
de “cálculo pragmático” (i.e., de cálculo mental que subjaz e antecede à ação)
introduziria, assim, uma série de compulsões que, antecipadas mentalmente e
processadas segundo as regras do cálculo mental, provocariam modificação do
curso da ação.
Os diversos corpora literários – e, mais concretamente, o da teologia
moral e o do direito – constituem, neste sentido, exteriorizações das representações que ocorrem nos processos de cálculo mental. Baseando-se em um exercício possível de introspecção97, o que fazem é dar conta da forma em virtude da
qual um grupo de produtores intelectuais autorrepresenta sobre todos aqueles
mecanismos mentais que os conduziam à ação.
E, apesar de tudo, a interrogação permanece. Pois esta representação
que se ocupa do comportamento externo de um grupo intelectual resulta extensível aos seus contemporâneos em geral?
É muito pouco o que se pode responder aqui. Diante da dúvida acerca
da capacidade da representação de abranger os comportamentos dos grupos
produtores, o melhor que podemos fazer é confiar no que os autores diziam que
sentiam e que por ele mais tarde agiriam em consequência. Por outro lado, temos que ser conscientes do fato de que esta literatura só reconhece os modelos
semelhantes (uns descritivos, outros normativos) da ação. E que, portanto, não
registram as práticas eventualmente derivadas de tais modelos.
Agora aqui, note-se neste ponto que se dispuséssemos de descrições
“brutas” das práticas – isto é, de meras descrições “objetivas” dos atos externos
– também acharíamos falta de elementos essenciais para sua compreensão, seja
em ato humano, seja em ato que incorpora a referência a um sentido: elementos
esses como, por exemplo, o conjunto de suas motivações mentais, como a descrição do cálculo pragmático que abriga em sua origem e como aquele processo
(próprio ou alheio) de avaliação mental de tais práticas que é o que está na base
dos mecanismos que desencadeiam novas ações. Teríamos, portanto, que contar
com uma fonte ideal que justamente seria aquela que conseguisse abranger as
“práticas explicativas”.
À falta de fontes deste tipo, este trabalho de “hermenêutica da prática”
tão essencial para uma história dos atos humanos faz-se com muita dificuldade.
97
Um pouco mais de rigor nos obrigaria a complicar demais esta introspecção, indicando ainda,
que esta também seria prisioneira de sua cultura. E que, portanto, nem mesmo a mente oferece
um modo neutro como espetáculo para si mesma. Desse modo, é oportuno falar de um processo
autorreferencial, na medida em que o conhecimento da mente utiliza as categorias da coisa a
ser conhecida. Se, para não nos atarmos, introduzíssemos aqui um ponto de diacronia que permitisse uma certa objetivação dos elementos estruturantes do conhecimento – estamos pensando no conceito de “tradição literária” – então poderíamos dizer que o novo conhecimento sobre
a mente utiliza as categorias do conhecimento anterior sobre a mente recebidas da tradição.
Mediante a incorporação deste novo saber, a tradição inovava e fazia modelar, já de uma nova
maneira, o futuro e novíssimo saber sobre a mente.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
63
No final das contas, resulta que esta hermenêutica da prática - ou seja,
este trabalho de reconstrução das manifestações externas até as composições
mentais que as originam – pressupõe, em primeiro lugar, a existência de ações
objetivamente descritíveis. E, em segundo lugar, a de um código de interpretação que permite relacionar os efeitos externos com os estados de espírito. Neste
momento, na realidade, o que ocorre é que as práticas só nos chegam (através de
fontes, sobretudo textuais) como representações (reinterpretadas, amputadas,
valoradas). Representações que viriam a traduzir os dados externos em dados
discursivos condicionados pelos códigos intelectuais dos autores das fontes. E o
problema repousa no fato de que as fontes que descrevem as práticas não revelam os códigos que permitem passar do ato externo para seu conteúdo significativo. Deste modo, o que costumam fazer os historiadores é projetar as representações do passado sobre um esquema de interpretação que responde às representações atuais dos motivos da ação. Com isso, a explicação histórica se converte numa filha espúria da união entre interpretações passadas de atos passados
e modelos atuais de “interpretação psicológica” de atos aparentemente idênticos
aos praticados no presente.
Qualquer um pode se dar conta do considerável uso da varinha mágica
que requer este processo98.
2.5
A TRADIÇÃO LITERÁRIA TEOLÓGICO-JURÍDICA
COMO HABITUS SOCIAL
Se, em que pese tudo que foi dito, refletirmos um momento sobre os
gêneros literários que nos interessam aqui, podemos em seguida observar que a
probabilidade de que os textos contenham algo para além das fantasias ou bons
votos é mais alta do que parece.
Devemos, neste sentido, ter em conta que a teologia moral e o direito
representam, na época moderna, uma tradição largamente sedimentada. Uma
tradição que recolhe esquemas culturais de representação do homem e do mundo
muito presentes na experiência e muito aceitas. A contínua discussão intelectual
de um mesmo universo literário não tem senão colocado à prova este consenso
que resulta das interpretações e das leituras, assim como a adequação destas aos
direitos vividos. De outro lado, o mesmo velho caráter da tradição implicava
uma enorme capacidade de impregnação dos esquemas mais fundamentais de
apreensão, instituindo então esquemas de distinção e de classificação, formas de
descrever, constelações conceituais, regras de inferência, padrões de valorização. Esquemas que se encontravam incorporados à própria linguagem; que se
havia vulgarizado numa literatura vulgar ou em tópicos e brocardos; que se exteriorizavam em manifestações litúrgicas em programas iconográficos, em práticas
98
Sobre estas questões, vide, v.g., Umberto ECO. I limiti dell'interpretazione. Milano: Bompiani, 1990.
64
Antônio Manuel Hespanha
cerimoniais, em dispositivos arquitetônicos. E que, justamente por isso, dotavam-se
de uma capacidade de reprodução que ia muito além do que propriamente se desprendia dos textos originais. A tradição literária teológico-jurídica constituía,
assim, um habitus99 de autorrepresentação dos fundamentos antropológicos da
vida social. Neste sentido, sua ação conformadora estava incluída previamente a
qualquer intenção normativa, pois repousava na necessária incorporação de uma
completa panóplia de utensílios intelectuais básicos e imprescindíveis do ponto
de vista da apreensão da vida social.
Mas esta literatura era tudo menos puramente descritiva, tudo menos
a-normativa. Seu conteúdo perceptivo era enorme, tanto que suas proposições
apareciam cimentadas na religião e na natureza, uma vez que não pretendiam
descrever o mundo, mas transformá-lo. De fato, aquilo que se descreve nos livros de teologia e de direito se impõe como um dado inevitável da natureza ou
como um dado inevitável da religião. Os estados de espírito dos homens (affectus), a relação entre estes e seus efeitos externos (effectus) eram apresentados
como modelos de conduta obrigatórios, modelos assegurados tanto pela inderrogabilidade da natureza como pela ameaça da perdição.
Estes textos têm do ponto de vista social uma estrutura semelhante ao
do habitus, tal como foi concebido por P. Bourdieu. De um lado, constituem
uma realidade estruturada (pelas condições de uma prática discursiva condicionada por dispositivos textuais, institucionais e sociais específicos), uma realidade que incorpora esquemas intelectuais, cuja adequação ao ambiente está plenamente verificada100; mas, por outro, constituem por sua vez uma realidade
estruturante que continua trabalhando para o futuro, que continua a sugerir esquemas de apreensão, de avaliação e de ação.
Tanto os desígnios práticos, como a apelação a valores universais
(como a natureza ou a religião) favoreciam a difusão dos modelos mentais e
programáticos contidos neste tipo de texto entre leitores que, do ponto de vista
cultural, tinham já pouca proximidade com o grupo de produtores. Para lograr
este objetivo, o ambiente intelectual no qual se criavam estes textos dispunha de
“interfaces de vulgarização” enormemente eficazes (a parenética, a confissão
auricular, a literatura devota, a liturgia, a inconografia sagrada, no caso da teologia; as fórmulas notariais, a literatura de divulgação jurídica, os brocardos, as
decisões dos tribunais, no caso do direito). Graças a eles os textos-matrizes gozavam de traduções adaptadas a uma grande pluralidade de leitores.
99
100
Habitus que Pierre Bourdieu define como “sistema de representações duráveis, predisposto a
funcionar como uma estrutura estruturante da ação” (BOURDIEU, Pierre. Le mort saisit le
vif. In: Actes de la recherche en sciences sociales. 32/2 (1980) 3).
Esta é uma das vantagens que oferece este corpo literário a respeito de uma tradição literária de
ficção ou puramente ensaística. Pois nestes últimos casos os mecanismos de controle da adequação prática das proposições ou não existem ou sem dúvida estão dotados de menor força reestruturante. Assim, um personagem psicologicamente inverossímil não obriga necessariamente um autor a reescrever sua novela.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
2.6
65
TEXTOS IDEOLÓGICOS E TEXTOS DESCRITIVOS
Mas, justamente, tanta vocação preceptiva dos textos, não terminará
por prejudicar sua relevância testemunhal, sua condição de testemunha das relações sociais? Tal pathos normativo não os fará mais atentos ao dever ser que ao
ser? Não lhes dará um banho ideológico que termine por inutilizá-los como
fontes idôneas da história? Certas observações formuladas pelos historiadores a
este tipo de fontes insistem precisamente neste ponto. Insistem em postergar
estas fontes repletas de intenções a favor das fontes menos intencionadas e que
são melhores subprodutos brutos da prática, como peças judiciais, petições,
decisões, memoriais: isto é, textos que não foram escritos, uma vez que a ação
fora modelada. É muito provável que atrás desta hierarquização de dois tipos de
fontes do ponto de vista de sua “fidelidade ao real” aloje-se um conceito de
ideologia entendida como consciência deformada e um conceito de discurso
ideológico entendido como discurso mitificador, como discurso oposto a outros
simplesmente denotativos e meros reprodutores sem mediações perturbadoras
“do estado das coisas”.
Temos a impressão de que este conceito de ideologia não conta, neste
momento, com muitos adeptos. Pois hoje se acredita que, por oposição ao discurso ideológico, não existem discursos não deformados, discursos que refletem
de um modo neutro a realidade. Assim, convém partir da base de que a diferença
existente entre um texto declaradamente normativo e outro aparentemente denotativo apenas vem dada pela existência de duas gramáticas diferentes no momento de construir os objetos. E é assim que, ao final, a realidade se dá sempre
como representação. Com a desvantagem daqueles discursos implicitamente não
normativos, tal gramática se encontra escondida, encapsulada em atos discursivos aparentemente neutros, fragmentada em manifestações parciais. Nestes casos está claro que sua reconstrução global exige um trabalho suplementar.
Falta, todavia, algo a dizer. Pois é evidente que, em que pese tudo o
que foi dito, as pessoas nem sempre atuam da mesma maneira, elas não se comportam do mesmo modo nas situações em contextos práticos equivalentes. Isto
significa que os sistemas de apreensão e análise do contexto, assim como os de
eleição da ação e de antecipação de suas consequências, nem sempre eram os
mesmos. E nos obriga a confundir a existência tanto de sistemas de cálculo
pragmático em conflito, como de leituras divergentes do sistema proposto por
essa tradição literária ao qual nos referimos aqui.
Todos estes modelos de ação dos quais temos falado (typical behaviour display) estão também culturalmente (nem natural, nem fisiologicamente!)
ligados a certas emoções. A utilização de determinadas palavras para descrever
determinados estados de espírito ou o uso social de certos campos semânticos
relativos às ações e reações individuais fazem pensar na possibilidade de colocar
em marcha uma arqueologia emotiva desses modelos de ação. Os estados de
espírito constituiriam, assim, substratos emocionais nos quais cada cultura enraíza um conjunto de reações observáveis. É possível, então, que se venha a
66
Antônio Manuel Hespanha
elaborar sistemas de classificação dos estados de espírito que incluam, fazendoas julgar numa arquitetura de proximidades e distâncias, a palavra “amor”. Expressado de outro modo, sucede então que o sistema gera um estado de espírito
que se considera comum e próprio do estado emocional das pessoas que praticam os atos compreendidos dentro do campo semântico dessa palavra.
2.7
POLÍTICA E PAIXÃO
Tendo em vista o que foi dito, cabalmente é cabível a possibilidade de
empreender uma tarefa de reconstrução não mais da autonomia da alma do sujeito individual, mas dessa alma objetivada em comportamentos e textos que
estão aí, no exterior.
Neste sentido, alguém poderia começar a perguntar: Existiria, por
exemplo, uma alma política? Será possível reconstruir para cada cultura e para
cada época uma anatomia da alma política?
Se começarmos a responder estas perguntas por nós mesmos – por
nossa cultura e nossa época –, pode-se então dizer que durante bastante tempo,
ao longo praticamente do último século, tem-se o hábito de insistir em que a
política é uma atividade puramente racional, dentro da qual os afetos não têm
lugar. Mas esta afirmação hegemônica deve ser matizada101. Para começar, durante muito tempo não se pensou assim. Basta remontarmos até Montesquieu
para encontrar uma relação forte entre culturas políticas e ambientes afetivos:
todo sistema de poder gera um modelo de paixão política correlativo à sua estrutura e funcionamento. Este modelo afetivo pode (e deve ser) identificado e
estudado no momento de compreender a natureza do poder político. Ademais, e
a pesar de que o século XIX ignorou este caminho e preferiu pensar que a política consistia num cálculo racional de interesses, em nosso século se redescobrem
politicamente os afetos e os sentimentos. Não só graças a autores como S. Freud
ou W. Reich102. Pois ainda nos fins deste mesmo século determinados setores da
ciência política e da ciência da organização voltam a ressaltar a importância da
afetividade, de tal forma que dota de grande fluidez os sistemas de informação
ao evitar o uso de prolixos rodeios discursivos103.
101
102
103
Em geral sobre esta matização, e para encontrar uma proposta da política entendida não como
cálculo racional de interesses, mas como gestão de paixões, vide Pierre ANSART: La gestion
des passions politiques. Paris: L'âge de l'homme, 1983.
Para os quais modelos políticos consistem em distintas tecnologias de produção de estados
emocionais e de gestação de objetos de desejo ou libidinais: vide as obras clássicas de Sigmund
FREUD: Psicología de las masas y análisis del yo (1921); Wilhelm REICH: La psicología de
masas del fascismo (1933).
Alvin Toffler tem salientado, com espetaculares exemplos, esta importante função do amor no
âmbito da política entendida como sistema de comunicação. O ambiente afetivo resultaria
muito efetivo na medida em que – ao ser menos necessária a transmissão de informação: em
que um já conhece os problemas ou as reações do outro – se economiza energia e se evita o es-
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
2.8
67
MODELO DE AMOR
E, apesar de tudo, o modelo de alma hoje dominante segue sem qualificar de amorosa a paixão cívica própria da sensibilidade política contemporânea. Ainda sim reconhecemos a pertinência desta dimensão afetiva da ordem
política, não é difícil perceber que o pathos cívico no qual se apoia a sociabilidade política do mundo de hoje se configura nas antípodas do amor: os juristas,
enquanto técnicos por excelência do social, assim como os poderes públicos,
não podem, do ponto de vista institucional, albergar amor dentro de si; não podem tão pouco perturbá-lo, nem podem falar dele. Em uma palavra, não podem
produzir o amor.
Exclamar e afirmar, por exemplo, que os governantes amam os governados ou que os governados amam os seus governantes, repetir, portanto, o que
tanto se tem dito durante tantos séculos, resultaria hoje em dia demasiado vazio
e demasiado retórico, quando não simplesmente ridículo.
Isto ocorre porque o único amor predicável do âmbito político é um
amor genérico, racionalizável, normalmente entendido como filantropia ou
como renúncia ao interesse particular. Isto é, um amor no fundo muito raro,
pouco confiável e que não pode acabar por engajar nosso conceito usual e estabelecido de amor porque se apresenta como amor pelo todo. Assim, como é
sabido, o amor verdadeiro é sempre amor por uma parte e está estritamente catalogado dentro do subconjunto das paixões do particular. Ama-se, então, a Deus
(que é um Deus pessoal), o amante, a família, a outros (caridade) ou a si mesmo
(egoísmo). Ama-se na verdade desta forma, isto é, ama-se de um modo politicamente impertinente, pois todos estes amores resultam, de um modo ou de
outro, disfuncionais no momento em que são transladados ao terreno da política.
Política e amor percorrem trajetos distintos ao longo de um percurso e
de um lento processo de dissociação que ocorre, recordemo-nos, entre um de
seus primeiros marcos na oposição estoica entre razão e paixão (quando se começa a considerar as paixões doentias da alma que alteram o equilíbrio racional
e transformam a harmonia do espírito) e um de seus marcos principais na consolidação de uma teoria racionalista do conhecimento que vem a arruinar a ideia
tradicional e admitida – de corte tomista, como veremos – de que se pode atingir
a consciência do bom, do verdadeiro e do justo também através do amor, do
interesse e da amizade.
Seja como for, o fato é que o amor do particular sai do campo da política, e as paixões passam a ser classificadas como fatores de perturbação da
ordem política.
tresse comunicativo: vide Alvin TOFFLER. El cambio del poder. Barcelona: Plaza & Janés,
1992.
68
2.9
Antônio Manuel Hespanha
AMOR E PRÁTICA POLÍTICA
Esta forma teórica de oposição não pode, contudo, fazer-nos olvidar a
recorrência do amor na prática política medieval e moderna. As referências amorosas são aqui constantes. Assim, acima de tudo, temos o amor do rei, o qual se
manifesta na graça, isto é, nessa atitude típica do amante, de completa disponibilidade de si para o outro (gratia), paralelamente, na noção também de serviço,
isto é, de uma disponibilidade que se traduzia na conversão do rei em um oficial
da República disposto a sacrificar-se no altar do Estado. O rei privava-se de sua
pessoa privada e se transformava numa pessoa pública (servitium regni). Não
possuía amigos pessoais e, neste processo de imolação pessoal, entregava-se
enquanto amante para uma só amada: a República. O rei e a esposa, consumando-se assim um matrimônio místico que dá origem, de forma seminal, mediante
este ato de amor, ao corpo político. Pela graça, o amor do rei era dado aos demais; pelo serviço, dava-se a si mesmo.
Esta caracterização amorosa do poder político se completava com o
correlato amor dos vassalos pelo rei. Também aqui os vassalos saíam libidinosamente de si mesmos: entregavam-se ao seu rei e ainda morreriam por ele (servitium). Por outro lado, e em um segundo nível, este amor expressava-se mediante a
gratuidade pelos atos de graça praticados pelo soberano (gratitudo). Tive oportunidade de desenvolver este ponto em outro momento, ao qual geralmente me
remito, onde comecei a estudar as imagens condutoras das representações da
sociedade europeia do Antigo Regime a propósito da economia dos atos gratuitos, com o fim de deixar manifestas duas coisas: a primeira, que insuspeitadamente nos enfrentamos com atitudes regradas que excluem, quase por completo,
a discricionariedade dos agentes; a segunda, que a suposta gratuidade da causa,
na realidade, para inversões políticas extremamente potentes, duradouras e,
todavia, mais estruturantes que essas inversões político-jurídicas que estudam a
história institucional mais tradicional. O dom e a gratidão inseriam-se assim
dentro de uma economia de intercâmbios que terminava por converter-se em um
importante foco de normatividade social. Este jogo regrado de favores e agradecimentos ampliava ou redobrava seus efeitos quando aqueles que o praticavam
eram precisamente o rei e os súditos. Então, apareciam múltiplas e importantes
derivações políticas provocadas pelo singular e obrigatório exercício da magnificência e da regia largitio por parte do soberano, desde a controvérsia jurídica
em torno da obrigatoriedade e transmissibilidade das recompensas e mercês
outorgadas aos vassalos que prestavam seus serviços ao rei, até a fatal aparição
de uma crise financeira crônica para uma Coroa que, de algum modo, devia
comportar-se magnificamente. Mas o fundo da questão segue sendo o mesmo: o
amor do amante (quando é um superior: o rei) gera um débito permanente de
afeto que contrai o amado (quando é um inferior: o vassalo). Este débito permanente pode ser compartilhado de diversas formas: em forma de leal conselho,
mediante a prática assídua ou expressando júbilo que nunca pode terminar em
adulação, mas, acima de tudo, mediante a demonstração de reverência e honra.
Esta atitude reverencial, como a gratidão que flui da amizade entre desiguais,
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
69
não conhece limite... Porque a restrição mede-se com o afeto com que ocorre, e
porque a liberalidade sempre é algo desinteressada, o que recebe está obrigado a
dar mais do que lhe fora dado... Por isso, quanto mais se paga o débito que se
origina da caridade, mais se aumenta a dívida, até o ponto de parecer razoável
considerar a sua inextinguibilidade104.
Neste âmbito sentimental de amores que se entrecruzam entre o rei e
os vassalos operam, como é natural, diferentes tecnologias amorosas. Começando pela concorrência de um permanente cortejo nupcial entre ambos: tanto o rei
como seus vassalos praticam atos de sedução. O rei seduz pelo seu singular
estado, inteiramente envolvido pelo espírito de serviço (ecstasis), mediante a
liberalidade e a graça; os súditos seduzem, ao manifestar seu amor nos momentos solenes ou nas grandes ocasiões, como na abertura de Cortes ou nas joyeuses
entrées del rey, ou quando prestam juramento de fidelidade, fidelidade esta que
é justamente a que se comprometem os amantes.
E o rei seduz, em particular, com a misericórdia e o perdão. Uma análise do direito penal do Antigo Regime nos demonstra que a pena de morte, do
mesmo modo que determinadas penas corporais, na verdade eram muito pouco
aplicadas, apesar do rigor das previsões estabelecidas nos textos e nas leis, pois
se dava um continuado exercício do perdão por parte do monarca. Assim, e justamente ao contrário do que muitas vezes se pensa, o castigo não se caracterizava por sua efetividade no sistema penal de fato praticado pela justiça real do Antigo Regime antes do advento do despotismo ilustrado, comprovação surpreendente
que leva a crer que o direito régio constituiu uma ordem jurídica praticamente
virtual, mais orientada para uma intervenção simbólica, ligada à promoção da
imagem do rei como distribuidor de justiça, do que para uma intervenção normativa que efetivamente disciplinasse as condutas desviantes. Neste plano doutrinal, este complacente regime de perdão se explica duplamente: por um lado,
pelo papel que a doutrina sobre o governo atribuía à clemência; por outro, por
sua vez, pelo que a doutrina sobre a justiça atribuía à equidade. A clemência
constituía uma qualidade essencial do rei e era semelhante a um dos tópicos
mais comuns da legitimação do poder real: a representação do príncipe como o
pai e pastor dos súditos, o qual deveria procurar fazer-se amar mais do que temer. Ainda que fosse entendido que a clemência não pudesse conferir a licença
capaz de deixar impunes os crimes (justamente porque entre os deveres do pastor se encontra a persecução dos lobos), o fato é que se postulava como regra
áurea que o rei antes deveria ignorar e perdoar do que castigar, ainda que fosse
em detrimento de uma rigorosa aplicação do direito105.
Junto a este jogo de intercâmbios é necessário finalmente situar o importante papel desempenhado pelas imagens, ao promover amorosas visões do
104
105
Vide HESPANHA, António M. La economía de la gracia. In: HESPANHA, La gracia del
derecho. Tradução de A. Cañellas Haurie. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
p. 151-176, p. 156-157, p. 167-168, para as citações incorporadas a este texto.
Vide HESPANHA, António M.; De iustitia a disciplina. In: HESPANHA. La gracia del derecho..., cit., p. 203-274.
70
Antônio Manuel Hespanha
rei enquanto pai, pastor ou vigário de Deus. Tomados já todos estes mecanismos
de sedução em seu conjunto, não cabe dúvida de que se está contribuindo para o
fortalecimento da República106.
Em conclusão, é possível pensar que
durante muitos séculos o amor ocupou um espaço central do imaginário político e jurídico da sociedade europeia, até ao ponto de se chegar a conceber,
no âmbito da primeira tradição cristã, o projeto de uma comunidade baseada
exclusivamente nos vínculos amorosos. A igreja logo teve que renunciar tal
empresa – e teve que recorrer novamente, por consequência, ao direito e à
coerção (agora denominada fraterna correctio) –, mas a linguagem do amor
continuou impregnando os próprios textos jurídicos e políticos que faziam
com frequência uso de metáforas vitais e institucionais naquelas nas quais o
amor determinava uma posição estruturante. Pater e Pastor, pai e pastor, são
metáforas que usualmente serviam para designar o senhor espiritual ou temporal. A carga afetiva da piedade familiar e do amor do pastor por suas ovelhas vinha, de outro lado, a temperar a crueldade das relações entre senhor e súdito. E a teoria do direito incorporava tudo isto, especialmente quando se enfrentavam a solução de equidade e a solução stricti iuris ou quando se reconhecia que ao fazer justiça o juiz não podia abster-se do contexto sentimental que
inevitavelmente gravitava sobre o caso concreto: pois ele mesmo se envolvia,
uma vez que, no momento da decisão, teria que colocar sobre a balança os afetos
107
e os desamores que contextualizavam a decisão, incluídos os seus próprios .
Teria que acrescentar, enfim, que esta dimensão sentimental revelada
pelos textos não tem relação com a retórica. Não se pode cair na tentação de crer
que todas estas manifestações são superficiais ou retóricas (quando não simplesmente hipócritas); isto é, que não têm realmente relação com a política.
Muitos historiadores dão a volta por cima, passam a página na qual se tem invocado esta classe de amor. Mas fazem mal, pois, trabalhando deste modo, trivializam indebitamente os textos, pois, no fundo, o historiador trata seus autores
como se fossem contemporâneos seus, e argumenta então para si desta maneira:
dado que hoje os textos políticos não falam de amor, e que por ele não é possível
106
107
“Em conclusão – expressado com outras palavras, escritas em outra parte, a propósito do
sistema penal –, os expedientes de graça constituíam a outra face do apontamento da ordem
real. Amenizando-se o castigo (mas castigando efetivamente muito pouco) o rei se afirmava
como justiceiro – e se realizava então um importantíssimo tópico ideológico do sistema medieval e moderno de legitimação do poder –, quando perdoava se reafirmava outra de suas imagens, a de pastor e de pai, essencial também para efeitos de sua legitimação. A mesma mão
que ameaçava castigar sem piedade, chegado o momento sabia prodigalizar as medidas da
graça. E esta dialética do terror e da clemência transformava simultaneamente o rei em senhor da Justicia e mediador da Graça. Invertia em temor, mas também, e em quantidade semelhante, em amor. O rei, como Deus, se desdobrava nas figuras do Pai justiceiro e do Filho
doce e amante”. (ldem, p. 234)
Vide HESPANHA, António M.; El poder, el derecho y la justicia en una era perpleja. In:
HESPANHA, La gracia del derecho..., cit., p. 326.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
71
remitir essas manifestações do passado ao sentido atual do conceito, termina-se,
sensivelmente, por achar que tudo isso é sempre retórica.
Esta trivialização dos textos, no terreno da história das ideias políticas,
é muito lamentável. Esquece-se que os autores e os atores destes textos do passado não se comportavam – nem tinham razões para se comportar como nós108.
E precisamente se perde, então, a oportunidade de captar os momentos mais
significativos, que são sempre os que jazem abaixo destas figuras da aparência.
São os que mais significam porque justamente quando levamos a sério os textos
que nos parecem ridículos nos colocamos em condições de descobrir o impensado de uma época. O impensado que os explica se atinge, pois, mediante uma
interpretação séria, isto é, profunda e intensa como querem os antropólogos109.
Toda uma “geografia da alma” subjacente à superfície textual está
aguardando, todavia, ser reconstruída110.
2.10
AMOR E ORDEM
Como já indicamos, no momento de proceder com aquela reconstrução, é legítimo em nossa cultura partir do corpus literário constituído pelos
grandes teólogos e moralistas da Idade Média, especialmente por São Tomás.
Se isso se passa assim, então começaremos dizendo que, na visão de
mundo tomista, a Criação constituía um grande todo no qual cada elemento
tinha seu lugar e nele se manteria graças a uma precisa inclinação (appetitus)
interna: o amor. Isto ocorria porque nesta magna ordem do mundo, tanto as coisas, como as pessoas viam-se mutuamente atraídas para seu bem ao lugar que
lhes era conveniente111. Na filosofia grega estas forças ordenadoras que repeliam
ou atraíam os corpos (mantendo-os, em todo caso, no seio do todo) distinguiamse entre si e haviam recebido já os respectivos nomes de “horror” (phobia) e
108
109
110
111
Vide para tudo isto, HESPANHA, António M.: Una historia de textos. In: F. TOMÁS e
VALIENTE et al. (Eds.), Sexo barroco y otras transgresiones premodernas. Madrid: Alianza, 1990. p. 187-796.
Sobre esta interpretação profunda (deep understanding) dos antropólogos (dos especialistas,
portanto, na observação de culturas alheias a sua própria), vide Cliford GEERTZ: Local
Knowledge. Further Essays in Interpretative Anthropology. New York: Basic Books, 1983.
Sobre esta “geografia da alma” e seus requisitos historiográficos, cf. Mario BRETONE: Diritto
e tempo nella tradizione europea. Roma/Bari: Laterza, 1994.
Vide para todos, L. DUGAS: L'amitié politique, Paris, 1914; Pierre ROUSSELOT: Pour l'histoiredu probleme de l'amour au Moyen Áge. Münster, 1908 (= Beiträge zur Geschichte
der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, ed. de Clemens Bäumker e G.F.
v. Hartling, t. VI.l); “Amitié”. In: M. VILLER/Ch. BAUMGARTEN (Eds.): Dictionnaire de
spiritualité ascétique et mystique. Paris 1937-1991; “Charité”. In: A. VACANT et al. (Eds.),
Dictionnaire de théologie catholique, Paris, 1923-1950; J. RATZINGER, “Liebe”, In: J.
HÖFFFER/K. RAHNER (Eds.), Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg: Herder, 1961.
72
Antônio Manuel Hespanha
“amor” (ou “amizade”, philia)112. Agora, o amor é um desejo que vai converter
em radix omnium virtutum, raiz de todas as virtudes.
Deste ponto de vista, é possível dizer que todo o cosmos estava imerso
no amor pelo mero fato de ser. Até mesmo as coisas inanimadas participavam
deste amor, pois se atraíam e repeliam segundo inclinações inscritas na ordem
da Criação. Tratava-se de um sentimento de ordem universal. E então era possível dizer que os corpos “amavam” o repouso, da mesma maneira que o universo
teria “horror ao vazio”113. Ou que os minerais se amavam entre si, na mesma
medida em que a terra árida amava a chuva ou a fêmea, o varão.
A teoria tomista do amor edificava-se sobre esta base.
E, por isso, para São Tomás, o amor (amor) é uma inclinação para o
bem; e uma afeição (afectio), uma paixão (passio)114 que orienta a ação em busca do bem até que a vontade logre gozar deste115.
Em sua eficácia ordenadora, o amor gera desejos, tanto sensuais
(appetitus sensitivus), como intelectuais (appetitus rationalis)116. Por isso, e
porque a busca do bem constitui um movimento racional dos seres, não ocorre
em São Tomás – como acontecia em Platão e na filosofia estoica – a oposição
entre paixão (inclinação sensual) e razão (inclinação intelectual). Ambas são
movimentos, em princípio positivos, de amor. E o são porque este, o amor, por
mais que, num outro momento, seja pelo Santo Doutor dividido entre amor racional
e altruísta (amor amicitiae) e amor sensual e interessado (amor concupiscentiae), tende por sua própria natureza à virtude, a qual por sua vez se define deste
modo: humana virtus quae est principium omnium bonorum actuum hominis
consistit in attingendum regulam humanorum actuum117.
112
113
114
115
116
117
Discutia-se na ocasião se era a semelhança ou a diferença que estava na base desta força de
atração. Assim Aristóteles, no livro VIII da Ética a Nicómaco, quando se ocupa da amizade entre
os homens, faz repousar a verdadeira amizade (a amizade “agradável” e a amizade “virtuosa”) na
semelhança, apesar de reconhecer que pode existir a amizade entre desiguais (amizade “útil”).
Secunda Secundae (SS, em diante) da Summa Theologica (ST, em diante), q. 26, a.3.
As paixões são tratadas no início da Prima Secundae (PS, em diante) da Summa Theologica,
quando São Tomás, a propósito da beatitude, reflete sobre os atos humanos. Alguns dos atos
dos homens são especificamente humanos, enquanto que há outros que são comuns a homens e
outros animais. Os primeiros são os atos voluntários, posto que a vontade é uma inclinação racional própria do homem (PS, q. 6 ss.). Os segundos são as paixões (PS, q. 22 ss.), as quais podem definir-se como uma transformação (perdida ou transmissão a outros) do agente (PS, q. 22
a.1) que afeta, sobretudo, a parte sensitiva do espírito (appetitus sensitivus), e não a parte intelectiva ou voluntária. (PS, q. 22 a. 2 e 3)
ST, PS, q. 25 a. 2; q. 26 a. 1; q. 28 a. l. “Prima autem dispositio mentis humanae ad bonum est
per amorem, qui est prima affectio et omnium affectionem radix” (PS, q. 70 a. 3); “Omnis
affectionis principium est amor”. (PS, q. 22 a. 2)
ST, PS, q. 102 a. ad. 3.
ST, SS, q. 23 a. 3. Cf. A definição aristotélica, na qual a relação entre virtude e ordem aparece
todavia mais clara, na media em que a virtude de cada coisa depende de que este esteja bem ordenada segundo sua natureza (Physica, VII, c. 3, n. 4).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
73
Este otimismo sensualista de São Tomás faz com que sua valoração
das paixões seja muito distinta daquela dos estoicos. Para estes últimos, como já
sabemos, as paixões opõem-se à razão porque são, por natureza, enfermidades
do espírito: isto é, essencialmente más118. Para São Tomás, ao contrário, são em
princípio boas. Consistem em ímpetos naturais de alguns seres imersos dentro de
uma ordem que os arrasta até o bem, ou seja, imersos dentro de uma ordem que
equivale ao bem: bonum et ens convertuntur119. Mas esta divergência deve ser
tomada sempre da base de todo seu discurso sobre a bondade e maldade das
paixões – como, antes, toda sua exposição sobre a bondade ou maldade dos atos
humanos voluntários – que pressupõe uma orientação natural das inclinações
(appetitus) do espírito, tanto intelectuais (razão e vontade), como sensitivas
(paixões), em direção à suma verdade ou sumo bem, os quais, por sua vez, derivam da lei eterna (que é a razão divina)120: “unde manifestum est quod multo
magis dependet bonitas voluntatis humanae a lege aetema, quam a ratione humana: et ubi deficit humana ratio, oportet ad rationem aetemam recurrere”121.
E o mesmo sucede com as paixões. Dada a hierarquia natural do espírito, as paixões, do mesmo modo que a vontade, encontram-se moderadas pela
razão. Pois é a própria inteligência das coisas que orienta tanto a volição como a
sensibilidade122.
2.11
AMOR E UNIDADE
Como acabamos de ver, o amor sustenta a ordem. Também constitui a
unidade. Este segundo aspecto interessa já diretamente aos juristas, ao menos
118
119
120
121
122
O próprio São Tomás estava bem consciente desta divergência, ainda que a reconduzisse a uma
diferente formulação da “anatomia da alma”. Certamente, os estóicos incluíam os sentidos
dentro do próprio intelecto, com que a paixão passa a definir-se como um movimento não racional
da vontade (vide ST, PS, q. 24 a. 2).
ST, PS, q. 18 a. l. “Sic igitur dicendum est quod omnis actio, inquantum habet aliquid de se,
intantum habet de bonitate: inquantum vero deficit et aliquid de plenitudine essendi quae debetur actioni humanae, intantum deficit a bonitate, et sic dicitur mala: puta si deficiat ei vel
determinata quantitas secundum rationem, vel debitus locus, vel aliquid huiusmodis” (PS, q.
18, a. 1). O bem e o ser das coisas equivalem entre si. Como só algumas coisas dependem de si
mesmas (v.g., Deus), pois geralmente as cosas sempre dependem das outras, então a bondade se
faz depender de um fim (“Actiones autem humanae, et alia quorum bonitas, dependet ab alio,
habent rationem bonitatis ex fine a quo dependent, praeter bonitatem absolutam quae in eis
existit”, PS, q. 18, a. 4). Neste sentido, o último fim da vontade humana é o bem supremo, que
é Deus. Daqui: “requiritur ergo ad bonitatem humanae voluntatis quod ordinetur ad summum
bonum, quod est Deus”. (PS, q. 19, a. 9)
Daqui que os atos humanos que denominamos morais se especifiquem a partir do objeto diretamente relacionado com o princípio de todos os atos humanos, que não é outro senão a razão:
“unde si obiectum actus includat aliquid quod conveniat ordini rationis, erit actus bonus secundum suam speciem, sicut dare eleemosynam indigenti. Si autem includat aliquid repugnet
ordini rationis, erit malus actus secundum speciem, sicut furari, quod est tollere aliena”. (ST,
PS, q. 18 a. 8)
ST, PS, q. 19, a. 4.
Vide sobre isto, ST, PS, q. 19 a. 4.
74
Antônio Manuel Hespanha
por fazer referência ao problema da redução de uma pluralidade de sujeitos a
uma unidade. Em razão disso, e se nos fixarmos em suposições e em princípios
relacionados pela concorrência do amor, pode-se postular desde o primeiro momento, de um modo indiscutível, a unidade do pai e dos filhos? E a do marido e
da mulher? E a dos amigos entre si?
Para os juristas, a intensidade do amor nestes estados tem sido determinante no momento de ponderar-se uma resposta afirmativa a estas perguntas.
Digamos de outro modo: o amor entre determinadas pessoas era tão intenso que
tornava inteligível a mesma unidade. Pois o amor é communicatio, isto é, comunhão que, trazida para a colação num plano muito determinado, era capaz de
adquirir um significado jurídico. A comunicação gera então a unidade, e deste
modo, marido e mulher (o pai e o filho), ao se amarem intensamente, podiam vir
a ser considerados como uma mesma pessoa em certos aspectos do direito. Isto
explica, por exemplo, opiniões jurídicas em princípio um tanto estranhas, como
a que enfatiza que a nobreza dos filhos resulta da nobreza do pai, ao se argumentar aqui que, sendo como são, para estes efeitos, a mesma pessoa, o pai continua e prolonga-se nos filhos123. Esta ideia de comunhão está pressuposta também na base do mesmo direito de representação (representatio), pois o filho de
pai falecido era como se fosse o próprio pai ainda que de diferente sexo (pois
neste caso as mulheres representavam o varão, mas não como unidade em si
mesmas, mas como partes dessa unidade prévia que conformava o pai). E, enfim, a mesma lógica imagina, sob o aspecto jurídico, as relações entre amigos:
configuram a si mesmos como unidade, até o ponto de um poder vingar a ofensa
cometida contra o outro ou pedir ao outro que vingue o que se cometeu contra
ele. Isto ocorre porque o amigo é parte de um todo, e, ao serem a mesma pessoa,
cada um se faz de espelho no qual se projeta o rosto do outro; mais ainda, cada
um faz como o menino que beija seu rosto no espelho, já que, quando um é carinhoso com o outro, estará sendo também, reflexivamente, consigo mesmo124.
Todas estas coisas também diziam os antigos. E mais, todavia: amicus
in duobus corporis est125, a amizade une dois corpos em uma só alma; amicitia
affectum fraternitatis generat, amicus frater dicitur126, a amizade cria o sentido
123
124
125
126
Em relação ao acesso à nobreza através da linhagem, são desenvolvidas estas questões em
António M. HESPANHA: A nobreza dos Tratados Jurídicos dos Séculos XVI a XVIII, In: Penélope. Fazer e desfazer a história, 12 (1993) 27-42. Ali se pode ver que uma opinião isolada,
como a do jurista português Jorge de Cabedo a favor da consideração da nobreza por parte da
mãe como geradora, é capaz de permanecer viva na memória textual, cobrando com aparente força
através dos anos, sobretudo nos casos em que a nobreza materna era excelente. O marido, pelo
contrário, mesmo que representasse a unidade familiar, prolongava seu estado de nobre na mulher e
nos filhos, os quais, em conseqüência, formavam parte da própria pessoa do pai.
Sobre esta bonita metáfora do espelho, vide PEGAS, Commentaria ad Ordinationes..., cit., I,
ad. I, 1, gl. 13, n. 9 (“amans, figuram, imaginem, & faciem ejus quem amat, suo animo imprimit, ac
insculpit, ut amantis animus fiat, tanquam speculum quoddam, in quo amati relucit imago”).
ldem, VI, ad. I, 74, gl. 6, n. 9.
ldem, V, ad. I, 65, gl. 45, n. 6.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
75
da fraternidade; amans absens audit, videtque127, o amante vê e olha pelo
amante ausente; amans in alieno corpore vivit128, a mente do amante vive no
corpo do outro amante.
Como podemos notar, o amor é capaz de instaurar diversas unidades
com distinta relevância jurídica sem que, em nenhum caso, tenham ou necessitem depender dos ditados da realidade empírica.
2.12
O AMOR CONCRETO: A AMIZADE
O amor é uma afeição geral e universal, ao mesmo tempo que um
princípio de unidade. Une todos os seres, permite a expressão, transempírica. Os
insere em uma ordem.
Pois junto a este sentimento de ordem universal, São Tomás discorre
também sobre a amizade, entendida como uma manifestação concreta ou forma
específica de amor que só pertence ao homem. Isto ocorre porque a amizade,
além de requerer também a existência de comunicação com seu objeto, exige
ademais ser redistribuída por este. Ao demandar uma retribuição, não se pode
predicar nem das coisas inanimadas (v.g., o vinho) nem das coisas desprovidas
de razão (v.g., um cavalo)129, da mesma forma que, tampouco, pode-se predicar
de todo o cosmos. A amizade funda-se em uma determinada comunicação; é um
certo tipo de amor, existem amizades. Com outras palavras, a amizade, a diferença do amor, constitui um sentimento diferenciador.
Vejamos:
Nem todo amor tem razão de amizade, mas envolve benevolência; isto é,
quando amamos alguém de tal maneira que a queremos bem. Mas se não
queremos o bem para as pessoas amadas, e apetecemos seu bem para nós
mesmos, como se diz que amamos o vinho, um cavalo etc., já não há amor de
amizade, mas, sim, de concupiscência. É na verdade ridículo que alguém tenha amizade com o vinho ou com um cavalo. Mas nem sequer a benevolência
é suficiente como razão de amizade. Se requer também a reciprocidade do
amor, já que o amigo é amigo para o amigo. Mas essa recíproca benevolên130
cia está fundada em alguma comunicação .
É justamente esta diversidade de níveis de comunicação que dá conta
da existência de distintos tipos de amizade.
127
128
129
130
Idem, I, ad. I, 1, gl. 13, n. 10.
ldem, I, ad. I, 1, gl. 13, n. 8.
“[Amicitia non convenit] nisi ad rationales creaturas ni quibus contingit esse redamationem et
communicationem”. (ST, SS, q. 20 a. 2 ad 3)
ST, SS, q. 23 a. 1 (todas as citações em castelhano segundo a edição da Biblioteca de Autores
Cristãos, Madrid, 1990).
76
Antônio Manuel Hespanha
Sem dúvida, mais elevada era a caridade (amicitia charitatis), pois repousava na comunicação com outro que participava da divindade. A caridade é
assim o amor fundado na comunicação com Deus; ela nos faz amar, em Deus, o
próximo: “a razão do amor ao próximo é Deus, pois o que devemos amar no
próximo é o que existe em Deus. É, portanto, evidente que são da mesma espécie o ato com que amamos a Deus e o ato com que amamos ao próximo. Por
isso o hábito da caridade compreende o amor, não somente de Deus, mas também o do próximo”131.
Abaixo da caridade, diferenciam-se tipos de amizade em razão da
existência de diferentes níveis de comunicação entre os homens132. Deste modo,
distingue-se a amizade por parentesco, fundada na comunicação natural133; a
amizade paterna e materna, fundada na comunicação entre pai, mãe e filhos134; a
amizade “conutritiva”, fundada na infância comum135; a amizade eletiva, fundada na comunicação que estabelecemos com os companheiros de trabalho ou de
atividade136; a amizade dos cidadãos com o Príncipe, fundada na comunicação
em interesses do bem comum137; a amizade dos cidadãos entre si, fundada na
comunicação civil138; a amizade entre companheiros de armas, fundada na comilitância139; a amizade entre os companheiros de viagem em comum. Entre
todas estas classes de amizade dava-se, também, uma ordem. Justamente, toda a
questão 26 da Secunda Secundae dedica-se a explorar as hierarquias da amizade140.
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
ST, SS, q. 25 a. 1. Deve-se dizer aqui que ainda neste amor pelo Absoluto que passa pelo amor
ao finito existe uma ordem: “o amor de caridade tende a Deus como princípio da bemaventurança, em cuja comunicação se funda a amizade de caridade. É, do mesmo modo, conveniente que entre as coisas amadas por caridade haja alguma ordem segundo sua relação
com o princípio primeiro desse amor, que é Deus”. (SS, q. 26 a. 1)
A amizade pode ser classificada segundo os fins (persegue-se o útil, o agradável ou o honesto)
e segundo a diversidade da comunicação humana na qual se funda (vide. SS, q. 35 a. 5). Em
Platão, ao contrário, a amizade (prôtom philon) tinha uma só natureza e não era, portanto, suscetível de ser hierarquizada. Esta concepção platônica, todavia se deixa entrever no capítulo 2
do livro VII da Ética a Eudemio de Aristóteles.
Vide ST, SS, q. 26 a. 8.
Vide ST, SS, q. 26 a. 9/11 (a propósito dos diferentes planos de comunicação inter-familiar e
suas hierarquias).
Cf. o capítulo 12 do livro VIII da Ética a Nicômaco.
Vide ST, SS q. 26 a. 8.
“Toda amizade considera com preferência aquilo que diga respeito principalmente ao bem em
cuja comunicação se funda, e assim, a amizade política se fixa principalmente no príncipe da
cidade, de quem depende o bem comum total da mesma. Por isso os cidadãos lhe devem também, sobretudo, fidelidade e obediência” (ss, q. 26 a. 3). Vide também os capítulos 6 e 12 do
livro VIII da Ética a Nicômaco.
Vide ST, SS, q. 26 a. 12.
ST, SS, q. 26 a. 8.
Realmente, São Tomás fala aqui da ordem da caridade, porque se subentendem que estes tipos
de sociabilidade (e os sentimentos correspondentes de solidariedade) se enraízam em una concepção cristã da vida, segundo a qual em todos os laços afetivos mundanos subjaz-se um vínculo afetivo com o Criador. (vide ss, q. 26 a. 1 ad. 1)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
77
Acima de tudo estava o amor para com Deus e com o próximo, já que
participava da bondade de Deus (SS, q. 26 a. 2). Depois, e sucessivamente, vinham o amor natural que qualquer parte tem sempre pelo todo (SS, q. 26 a. 3); o
amor por si mesmo (SS, q. 26 a. 4)141; o amor pelos mais próximos, especialmente pelos familiares, os vizinhos, os sócios e os concidadãos (SS, q. 26 a. 7 e
8). Dentro deste último, o amor pelo pai é superior ao amor pelo filho ou pela
mãe (SS, q. 26 a. 9 e 10); o amor pela mulher é superior ao amor pelos pais (aos
quais, em contrapartida, deve-se maior reverência) (SS, q. 26 a. 11); e, enfim, o
amor pelo benfeitor suplanta o amor pelo beneficiado (SS, q. 26 a. 12).
Em uma palavra, na teoria social de São Tomás se o amor era, nem
mais nem menos, o cimento que sustenta a espontânea observância da ordem da
Criação, a amizade constitui agora o vínculo que estrutura internamente os núcleos mais concretos de sociabilidade: a família, a cidade, o grupo profissional,
as comunidades locais. Ou seja, que a amizade complementa o amor mediante o
suprimento de um princípio de representação do conjunto dos vínculos sociais.
O amor, novamente, é essa inclinação geral e virtuosa dos homens para viver em
sociedade (affectio societatis); a amizade, por sua vez, especifica esta união
entre os homens para estabelecer um conjunto de vínculos concretos que são
diferentes uns dos outros e que, acima de tudo, estão submetidos a uma hierarquia. A amizade integra o homem em um determinado círculo de sociabilidade
ordenado para a persecução de um bem em particular.
Estes bens particulares são, como dissemos, hierarquizáveis. Ordenam-se segundo uma antropologia bem conhecida que subordina o sensual ao
racional e o racional ao sobrenatural, para o qual, tanto as sociabilidades (communicationes), como, em consequência, os sentimentos de solidariedade (amicitiae) que as geram, apoiem-se, também, sobre esta precisa ordem. E é importante dar-se conta de que esta hierarquização não é o resultado de uma análise
racional. Nem muito menos deriva da vontade de cada um: surge, emerge das
próprias coisas, ou seja, do modo de ser, da natureza das relações sociais particulares que a cada um comprometem em função dos diversos bens perseguidos.
“Ordo autem principalius invenitur in ipsis rebus; et ex eis derivatur ad cognitionem nostram”, que dizia o Santo Doutor142.
Por tudo que foi dito, o amor é essa meditação através da qual a ordem
do mundo logra ser interiorizada em emoções. E é a partir disso justamente que
o amor conduz à ação.
Estamos perante toda uma ordem natural de sentimentos que não toleram um estudo psicológico de veleidades subjetivas. Os afetos, sentimentos ou
sociabilidades estão apurados de um modo objetivo, a partir dos dispositivos
práticos aos quais cada um deles corresponde (i.e., a cidade, a família, o patronato, o companheirismo militar). A particular sensibilidade de cada um não
possui aqui nenhum papel.
141
142
Que em nenhum caso inclui o amor pelo próprio corpo!: vide SS, q. 26 a. 5.
ST, SS, q. 26 a. 1.
78
Antônio Manuel Hespanha
É por isso que a análise da amizade não se localiza no plano da psicologia, mas no da política. No mais profundo centro desta última. Por isso, São
Tomás, como Aristóteles antes no livro oitavo da Ética a Nicômaco, não duvida
ao considerar que a amizade ocupa um lugar central dentro da estratégia política. Ao dizer isto, naturalmente não se está pensando que é mais importante que
os políticos tenham (em seu sentido psicológico) amigos; o que na verdade estáse dizendo é que é tarefa importantíssima do político a de criar (ou apropriar-se)
os dispositivos práticos que administram os sentimentos de solidariedade entre
ele e seus súditos.
Digamos de outra forma: quando se ocupa da amizade, o que se está
fazendo é análise política. Da mesma maneira que quando alguém fala da amizade, na realidade, o que se fala é de política. De uma política muito singular, de
uma certa política, em última instância, que consiste na análise das manifestações emocionais do corporativismo político. De fato, numa sociedade que, representa a si mesma organizada em corpos, o sentido da sociabilidade não pode
reduzir-se a um sentimento global (como pudera ser, para colocar um exemplo,
o espírito cívico ou a solidariedade social). É verdade que cabe falar de uma
affectio societatis ou, para repetir algo que já sabemos, de um amor ordinis. Mas
este era no fundo um sentimento virtual e primário, uma raiz sentimental (radix
omnium passionum) que, quando se desenvolve e atualiza, escolhe os amigos e
os sócios143, destaca exigências de reciprocidade, diversifica-se e hierarquiza-se,
multiplica-se em formas concretas de amizade.
E é toda esta íntima relação existente entre a amizade e a desigualdade
inerente ao corporativismo político que termina por manifestar-se na discussão
sobre as relações entre a amizade, a justiça e a igualdade que sustenta São Tomás em seus comentários ao livro oitavo da Ética a Nicômaco144.
2.13
AMOR, AMIZADE E JUSTIÇA
Na medida em que se baseia na comunicação e que exige reciprocidade, a amizade tem, por força, que contar com alguma forma de igualdade; se não
fosse assim, nem a comunicação nem a reciprocidade seriam possíveis. Como
também a justiça, por sua vez, proporia a igualdade, levanta-se então o problema
143
144
Assim, por exemplo, o amor aos inimigos não é senão uma manifestação, enormemente enfática, do amor a Deus. De onde se infere que não pode existir uma verdadeira amizade com os
inimigos, mas tão somente um sentimento de caridade que em nenhum caso pode antepor-se à
amizade com os amigos (cf. ST, SS, c. 27, a. 7).
“Aequalitas est proportio quae secundum dignitatem attenditur non similiter se habent in
iustitia et amicitia. Nam [ ... ] circa iustitiam oportet quod primo attendatur vel aestimetur dignitas secundum proportionem et tunc fiet commutatio secundum aequalitatem; sed in amicitia
oportet e converso quod primo attendatur aliqua aequalitas inter personas mutuo se amantes
et secundo exhibeatur utrique quod est secundum dignitatem”. (Opera omnia. Sententia. Libri
ethicorum, v. 47.2. p. 465)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
79
da relação entre todas, isto é, entre a amizade, a justiça e a igualdade. Para São
Tomás, a chave de resolução do mesmo passa pela correta localização desta
última, a igualdade, em relação a cada uma das virtudes. Deste modo, aprendemos que a amizade partia de uma certa igualdade (de uma certa participação em
um dispositivo social comum, de uma certa communicatio), mas que, ao tratar-se
de um sentimento que depende da natureza das coisas, da estrutura interna daquele dispositivo e do lugar que cada um dos amigos nele ocupam, termina por
resultar em afetos reciprocamente desiguais, os quais, por sua vez, manifestamse mediante prestações (effectus) também diferentes. Com outras palavras: de
uma igualdade por assim dizer formal, primária (o simples fato da comunicação)
surge uma desigualdade final de afetos e efeitos. Ao gerar sentimentos e comportamentos que respondem ao caráter objetivamente ordenado dos dispositivos
sociais, a amizade vem, assim, a confirmar, no plano da emoção e da ação, a
ordem imanente da sociedade.
A justiça, pelo contrário, partia claramente da desigualdade: E de fato
deveria ser conferido para qualquer pessoa, de um modo ou de outro, em maior
ou menor medida, aquilo que lhe era devido. E tratava de alcançar uma forma de
igualdade primitiva. A igualdade situava-se, aqui, no final do processo. Não
almeja constituir sentimentos de ordem como os suscitados pela amizade, mas
gera a sensação suplementar, de caráter conservador e restaurador, de que é
preciso manter – e em seu caso, responder – a ordem estabelecida.
O caráter poiético da amizade é, acima de tudo, completado pelo caráter terapêutico da justiça. O que significa que, finalmente, e quando do que se
trata é de dirigir os comportamentos, a amizade é mais importante que a justiça.
Ainda ponderando com rigor, deve-se dizer que ali onde há amizade – isto é, ali
onde existe esse reflexo da ordem das coisas na área dos sentimentos – não há
necessidade alguma de justiça. Por isso, e como disse São Tomás, no ponto da
moral (e da política) “é necessário prestar muito mais atenção à amizade do que
à justiça”145.
São Tomás esclarece o sentido desse juízo de proximidade quando se
ocupa das virtudes anexas à justiça. Parte do seguinte raciocínio: dado que o
nome da justiça comporta igualdade e que, por sua própria essência, a justiça
deve referir-se ao outro (pois nada é igual a si mesmo, mas ao outro)146, e dado
que sua razão de ser consiste naquilo que o outro restitui o que devia segundo a
igualdade147, então qualquer virtude que também refira-se a outros pode ser
considerada ratione convenientiae como anexa à justiça e difere desta por dois
145
146
147
O afirma São Tomás quando comenta o texto da Ética de Aristóteles. Em concreto indica que a
organização da cidade se funda na amizade e que as leis civis se ocupam mais da amizade que
da justiça, ao mesmo tempo em que a inimizade é muito aborrecedora. A amizade é muito
apetecida por todos e conduz à concórdia.
“Nomen iustitia aequalitatem comportet, ex sua ratione iustitia habet quod sit ad alterum: nihil
enim est sibi aequale, sed alteri”. (ST, SS, q. 58 a. 2)
“Ratio vero iustitiae consistit in hoc quod alteri reddatur quod ei debetur secundum aequalitatem”. (ST, SS, q. 80 a. 1)
80
Antônio Manuel Hespanha
motivos: em primeiro lugar, porque elege-se a razão da igualdade; em segundo
lugar, porque elege-se a razão do débito. Uma vez levantado este ponto, São
Tomás encontra-se em condições de distinguir entre o débito legal e o débito
moral: “Debitum quidum legale est ad quod reddendum aliquis lege adstringitur: et tale debitum proprie attendit iustitia quae est principalis virtus. Debitum
autem morale est quod aliquis debet ex honestate virtutis”148. Este último, por
sua vez, pode existir em razão do próprio devedor, como quando é exigível que
o homem apresente-se perante os outros, tanto em suas palavras, como em seus
atos, tal qual o é149. Mas pode também dar-se ex parte eius cui debetur, como
quando alguém recompensa o outro pelo que faz (umas vezes no bem150 e outras
no mal151). Outras vezes, simplesmente, este débito moral é necessário, pois
confere maior honestidade, apesar de que a honestidade conserva-se ainda que
aquele não ocorra: este débito justamente verifica-se na liberalidade (liberalitas), na afabilidade (affabilitas) ou amizade (amicitia), e em outras semelhantes.
Este prolixo raciocínio de São Tomás constitui uma boa base para explorar as relações existentes entre a justiça e a amizade. São relações de proximidade e distância ao mesmo tempo. Assim, o que aproxima a justiça e a amizade é o fato de que ambas “referem-se ao outro”, isto é, o fato de que ambas levem a sério as relações entre os homens impondo-lhes certos saberes mútuos.
Com isso, sua própria natureza gera diferenças. Por um lado, no que diz respeito
à igualdade, pois em regra geral as posições dos amigos não estão em equilíbrio
e então não se devem mutuamente as mesmas coisas152. Por outro, no que diz
respeito aos respectivos débitos, pois a justiça gera débitos legais que podem ser
judicialmente exigidos, enquanto que a amizade apenas nutre-se de um certo
débito de honestidade que provém mais do próprio virtuoso que do outro153.
A distinção entre estes dois tipos de débito ocupa São Tomás em várias
passagens da Summa, a sua preocupação não chega a banalizar esse débito de
honestidade gerado pela amizade. Pois está claro que não pode tratar-se de uma
simples questão moral, nem de uma simples “deleitação na convivência com
outros”, constituindo, como constitui este deleite, um dever correlato à natureza
do homem como animal social154. Deste modo, a distância entre os deveres da
148
149
150
151
152
153
154
ST, SS, q. 80 a. 1.
E aqui à justiça se acrescenta a veritas (“per quam immutata ea quae sunt aut fuerunt aut futura
sunt”. [ST, SS, q. 80 a. 1])
E aqui se acrescenta a gratia (“in qua amicitiarum et officiorum alterius memoria, remunerandi
voluntas continetur alterius”. [ST, SS, q. 80 a. 1])
E aqui se acrescenta a vindicatio (“per quam vis aut iniuria, et omnino quidquid obscurum est,
defendendo aut ulciscendo propulsatur”. [ST, SS, q. 80 a. 1])
O que, é claro, sucede naqueles casos de amizade desigual no qual um dos dois amigos detém
uma posição de dignidade; mas não deve olvidar que, sendo as amizades desiguais e hierarquizadas, esta situação de falta de reciprocidade dos sentimentos (affectus) e dos comportamentos
(effectus) tendia a se generalizar.
Vide ST, SS, q. 114 a. 2.
“quia horno naturaliter est animal sociale, debet ex quadam honestate veritatis manifestationem aliis hominibus, sine qua societas hominum durare non posset. Sicut autem non posset vi-
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
81
justiça e os deveres da amizade era muito menor do que se pode supor em princípio. Mais ainda: a distância era tão pequena que a amizade podia ser considerada como uma virtude própria da justiça155.
Em resumo, parece claro no plano ontológico que a Escolástica não
distingue o preceito de amor do preceito da justiça. Tanto um como outro remetem-se a uma ordem superior, a Ordem do mundo (neste caso, humano). O que
sucede é que o preceito amoroso capta essa íntima disposição das coisas e as
projeta no plano dos sentimentos, provocando seus correspondentes afetos e
efeitos. Na medida em que, no plano da prática humana, o preceito amoroso tem
assinado um papel constitutivo por ser a base de todas as ações e de todas as
inclinações, não se pode realmente dizer que seja legalmente devido. Ele era,
antes disso, fonte de uma ordem que, quando se estabelece (positiva-se, faz-se
lei), fundamenta direitos e deveres. Neste sentido, o ato de amor (de amizade)
disciplina tanto quanto coloca manifestas, no âmbito das emoções e das ações
externas, estruturas de ordenação e hierarquização social que estavam escondidas na espessura das relações sociais.
Quando o príncipe manifesta, então, por meio de atos de liberdade régia (i.e., atos de liberdade próprios dos reis), aquela forma de amizade honesta
com seus súditos, o que faz é exteriorizar com a palavra ou com a ação um modelo de comunicação que até então existia implicitamente, de tal modo que se
habituava e habituava aos súditos no seguimento dessa ordem imanente da qual
todos participavam. E o mesmo pode-se dizer do “amor honesto” no matrimônio: traduzia-se em um conjunto de emoções e de atos que, ao serem mutuamente praticados pelos cônjuges, vinham a atualizar e explicitar (no plano da
ação) a natureza virtual da relação de comunicação que os implicava.
É sabido por todos que a Igreja encorajou, durante séculos, o projeto
de uma ordem baseada unicamente no amor, uma ordem puramente poiética.
Este projeto alimenta-se da esperança de que essa ordem mantida pelo amor
155
vere horno in societate sine veritate, ita nec sine delectatione [...]. Et ideo horno tenetur ex quodam debito naturali honestatis ut horno aliis delectabiliter convivat: nisi propter aliquam
causam necesse sit aliquando alios utiliter contristare”. (ST, SS, q. 114 a. 2)
Para a questão de se a amizade não faz parte da justiça. “Respondeo dicendum quod haec virtus
est pars iustitiae, inquantum adiungitur et sicut principali virtuti. Convenit enim cum iustitia in
hoc quod ad alterum est, sicut et iustitia. Deficit autem a ratione iustitiae, quia non habet plenam debiti rationem, prout aliquis alteri obligatur vel debito legali, ad cuius solutionem lex
cogit, vel etiam aliquo debito proveniente ex aliquo beneficio susscepto” (ST, SS, q. 114 a. 2).
Deve-se não obstante assinalar que a diferença entre o débito de amizade e o débito de justiça
aflora com intensidade crítica em alguns pontos, como os relativos à natureza da obrigação de
dar claridade ou à natureza da obrigação de retribuir um beneficio. Sobre este último aspecto
convém recordar que o mesmo São Tomás equipara (em SS, q. 14 a. 3) a obrigação legal à
obrigação de gratidão. Sobre a discussão jurídica em torno do caráter gratuito das recompensas,
vide HESPANHA: La gracia del derecho..., cit., p. 151-201. Bartolomé Clavero, pela sua
parte, tem escrito um belo livro sobre este curioso paradoxo dos atos devidos de graça: vide
CLAVERO, Antidora. Antropología católica de la economía moderna. Milano, Giuffrè (= Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 1991. p. 39.
82
Antônio Manuel Hespanha
nunca tivesse que ser contestada, pois a paixão inscrita nas almas pela natureza
das coisas teria força suficiente para disciplinar a vida. A disciplina surgiria
assim naturalmente de dentro. Esta aspiração teria que ser singularmente viável
numa comunidade de crentes dotados de uma capacidade intelectiva que havia
sido, graças ao batismo, renovada pela nova luz da Graça. Esta ordem era, pois,
própria daqueles nos quais se havia restaurado a primeira sabedoria, aquela que
o pecado original fez escorrer das mãos.
Mas tudo isso não ocorreu. A ordem foi violada, e a justiça teve que
fazer aqui sua aparição enquanto virtude regeneradora ou reconstrutora.
2.14
A RECONSTITUIÇÃO DO AMOR E A FUNÇÃO DOS
JURISTAS
Na polêmica renascentista sobre a dignidade dos saberes, um dos tópicos
mais correntes consistia na oposição entre o direito e as boas letras, especialmente a
poesia. A raiz deste antagonismo parece não ter nenhuma relação com a elegância ou aspereza do ato de escrita praticado pelos juristas. Estaria mais em conformidade com uma profunda e rançosa antipatia existente entre, de um lado, a
ambição criativa das empresas literárias e, de outro, a vocação dos juristas para
o exercício continuado da memória, essa obstinada predisposição para a recapitulação incessante de coisas já sabidas. Basta ler os textos dos clássicos sobre as
qualidades dos juristas e as características de seu saber para verificar esta criticada insistência no caráter rememorativo e reconstrutivo da ars iuris: no coração
da jurisprudência agregaria uma atividade de reconhecimento a partir do qual se
desprenderiam as técnicas jurídicas de reconstrução. “Iurisprudentia est humanarum atque divinarum rerum notitia”, sabemos por Ulpiano (D. 1.1.10,2), que,
por adição, o termo notitia alude tecnicamente à recapitulação de um saber já
estabelecido.
Ainda hoje, o estudo do direito segue pejorativamente associado com
a memorização: a sensatez, o domínio de si e a impassibilidade são considerados
qualidades formativas do espírito do jurista, um espírito, portanto, nada criativo
e orgulhosamente anti-imaginativo (muito aleijado, se preferir a expressão, do
clímax).
Em qualquer caso, e voltando aos passos dos antigos, cabe afirmar que
o jurista está acima de tudo afetado por esta impossibilidade: a de criar a ordem,
cujo asseguramento está justamente encomendado. Pois a ordem foi criada por
outros, por Deus ou pelo titular do poder. A função dos juristas, que não pode
ser então poiética, seminal – adicionemos já de uma vez o que falta: que não
pode ser orgásmica –, tem-se que limitar, por uma questão de princípio, à tarefa
de reconstrução da ordem que previamente conheceu. Como o afeto, primeiro
gerador de tal ordem, esparramou-se já em seu momento, agora do jurista exigese a eliminação de qualquer veleidade afetiva. Não é assim afetado, e, para que
ainda não chegue sequer a fazer-se ilusões sobre sua capacidade de sedução e de
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
83
geração “seminal”, é, desse modo, velho, austero, grave, digno, veste-se de preto
e move pouco seu corpo.
Neste momento, e a partir desta realidade “pós-orgásmica”, podemos
ao final refletirmos: Não há a possibilidade de que, dentro dos limites fechados
por esta atividade reconstitutiva do juiz, se tirasse proveito da função heurística
do amor, uma vez que desta inclinação fazia-se o bem e, portanto, fazia-se a
verdade?
Dado que o amor comporta uma certa conaturalidade ou complacência
do amante em relação ao objeto amado156, não se poderia aproveitar esta união
entre amante e amado para adquirir um conhecimento mais perfeito, um conhecimento melhor que aquele que se alcança mediante processos intelectuais distantes (acrescentemos já de uma vez: mediante processos intelectuais frígidos?)
O próprio São Tomás, neste sentido, coloca, junto à via intelectual de
acesso ao conhecimento, outras vias complementares, e entre elas, justamente,
encontra-se a do conhecimento afetivo157. Mas não há que se iludir, pois, ao
mesmo tempo, cuida-se de advertir que este conhecimento, dominado pela afetividade, não pode funcionar em relação à justiça. Esta interdição tem naturalmente proximidade com a função poiética do amor ao que anteriormente nos
referíamos e explica-se do modo seguinte: se o jurista apreendesse afetivamente
as relações humanas que devem executar, então estaria na prática instituindo
uma nova ordem. Estaria fazendo sua própria justiça (lacere iustitiam suam158),
estaria substituindo essa ordem instaurada pela própria natureza das relações
objetivas (communicatio), e que sempre e de algum modo está presente no espírito das partes, por outra baseada numa relação particular do juiz com a questão
ou com alguma das partes afetadas. A única forma, então, de evitar esta perversa
recomposição da ordem mediante o compromisso afetivo do jurista justamente
exigiria que este compromisso fosse universalizável. Isto é, que a afeição que
orientara o conhecimento resultaria ser ao final uma afeição pelo Todo, pelo
Bem; que se tratasse de uma comunicação amorosa com a Ordem do mundo em
seu conjunto. Em uma palavra, que terminaria por disputar o amor de Deus ou
seu reflexo no amor do próximo: a caridade. E isto explica o fato de que, entre
as virtudes do jurista, a religião, a bondade e a caridade ocupem lugares tão
fundamentais.
Sempre tento em vista esta matriz teológica e recuperando em parte a
velha consideração estoica da paixão como enfermidade, a tradição textual dos
156
157
158
Vide ST, PS, q. 27 a. 1.
Vide, sobre este tema, H. D. SIMONIN: La lumière de l'amour. Essai sur la connaissance
affective. In: La vie spirituelle 46 (1936) p. 65-72; M.-D. ROLAND-GOSSELIN: De la connaissance affective, In: Revue de Sciencies Philosophiques et Theologiques 27 (1938) 5-26;
Rafael Tomás CALDERA: Le jugement par inclination chez Saint Thomas d'Aquin, Paris:
Vrin, 1980, maxime p. 105 e ss.
Expressão que sempre tem designado o pior dos crimes ou pecados que pode cometer o juiz,
isto é, a substituição de critérios objetivos por critérios subjetivos de ajuizamento.
84
Antônio Manuel Hespanha
juristas da idade moderna será encarregada de perfilhar esta condição necessária
da universalização. O amor do juiz, sobretudo, deve ser geral e não deve ser,
pela pura lógica dos contrários, particular. Este amor geral se esparrama igualmente sobre todas as coisas, pois não lesiona a justiça comutativa; e dirige apaixonadamente suas aspirações de fazer a justiça, recebendo então a excelsa denominação de amor iustitiae. O amor ao rei inclui-se também dentro deste tipo
amoroso geral e legítimo, que se pode e se deve ter.
As paixões ou amores particulares, ao contrário, terminam configurando-se como formas de subversão do amor geral. São manifestações mórbidas
que agridem a justiça. Ainda mais, todavia: constituem repetições perturbadoras
do ato criador da graça. Em razão disso, o amor particular – como o ódio particular – deve ser proibido159, gerando-se aqui uma interessante discussão sobre o
alcance concreto, casuístico, na práxis deste debate: pode, por exemplo, receber
o juiz presentes dos amigos? E dos parentes?160 Podem ser os amigos testemunhos?161 Pois somente diz respeito àqueles casos nos quais se dá uma situação
de equivalência de soluções do ponto de vista da justiça – isto é, somente quando a justiça está já de fato cumprida – este amor particular pode resultar irrelevante: somente neste âmbito, que é mais de graça do que de justiça, pode talvez
o juiz tomar em consideração o afeto perante o particular e elucubrar sobre a
máxima in dubio pro amico162.
Estes princípios e estas discussões sobre o amor e os juristas traçam
um caminho que vai, nos finais do XVIII e durante o XIX, até o terreno do direito e da política do Estado. O amor particular restará definitivamente proscrito
nos novos espaços. Mas o problema repousa nesta última condenação que arrasta consigo o próprio amor geral, isto é, que arrasta, por sua vez, também, toda
esta velha e complexa consciência sentimental do jurista que não sabemos muito
bem se está, nestes últimos tempos, renascendo.
159
160
161
162
O juiz não deve atender a amores ou ódios particulares: vide Gabrielis ALVAREZ DE
VELASCO, ludex perfectus seu de iudice perfecto Christo lesu domino nostro unice perfecto,
vivorum et mortuorum iudici dicatus. Lugduni, Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1562. rubr.
1, a. 2, n. 5 ss.; rubr. 12, ann. 1, n. 6. Da mesma forma, não deve deixar de aplicar o direito por
temor, amor, amizade ou ódio: vide. PEGAS, Commentaria..., cit., VI, ad. 1, 65, gl. 45.
A resposta a estas perguntas costuma ser, em regra, negativa, ainda que a doutrina distinga as
dádivas que provêm de um espírito sórdido ou não liberal daquelas ex benevolentia, amicitia,
gratitudine vel gaudio rei iustae obtenta. Vide. para tudo isso, VELASCO, Iudex perfectus cit.,
rubr. 9, ann. 3 e ann. 4, n. 4, 5, 11 e 13.
Resposta afirmativa, por exemplo, em PEGAS, Commentaria..., cit., V, ad. I, 65, gl. 45, n. 5.
Ou o contrário: “in iudiciis non est acceptio personarum habenda”. (Sobre se o juiz, dada a
igualdade de mérito, pode escolher o amigo; vide. VELASCO, Iudex perfectus..., cit., rubr. 14,
ann. 8, per totam).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
85
3
AS OUTRAS RAZÕES DA POLÍTICA:
A ECONOMIA DA “GRAÇA”163
“Terrível palavra he Non. Não tem direyto, nem aveço: por qualquer lado que o tomeis, sempre soa & diz o mesmo. Lede-o do
princípio para o fim, ou do fim para o princípio, sempre he Non”.
(Padre Antonio Vieira)
1. O texto em epígrafe, marcado pelo preciosismo de uma refinada
oratória sagrada ou pela pesquisa cabalística do sentido oculto na materialidade
das palavras165, constitui um bom ponto de partida para uma reflexão sobre a
aversão à recusa, sobre o dever de dar, enfim, sobre a moral da dádiva na Idade
Moderna. Esta reflexão propõe-se, justamente, desvendar os níveis menos aparentes das “razões da política” que a historiografia contemporânea, ao tratar do
Direito e das instituições de uma forma profundamente impregnada de uma
perspectiva jusrisdicista e estatista, acabou por ignorar durante muito tempo.
Porém, a literatura das últimas décadas sobre história do direito e história do poder – fundada numa leitura renovada das fontes jurídicas, políticas e
morais da Idade Média e da Idade Moderna (O. Brunner, P. Schiera, B. Clavero,
D. Frigo, P. Cardim e inspirada em novas proposições teóricas acerca do carácter microscópico, invisível, doce e omnipresente das relações políticas (M. Foucault) – realizou progressos muito importantes no que se refere ao deciframento
163
164
165
Este texto foi apresentado em 1990 e publicado, originariamente em francês, em 1993 (“Les
autres raisons de la politique. L'économie de la grâce”. In: J.-F. Schaub (Ed.), Recherches sur
l'histoire de l'État dans le monde ibérique (15e.-20e. siècles). Paris: Presses de l'École Normale Supérieure, 1993. 67-86); foi agora cuidadosamente traduzido por Taysa Schiocchet, Dedico-o – nesta revisitação – a Carlos Ferreira de Almeida, velho amigo e académico distinto,
bem como a Richard Hyland, a quem me liga também uma forte estima e admiração.
HYLAND, Richard, Gifts: A Study In Comparative Law. Oxford: Oxford University Press,
2009.
Cf. HATHERLY, 1983.
86
Antônio Manuel Hespanha
dos diferentes níveis e mecanismos de instauração da ordem nas sociedades précontemporâneas.
A insuficiência do direito oficial e das instituições jurídicas formais
para explicar todos os níveis do poder é actualmente um fato incontroverso,
tanto na história como na teoria do direito e do poder. Porque: i) tais explicações
constituíam apenas uma frágil película no universo jurídico (HESPANHA,
1989); ii) o próprio direito, como um todo, dividia com outras ordens – tais
como a oeconomia (scl., a arte do governo doméstico) ou a ética monástica (scl.,
a arte de se governar a si mesmo) – a esfera do discurso normativo; iii) a teoria
jurídica subordinava, assim, o direito, de maneira explícita ou mesmo gritante, a
outras esferas normativas, como a do amor (cf. v.g., HESPANHA, 1989), da
moral e da religião166.
Os nossos esquemas mentais e o nosso “sentido prático” (de acordo
com o significado definido por P. Bourdieu) impedem-nos de levar a sério, em
todas as suas consequências, essa complementar diversidade de ordens morais.
Assim – para tratar apenas da articulação da ordem do direito com as ordens
superiores de normação – mesmo aqueles que apenas aceitam conceber um direito limitado por uma ordem moral superior, com frequência apenas repetem
uma série de inconsistências ou vacuidades acerca da dialéctica da obrigação
jurídica e da obrigação ética e religiosa. Esta sua dificuldade compreende-se
bem precisamente pelo fato de que a antiga crença na unidade dos deveres dos
homens – que motivava a redacção de tratados com títulos complexos como o
De obligationibus, iustitiae, religionis e caritatis do jurista português Fernando
Rebelo (LYON, 1608) – se perdeu, nas nossas sociedades secularizadas e cépticas quanto a valores superiores que possam guiar a vida de repúblicas pluralistas, e somente pode ser reconstituída sob a forma de uma retórica moralizante e
obviamente exterior aos paradigmas mais enraizados na sensibilidade moral
contemporânea. Chega-se a idêntica conclusão no que respeita às relações entre
a ordem doméstica e a ordem pública, bem estudadas pela historiografia italiana
recente (v.g., por Daniela Frigo); por muito próximas que ambas tenham estado
nas concepções antigas acerca dos níveis da ordem social, estão, porém, muito
longe na percepção contemporânea da política; dominada, em contrapartida,
justamente pela separação entre público/privado.
Religio, iustitia, oeconomia, polis, politica e mesmo scientia, eis os
tais círculos normativos da sociedade europeia tradicional que, sendo desconsiderados pela mainstream das concepções políticas actuais, despertam cada vez
mais a atenção da historiografia política mais recente.
2. O universo normativo do Antigo Regime possuía, de facto, contornos bem amplos. Na verdade, ao analisar a sistematização clássica do governo –
iustitia (scl. Regimen civitatis), oeconomica (scl. Regimen unius familiae), monastica (scl. Regimen unius cuiusque circa septasimum), cf. Suarez 1612, 1.3.,
166
Ver uma das melhores descrições da articulação do direito com a moral e a religião em M.
Villey, 1968.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
87
c.11, n.8, p.II, 238) – é possível perceber que hoje se perderam, na consideração
da política e do direito, alguns destes elementos: a normatividade que decorre
dos sentimentos (para com a divindade, para com os outros); ou o governo de si
e a teoria das virtudes, os quais envolvem uma esfera importante da direcção da
relação com o outro, ainda que as regras formuladas visem valores puramente
individuais tais como a salvação, a virtude ou o bem-estar íntimo, a que chamamos felicidade, ou saúde. Suspendemos a questão de saber se essa anatomia tão
plural da ordem possa ou deva subsistir hoje; notamos apenas que, de facto, essa
pluralidade parece a muitos que não subsiste, o que distingue radicalmente as
nossas concepções da política, do governo e do direito daquelas que dominavam, ainda há duzentos anos.
As fontes da disciplina social apresentavam-se, então, em diferentes
níveis. Primeiramente, o nível da justiça que criava os debita legalia. Em seguida, o nível económico – ou do governo doméstico – que instituía uma rede de
deveres recíprocos comandados pela piedade167; o que permitia opor limites ao
poder doméstico, que o distinguissem da leonina feritate moderatoris domus
(ferocidade leonina do governador da casa). Por fim, o nível monástico que, a
par das virtudes interiores, ordenava outros deveres que se reflectiam nas relações externas, impondo-lhes uma ordem estrita.
A sociedade estava profundamente dominada pela ideia de que cada
um deveria curvar-se diante de uma ordem natural fixada anteriormente, de
modo a viver honestamente – este honeste vivere, que se poderia traduzir por
viver de acordo com a natureza e que era igualmente o primeiro preceito da
justiça. Mesmo em relação aos espaços aparentemente deixados livres pela justiça ou pela oeconomia, ou seja, onde não era possível falar nem de debitum legale, nem mesmo de uma gestão piedosa dos vínculos familiares, ainda assim era
possível falar de um debitum morale168 (ou debitum honestatis) – devido em virtude do que é habitual ou natural –, cujas fronteiras com o estrito debitum legale
eram fluidas, sobretudo em razão da proximidade da justiça com outras virtudes,
nomeadamente a verdade e a graça (São Tomás, Summ. Theol. IIa, IIae, qu 80)169
As obrigações que decorriam das doações constituem o exemplo paradoxal de deveres sociais decorrentes de actos aparentemente inócuos e livres.
167
168
169
FRIGO, D. “Disciplina rei familiaris: l’economia como modello amministrativo d’Ancien
Regime”, Penélope: Fazer e desfazer a história, 6, 1990. I. Atieza; “Pater familias, señor y
patrón : oeconomica, clientelismo y patronato en el antiguo régimen”. I. Atienza: Relaciones
de poder, de producción y parentesco en la Edad Moderna. Reyna Pastor, Madrid, CSIC., 1990.
É de destacar a proximidade etimológica entre morale e mores, o que aponta para que os valores de que aqui se trata estão enraizados na sociedade, incorporados nos seus hábitos ou costumes. É isto, afinal, que os tornava relevantes para o direito, mesmo que este apenas se ocupasse
da boa harmonia da convivência social externa.
São Tomás distingue o debitum legale (quo lege adstringitur) do debitum morale (ex honestate
virtutis). Este último pode ser mais ou menos imperativo conforme o seu cumprimento seja necessário ao respeito à honestidade e aos bons costumes. No primeiro caso, o debitum morale
não é menos obrigatório que o debitum legale.
88
Antônio Manuel Hespanha
Actos gratuitos, por natureza, as doações constituem, nas sociedades do Antigo
Regime, o objecto de um universo normativo preciso e detalhado que, por um
lado, as priva de arbitrariedade e espontaneísmo e, por outro, as transforma em
pontos de ligação de cadeias infinitas de actos de benevolência que, conforme
será visto, estruturam as relações políticas, agindo ou de modo autónomo ou
fortalecendo outras fontes de normatização, entre as quais o Direito.
3. O carácter disciplinado da doação é bem conhecido desde os estudos clássicos de Marcel Mauss. Sabe-se que, ao estudar a economia da doação
nas sociedades polinésias e entre os índios da América do Norte, Mauss fixa sua
atenção no carácter dito “voluntário, aparentemente livre e gratuito, e, no entanto, cogente e interessado da doação”. (p. 147) Cogente porque a actividade
doadora era regida por uma “tríplice obrigação”: a de doar, a de receber e a de
devolver (p. 205 et sq.). Interessado porque, sendo a doação uma manifestação
do poder, o prestígio individual estava estreitamente ligado a “transformar os
bens aceites em bens cedidos a troco de contrapartida, de modo a transformar,
por sua vez, os destinatários da doação em obrigados”. (p. 200)
Essas páginas de Marcel Mauss, ainda que inspiradas por horizontes
culturais exóticos, poderiam ser aplicadas quase directamente às sociedades europeias tradicionais, desde as sociedades da Antiguidade Clássica até as sociedades
do Antigo Regime, inclusive às comunidades camponesas contemporâneas. E,
na verdade, o autor não deixa de sublinhar tais contactos, seja ao citar brevemente os textos de Aristóteles sobre a magnificência, seja ao relatar as experiências vividas nos ambientes rurais da França contemporânea. Por tal razão não é
possível desconhecer os traços gerais desta “economia da dádiva”, como balizas
para uma compreensão das obrigações e dos vínculos de poder que decorrem
desta disposição da alma, aparentemente tão livre e gratuita, que é a propensão
para dar e para retribuir, independentemente do nome que lhe seja atribuído pela
sociedade europeia da Idade Moderna (liberalitas, magnanimitas, charitas).
O interesse geral do artigo de Marcel Mauss é, como já se disse, o de
destacar o carácter “rigorosamente obrigatório” da doação, bem como da obrigação de retribuir. Mas, além disso, o de assinalar as distâncias entre o binómio
doação-retribuição e o contrato (sinalagmático, em que uma prestação exige e se
justifica em face de uma outra, de valor equivalente, mas de sentido inverso).
Inicialmente, uma vez que a doação jamais obedece a uma lógica “contabilista”,
“comercial”, segundo a qual no horizonte do benfeitor antecipa um reembolso
pontual (ibid., exactamente igual). Ao contrário, a doação pode revestir formas
puramente sumptuosas, desprovidas de qualquer expectativa com repercussão
económica posterior, equivalendo, assim, a uma verdadeira destruição (p. 152).
No entanto, a doação, por pouco contabilística que seja, não deixa de ser “usurária”, pois sempre se esperam vantagens políticas e simbólicas, as quais decorrem
da capacidade que a doação tem de manifestar a fortuna, a magnificência (p.
170), a potência do doador (p. 205) e de fixar, consequentemente “as posições
políticas dos intervenientes na sociedade humana, nas tribos e nas confederações de tribos e ainda internacionalmente” (p. 152). Não se trata apenas de fixar
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
89
as posições políticas, mas também, constituí-las. Pois a doação cria ainda a obrigação simétrica de retribuir (p. 215). Assim, o beneficiário da doação é objecto
de favores que não se compensam tão facilmente como na assunção de dívidas;
pois na referida economia da liberalidade, a obrigação de retribuir apresenta um
carácter pessoal bastante marcado e uma dimensão usurária que obriga a retribuir para além daquilo que se recebeu em doação.
A distinção entre a economia contabilista da troca e economia simbólica da liberalidade é fundamental para compreender duas coisas. Por um lado, a
doação requer uma retribuição digna e superior. Ela desencadeia um círculo de
relações sociais fundadas na beneficência e na gratidão recíprocas. Desta maneira, se constrói a oposição frontal entre economia de trocas “liberais” e economia
de trocas comerciais. A primeira funda-se sobre a procura de ganhos simbólicos:
a oferta sem a espera certa de retorno certo, a magnificência, a publicidade. A
segunda, por sua vez, manifesta uma lógica do ganho material predeterminado:
cálculo do ganho mensurável (juro e lucro são termos de origem contabilista),
parcimónia, segredo (“a alma do negócio”). Do ponto de vista do benefício, o
negócio aparece como uma actividade desprezível ou, ao menos, inoperante
como factor de construção de poder. Pois a troca mercantil, uma vez que suscita
apenas uma retribuição objectivamente equivalente, constitui um acto politicamente inerte em que ninguém é forçado a permanecer na posição de devedor ou
obrigado. Esse tipo de troca é nocivo, mesmo politicamente, pois nas sociedades
dominadas pelos valores da magnificência e da liberalidade, as transferências de
riquezas (ou de serviços) realizadas “em outro espírito, tendo em vista o ganho
imediato, são objecto de um desprezo bastante acentuado” (p. 202 enquanto que
o beneficio gracioso é exaltado).
A sociologia das redes (networks analysis: cf. Boissevain 19731978.), cuja importância historiográfica é evidente (cf. LYTLE-ORGEL, 1981;
KETTERING, 1986; REINHARDT, 1989), insiste, ela também, sobre a importância da doação e da beneficência. Trata-se de estudar as redes sociais por meio
dos agentes que distribuem os recursos raros da sociedade (recursos económicos, cargos, honras e distinções sociais, saber e informação). Cada rede pode ser
considerada como um circuito social através do qual as trocas de serviços, reais
ou virtuais, são realizadas. Se as trocas são desiguais (ou assimétricas), o polo
credor ganha um crédito sobre o outro. Uma das formas mais comuns de manifestação desta situação de desequilíbrio é, do lado do credor, a capitalização
social de “amizade”, de “liberalidade” (disposição em relação à beneficência
sem exigência de retorno) ou, nos termos cristianizados, de “caridade”; e, do
lado do devedor, a assunção de valores como os de “respeito”, de “serviço”, de
“disponibilidade” (disposição a retribuir serviços indeterminados). Da mesma
forma que na análise de Marcel Mauss, o que garante a permanência das trocas
no seio da rede é o carácter indeterminado e inextinguível do dever de retribuir,
assim como a estrita codificação dos comportamentos mútuos dos agentes. O
protector está sujeito a vínculos, pois sem a distribuição de benefícios (que gera
necessariamente a obrigação rigorosa de retribuir os serviços prestados, quase
como se se tratasse de um contrato) ele não poderia garantir sua posição hege-
90
Antônio Manuel Hespanha
mónica no seio da rede. O devedor é igualmente vinculado, pois o seu crédito, a
confiança de que goza, depende directamente de sua capacidade a manter sua
palavra, a mostrar-se útil e obrigado.
4. Tais premissas metodológicas permitem introduzir de uma maneira
mais esclarecedora as figuras-chave das representações da sociedade europeia do
Antigo Regime acerca da economia dos actos “gratuitos”, com o intuito de demonstrar duas coisas. Que esta gera comportamentos fortemente regulamentadas
que quase não permitem qualquer arbítrio dos agentes. Por outro lado, que comportamentos ditos “gratuitas” constituem investimentos políticos muito poderosos e
duráveis, cujo poder estruturante é sem dúvida superior ao dos investimentos políticos ou jurídicos estudados pela historiografia tradicional das instituições.
Os discursos eruditos sobre a sociedade, desde o pensamento grego
até os tempos modernos, ao designarem os vínculos políticos, empregam termos
como amizade, liberalidade, caridade, magnificência, gratidão e serviço. A amizade (amicitia) permite conceituar os vínculos doces (não violentos). A liberalidade (liberalitas) e a caridade (charitas) designam as atitudes esperadas (as
virtudes) do pólo activo ou dominante dessas relações. A magnificência (magnanimitas) amplia as virtudes precedentes, sendo própria de quem tem uma “alma
grande”, que o leva a realizar feitos grandes. A gratidão (gratitudo) refere-se aos
sentimentos próprios do pólo passivo ou dominado das relações, tal como o serviço
(servitium), ou seja, o ato pelo qual se exprimem tais sentimentos.
4.1. A amizade foi teorizada por Aristóteles170. A Ética a Eudemo assinala o carácter político desta virtude, definindo-a como uma “função especial
da arte de governar”. (Eth. Eud., VII, I, 1235a) Efectivamente, todo o discurso
aristotélico sobre a amizade mostra que ela constitui a origem e o fundamento
dos vínculos políticos mais permanentes, assim como uma fonte de deveres, não
apenas cogentes, mas igualmente duradouros.
Aristóteles distingue a amizade fundada na virtude daquela que tem
em vista a utilidade ou o prazer. Apenas a primeira constitui uma virtude autêntica e permanente. A amizade ligada à utilidade seria, porém, a mais comum.
(ibid., VII, 2, 1236b) No mesmo sentido, ainda que noção de amizade “suponha,
de qualquer maneira, igualdade” (idem, VII, 3, 1238b), é possível existir, entretanto, um vínculo de amizade entre pessoas desiguais, como o vínculo que se
estabelece entre o governante e o governado, entre pai e filho, entre marido e
esposa, entre beneficente e beneficiário. Esse tipo de amizade interessa-nos
neste momento, pois é ela que legitima as relações de poder entre homens livres.
Sem ela, tais relações confundir-se-iam com a realidade social ou com a versão
eticamente degradante do poder brutal do mestre sobre o seu escravo ou do tirano sobre os seus subordinados (Eth. Nic., VIII, 11, 1161a). Por isso, é que é
precisamente a esse topos – isto é, à ideia e às práticas de amizade desigual –
170
PISSAVINO, P. Il De officiis del della Casa e alcuni raffronti metodologici, Famiglia del
principe e famiglia aristrocratica. Dir. C. Mozzarelli. Rome: Bulzoni, 1989.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
91
que o imaginário erudito das relações de apadrinhamento e clientelismo recorrem. Importa, então, que nos debrucemos sobre tal nomenclatura.
Neste tipo de amizade, os amigos esperam uns dos outros prestações
recíprocas e desiguais. É esse facto que os une, mantém a amizade e garante a
possibilidade de estabelecer trocas recíprocas (Eth. Nic., VIII, 8, 1159b). As
prestações mútuas supõem a existência de benefícios respectivos. O polo dominante espera obter e maximizar as contribuições do polo dominado, em função de
um objectivo posto como finalidade comum. O polo dominado, em relação ao dominante, busca beneficiar-se e maximizar os benefícios obtidos do superior (p. 71).
Aristóteles descreve esta economia das pretensões recíprocas entre
amigos desiguais de maneira muito nítida, mostrando como o equilíbrio – neste
tipo de amizade em que os amigos se encontram inicialmente em situação de
desequilíbrio, isto é, na impossibilidade de trocar prestações equilibradas – se
restabelece sob a forma de um “suplemento” simbólico:
A parte superior exige (...) que a contribuição do inferior guarde, em relação
à sua, a mesma proporção que existe entre ele próprio e o inferior (...) ou, em
outros casos, ele exige ainda uma participação quantitativamente igual (...).
A parte inferior, pelo contrário, inverte a proporção (...). Entretanto, parece
que o superior sofre um prejuízo se a amizade se converte em caridade. A
igualdade deve, portanto, ser restaurada e a proporção garantida por outros
meios, como pelas honrarias devidas pelo súbdito ao governante ou a Deus.
(Eth. Eud., VII, c. 10, 1242b)
A discussão acerca da melhor forma de medir a equivalência entre
prestações está presente em Aristóteles (Eth. Eud., VII, c, 10, 1243a), em Séneca (De beneficiis) e em toda literatura de teologia moral da Idade Média e dos
tempos modernos. Deve-se considerar a intenção do doador ou a doação efectivamente realizada? Sobre esse ponto, Aristóteles estabelece os critérios de avaliação de acordo com os tipos de amizade171. No caso das amizades desequilibradas, a regra de ouro seria sempre aquela, da proporção entre as situações
sociais dos dois amigos: o inferior é obrigado a fornecer prestações menos importantes, mas, em contrapartida, mais amor ao seu superior. O modelo de troca
é, portanto, o mesmo: prestações materiais contra submissões políticas, effectus
contra affectus172. Quanto maior a desigualdade entre os amigos e, portanto,
entre prestações recíprocas, mais forte se torna esta dívida de amor à qual o
171
172
No caso da amizade fundada na virtude, aquilo que importa é a intenção (o affectus). Ao contrário, no caso da amizade utilitária, os ganhos materiais (o effectus) adquirem uma importância
determinante.
“(...) em todas as amizades nas quais intervém um elemento de superioridade, é preciso amar
de acordo com a lei da proporção: por exemplo, é necessário que o melhor seja amado num grau
superior que aquele que o ama; da mesma maneira, com aquele que presta favores e assim em
todos os casos semelhantes. Pois quando se ama proporcionalmente ao mérito, se estabelece esta
espécie de igualdade que parece ser própria da amizade”. (Eth. Nic., VIII, C, 7, 1153b)
92
Antônio Manuel Hespanha
inferior está ligado infinitamente, de sorte que é possível falar, com São Tomás,
de uma “dívida interminável”173.
É necessário sublinhar o quanto esta representação da relação da amizade e da economia de trocas à qual ela dá origem funciona como um processo
de conversão da riqueza em poder e de reprodução deste poder? Isso adapta-se
às estratégias de construção de redes clientelares autossustentadas e, consequentemente, duráveis. Aristóteles está consciente disto, situando, em vários
textos a amizade utilitarista no centro dos processos de socialização política
(Eth. Nic., VII, C, 9).
4.2. Se a amizade funda e estrutura as relações políticas e transforma a
doação e a gratidão em atitudes reguladas, a liberalidade, aparentemente livre e
gratuita, encontra-se igualmente no centro do processo social de normação.
A capacidade de doar constitui mais uma virtude, dentre aquelas tratadas por Aristóteles – a liberalidade174; que pode ser definida como a qualidade
daquele que avalia as coisas, segundo seu valor essencial, que “respeita um justo
meio no uso dos bens” (Eth. Nic., IV, 1, 1120a), experimentando na aquisição e
na despesa, respectivamente, uma alegria e um sofrimento apropriados. (Eth.
Eud., 1232a)175 Uma das manifestações essenciais da liberalidade era a capacidade de avaliar correctamente a acção de fazer o bem. O De beneficiis176 de
Séneca construiu uma teorização dos actos de bem-fazer.
A benfeitoria não é mero acto espontâneo e gratuito. Séneca assinala,
desde logo, o seu carácter regulado e calculado, o qual devem levar a uma reflexão rigorosa, do mesmo modo da que exige um contrato oneroso177. Efectivamente, não se deve dar a qualquer pessoa, qualquer coisa, de qualquer maneira e
173
174
175
176
177
O infante D. Pedro, filho do Rei D. João I, afirma no seu tratado sobre as benfeitorias (PEDRO,
1981. p. 560) o caráter perpétuo da relação de bem-fazer. Ela seria a maneira mais certa e durável de conservar seus bens: “E aquellas cousas que muyto guardamos em torres e em arcas
com fechos de ferros; nunca podemos aver em ellas segura possessom se a outrem nom as
dermos, que por ellas aia sentimento das nossas benfeytorias (...). Pero se nos quisermos seer
dellas seguramente possuydores e fazellas nossas, trabalhemos de as outorgar, fazendo que
elas seiam benefficios” (idem, p. 566). Sobre este texto, ver: N. Papagno, em Mozarelli, 1989.
Cf. Eth. Eud., III, 4; Eth. Nic., IV, 1. THOMAS, São. Summ. Theol., IIa, IIae quaestio. p.
117-119 (é necessário levar em consideração o distanciamento que se instala entre a liberalitas
clássica e a charitas cristã).
De acordo com o modelo geral da moral de Aristóteles, o qual concebe a virtude como um
justo meio (Eth. Eud., II, 3, 1220b); os vícios associados à liberalidade são a avareza e a prodigalidade (Eht. Eud., III, 5).
Sobre a influência de Séneca sobre as elites culturais portuguesas, ver Andrade 1957. p.
XLVIII et al. Séneca nos sermões de Vieira. Revista portuguesa de filosofia, 21.4, 1969. p.
322-327.
“Entre as formas múltiplas e diversas do erro, ligadas à inconsistência e à irreflexão de nossa
conduta, existem duas faltas, excelente Liberalis, dentre as quais eu seria tentado a não fazer
qualquer distinção: nós não sabermos nem dar, nem receber, em matéria de benfeitorias (...).
E enquanto que em vista de uma crença, nós fazemos uma enquete minuciosa sobre o patrimônio e a conduta do devedor (...) para fazer o bem nós procedemos sem qualquer escolha, entregando ao acaso ao invés de doar”. (De benefic., I, 1; II, 2)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
93
a qualquer tempo. “Nós nunca doamos tão cuidadosamente, as nossas escolhas
nunca são submetidas a controles mais rigorosos” (idem, IV, 11,5). Ao discutir
as vantagens de leis que punissem a ingratidão, Séneca sugere que elas não são
necessárias porque a ordem doce do bem-fazer/gratidão é mais cogente que a do
Direito: “a finalidade daqueles que não criaram qualquer lei [para punir a ingratidão] foi precisamente de deixar mais circunscrita a nossa liberalidade, mais
circunscrita a escolha daqueles aos quais prestamos serviços”. (idem, II, 14)
Entretanto, o cálculo que rege a liberalidade distancia-se do cálculo
contabilista. Séneca descreve cuidadosamente as características do cálculo da
beneficência:
[na beneficência] não há quaisquer perdas, pois a perda supõe cálculo. A
beneficência não faz quaisquer contas em partidas obradas: ela contenta-se
em despender. O obrigado entrega qualquer coisa, é puro ganho; a perda é
nula. Eu doei aquilo por doar, sem mais. Ninguém inscreve suas benfeitorias
no seu livro de vencimentos e vai, numa avareza apressada, reclamar o que
lhe é devido ou fazer, na hora e na data marcadas, uma reivindicação. Essas
questões jamais ocupam o pensamento de um homem virtuoso (...); pelo contrário, elas transformam-se em crença espontânea. É um vergonhoso expediente
tanto negociar como pôr na lista dos créditos uma benfeitoria. (idem, II, 3)
Por um lado, Séneca recomenda a discrição no acto de doar e denuncia aqueles que se inquietam com sua reputação (“o teu próprio testemunho te
bastará; verdadeiramente, não é a beneficência que tu amas, mas a reputação
da beneficência”, De benef. II, 10, 2; (“nós devemos evitar falar mesmo a um
terceiro, o autor de uma benfeitoria deve apenas se calar”, id. 2, II, 11, 2). O
mesmo tema se retoma no tratado do infante Pedro (Pedro, 1981, p. 586). Esta
norma de discrição deve ser aproximada daquela que se impõe ao beneficiário –
“o autor de uma benfeitoria apenas se deve calar, falar é negocio do obrigado”
(De benef., II, 23)178.: inversamente, este deve testemunhar a benfeitoria recebida: Recusar-se a isso significa comportar-se como ingrato: “somos ingratos uma
vez que descartamos todo o testemunho como forma de agradecimento”. (ibid)
Fazer com que esta situação perdure, mantendo esta máquina produzindo agradecimento e reputação, tornam-se, então, os elementos de uma estratégia social. Esta estratégia dispõe acerca da escolha dos bens susceptíveis de
serem doados, que não não devem ser os perecíveis: “Se a escolha dos bens
depende de nós, de preferência procuraremos os objectos susceptíveis de duração, a fim de que o nosso presente seja o menos perecível possível”. (idem, XII,
178
“Encontra-se pessoas que consentem receber apenas longe dos olhares alheios, elas não
querem testemunhas nem confidentes do bem que lhes foi feito; essas pessoas, pode-se estar
certo, tem um pensamento de culpa subentendido. Se o autor de uma benfeitoria deve dar publicidade a uma benfeitoria apenas na medida em que ela pode dar prazer ao obrigado, ao contrário,
aquele que recebe deve fazer uso da publicidade para testemunhar”. (De benf. II, 23)
94
Antônio Manuel Hespanha
1) Por outro lado, convém cuidar da benfeitoria, como se cuida de uma planta:
“se não as seguramos, ela serão perdidas: é pouco ser o autor delas, é preciso
cuidá-las. Se tu queres encontrar a gratidão no teu obrigado, não te deves limitar a fazer-lhe o bem, mas também amá-lo” (idem, II, 12). O encantamento
perpétuo e subtil do obrigado leva-o a testemunhar o seu agradecimento e amplia a sua capacidade de restituir, em capital simbólico, aquilo que lhe foi dado.
Como a amizade, a liberalidade é o ponto de partida de uma espiral de
benfeitorias recíprocas. Na verdade, o amor devido ao benfeitor produz um hábito de sujeição no obrigado, a benfeitoria suscita a gratidão na forma de contraserviço que, incorporando por sua vez um excedente de liberalidade, desemboca
numa outra gratidão, em um jogo de reflexos, bem descrito por São Tomás: “a
ordem natural requer que aquele que recebe se converta em benfeitor pela recompensa das graças”. (Summa Theol., IIa, IIae, quaestio 106)
Como todas as virtudes (cf. Eth. Eud., II, cap. 3, 1220b; II, cap. 6,
1106b, 14-16), a liberalidade apresenta-se como um justo meio entre dois vícios:
a prodigalidade ou a dilapidação, por um lado, e a avareza ou a mesquinhez, por
outro lado (Eth. Eud., cap. 3, 1221a; III, cap. 5, 1232a). Assim, o carácter liberal
e gratuito da doação não é arbitrário. Se o inferior estava submetido pela economia da gratidão a certa razão de troca (ratio, proportio), o superior não estava
menos inserido na economia da doação. Estas duas economias obedecem a uma
regra geral das trocas de benefícios numa sociedade em que o desequilíbrio era
regulado, estabilizado, consolidado, numa palavra, naturalizado. O superior e o
inferior eram, ambos, obrigados a adoptar atitudes de prestações mútuas, protecção e benefício contra reverência e sujeição, inscritas na natureza mesma das
coisas.
Os tratados de ética comportam descrições precisas das economias da
dádiva. Eles visam conter a liberalidade em proporções justas:
o homem generoso, ao doar, deve propor-se ao bem e doar de maneira razoável: ele deve saber a quem doar, qual a quantidade conveniente e qual é o
momento justo: numa palavra, deve satisfazer todas as condições de uma doação judiciosa (...); não distribuirá suas doações ao acaso, de modo a conservar alguma coisa para doar àqueles que merecem, nas circunstâncias
mais convenientes e nos lugares e condições em que é honroso doar; pois
corresponde plenamente à natureza do homem generoso o facto de não possuir qualquer excesso na generosidade e de não guardar mais dinheiro daquilo que ele distribui. (Eth. Nic., IV, 1, 1120a e 1120b)
No século XVII, então, designa-se pelo termo de prodigalidade, um
vício ou um pecado: a liberalidade excessiva ou intempestiva (antinatural, desonesta), indiferente em relação às pessoas, ao momento e ao lugar179.
179
Portugal, 1673, I, cap. 1, n. 6.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
95
4.3. Com o advento do cristianismo, a caridade ganha o relevo da liberalidade. Não significa que a caridade cristã oblitere as referências clássicas à
liberalidade. Trata-se antes de que, nos textos da teologia moral, cada vez mais
dominados pela estrutura da Summa Theologica de São Tomás, as referências
obrigatórias se referem paralelamente à caridade e à liberalidade, sublinhando o
fato de que a primeira decorre antes de uma afeição por Deus do que pela pessoa
que aparece como destinatária do amor180. Então, se o acto de beneficiar alguém
não é feito por amor a Deus (não se busca uma comunicação com Deus, por
meio da qual se comunga a sua beatitude – i. e., a alegria que une os bemaventurados), ele limita-se ao exercício da liberalidade. Outros moralistas preferem critérios de distinção completamente diferentes, sublinhando o facto de que
nas virtudes pagãs se busca a virtude em si mesma (“ser liberal, ser magnífico”),
enquanto que nas virtudes cristãs se busca o bem-estar do próximo ou a beatitude de si mesmo181, nestes dois últimos casos, com vista à salvação.
Essa novidade não é sem importância para a economia do exercício
das virtudes. Primeiramente, ela explica a insistência da moral cristã acerca do
carácter puramente desinteressado das acções caridosas, em que a recompensa
se traduz na própria prática do bem: pelo que a retribuição mundana se torna
supérflua. É verdade que proposições semelhantes já podiam ser encontradas na
análise aristotélica da amizade virtuosa; ou em Séneca; mas as fontes cristãs
impulsionam esta lógica ao extremo. Por outras palavras, as fontes cristãs, concebendo a caridade como uma atitude orientada para a salvação e recompensada
por ela, tornam-se menos atentas a esses aspectos mundanos, nomeadamente (i)
no que diz respeito à publicidade das acções caridosas e (ii) no que se refere a
sua retribuição externa e mundana. A moral estoica, ela também, desvalorizava
muito estes componentes externos, considerando preferentemente a liberalidade,
a gratidão, como movimentos desinteressados da alma (affectus). Esta imagem
da beneficência justifica igualmente a razão de ser política das doações in articulo mortis no mundo cristão. Doações que, do ponto de vista das estratégias
180
181
“Non qolibet amor habet rationem amicitiae sed amor qui est cum benevolentiae, quando
scilicet, sic amamus aliquem ut et bonum velimus (…). Sed nec benevolentia sufficit ad rationem amicitiae; sed requiritur quaedam mutua amicitiae: qui amicu est amico amicus. Talis
autem mutua benevolentia fundatur super aliquam communicationem. Cum ergo sit aliquam
communicatio hominis ad Deum secundum quod nobis sua beatitudinem communicat (...). Unde manifestum est charitas amicitia quaedam est hominis ad Deum”. (Summa theol., IIa, IIae,
quaestio 23, a, 1)
“Actum liberalitatis ab actu charitatis distingitur, quo is qui liberalis est, ideo de altero bene
meretur, hoc est, ideo donat alteri, qui vult liberali esse; quemadmodum etiam quis magnificus
est, sumptus et impense facit non ob aliud nisi ut magnificus sit in sumptibus et impensis (...).
At vero is, qui ex charitate diligit, facit proximo bene, non ut liberalis, vel magnificus sit, sed
qui amat hominem propter ipsummet. Materia subjecta in qua liberalitas versatur est oeucunia,
& quodius aliud temporale bonum aestimabile. Materia vero magnificentiae subjecta sunt impensae et sumptus in pecuniis et aliis bonis, quae pecunia aestimantur. Materia autem charitatis, est quoduis bonum animae, vel corporis, quo in proximo conferimus, vel ei volumus (...).
Charitas autem in volendo & conferendo bonum proximo propter seipsum [consistit]”. (AZOR,
Institutionum moralium, t. II, p. 698)
96
Antônio Manuel Hespanha
políticas daquele que doa, parecem absolutamente inertes; todavia, não o são do
ponto de vista de uma política a longo prazo, que pode mesmo envolver uma
estratégia familiar de investimento político.
De qualquer modo, o facto de que a caridade seja preliminarmente um
esforço de comunicação com Deus, não acarreta menos a existência de uma
ordem externa que faz dela também um factor de disciplina mundana. Na verdade, os teólogos constroem toda uma teoria normativa sobre a hierarquia dos
deveres de caridade. Assim, o alívio de sua alma e de seu corpo exige o alívio
dos mesmos valores no seu próximo; o alívio da alma de outrem é preferido ao
alívio de nosso bem-estar corporal; a caridade para com o mais próximo é preferida em detrimento daquela que visa o mais distante; como objecto de caridade,
os pais preferem seus filhos; o pai, a mãe; os pais, a mulher; o benfeitor, o beneficiário182. Mas quando o dever de caridade se refere ao alívio da miséria (isto é,
quando se trata de misericórdia, scl. miseriae sublevatio), a obrigação de ser
caridoso torna-se mais imperativa. Ela constitui não apenas uma obrigação moral, em que o não cumprimento se torna num pecado mortal, numa obrigação de
direito natural e divino (com todas as consequências normativas que disso decorrem, nomeadamente, quanto à exigibilidade do cumprimento); ou ainda, no
caso de aflição extrema, numa obrigação jurídica civil, em que o cumprimento
pode ser decidido pelo juiz183.
4.4. Na teoria clássica das virtudes, a liberalidade era complementada
pela magnificência (magnanimitas), “a arte de empregar grandes riquezas”, de
ter despesas adequadas à categoria da grandeza (Aristóteles, Eth. Nic., IV, 2,
1122a), ou, para citar São Tomás, de ter despesas com obras grandiosas, visando
o bem público ou o bem particular transpessoal, como o investimento numa
festa de casamento ou na construção do domicílio da família (Summa Theol.,
IIa, IIae, quaestio 134). É uma virtude real por excelência. Aristóteles cita como
exemplos característicos o armar um navio ou a organização e o financiamento
de uma embaixada. Na literatura moderna, este carácter real da magnificência
constitui um topos absolutamente corrente. Para dar exemplos portugueses, citase um texto do jurista e teólogo Baptista Fragoso, escritor do final do século
XVI. Depois de ter definido a liberalidade seguindo as sendas deixadas pelos
textos clássicos, ele declara que ao rei é mais próprio doar do que receber. (Fragoso, 1737, parág. I, Ib, I, disp. 1, §, n.75) Pois, neste caso, surge o particular
dever de evitar a avareza e de cultivar a liberalidade, manifestando a grandeza,
tendo como única limitação evitar o apetite da glória vã. Um outro jurista, Domingos Antunes Portugal, escreveu, na segunda metade do século XVII, no seu
tratado sobre as doações régias (Portugal, 1673, I, c.1, ns 6/7): “Doar é próprio
do príncipe, uma vez que o exercício da liberalidade e da doação são as funções
182
183
AZOR, 1600, t. II, cap. 3, p. 200; cf. igualmente: “Quo ordine sit elemosyna largienda”, cap.
13, p. 715.
“l’auperes ex iure civile, aut canonico, contra divites actionem non habent; quamvis de iure
naturali et divino cogatur Elemosynam dare pauperibus”. AZOR, t. II, p. 715.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
97
dos nobres e de todos aqueles que possuem dignidade”. Enquanto que Manuel
Alvares Pegas, aproximadamente na mesma época, afirma que “é um privilégio
do príncipe recompensar os vassalos que o servem, pois é da natureza própria
dos reis remunerarem os serviços que aqueles lhes prestam” (PEGAS, 1738, p.
4). Na época barroca, que coincide em Portugal com uma época de prosperidade
financeira para a coroa, Damião Faria e Castro nega que o príncipe deva limitar
sua magnificência pela parcimónia aconselhada aos particulares, pois “como [o
príncipe] possui sempre muito, ele deve sempre doar de modo proporcional
àquilo que ele possui”. (CASTRO, 1749, I, p. 300) “O seu tesouro – acrescenta
o autor – aumenta quando o aerarium enfraquece, uma vez que cada vassalo
rico é um tesouro do rei”. (idem, ibidem.) E sublinhando mais uma vez o fundo
político desta estratégia – conclui o autor – “a liberalidade faz do príncipe duas
vezes rei, pois ele domina tanto as vontades quanto os corpos [...]: a força que
vence não reina nos corações; a generosidade que obriga, essa, domina as
vontades”. (CASTRO, 1749, p. 303-304)
Esta prática da regia largitio faz lembrar, por um lado, as descrições
de Marcel Mauss sobre as despesas ostensivas dos chefes e magnatas nas sociedades indígenas da costa canadense do Pacífico. Mas, por outro lado, ela permite
compreender melhor a natureza real dos problemas financeiros da maior parte
das monarquias modernas. Tratava-se menos de um problema de falta de meios
do que de uma questão de avaliação estratégica dos equilíbrios respectivos entre
a necessidade de economizar e a necessidade de responder à magnificência inerente ao ofício do rei. Magnificência que, por sua vez, era, primeiramente, uma
obrigação moral184; mas também no plano da política exterior, uma estratégia de
reputação, de ostentatio e de magnificência, então e ainda hoje indispensável185.
Em todo caso, a doutrina enunciava os limites à magnificência, mesmo se, como se viu, não faltem autores para os quais a bona largitio est summa
largitio. Primeiramente o príncipe deve considerar a ocasião de doar. Em seguida, deve considerar as pessoas, recompensando os bons e castigando os maus.
Distinguindo, enfim, as benfeitorias segundo sua qualidade ou a dignidade do
destinatário, isto é, cobrindo de honras os magnatas, pois sua própria honra depende da dignidade de seus súbditos. Mas esta munificência com os grandes não
devia dar lugar a que os outros não recebessem nada. Enfim, ele deve avaliar
com prudência, evitando dilapidar seu património, facto que o levaria a impor
184
185
Acerca dos pecados e nomeadamente a avareza, ver Escobar & Mendoza, 1659, tr. II, ex. II, p.
302 e Azor, 1600, parág. II, c. VII (de regum vitiis et peccatis). No período em que este autor
escreve, a necessidade de restringir as despesas com arroz é uma prioridade. Não é, portanto,
surpreendente que a prodigalidade apareça como um pecado: “unde fit, ut vectigalia, & tributa
a subditis exigunteur maiore quam par sit, debita contrahuntur plura, quam aequum sit, &
gravissimus oneribus populo gravent”, p. 1106.
Sobre o impacto desta teoria da magnificência na gestão financeira, v. Hespanha, (“O cálculo
financeiro no Antigo Regime”. In: Actas do Encontro Ibérico sobre história do pensamento
Económico. Lisboa: CISEP, 1993), também publicado, como introdução ao cap. sobre as finanças da coroa, em Hespanha, 1993b (O Antigo Regime (1620-1810), v. IV da História de
Portugal, dirigida por José Mattoso. Lisboa: Círculo dos Leitores, 1993)
98
Antônio Manuel Hespanha
tributos injustos, atentando contra os bens de outrem. Todas essas restrições à
regia largitio estão presentes na literatura moral portuguesa e espanhola desde a
segunda metade do século XVI, época marcada por bancarrotas repetidas da
coroa e por uma crise financeira permanente que conduzia a uma fiscalização
considerada insuportável e injusta. Ainda que a magnificência continuasse a ser
uma virtude real, inclusive a virtude real por excelência, ela deveria, neste contexto, ceder espaço para a justiça: seria indecente doar bens ilegitimamente extorquidos aos súbditos.
4.5. À liberalidade do potentior corresponde o servitium do humilior.
(D. Pedro, 1981. p. 575) Este serviço dificilmente poder consistir, como sublinha Aristóteles, numa prestação de bens económicos, pois os poderosos não têm
necessidade disso. São Tomás, na sua quaestio sobre a graça (IIa, IIae, qu. 106),
sublinha a diversidade da natureza da retribuição de um acto de benficência,
dependendo de ela decorrer da justiça, da gratidão e da amizade. No primeiro
caso (scl. quando habet rationem debiti legalis), a retribuição deve ser medida
pela quantidade doada; no segundo caso (scl. quando habet rationem debitti
moralis), “deve-se considerar a causa da amizade, em que, no caso da amizade
utilitária, a recompensa deve respeitar a utilidade extraída da benfeitoria; mas
no caso da amizade virtuosa (amicitia honestatis), ao recompensar, se deve
considerar também o afecto do doador (...); e, deste modo, a recompensa da
graça se vincula mais ao afecto (afectus) do doador do que aos efeitos (effectus) exteriores da doação”.
A questão do equilíbrio entre as prestações coloca-se, portanto, em razão da relação mútua entre liberalidade, caridade e gratidão. São Tomás discute
esse tema na quaestio 106, descartando – na linha de Séneca (De Ben., V) – a
ideia de um equilíbrio externo e objectivo entre benfeitoria e recompensa, pois o
cerne da relação encontra-se nos aspectos interiores, nas intenções (o affectus):
“(...) não se pode dizer que o pobre é ingrato se ele faz aquilo que pode fazer;
pois do mesmo modo que a benfeitoria consiste mais na intenção do que nos
efeitos, a recompensa também consiste sobretudo na intenção”. Daí que o mesmo Séneca escreva (De Ben., II, 22) que “aquele que aceita uma benfeitoria com
gratidão paga desta maneira sua dívida principal. Pois mostra-se a gratidão
pelas benfeitorias concedidas com a simples efusão do afecto”. (Summa Theol.,
IIa, IIae, quaestio 106, a, 3; conf. ainda quaestio 106, a, 5)
Esta dívida permanente de afecto por parte do beneficiário pode ser
manifestada de diversas formas: “o conselho fiel, a conversa assídua, a alegria
sem adulação”. (SÉNECA, De Ben., VI, 29)186 Mas, sobretudo, pela “exibição
da reverência e da honra”. (Summa Theol., IIa, IIae, quaestio 106, 3, citando
186
Conforme Summa Theol., quaestio 106, a, 3: grace acciper, exhibere reverentium et honorem,
fidele consilium, assiduo conservatio, sermo communis. Mais tarde, Juan de Azor codifica ainda os gestos da reverência: flexão do corpo, flexão dos joelhos, descobrir a cabeça, adulação.
Sob a forma de cortesia, marcas externas de reverência e de respeito, ver: OSSOLA, 1980.
MERLIN, 1896, MOZARELLI, 1989. Em Portugal, ver: HESPANHA, 1990, b.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
99
Eth. Nic., VIII) Uma reverência que, como a gratidão decorrente de uma amizade desigual, não conhece qualquer limite remetendo mais para o universo da
caridade do que para o da liberalidade, São Tomás acentua o carácter inesgotável da dívida do inferior. Considerando que a retribuição deve ter como medida
o afecto daquele que doa e que este afecto contém um momento de liberalidade
não devida, aquele que recebe deve retribuir para além do que lhe foi doado (“et
ideo maius retribuat”, quaestio 106, a. 6). Deste modo, “na dívida de gratidão
que decorre da caridade, quanto mais se paga, mais se deve (...); donde não
seria injustificado considerar a dívida de gratidão como inextinguível (interminabilis)”. (Summa Theol., IIa, IIae, quaestio. 106, a. 6 in fine) No mesmo sentido, um moralista português da metade do século XVIII escreve que “as benfeitorias (mercês) são cadeias que não se rompem jamais”. (CASTRO, 1749)
Além dos sinais exteriores da gratidão, que acabam de ser mencionados, havia também atitudes psicológicas e condutas sociais típicas, que o escritor
português Francisco Rodrigues Lobo, na Corte na Aldeia (1618), designa como
cortesia. Ele descreve as obrigações do beneficiário da seguinte maneira:
“aquele que se viu favorecido na miséria, empresta facilmente a vida àquele que
lhe doou bens; se ouvir [falar bem] deste, acredita; quando alguém lhe ataca a
honra, defende-o; na sua presença, humilda-se; ao ouvir o seu nome, alegra-se;
e ao servi-lo, fica contente e satisfaz-se”187. Ele expõe igualmente as obrigações
contínuas que impõem essa situação: “aqueles que têm pretensões vivem na
pobreza, pois eles não podem ter bens próprios uma vez que dependem de favores de outrem; além disso, eles vivem na obediência, pois a devem com tamanha
sujeição que diante dos senhores eles querem parecer domésticos, diante dos
domésticos eles simulam ser escravos e diante dos amigos e parentes parecem
ser serviçais”. (idem, 222)
Mas, como assinala Paolo Pissavino na leitura de Della Casa, a reprodução da relação patrão/cliente exige uma contenção de parte a parte, a busca de
uma justiça (uma justeza) imanente, de um justo meio, também por parte do
humilior. Se o poderoso deve evitar a avareza (avaritia) ou o excesso no exercício de sua autoridade (ira), o dependente deve refrear sua cupidez (exercendo as
virtudes da paciência e da humildade), mas também seu desejo de se mostrar
afável, evitando cair na adulatio188.
Tal como a liberalidade e a caridade, a gratidão (e as atitudes pelas
quais ela se exprime) também não é livre nem gratuita. Se é uma obrigação moral; se jurídica ou não, será visto ainda. A ingratidão, como afirma toda a teologia moral, é, antes de tudo, um pecado. São Tomás considera-a um pecado
mortal, se a gratidão está totalmente ausente; um pecado venial, se ela inclui
algo da liberalidade que lhe é inerente. Mas alguns comentadores da sua obra
187
188
LOBO, 1618, p. 201. Cf. igualmente D. PEDRO, 1981. p. 725 et seq.
PISSAVINO, p. 1989. I, 74.
100
Antônio Manuel Hespanha
emitem outros julgamentos sobre a base de distinção entre justiça e liberalidade
e entre debitum legale e debitum morale189.
5. Chegamos aqui a um ponto verdadeiramente central, não apenas
para a teoria das relações entre direito e moral na época moderna, mas também
para a questão da pluralidade das ordens de normação e de poder nas sociedades
europeias pré-contemporâneas.
Tornou-se evidente que a doação liberal ou caritativa e a recompensa,
gratidão e a retribuição, eram espaços regulados, ordens. É preciso, portanto,
considerar ainda a natureza desta ordem e a sua relação com a ordem por excelência (conforme a historiografia tradicional): a ordem do Direito.
Desde logo, é preciso lembrar que a liberalidade, regulada e submetida
a uma proporção (ratio), mantinha deste modo certa afinidade com a justiça,
também ela constante de regras e igualmente incompatível com o arbítrio ou
decisionismo voluntarista (“uma conformidade especial com a justiça, como
virtude anexa”. São Tomás. Summa Theol. IIa, IIae, quaestio 117, a, 5), fundando-se num suum cuique tribuere enraizado numa constelação de valores
objetivamente fixada. Esta afinidade faz com que se fale da doação como consistindo num debitum de uma natureza particular, o que se traduz em conceber a
graça como um espaço de acção desprovida de qualquer poder discricionário.
O infante D. Pedro consagra um capítulo inteiro de seu tratado sobre
as benfeitorias à distinção entre os diferentes tipos de obrigações decorrentes das
benfeitorias. Na sua tipologia, a dívida jurídica (que “se funda sobre acostumado emprestéstimo”, D. Pedro, p. 703) vem em primeiro lugar. Depois, a obrigação fundada sobre os votos, nomeadamente os dirigidos a Deus ou bem àqueles
aos quais se oferece amor e serviço. (D. Pedro, 704) Em seguida, vem a obrigação fundada na natureza, como aquela que nos une aos pais, aos senhores, aos
cônjuges, aos mestres. (ibid.) A última é aquela que decorre do bem fazer:
“obrigação estável em tanta firmeza que se nom podem quitar com dereyta
razom, os que deste aucto usam virtuosamente. Porque ainda que o recebedor o
agradeça, non poem fym em aquello, de sempre fica devedor (...). Mas creçendo
continuadamente, satisfazem pollo que ia foy ficando obligados pera mais dar”.
(i.e., 705). A gradação é subtil: não se saberia distinguir de uma forma nítida e
categórica as obrigações jurídicas daquelas que decorrem de outras necessidades. É
possível afirmar que, segundo este autor, o essencial se refere menos ao carácter
variamente imperativo do debitum do que as fontes desta imperatividade.
O padre Antonio Vieira comenta o tema, especificamente quanto ao
carácter cogente da graça, com a eloquência magnífica que o caracteriza, em um
sermão construído sobre o tema: “non est meum dare vobis, sed quibus parantum est a Patre meum”. Sobre a resposta de Cristo àqueles que lhe solicitavam
189
Summa Theol., IIa, IIae, quaestio 107, a. 1. Thomas Vio Caietanus mostra-se mais condescendente: a ingratidão jamais constitui um pecado mortal, pois sendo a dívida mera debitum morale ou honestatis, não haveria ofensa ao próximo (CAIETANUS, 1576. p. 386, col. 2).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
101
graças, ele põe a questão: “Mas Cristo, enquanto Deus e enquanto homem, não é
o Senhor de tudo? Sim, ele o é. Pode ele, então, tudo doar, a qualquer pessoa e
de qualquer maneira? Com justiça, sim; sem justiça, não (...). A razão da resposta decorre do fato de que Cristo fundou e ordenou seu reino de maneira tal
que nada pode ser dado gratuitamente e por graça, senão tendo em vista méritos e segundo a justiça” (VIEIRA, 1959, III, p. 292). Ele prossegue: “nada é
menos compreendido e menos aplicado nas Cortes dos reis que a distinção entre
justiça e graça. Então, são poucas as graças que não sejam injustiças ou não
contenham muita injustiça. Eu não nego aos reis o seu poder de realizar graças,
pois é muito próprio à beneficência e à magnificência reais realizá-las; mas a
realização de graças deve ocorrer apenas após a satisfação das obrigações da
justiça (...)”. Não apenas o governo, mas também as consciências e as almas dos
príncipes se perdem ao “considerar que eles podem fazer tudo, pois tudo está em
poder deles (...). O rei pode tudo o que é justo; em contrapartida, para aquilo
que é injusto, ele não possui nenhum poder”. (i.e., 293/294)
5.1. Quando a liberalidade era a retribuição de um favor anterior, o carácter devido e regulado da graça se reforçava. Este era nomeadamente o caso da
remuneração dos serviços, pois ela era, por assim dizer, duplamente devida.
Efectivamente, às normas da economia da doação agregaram-se as normas da
retribuição e de seu equilíbrio com a benfeitoria. Uma boa parte da quaestio 80
da Secunda Secundae da Summa Theologica é consagrada à reflexão acerca das
distâncias e proximidades da justiça e da liberalidade e, por consequência, dos
debita (os deveres de retribuir) que delas emergem. De acordo com o esquema
da arbor virtutum (árvore das virtudes), existe uma gradação dos deveres, desde
o dever estritamente jurídico (debitum legale, exigido em nome da justiça) até o
dever exigido apenas pelas virtudes da liberalidade, da afabilidade ou da amizade, passando por aquele que exige a gratidão e que, como meio termo entre os
dois outros, se não está ligado à justiça, atinge pelo menos a honestidade e os
bons costumes.
Entre os juristas, a questão do carácter gratuito das recompensas suscitadas pela gratidão ou pelo jogo das prestações recíprocas era menos teórico,
visto que ela redundava (em alguns países) em problemas jurídico-institucionais
de uma importância considerável no meio político.
Um deles, que tratei noutro lugar190, era o do carácter juridicamente
devido da esmola aos pobres. A questão – que não tem grande notoriedade em
Portugal – acompanha toda a reflexão teológico-moral, pelo menos até à segunda metade do séc. XVI.
São Tomás, na sua obra magna, põe a questão nestes termos:
190
HESPANHA, António Manuel. Imbecillitas. As Bem-Aventuraças da Inferiodade nas Sociedades de Antigo Regime. Curso Proferido na UFMG – FAFICH, em 2008. Em publicação pela
editora da mesma Faculdade.
102
Antônio Manuel Hespanha
Se dar esmola é um acto de caridade? Objecção 1. Pareceria que dar
esmola não é um acto de caridade. Porque sem caridade não se podem praticar actos de caridade. Ora é possível dar esmolas sem sentir
caridade, como se diz em 1 Cor. 13:3: ‘Se eu tiver que distribuir todos
os meus bens para dar de comer aos pobres [...] e não o fizer por caridade, isso não me aproveita em nada’. Daí que dar esmola não seja
um acto de caridade. Objecção 2. Além disso, a esmola são tidas
como uma obra de satisfação dos pecados, segundo Daniel, 4:24:
“Redime os teus pecados com esmolas”. Ora a satisfação é um acto
de justiça. Por isso, a esmola é um acto de justiça e não de caridade.
Objecção 3. Acresce que oferecer sacrifícios a Deus é um acto de religião. Mas dar esmolas é um serviço a Deus, segundo Heb. 13:16:
‘Não se esqueçam de fazer o bem e distribuir, pois por meio de tis sacrifícios obtém-se o favor divino’. Por isso, dar esmolas não é um
acto de caridade, mas de religião. Objecção 4. Diz, ainda, o Filósofo
(Aristóteles, Ética. IV, l) que dar para uma finalidade boa é um acto
de liberalidade. Ora isto é particularmente verdadeiro no caso das
esmolas. Então, dar esmolas não é um acto de caridade. Em contra.
Está escrito em 2 João. 3:17: “Aquele que é rico e que viu o seu irmão em necessidade e afastou dela a sua malga, como pode a caridade de Deus permanecer nele ?’. Respondo que os actos externos pertencem à virtude relativa ao motivo por que se praticam tais actos.
Ora o motivo para dar esmola é aliviar os necessitados. Daí que alguns tenham definido a esmola como “um acto que algo é dado a um
necessitado, provocado pela compaixão e em honra de Deus”, motivo
que pertence à misericórdia, como foi dito acima (30, 1,2). Daí que
seja claro que dar esmola é, propriamente falando, um acto de misericórdia. Isto revela-se no próprio nome, pois em grego eleemosyne
deriva de ter pena eleein, tal como o latim miseratio. E como a pena é
um afecto pertencente à caridade, como se viu acima (30, 2, 3, Objecção 3), segue-se que dar esmola é um acto de caridade por meio da
pena ou comiseração. Reposta à objecção 1. Um acto de virtude pode
ser tomado de dois modos: primeiro, materialmente, pelo que um acto
de justiça é fazer aquilo que deve ser feito; e tal acto de virtude pode
então ser feito sem a virtude respectiva, pois muitos, sem terem o hábito da justiça, fazem o que é justo, ou orientados pela luz da razão,
ou por medo, ou na esperança de lucro. Em segundo lugar, falamos
de uma coisa constituir formalmente um acto de justiça e, assim, um
acto de justiça é fazer aquilo que é justo do mesmo modo que o faz um
homem justo, ou seja, com prontidão e gosto, não podendo tal acto de
justiça existir sem a virtude. Neste sentido, dar esmola pode realizarse materialmente sem caridade, mas dar esmola formalmente, i.e., por
amor de Deus, com prazer e prontidão, e tanto quanto cada um pode,
não é possível sem caridade. Resposta à Objecção 2. Nada impede
que o acto próprio de uma virtude seja prescrito por outra, dirigindo-o
esta ao seu próprio fim. É deste modo que a esmola se conta entre os
actos de satisfação, na medida em que a piedade pelo sofrimento de outrem se dirige à satisfação de um pecado e, nesta medida, a compensar
Deus, tendo a natureza de um sacrifício e sendo, nessa medida, prescrito
pela religião. De onde a resposta a esta objecção se torna evidente. Res-
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
103
posta à objecção 4. A esmola pertence à liberalidade, na medida em que
a liberalidade remove um obstáculo a esse acto, o qual poderia resultar
do amor excessivo pelas riquezas, do qual resulta
que uma pessoa as
busque mais do que deve, Summa Theologica191.
E, já no séc. XVI, Domingo de Soto – um dos mais célebres juristas
ibéricos do séc. XVI – volta a uma postura semelhante192. A opinião de de Soto
no sentido da existência de um direito directo dos pobres sobre estes bens relaciona-se também com uma dura polémica com Juan de Medina193 acerca da
assunção pelas cidades (ou repúblicas) do dever de aliviar a miséria dos pobres194, polémica na qual também interveio, com grande notoriedade, o catalão
Luís Vives195. E esta polémica ligava-se a problemas políticos de muita relevância nas cidades flamengas, onde apareceram propostas de uma assistência social
aos pobres levada a cabo pela autoridades urbanas, como modo de responder a
um provável direito dos pobres às esmolas.
Não curando já da relação que esta questão da oposição entre liberalidade e mercantilização das relações sociais possa ter com a famosa questão da
origem do “espírito capitalista”196, o acentuar do carácter obrigatório dos deveres de graça, para além de se relacionar com o referido direito dos pobres às
esmolas, relacionava-se também com algumas questões de “alta política” das
monarquias tradicionais, como a portuguesa, as quais têm vindo a ser descritas,
nos últimos tempos, como dominadas, mais do que por uma “razão de Estado”,
por uma “economia da graça”197.
191
192
193
194
195
196
197
Já, antes, Albertario de Brescia, “Sermo secundus [quem Albertanus, causidicus brixiensis,
composuit inter Fratres Minores et causidicos brixienses”. Diponível em:
<http://www.thelatinlibrary.com/albertanus.sermo2.html>. (v. versão inglesa, com uma boa
tradução. Disponível em: <http://www.newadvent.org/summa/>.)
SOTO, Domingo de. Tractatus de iustitia et de iure. Cuenca: Salamanca, 1556, ed. bilingual
(latina. castelhana), Madrid: Ministério de Justicia, 1982, lib. IV, qu. VII, ed. cons., p. 363. Cf.
also Thomas Vio Cajetanus, De eleemosynae praecepto, c. 3.
Também conhecido como Juan de Robles: De la orden que en algunos pueblos de España se ha
puesto en la limosna para remedio de los verdaderos pobres. Salamanca in 1545 [= La charidad
discresa, practicada con los mendigos, y utilidades que logra la republica en su recogimiento,
Valladolid, 1757].).
De Soto desenvolveu os seus argumentos numa obra de 1545: In causa pauperum deliberation
[=Deliberación en la causa de los pobres]. Sobre o tema. FLYNN, Maureen.: Sacred Charity.
Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700. Ithaca: NY: Cornell University Press,
1989; ALVES, Abel Athouguia.: “The Christian Social Organism and Social Welfare: The
Case of Vives, Calvin and Loyola”. Sixteenth Century Journal, 20/1(1989), 3-21; Greg Cooney CM. The Social Conscience of Vincent de Paul, CM, Oceania Vincentian. v. 2, September 27, 2001. Disponível em: <http://www.vincentians.org.au/Conscience.pdf>.
VIVES, Luis: De Subventione Pauperum. Bruges, 1526.
Cf. Marcel Henaff, Religious Ethics, Gift Exchange and Capitalism (http://clavero. derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2008/10/henaffonclavero.pdf; 9.8.2009).
V., contemporâneos ou algo posteriores à versão original deste artigo, CLAVERO, B.: Antidora. Antropología católica de la economía moderna. (Dott. A. Milano, 1991); TRANSLAT,
French. apud SCHAUB, Jean-Frédéric: La grâce du don. Anthropologie catholique de
104
Antônio Manuel Hespanha
Isso explica que no centro de uma política da doutrina jurídica já orientada para a garantia dos interesses dos serviçais nobres do rei, alguns juristas
portugueses do século XVII tenham desenvolvido uma teoria ainda mais cogente
dos deveres de recompensa, de modo a defender a existência de uma estrita e
quase jurídica obrigação do príncipe de remunerar os serviços dos vassalos. A
graça tornava-se assim o equivalente de um verdadeiro pagamento (“persolvere
servitia”, pagar serviços), exigido pelo dever de justiça198. Numa consulta célebre (c. 1602), o jurista Jorge de Cabedo questiona se “os serviços prestados
pelos vassalos criam um direito de ação e se esse direito se transmite aos herdeiros”199. A resposta de Cabedo parte da distinção entre debitum morale e debitum legale, distinção que mostra, ao mesmo tempo, as proximidades entre a
justiça e a liberalidade, assim como as dependências que delas emergem no
âmbito de uma economia da doação. À primeira, corresponderia um pagamento
(solutio); à segunda, uma doação (donatio); no entanto, essa doação seria remuneratória e, por isso, muito próxima de um verdadeiro contrato sinalagmático.
Em conclusão, Cabedo rejeita a ideia de que se possa reclamar judicialmente ao
repetição (no sentido jurídico do termo) de uma obrigação deste tipo, pois defende que “se se paga uma dívida moral, afigura-se que se faz uma doação,
ainda que de uma maneira não pura, pois se remunera igualmente; visto que
mesmo que não exista obrigação que seja suficiente para poder ser exigida pelo
rigor da justiça, existe em qualquer caso uma doação ‘antidoral’200 ou remuneratória, um direito de gratidão devido que exclui a possibilidade de se falar em
doação nesse caso”. O mesmo autor, em outro passo, insiste ainda acerca do
carácter obrigatório da liberalidade, no caso da retribuição de serviços: “a doação que se relaciona com serviços, seja de si próprio, seja de seus familiares é
remuneratória (...) ou quase debita (n. 2); pois o rei, quando quis remunerar os
serviços [do pai], reconheceu de algum modo a dívida como dívida”. Em torno
da mesma época, Manuel Alvares Pegas repete que o serviço dá origem a uma
obrigação antidoral de remuneração, ainda que não se trate de uma obrigação de
direito estrito (os textos evocados são C., XII, 2, 2 e C., XII, 29 de privilegiis
eorum qui in sacro palatio militant)201.
Para explicar o lugar central deste problema teórico no pensamento jurídico português dos séculos XVI e XVII, convém lembrar que, para Portugal, a
questão do caráter “devido” das doações estava estreitamente ligada a uma
questão política fundamental, a saber: a obrigação na qual se encontra o rei de
confirmar as doações reais de seus predecessores em proveito dos donatários ou
198
199
200
201
l’économie moderne. (Paris, Albin Michel, 1996). OLIVAL, Fernanda: As Ordens Militares e o
Estado Moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001.
PORTUGAL, 1673, I, cap. 2, n. 6.
CABEDO, 1602, II, cons. 36: “An servitia facta per vassalos praestent ius agendi; & satisfactio transeat ad heredes”.
Uma palavra, de origem grega, que significa doação não obrigatória.
Do ponto de vista estritamente jurídico, a benfeitoria deve ser considerada como gratuita.
PEGAS, 1669. C. 10, ad. II, 35, c. 2, p. 4 et seq.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
105
seus descendentes. O regime legal em vigor em Portugal considerava que os
bens da coroa eram inalienáveis e submetidos a regras de sucessão consideravelmente estritas202. Seria possível, graças aos contornos antidorais da doação,
inverter o sentido da lei que oferecia ao rei a possibilidade de reintegrar no patrimônio da coroa os bens doados? A questão era crucial também para os donatários, pois se a corrente jurídica que aproximava o debitum morale do debitum
legale viesse a triunfar, então a consolidação nas suas mãos dos bens doados
como recompensa de serviços prestados estaria assegurada. Este formidável
desafio político não cessou de pesar sobre as discussões aparentemente teóricas
suscitadas por esta questão.
Parece, realmente, que pelo menos até ao fim do século XVII, o primado da moral sobre o direito (e, com ela, dos interesses dos donatários sobre os
da coroa) foi superior. Pois a ideia segundo a qual existia um quase-direito à
confirmação das doações em favor dos descendentes do beneficiário era comumente admitida. Pegas pronuncia-se nesse sentido (i.e.??, 10, p. 511), defendendo
que a doação remuneratória não pode ser revogada, nem mesmo por ingratidão.
Mais delicada era a questão de saber se este direito poderia aproveitar
aos parentes próximos, nos casos em que os bens retornassem à coroa pela falta
de parente sucessor directo. Com base em um dos capítulos de Cortes de Tomar
de 1580, formou-se a opinião (traduzida em decisões judiciais)203 de que o rei
deveria confirmar as doações aos parentes mais próximos do donatário falecido,
ainda que não integrados na ordem sucessória estabelecida pela Lei Mental. O
rei João IV, nas Cortes de 1641 (resposta aos capítulos do povo, 108; capitulo
eclesiástico, 26; capitulo da nobreza, 28), tentou contrariar esta tendência. Em
todo caso, a doutrina dominante, do século XVI até a metade do século XVII,
seguia o sentido das pretensões da nobreza, que queria que fosse reconhecido o
direito dos parentes à confirmação das doações. Isso representava uma derrogação prática do regime da lei (Lei Mental)204.
Apenas estudos empíricos podem verificar a eficácia prática desta representação da recompensa dos serviços (e sua confirmação aos sucessores)
como um verdadeiro debitum. A imagem historiográfica dominante em Portugal
acerca das relações entre o rei e os beneficiários é bem centrada na dependência
desses em face da coroa, invocando-se justamente o carácter gratuito da doação
e da confirmação dos bens da coroa. Nos estudos anteriores sobre o século
XVII, assinalei a impressionante permanência das casas nobres donatárias, apesar da falta de sucessores válidos, o que confirmava o enraizamento prático das
representações dogmáticas dos teólogos e dos juristas. É igualmente interessante
202
203
204
De acordo com a “Ley Mental” as doações de bens da coroa eram submetidas a um regime
particular. Os bens doados não perdiam nunca a natureza de bens da coroa, a doação deveria
ser confirmada no momento da morte do beneficiário e do rei doador.
PEGAS, 1669, v.10, p. 514; n.7.
O procurador da Coroa de João IV, Thomé Pinheiro da Veiga era hostil a essa pretensão. Ele
censurava duramente o rei por descurar a vigilância do seu processamento judicial (V. PEGAS,
1669, v. 10, p. 517)
106
Antônio Manuel Hespanha
perceber que no final do Antigo Regime, mesmo aos olhos dos juristas partidários do absolutismo monárquico, o direito dos súbditos à remuneração dos serviços era um dos únicos direitos que se lhes reconhecia face ao rei205.
5.2. Nos países onde o carácter “devido” das doações é bastante marcado, a ideia de que existe também um processo regulamentado (due process,
quasi debitum) para a concessão de benefícios ou mercês, impõe-se igualmente.
Por um lado, esse fato correspondia ao princípio segundo o qual o serviço dava
origem a uma acção, isto é, a um processo, quase judiciário, permitindo réplica e
tréplica206. Por outro lado, a regulamentação minuciosa do processo de concessão das graças (mercês) acordadas para o pagamento de serviços constituía a
outra face do carácter progressivamente obrigatório da recompensa devida pela
coroa. Pois esta, para evitar o dever de pagar indevidamente (ou pagar duas
vezes o devido), foi forçada a adoptar precauções, de modo a criar um aparelho
processual de registo das graças e dos serviços, paradoxalmente muito semelhante ao adoptado nos livros de caixa dos mercadores207.
Em princípio os serviços eram de natureza pessoal e intransmissível,
tanto no que respeita ao devedor quanto ao credor208. No entanto, a configuração
progressiva de sua recompensa como um debitum, assim como a patrimonialização que dela emerge, permitiu a transmissibilidade, igualmente progressiva, do
direito de os invocar perante o rei como fundamento do direito a uma recompensa. A doutrina do final do Antigo Regime, fundada seja no Regimento das Mercês de 1671, seja nos princípios gerais do direito comum, confirma:
a) a transmissibilidade dos serviços (i.e., do direito à sua invocação
para pedir mercês em recompensa), seja por testamento, seja por um ato entre
vivos209; b) a transmissibilidade aos herdeiros legítimos, na ausência de testamento; c) a sua consideração por ocasião de partilhas entre vivos (no caso da
separação de bens dos cônjuges), ou mortis causa. Da mesma maneira, seguindo
esta lógica que faz dos serviços verdadeiros bens, a possibilidade de reivindicar
serviços extinguia-se após um prazo de trinta anos (Dec. 13/08/1706).
Este “dispositivo” – no sentido foucaultiano do termo – da reificação e
transmissibilidade dos serviços favorece a perpetuação de suas memórias nas
famílias e contribui para reforçar uma lógica já existente, segundo a qual a atitude de bem servir se herdava com o sangue ou, ao menos, com um hábito inveterado. Esta virtude inata pode lembrar aquela que Aristóteles descreve na Ética a
205
206
207
208
209
MELO, 1789, II, 2, 8: “de entre os direitos dos cidadãos, o mais ínfimo não é pedir ao rei
graças, privilégios e recompensas pelos serviços prestados, militares ou civis”. Cf. igualmente:
SOUSA, 1818, II, ad. II, 2, 8, p. 19 et seq.
Regimento de concessao de mercês, 19.01.1671, n. 21.
Ordenações Filipinas, II, 38, 42; leis de 24.07.1609 e 22.08.1623.
Cabedo, 1602, II, dec. 36, n. 13.
Único limite: o pretendente deveria ter serviços pessoais “a fim de que a esperança das graças
as quais eles aspiram estimule-os no serviço e que a graça obtida pareça mais merecida que
herdada”; reg. 19/01/1671, art. 21: dec. 28.12.1676.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
107
Nicómaco (IV, 6) e à qual poderia talvez convir o termo “serviçalidade” (qualidade de quem é serviçal) ou doçura de carácter, e que era a virtude mediana
entre complacência e acrimónia. O facto de pertencer a uma família em que
havia a memória de servir era, consequentemente, uma garantia da predisposição
para a serviçalidade futura e um sinal da fiabilidade dessa relação de amizade
útil. Por este via, a organização de redes de clientela que passassem de geração
em geração e que se cristalizassem em redes familiares duráveis, tornava-se
mais fácil.
“Non est meum dare vobis sed quibus paratum a Patre meo”, responde Jesus a Salomé210. Esta frase torna-se exemplar do carácter regrado da doação
e da graça. Mesmo para Cristo, não havia nada de arbitrário no que se refere à
outorga de graças, pois tudo era decidido, anteriormente e num plano superior,
pelo Pai. Este exemplo de Cristo serve evidentemente para os reis, cuja liberalidade deve igualmente obedecer a regras precisas, morais ou jurídicas. Assim,
mesmo no plano da graça, tradicionalmente concebida como a essência dura do
voluntarismo e do absolutismo reais, os limites de uma ratio preestabelecida não
são menos visíveis que alhures. Além disso, o carácter especular do dever de
doar e de restituir, da liberalidade/caridade e da gratidão, redobra ainda o carácter cogente da ordem, somando às exigências de dar os deveres dos beneficiários,
criando redes sociais auto-sustentáveis e dotadas de uma capacidade de reprodução quase infinita.
Se a historiografia mais recente já tinha desvendado os limites postos
pelo direito (sobretudo pelos seus mecanismos aparentemente mais modestos e
mais técnicos) ao poder real, se a consideração da proximidade entre a Republica e a familia também tinha levado a uma nova valorização da atracção do ofício
de reinar pelo governo doméstico, regulado e moderado pela piedade familiar, a
problemática da economia das relações de liberalidade agrega agora um novo
elemento de constrangimento que pesa sobre o poder do príncipe. Realmente,
mesmo quando este doava ou recebia serviços, num caso ou noutro, “livremente”, ele de facto acomodava-se a uma ordem de coisas inscrita tanto na natureza
das relações sociais como no âmago da alma dos homens.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. Lopes de. Obras dos príncipes de Aviz. Porto: Lello & Irmão, 1981.
ALVES, Abel Athouguia, The Christian Social Organism and Social Welfare: The Case of
VIVES, Calvin and Loyola, Sixteenth Century Journal, 20/1(1989), p. 3-21.
ANDRADE, Alberto Banha de. Curso conimbricense. L. P. Manuel de Góis: moral a Nicómaco, de Aristóteles. Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1957.
210
Trata-se de um dos temas do Sermam da terceyra quarta feira da Quaresma (1670), de Antonio Vieira.
108
Antônio Manuel Hespanha
ANDRADE, Miguel Leitão de. Micellania do sitio de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão.
Lisboa, 1629.
ANDRÉS, Melquíades. História de la teología española. Madri: Fundación Universitária
Española, 1983.
ARISTÓTELES. Obras. Tradução de Francisco de P. Samaranch. Madri: Aguilar, 1967.
ATIENZA HERNANDÉZ, Ignacio. Pater familias, señor y patrón: oeconomica, clientelismo
y patronato en el antiguo regimen. In: PASTOR, Reyna. Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. Madri: CSIC, 1990.
_______. Pater familias, señor y patrón : oeconomica, clientelismo y patronato en el antiguo
régimen, In: I. ATIENZA, Relaciones de poder, de producción y parentesco em la Edad
Moderna, Reyna Pastor, Madrid, CSIC., 1990.
AZOR, Juan de. Institutionum moralium. Roma. 1600-1611. v. 3.
BAILEY, F.G. Gifes and poison. The politics of reputation. Oxford: Basil Blackwell, 1975.
BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez, Latino […]. Lisboa, 1712-1721.
BOISSEVAIN, Jeremy. Friends of friends. Network, manipulations and coalitions. Oxford:
Basil Blackwell, 1978.
_______. MICHELL, Clyde. Network analysis: studies in human interaction. La Haye:
Mouton, 1973.
CABEDO, Jorge de. Practicarum observationum sive decisionum supreme senates regni
lusitaniae. Ulyssipone, 1602-1604.
CAIETANUS, Thomas Vio. Peccatorum summala [...] novissime recognita [...] atque
additionibus nonnullis illustrata, in quibus si quid a recepta [...] diversa, vel aliter quam
posica a Conc. Trid. Patribus sancitum est, auchor docucrat, annotatur. Duaci, 1613.
CAIETANUS, Thomas Vio. Secunda secundae partis [...] comentariis. Antuerpiae, 1576.
CASTRO, Damião de Lemos Faria e. Politica moral e civil. Lisboa, 1749.
CLAVERO, B., Antidora. Antropologia católica de la economia moderna, Dott. A.Giuffrè
Editore, Milano, 1991; trad. francesa por Jean-Frédéric Schaub: La grâce du don. Anthropologie catholique de l’économie moderne. Paris: Albin Michel, 1996).
COONEY, Greg CM, The Social Conscience of Vincent de Paul, CM, Oceania Vincentian, v.
2, September 27, 2001. Disponível em: <http://www.vincentians.org.au/Conscience.pdf>.
Acesso em: 09 ago. 2009.
DURÃO, Paulo, Séneca nos sermões de Vieira, Revista Portuguesa de Filosofia, 21.4, 1969,
p. 322-327.
ESCOBAR & MENDOZA, António de. Liber theologize moralis. Lugduni, 1659.
FLYNN, Maureen, Sacred Charity. Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700.
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989.
FRAGOSO, Baptista. Regimem republicae christianae. Coloniae Allobrogum, 1737.
FRIGO, Daniela. Disciplina rei familiaris: l’economia como modello amministrativo
d’Ancien Regime. Penélope: Fazer e desfazer a história, 6, 1990.
_______. Disciplina rei familiaris: l’economica come modello amnistrativo d’ancien regime.
In: PENÉLOPE. Fazer e desfazer a história. 6. 1990.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
109
HENAFF, Marcel. Religious Ethics, Gift Exchange and Capitalism Disponível em:
<http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2008/10/henaffonclavero.pdf>.
Acesso em: 09 ago. 2009.
HESPANHA, António Manuel. O cálculo financeiro no Antigo Regime, In: Actas do Encontro Ibérico sobre história do pensamento Económico, Lisboa, CISEP, 1993. Também
publicado, como introdução ao cap. sobre as finanças da coroa, In: ID, O Antigo Regime
(1620-1810), v. IV da História de Portugal, dirigida por José Mattoso. Lisboa: Círculo dos
Leitores, 1993.
_______. Imbecillitas. As Bem-Aventuraças da Inferiodade nas Sociedades de Antigo Regime, Curso Proferido na UFMG - FAFICH, em 2008. Em publicação pela editora da mesma
Faculdade.
_______. Da “iustitia” à “disciplina”. Textos, poder e política no antigo regime. Estudos em
homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra.
Coimbra, 1986.
HYLAND, Richard. Gifts A Study in Comparative Law. Oxford: Oxfrod University Press,
2009.
KETTERING, Sharon. Patrons, brokers and clients in 17th century. France: New York
UP, 1986.
LOBO, Francisco Rodrigues. Corte na aldeia. Lisboa, 1618. Utilizada: Círculo dos leitores
1988).
LYTLE-ORGEL, G. F. Patronage in the renaissance. An exploratory approach. Princeton,
NJ, 1981.
MARQUES, João Francisco. A crítica de Vieira ao poder político na escolha das pessoas e
concessão de mercês. Revista de História. 8. 1980. p. 215-246.
MAUSS, Marcel. Essai sur le Don. Forme et raison de l’échange dans le société archaïques.
Année sociologique. Seconde série, 1923-1924. T. 1. Consultada: MAUSS, Marcel. Sociologie et anthropologie. Col. Lévis-Strauss. Paris: PUF, 1966).
MELO, Freire; PASCOAL, José de. Institutiones iuris civilis lusitani. Ulyssopone, 1789.
MERLIN, Pierpaolo. Il tema della corte nella storiografia italiana e europea. Studi storici.
1986. p. 203-244.
MOZZARELLI, Cesare. “Famiglia” del príncipe e famiglia aristocrática. Roma: Bulzoni,
1989. v. 2.
NATIVIDADE, António. Stromata oeconomica [...] sive de regimem domus. Ulyssipone,
1653.
OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno: honra, mercê e venalidade
em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001.
OSSOLA, C. & Prosperi, A. La corte e il “Cortegiano”. I. La scena del texto. II. Um modelo
europeo. Roma: Bulzoni, 1980. v. 2.
PEDRO, Infante Dom. Tratado da uirtuosa benfeiturya. In: Almeida, 1981. p. 525-764.
PEGAS, Manuel Alvares. Commentaria ad Ordinationes Regni Portugaliae. Ulyssipone,
1669-1703.
PISSAVINO, Paolo. Il De officiis del della Casa e alcuni raffronti metodologici, Famiglia
del principe e famiglia aristrocratica, dir. C. Mozzarelli. Rome: Bulzoni, 1989.
PORTUGAL, Domingos Antunes. Tractatus donationibus regiis. Ulyssipone, 1669-1703.
110
Antônio Manuel Hespanha
REINHARDT, W. Freunde und Kreaturen. “Verflechtung” als Konzept zur Erforschung
historischer Führungsgruppen römische Oligarchie um 1600. Munich, 1989.
SCHAUB, Jean-Frédéric. Le Portugal au temps du comte-duc d'Olivares (1621-1640): Le
conflict de jurisdictions comme exercise de la politique Bibliothèque de la Casa Velázquez, v.
18. Madrid: Casa de Velázquez, 2001 (rec.: FEROS, Antonio. ‘Le Portugal au temps du
comte-duc d'Olivares (1621-1640): Le conflict de jurisdictions comme exercise de la politique
(review). In: Hispanic American Historical Review, 84:1, February 2004, p. 132-133).
SUAREZ, Francisco. Tractatus de legibus ac Deo legislatore. Conimbricae, 1612. Utilizada:
Madrid, 1697.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
111
4
QUE ESPAÇO DEIXA AO DIREITO UMA
ÉTICA DA PÓS-MODERNIDADE?
O direito da modernidade tem sido correntemente considerado como,
ao mesmo tempo, um factor e um resultado da atomização da sociedade, da
criação de uma “sociedade individualizada”, em que o equilíbrio entre os interesses do Eu e os outros interesses comunitários sofre de um constante enviesamento individualista.
A sua lógica global terá sido a da universalização, a da construção de
sistemas ou complexos de normas genéricas que, por razões que podem ir da
preocupação com a igualdade-generalidade ao simples desejo de eficácia (nomeadamente, de eficácia pública), têm continuamente prescindido da referência
à natureza não objectivável, não delimitável, infinitamente profunda e complexa,
da pessoa; dessa pessoa com a qual apenas nos podemos relacionar nos termos
de uma atitude também ilimitadamente aberta, a que chamamos “amor”. No
entanto, a partir do séc. XVIII, políticos e juristas só falam de uma espécie de
amor política e juridicamente relevante – o amor da República (amor reipublicae, cura reipublicae), ou seja, da solicitude (racional, regulado, mensurável, generalizável) pelo interesse geral e pelo bem comum. O amor como afecto singular e
ilimitado foi remetido para o plano das relações pessoais e identificado com a paixão (ou seja, o amor pessoal, logo, “irracional” [ou seja, sem medida])211.
211
Mas nem neste plano o amor pessoal, incomensurável, complexo e ambíguo – foi deixado em
sossego… Para reduzir a complexidade e opacidade da comunicação íntima, a sociedade teria –
segundo Luhmann, no âmbito da sua já descrita teoria – procurado criar sistemas simbólicos
codificados, ou seja, em que o sentido tenderia a ser unívoco: um deles teria sido “o amor”:
Niklas Luhmann: Liebe als Passion: Zur Codifizierung von Intimität, 3. ed. (Frankfurt,
1996; trad. Ingl. 1998: Love as Passion. The Codification of Intimacy); comentário interessante: em Dustin Kidd, “How do I Love Thee? No Really, How? Theory, Literary History, and
Theory in Luhmann's Love as Passion”. Disponível em: <http://xroads.virginia.edu/~MA99
/kidd/resume/luhmann.html>. “Morality is a symbolic generalization. Love is another. While
morality can be applied to any social relationship, love applies only to intimate relations. For
112
Antônio Manuel Hespanha
Àquele direito – àquela justiça – marcado pela irredutível singularidade (e, por isso, complexidade) das relações humanas substituiu-se um direito
feito de normas que “externalizam”, “objectivizam”, “funcionalizam”, “colonizam”, as pessoas, sujeitando as relações entre elas a padrões de valoração que,
ou visam o “bem geral” (i.e., o bem de um sujeito trancendental); ou que erigem
os pontos de vista e interesses de cada um, os interesses “egoístas”, no padrão
exclusivo ou dominante de conduta (como acontece, tendencialmente, em todas
as formas de utilitarismo e de individualismo liberal, que já apreciámos antes).
Existe, é certo, por parte da filosofia hermenêutica212, uma consciência
desta insuficiência de uma abordagem externa e objectivante para captar o sentido pleno das relações interpessoais (do Outro no seu diálogo com o Eu). Porém,
a maior parte dos hermeneutas resolve esta dificuldade com o recurso à hipótese
de uma unidade humana fundamental entre os dois interlocutores que permitiria
que, apelando a esse substrato humano comum do sentido, se produzissem o
pleno conhecimento e entendimento.
A questão que hoje se pode pôr é a de saber em que medida a crise da
modernidade213 facilita ou não uma aproximação mais complexa e rica ao outro.
Sendo certo que com esta crise se toma consciência da natureza irredutivelmente
singular de cada pessoa e que, também com ela, se proclama a natureza idiossincrática, pessoalíssima, da racionalidade (tanto como do gosto, dos sentimentos
etc.). Sendo, por fim, certo que, dada esta última proclamação e o relativismo
gnoseológico que daí decorre, os sistemas cognitivos e normativos sobre o humano (entre eles, o direito, mas também a moral) não poderão deixar de se tornar ainda mais superficiais e redutores. Tudo somado, esta agudização dos problemas do conhecimento humano sobre o humano pela crítica às confortáveis
212
213
the purposes of this paper, love is a symbolic generalization that reduces the full reflexive
complexity of doubly contingent ego/alter intimate relations to one of a few possible expressions, thus rendering a simplified, but not binary, schematism. [...] Like all social relations, intimate relations are improbable due to the problems of contingency and complexity. This improbability is overcome, and the complexity reduced, through the symbolic generalization. [...]
Symbolic generalizations can only successfully function if they embody codes. Every social relationship must be codified to overcome improbability. [...]”.
Cf., para uma primeira aproximação. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics>.
bem como a notável síntese de Zygmunt Bauman, The challenges of hermeneutics. In: The
Bauman reader, por Peter Beilharz, Oxford, Blackwell’s, 2001, 125-138.
Alguns autores veem, de facto, na pós-modernidade um estádio de autoconsciência da modernidade. Como escreve Zygmunt Bauman (cit. em The Bauman Reader..., cit., 20-21) “[...]
uma vez que sabemos que a contingência e a ambivalência vieram para ficar, então podemos
deixar de falar de categorias que pretendem capturar o fluxo do espaço e do tempo da vida
contemporânea [...] Qualquer tentativa de falar sobre “sociedade” e apresentar um modelo
consistente é necessariamente uma intento de seleccionar, de proclamar, arbitrariamente,
certos modos de vida social como “norma” e, no mesmo movimento, de classificar todos os
outros como anormais: ou como resíduos do passado atrasado”. Assim, as comunidades da
pós-modernidade seriam repúblicas arriscadas e voláteis, não tendo “qualquer base firme senão o compromisso dos membros de se manter nelas, de modo que as unidades vivem enquanto
a atenção dos membros está viva e esse compromisso emocional é forte”.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
113
certezas dos saberes da modernidade apenas poderá, (i) ou permitir descobrir
sistemas normativos que não reduzam a complexidade do Outro, que não se
apropriem dele para as nossas finalidades; (ii) ou (contrapartida pessimista
quanto às virtualidades de um direito plenamente humano) reconhecer que o
direito – como todos os outros sistemas que impõem, de fora, normas ao comportamento – são, inevitavelmente, dispositivos que reduzem a complexidade
das relações inter-pessoais, que encaram as pessoas de um ponto de vista meramente exterior e que, assim, prejudicam um seu conhecimento total.
Ao desejo de suprir estas irremediáveis deficiências do direito corresponderia um retorno da moral.
Como esta expressão é (perigosamente) equívoca, esclarecemos um
dos sentidos que nos parece mais pertinente.
O filósofo polaco Zigmunt Bauman (n. 1925) explica deste modo o
interesse que hoje suscitam as questões éticas, como questões em que cada um
se defronta, pessoalmente, com o seu sentido interior do dever.
Para ele, as questões éticas tornaram-se mais centrais para a pósmodernidade porque a forma moderna de lidar com as dimensões éticas das
relações humanas se estaria a esgotar. Que forma era esta, a da ética da modernidade? Ainda para o mesmo autor, ela comportava dois aspectos: “por um lado,
constituía uma tentativa de fazer com que as instituições – organizações como
os Estado ou as Igrejas – assumissem a responsabilidade moral dos indivíduos”,
ao pôr a seu cargo a emissão de uma série de normas que, se fossem seguidas,
assegurariam a cada um os comportamentos moralmente correctos. Por outro
lado; promovia aquilo a que o A. chama “adiaforização”214, ou seja, a proclamação “da maior parte das actividades permitidas por essas organizações” como
moralmente irrelevantes, do ponto de vista das pessoas nelas directamente envolvidas. De tal modo que bastasse a cada um desempenhar o seu dever [social
ou político] para se livrar de qualquer responsabilidade moral por isso215.
O que terá acontecido na pós-modernidade terá sido que estas duas
formas de (des)regulação moral (de desresponsabilização ética das pessoas, pelo
214
215
A palavra adiaforização descreve um processo de distanciação entre a nossa moralidade e os
nossos actos, retirando certos deles do controle moral. A expressão era usada pelos teólogos escolásticos para designar aquelas ideias que eram dogmaticamente indiferentes (nem ortodoxas,
nem heréticas). V. Modernity and the Holocaust e Modernity and Ambivalence (ambos de
1991). Bauman redefine “adiaphorization como “a privação das relações humanas do seu significado moral, isentando-os de avaliação moral, tornando-os “moralmente irrelevantes”
(BAUMAN, Z. Life in Fragments. Oxford: Blackwell’s, 1995. p. 133). Recentemente, o termo foi
utilizado, neste sentido de desresponsabilização moral, a propósito das torturas do campo militar de
prisioneiros de Abu Grahib, em que a obediência a regulamentos militares parecia pôr os actos dos
soldados ao abrigo de juízos morais (exactamente pelo mesmo processo de desculpabilização que
buscavam os agentes do Holocausto. (“Befehl ist Befehl !” Ordens são ordens !)
Cf. BEILHARZ. The Bauman Reader. Oxford, 2000, 21.
114
Antônio Manuel Hespanha
processo de regulação heterónoma, de adiaforização) teriam entrado em crise,
pois teria deixado de se acreditar que a moral dependeria de prescrições exteriores provindas de instituições que nos dissessem o que deveríamos fazer: “[...] a
responsabilidade que tinha sido retirada aos indivíduos está de volta – eu e
você somos agora, em larga medida, deixados sozinhos com a nossas decisões.
É por isso que eu penso que as teorias sociológicas da modernidade que viam a
sociedade como autora e guardiã da moralidade têm que ser revistas. Isto parece-me um elemento crucial em qualquer tentativa de compreender a condição
pós-moderna” (idem, p. 22)216. O que agora temos, então, é “tudo menos um solo
firme sobre o qual possamos caminhar”. Estes pontos de vista não conduzem,
no entanto, à queda no nihilismo e na desresponsabilização; bem pelo contrário,
conduz a um certo retorno de uma certa moral, de uma moral sem adiaforização, de uma moral arriscada: “Ele significa, simplesmente, que não há maneiras
fixas e rápidas de separar o bom do mau, a cultura correcta da errada etc. O
que nos leva outra vez para a questão da escolha moral e da responsabilidade,
tornando cada um, de novo, responsável (embora muita gente não goste disso)
[...]”. (idem, p. 23)
Mas poderá este retorno da moral corresponder a uma submersão do
direito?
Submersão que poderia consistir tanto no desaparecimento das normas
jurídicas, como normas de regulação da comunidade política, deixando esse
campo à sensibilidade axiológica de cada um; na redução do âmbito do juridicamente regulado, de modo a que este deixasse mais espaço à ética, para que ela
regulasse questões irredutivelmente éticas. Isto suporia, no limite, uma “sociedade
de justos” que, claramente, foi proposta para um mundo do fim dos tempos:
“mas eu digo-vos, a vós que me escutais: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, dizei bem dos que vos caluniam, orai pelos que vos
difamem” (Lucas, 6, p. 27). [...] “Se vos limitardes a amar os que vos amam, que
mérito tereis? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o
bem aos que vo-lo fazem, que mérito tereis? Pois também os pecadores fazem o
mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito tereis?
Pois também os pecadores emprestam para poder receber o correspondente.
Pois bem, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada
em troca”. (Lucas, p. 32-34)217
216
217
As comunidades pós-modernas distinguir-se-iam, porém, radicalmente das pré-modernas. “A
única semelhança entre as comunidades pré-modernas e as comunidades da pós-modernidade
é a ausência de códigos gerais de conduta; as primeiras dispensavam-nos, uma vez que, nelas,
as pessoas viviam ‘olhos nos olhos’; as segundas porque, embora sejam constituídas por indivíduos estranhos, já não acreditam em códigos desse tipo”. [idem, 22]
Sobre a compatibilização da “regra de ouro” da equivalência com este dever de retribuição em
excesso, com esta economia do dom, v. P. RICOEUR: Amor y justicia, México: Caparrós
Editores, 2000, 26 ss.; que expressamente relaciona estes princípios evangélicos com o equilíbrio reflexivo da teoria da justiça de John Rawls.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
115
Mas a submersão do direito na moral poderá ainda consistir na assunção pelo direito de valores morais ou numa subordinação do direito a um sistema de moral. Note-se que esta última forma de submersão do direito não evitaria
a adiaforização, apenas deslocando a “moldura exterior da consciência” do direito para uma moral objectiva.
Assim, a problematização do direito como ordem dirigida à regulação
do comportamento de pessoas terá que ser mais limitada, ficando-se pelo reconhecimento de que a solução jurídica nunca resolve definitivamente os problemas da legitimidade ética do comportamento pessoal. Pelo reconhecimento de
que, durante e depois da resolução do caso jurídico, cada uma das partes - mas
também o julgador – continuam a ser interpelados sobre a legitimidade do seu
comportamento, sobre a sua conformidade com os padrões morais, irredutivelmente pessoais, da responsabilidade de cada um, incodificáveis, e, por isso,
plenos de incertezas e de riscos.
Aqui estariam, justamente, os limites do direito, que o condenariam a
funcionar sempre como um elemento apenas preliminar – mas também arriscado, por criar uma aparência de legitimidade218 – em relação a vias alternativas
para uma descoberta pessoal, autónoma e responsável da conduta justa.
Que pistas existem, porém, para nos guiar nessa descoberta pessoal do
caminho justo?219 Como se passa desta regra da autenticidade e da plena respon-
218
219
Daí o carácter fantasmagórico “da força da lei”, a que se refere Jacques DERRIDA (Force de
loi. Le “fondement mystique de l’autorité”. Paris: Galilée, 1994; ed. útil. Forza di legge. Il
fondamento mistico dell’autorità, com uma introdução de Francesco Garritano. Torino: Bollati
Boringhieri, 2003). Derrida apoia-se num dito de Montaigne: “Ora, as leis mantêm a sua força,
não porque sejam justas, mas porque são leis. Este é o fundamento místico da sua autoridade.
Não têm outro” (Ensaios, III, cap. 13). Se a legitimidade da lei não decorre senão do facto da
sua forma de lei (e esta da força de quem a edita e de essa edição cumprir uma forma predeterminada), esta mesma tautologia revela o carácter mistificador da legitimidade legal, a qual procura substituir a justiça pela força (“legítima”, ou seja, fundada na lei) como fundamento da
validade do direito.
Outros autores, que também colocam a ética no centro da sua reflexão sobre a política e o
direito – tais como Alasdair McIntyre (Marxism: An Interpretation, 1953; A Short History
of Ethics, 1966; Marxism and Christianity, 1968; Against the Self-Images of the Age: Essays on Ideology and Philosophy, 1971; mas, sobretudo, After Virtue, 1981, 2. ed. 1984) encontram essas directrizes na conduta do homem pessoalmente virtuoso, ou seja, aquele que
desenvolveu (educou) um bom carácter; isto é, um homem adquiriu as suas convicções morais
no seio de uma tradição de pensamento, baseada na evolução da sua história e da sua cultura. Ou
seja, o que para Z. Bauman e E. Levinas constitu estruturas despersonalizadoras da consciência moral, constitu para MacIntyre, pelo contrário, os seus próprios fundamentos (cf., para uma primeira
aproximação, Disponíve em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Alasdair_MacIntyre>. ou
<http://en.wikipedia.org/wiki/After_Virtue>. Um outro filósofo que propõe um retorno à moral
é John Finnis (n. 1940; Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon Press, 1980,
Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, 1998; J. Finnis recolhe,
de uma forma inovadora a tradição tomista; assume o carácter evidente e absoluto (ou incomensurável) dos bens morais (vida, conhecimento, ludismo, experiência estética, sociabilidade
(ou amizade), razoabilidade e religião); apesar da evidência de todos estes bens, cada acção
humana representa uma escolha aberta, justamente por causa da pluralidade das formas de os
116
Antônio Manuel Hespanha
sabilidade pelos nossos actos para método que nos oriente no nosso comportamento em relação aos outros.
A exploração deste tópico poderia ser feita com base na obra de dois
autores contemporâneos, diferentes em muitas coisas – um é, fundamentalmente,
um filósofo; o outro classifica-se, preferentemente, como um sociólogo – Emmanuel Levinas220 e Zygmunt Bauman, respectivamente221. Ambos com posições teóricas muito consistentes embora, no final, pouco nítidas222, como é natural em autores que evitam a ideia de sistema, de possibilidade de apreensão
completa das questões, de recusa da expropriação da liberdade e responsabilidade pessoal por dispositivos desresponsabilizadores externos, sejam eles os códigos
ou os saberes; e que, por isso, se recusam a prescrever “remédios” para os problemas difíceis, preferindo deixar a sua solução à liberdade reflectida de cada um.
Partamos de E. Levinas. Ele funda a dimensão ética na ontologia (na
maneira profunda de ser) da relação do Eu com o Outro. Para ele, a consciência
de si mesmo nasce justamente dessa experiência pessoal da presença de um
Outro. Não tanto porque partilhamos com ele o mundo, mas porque a compreensão de nós mesmos depende da compreensão daquilo que não somos, daquilo
que é outrem. Daí que o Outro represente para o Eu uma interpelação fundamental, um convite instante a um conhecimento mais profundo de Si mesmo,
por meio do diálogo e da compreensão daquilo que não somos, daquilo que
marca os nossos limites (o Outro, como o diferente do Próprio)223. Dizendo-o
por palavras mais próximas de uma imagem muito utilizada por Levinas – o
Outro está aí, sempre, como um parceiro de diálogo224, ou mesmo apenas uma
220
221
222
223
224
combinar em cada acção concreta. No plano de política do direito, a lógica dos seus postulados
levam-no a atacar o aborto, as medidas antidescriminatórias em matéria de orientação sexual, a
contraconcepção, defendendo que apenas é moralmente lícita a “actividade sexual reprodutiva”
entre adultos casados. Além de parecer que estas posições não favorecem as asserções de Finnis quanto à evidência dos bens morais, os seus críticos têm acusado Finnis de partir das convicções estabelecidas (ou, mais grave ainda, das suas particulares convicções) para alegados
princípios evidentes. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/John_Finnis>.
Cf., para uma primeira aproximação, Emmanuel Levinas: Entre nous. Essais sur le penser à
l’autre, Paris, Grasset, 1991; síntese útil: Diponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/ Emmanuel_L%C3%A9vinas>.
Cf., para uma primeira aproximação. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman>.
“De uma entrevista dada em 1992 por Z. Bauman a Cantell & Penderson (revista Telos):
“Telos: como é que se passa da tolerância [exigida pelo carácter pessoal das escolhas éticas]
para a solidariedade ? Bauman: Essa é a questão mais difícil. A minha resposta é simples: não
sei [...] tudo quanto podemos fazer é especular sobre diversas possibilidades”. (P. BEILHARZ.
The Bauman Reader..., cit., 23)
Baseamo-nos, nesta breve exposição, In: The Cambridge Companion to Levinas, ed. Simon
Critchley & Robert Bernasconi. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002.
O diálogo é uma situação existencial (ou fenomenológica) que se presta bem a descrever a
atitude de atenção (de solicitude ou de cuidado para com, de estar atento ao) outro. Mas, ao
mesmo tempo, a situação de compreensão limitada, incerta e de resultado imprevisível: quem
sabe o que o outro vai dizer, vai responder, vai calar ? quem sabe como o diálogo se vai interromper (se não vai mesmo cessar)?
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
117
esperança (um temor) de diálogo, como alguém que tem coisas que nos podem
ser ditas e que, se o forem, modificam a nossa compreensão de nós mesmos,
provavelmente mais do que a nossa compreensão do Outro, a qual permanecerá
sempre aberta e inacabada.
A tragédia está em que, sendo essa presença a presença de algo que
não sou Eu, que tem uma entidade e um sentido diferente e próprio, ela coloca
de imediato as dificuldades da compreensão e do diálogo, tornando-nos logo
conscientes de que a compreensão há-de ser sempre incompleta, dela resultando
sempre um resíduo irredutível225. Ou seja, o Outro permanece como uma totalidade ou infinito, inapropriável pelo nosso pensamento, mas despertando sempre
uma vertigem de conhecer mais (para nós mesmos nos conhecermos mais). Assim, todo o saber que se pretenda completo sobre o Outro é um saber apropriador e predatório226. Assim, excluída uma relação cognitiva (ontológica) com o
Outro, o que permanece é apenas a pulsão de o compreender, o que implica uma
ética de o compreender. Paradoxalmente, o Outro mantém comigo, ao mesmo
tempo, uma dimensão de alteridade, de separação, mas também de condição
indispensável do meu próprio conhecimento. E, por isso, esta relação de responsabilidade infinita (ou seja, que nunca termina, que nunca cessa de deixar um
resíduo) para com a outra pessoa a que E. Levinas chama relação ética227.
A grande ideia de E. Levinas é a de que a relação com o Outro não pode ser
reduzida à compreensão e que esta relação é ética, estruturando a experiência daquilo que nós pensamos como sendo o sujeito [...] Quer dizer, há algo
acerca de outra pessoa, uma dimensão de separação, de interioridade, de segredo, ou daquilo a que E. Levinas chama alteridade, que escapa à minha
compreensão. Isto é, que excede os limites do meu conhecimento e que exige
reconhecimento [no sentido, ao mesmo tempo, de ‘exploração’ e de ‘conhecimento do conhecido, de mim’]228.
Tal como E. Levinas gostava de dizer, esta pulsão para dialogar com o
outro tem manifestações muito concretas e triviais, exprimindo-se em “actos
quotidianos e bastante banais de civilidade, hospitalidade, bondade e educação,
que talvez tenham recebido menos atenção dos filósofos do que aquela que lhes
era devida”229.
225
226
227
228
229
Que E. Levinas designa como “a face inacessível do Outro”,
Como é o caso de toda a filosofia ontológica, que quer dominar o Ser com as capacidades do
entendimento, como se a filosofia fosse uma aptidão “digestiva”. (a frase é de J.-P. Sartre. O
digestive philosophy…, cit., 1970)
Cf. The Cambridge Companion to Levinas..., cit., p. 6.
Idem, p. 25.
Idem, p. 27.
118
Antônio Manuel Hespanha
Não se pode dizer que o trabalho de Levinas nos forneça aquilo que habitualmente consideramos uma ética ou uma teoria da Justiça, encarada como
um conjunto de regras gerais, princípios e processos que nos permitam avaliar a aceitabilidade de máximas ou juízos específicos relativos à acção social,
aos deveres cívicos ou coisas do género.[...]. Pelo contrário, E. Levinas acredita
que a ética tem que ser baseada em alguma forma de compromisso básico existencial ou numa exigência que vai para além das normas teóricas de alguma con230
cepção de Justiça ou de algum código ético socialmente instituído .
O texto que vimos utilizando remata muito judiciosamente os parágrafos que dedica à relação entre a filosofia de E. Levinas e a ética, que nós aqui
estendemos ao direito: “Tal como outros perfeccionistas morais, E. Levinas
descreve a exigência ética em termos exorbitantes: responsabilidade infinita,
trauma, perseguição, cativeiro, obsessão. A exigência ética é exigir o impossível”, ou seja, a compreensão da totalidade e do infinito. Assim, ela não pode
realizar mais do que a função de limitar a arrogância dos sistemas de normas
positivadas, clamando a irredutibilidade da responsabilidade moral – que o direito nunca pode elidir nem substituir.
No domínio do direito, esta conclusão é, no entanto, de uma importância fundamental.
Em dois sentidos. O primeiro deles é o de destruir a autossuficiência
daqueles que pensam que o cumprimento do direito basta à justificação moral
(“tudo o que não é proibido é permitido”, como clama o liberalismo e o legalismo, aqui de mãos dadas), ignorando que, para além do direito – para além da
maneira jurídica de lidar com os outros – existem resíduos normativos fundamentais, constituídos por “boas práticas”, decência e justeza (decency e fairness), solidariedade e graça, solicitude, abertura à compreensão profunda do
mundo (dos pontos de vista, dos interesses) do Outro. Mas, num outro sentido, o
ensino de E. Levinas ensina-nos que a superação deste défice do direito não
pode ser feita acrescentando-lhe (ou submetendo-o a; ou abrindo-o a) um outro
sistema de normas codificadas, como uma qualquer moral positiva. Pois este
sistema normativo suplementar teria os mesmos vícios do primeiro e conduziria
à mesma forma de adiaforização, de desresponsabilização do sujeito e de objectivação ou colonização do outro, incorporando-o no nosso conhecimento moral,
expropriando-o da sua irredutível inacessibilidade e, com isso, fornecendo-nos
receitas acabadas para lidar com ele. A solução é a de um direito “limitado”,
convencionado em vista do convívio pacífico, autoconsciente da sua limitação
na regulação das relações entre os “eus” e os “outros”; e, por isso, promovendo
os valores da atenção e da solicitude, expressos, na linguagem tradicional do
direito, nas noções de “dever”, de “prudência”, de “contraditório”, de “igualdade
(real, material, substancial)”, de “comunidade” (ou de república); mas também,
como uma medida de prudência face à inacessibilidade dos Outros e à incerteza
230
Idem, ibidem.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
119
das suas pretensões, cultivando uma certa indolência – ou mesmo uma certa
ambiguidade – normativa, contraponto de uma consciência da própria polissemia e equivocidade originária das relações humanas231.
As posições de Zygmunt Bauman232, por sua vez, arrancam de uma
análise sociológica da condição moral da pós-modernidade. Embora sociólogo,
Z. Bauman move-se numa linha de análise que tem muitos pontos de contacto
com a antropologia moral de E. Levinas. Por um lado, o centramento da sua
análise sobre a moral, como teoria da relação com o outro; por outro lado, a sua
recusa da estratégia moderna de conhecer o outro (mediante uma sua redução
objectivante: empiricista, racionalista, ontológica) e de estabelecer normas de
relacionamento com ele (de relacionamento social: heterónomas, codificadas,
alheias à consciência moral dos sujeitos existenciais). Aproxima-os ainda a comum dificuldade (recusa) de objectivarem uma proposta de estratégia moral que
seja aceitável nos termos da cultura da modernidade: uma série de regras de
conduta, discursivamente explicáveis e justificáveis.
Num livro anterior sobre a função dos intelectuais na modernidade e
na pós-modernidade233, Z. Bauman faz uma esclarecedora contraposição entre o
modelo de sociedade de cada uma das duas épocas.
A visão tipicamente moderna do mundo – escreve ele – é a de uma totalidade
essencialmente coordenada; a presença de um padrão regular de distribuição das probabilidades permite uma espécie de explicação dos acontecimentos que – se o padrão estiver correcto – constitui simultaneamente um
instrumento de previsão e (se os recursos necessários estiverem disponíveis)
de controlo. O controlo (‘domínio sobre natureza’, ‘planeamento’ ou ‘desenho’ da sociedade) está estreitamente associado com o ordenamento da sociedade, concebido como a manipulação das probabilidades de modo a tornar
certos acontecimentos mais prováveis e outros menos prováveis [...]. (p. 3-4)
231
232
233
Num sentido semelhante, SANTOS, Boaventura Sousa: Crítica da razão indolente. Contra o
desperdício da experiência. Coimbra: Afrontamento 2000.
Especialmente no seu livro fundamental: Postmodern ethics. Oxford, Blackwell’s, 1993.
Continuado em Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Cambridge, MA: Basil
Blackwell. 1995; Alone Again – Ethics After Certainty. London: Demos, 1996. E, consecutivamente desenvolvidas, nos seus vários tópicos, em sucessivos livros, dos quais destaco: Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000; Community. Seeking Safety in an Insecure
World. Cambridge: Polity Press. 2001; The Individualized Society. Cambridge: Polity Press,
2001; Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Cambridge: Polity Press, 2003; Liquid Life.
Cambridge: Polity Press, 2005. A que acrescento outra obra singular, referida na nota seguinte.
Legislators and interpreters – On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals. Ithaca, N.Y.,
Cornell University Press, 1982; comentário e aplicação ao direito em A. M. Hespanha, “Os juristas como couteiros”, Análise Social 161 (2001), 1183-1209; sobre o conceito de pósmodernidade e sua aplicação ao direito v. A. M. HESPANHA: Cultura jurídica europeia.
Síntese de um Milénio. Lisboa: Europa-América, 2003, cap. 8.6.4.
120
Antônio Manuel Hespanha
Associada esta estratégia de controlo está um modelo de saber que
corresponde ao ideal cientista234: objectivo, unívoco235, controlável e demonstrável, geral, ignorando (e discriminando, portanto) o particular, o subjectivo, o
indemonstrável em termos discursivos.
Em contrapartida, a visão tipicamente pós-moderna do mundo é a de
uma pluralidade de sentidos, de valores ou versões da ordem, cada um dos quais
gerado de uma forma relativamente autónoma por um conjunto de práticas e corporizado num particular senso comum quanto à realidade e quanto aos valores.
Cada um dos muitos modelos de ordem só faz sentido no interior do conjunto
de práticas de que ele dá conta; e, em cada caso, a sua validação apela para
critérios desenvolvidos no seio de uma tradição particular e suportados pelos
hábitos e crenças de uma ‘comunidade de sentidos’ [...]236. Como esta regra
geral se aplica também aos critérios acima descritos como modernos, estes
são validados, em última análise, também apenas como uma das muitas possíveis ‘tradições locais’, dependendo o seu destino histórico da fortuna da
tradição no seio da qual eles residem.
Nesta versão, a visão do mundo da “modernidade” é, assim, reduzida
a uma das várias que coexistem na história do mundo, perdendo, por isso, as
características de infalibilidade e de racionalidade que a caracterizariam, segundo os próprios “modernos”.
Já se vê que a cada uma destas Weltanschaungen vai corresponder um
tipo diferente de intelectuais. Aos primeiros, ligados à tradição social moderna,
designou Z. Bauman por “legisladores” – ou seja, autores de códigos gerais e
externos de normas que exprimiam a ordem. Aos segundos, típicos da sociedade
pós-moderna, designou de “couteiros”, “guardas-caça”, significando com isto o
seu papel passivo, apenas de reconhecimento e de guarda dos sistemas de valo234
235
236
Sobre a estreita relação entre o ideal cientista e o direito moderno, v. SANTOS, Boaventura de
Sousa: Introdução a uma ciência pós-moderna, Rio de Janeiro: Graal, 1989. Porto: Afrontamento, 1998; A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. Coimbra:
Afrontamento, 2000, 58 ss. , 89 ss..
A crítica da univocidade é o tópico central da metodologia desconstrutiva de Jacques Derrida
(1930-2004) para o qual os discursos se caracterizam sempre pela sua equivocidade, pela
sobreposição de sentidos. Neste sentido, o apelo à univocidade, à lisibilidade, à simplificação,
são sempre formas míticas ou mistificadoras de reduzir artificialmente a complexidade
e abertura das coisas. V., para uma introdução geral: http://www.iep.utm.edu/d/derrida.htm; sobre aspectos da sua obra relevantes para o direito, German Law Journal. Review of developments in German, European and International Jurisprudence. Disponível em:
<http://www.germanlawjournal.com/past_issues_archive.php?show=1&volume=6>.
Acesso
em: dez. 2006. Informação bibliográfica mais geral: http://www.hydra.umn.edu/derrida/jd.html;
Bauman aproxima-se, aqui, ao localizar o sentido em sistemas ou constelações de práticas, do
antropólogo Clifford Geertz: nomeadamente em Local knowledge. Further essays in interpretative anthropology. New York: Basic books, 1983 (nomeadamente, III.8, “Civilização e
saber: facto e direito em perspectiva comparada”); boa síntese de textos curtos: Clifford
GEERTZ. Los usos de la diversidad. Barcelona: Paidós, 1996.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
121
res locais instalados; consistindo a sua função sobretudo em “traduzir afirmações feitas no seio de uma tradição própria de uma comunidade, de tal modo
que ela pudesse ser entendida pelo sistema de conhecimentos baseado na tradição de outra comunidade”. Longe de se orientarem para uma selecção da melhor ordem social, a sua estratégia é dominada pela preocupação de facilitar a
comunicação entre participantes diferenciados – quanto à sua cultura e aos seus
valores – da sociedade global, evitando as distorções de sentido. Para este fim,
eles cultivam uma hermenêutica profunda, ou seja, uma técnica de penetrar profundamente nos sistemas cujos valores tiverem que traduzir (realizando aquilo a
que Clifford Geertz chamou uma sua descrição espessa – ‘thick description’),
bem como a de manter entre duas tradições dialogantes um equilíbrio delicado
necessário para que a mensagem das duas seja entendida (pelo receptor) com um
mínimo distorções do sentido nela investido pelo emissor237.
O facto de que Bauman use um conceito jurídico – o de legislador
para descrever o tipo moderno de intelectual não constitui um mero acaso. Na
verdade, foram os legisladores modernos (a par dos cientistas modernos) que
inventaram e difundiram por todo mundo o conceito de lei geral e rígida e que
criaram um saber caracterizado por:
1. Uma forte autoconfiança e sentido de autoridade intelectual;
2. Um sentido de posse exclusiva de um saber verdadeiro e geral –
ao mesmo tempo (i) desligado da experiência e (ii) supralocal –
sobre a natureza e sobre a moral;
3. Uma agressiva antipatia pelos arranjos normativos alternativos
(nomeadamente, baseados na tradição, em sensibilidades locais ou
mesmo nos sentimentos individuais) relativos à ordem social;
4. Uma incontida vontade de afirmar e de impor uma ordem para as
coisas;
5. Uma antipatia profunda pela pluralidade, concorrência, ambiguidade ou relativismo (contextualização) dos valores238;
6. Uma técnica de decidir as controvérsias de acordo com padrões
monótonos e universais;
7. Técnicas de ultrapassar as contradições (aporias) do sistema geral
com recurso à ideia de coerência do sistema de normas (mediante
processos como a interpretação, a analogia ou o recurso à capacidade generativa dos conceitos).
Note-se, porém, que também a figura do “couteiro” tivera correspondente na cultura jurídica ocidental. Na verdade, os juristas tradicionais – i.e., o
237
238
Idem, p. 4-5.
V. sobre o anti-antirelativismo, atitude muito característica do direito moderno e dos seus
cultores, Clifford GEERTZ. Anti-antirelativism. American anthropologist, 86.2 (1994)
122
Antônio Manuel Hespanha
tipo de juristas reconhecidos como modelo até ao século XVIII – eram considerados como (iuris)prudentes, ou seja, como peritos do direito. Só que peritos de
um saber diferente, especializado;
I – no reconhecimento de ordens diferentes e incoerentes entre si
(divinarum atque humanarum rerum notantes, que recolhem
[anotam] as coisas divinas e humanas);
II – em derivar a ordem de arranjos locais preexistentes (norma est id
quod plerumque accidit, a norma é o que acontece o mais das vezes, quod natura rerum docuit, o que a natureza [variável] das
coisas ensinou);
III – em assumir a natureza local e singular (logo, limitada.) dos comandos do direito e da moral (non ex regula ius sumatur, sed ex
iure quod est regula fiat, não é da regra que surge o direito, mas
do direito que existe que se faz a regra);
IV – em reclamar um papel de mediador entre diferentes conjuntos
normativos (religião, piedade, graça, amizade, usos comunitários,
a vontade do Príncipe), por meio de conceitos-ponte (como pietas, natura, gratia, utilitas, aequitas, usus, potestas absoluta, debitum quasi legalis) que permitiam uma conversação bidireccional entre as ordens locais.
É, no entanto, no seu livro Postmodern ethics (1993) que Z. Bauman
desenvolve de forma mais consistente a sua análise acerca do abafamento da
consciência moral pelos mecanismos de objectivação (heteronomização, adiaforização), nomeadamente, pela moral estabelecida e pelo direito.
O “retorno à moral”, que marcaria sociologicamente a cultura dos nossos tempos pós-modernos, teria consistido, justamente na tomada de consciência do
desastre moral originado pela tentativa, irremediavelmente falhada, de efectivar
em códigos e regras rígidas e universais os deveres morais. Neste sentido, a pósmodernidade caracterizar-se-ia pela aquisição de um sentido crítico em relação
ao período anterior, traduzido, fundamentalmente, nas seguintes convicções (cf.
Postmodern ethics..., cit. 10 ss.):
1. A ambiguidade moral dos seres humanos, com a consequência de
que uma moral (um direito) não ambígua, universal e objectivamente fundada é uma impossibilidade existencial.
2. O carácter arriscado do juízo (do impulso) moral, que não pode
ser racionalizado, nem objectivado, nem provado, nem garantido
(ibid. 11); por isso, os fenómenos morais são inerentemente nãoracionais; não calculáveis, não repetidos, não monótonos e não
previsíveis, ou rule guided; contrariamente ao que pretendia o direito moderno, o qual tentou (sempre sem êxito) fornecer um código constituído por definições e exaustivas e não ambíguas; ou
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
123
que devia fornecer as regras claras para escolha entre acções próprias e impróprias, não deixando áreas cinzentas de ambivalência
ou de múltiplas interpretações (idem, p. 11); estratégia que excluiu
do direito (moderno) “tudo aquilo que é verdadeiramente moral
na moralidade, ao deslocar os fenómenos morais do domínio da
autonomia pessoal para o da heteronomia assistida pelo poder”.
(idem, p. 11)239
3. A moral é inevitavelmente aporética, pois a maior parte das escolhas morais nasce de impulsos contraditórios. (idem, p. 12)240
4. A moral não é universal. Chegado este ponto, Bauman tem um
enorme cuidado em se demarcar do relativismo moral a que a pósmodernidade anda, na opinião comum, muito frequentemente associada: “Argumentarei contra esta visão abertamente relativista
e finalmente nihilista da moralidade. A afirmação de que ‘a moral
não é universalizável’ tem aqui um significado diferente: opõe-se
a uma versão concreta do universalismo moral, que na época
moderna, se constituiu numa tentativa mal disfarçada de levar a
cabo uma Gleichschaltung [coordenação, estandardização], por
meio de uma virulenta campanha para esbater as diferenças e,
sobretudo, para eliminar todas as fontes “selvagens” – autónomas, e incontroladas – do juízo moral. A modernidade, reconhecendo embora a diversidade das crenças e a variedade persistente
de posições morais individuais, considerou isto como uma abominação que era preciso ultrapassar. Porém, não o fez tão abertamente – não em nome da explícita extensão das preferências éticas próprias [da Europa, dos mundos urbanos, modernos, civilizados] sobre populações que se regiam por diferentes códigos,
apertando o garrote com o qual tais populações eram mantidas
sob o seu domínio –, mas sub-repticiamente, em nome de uma ética comum a todos os homens, que excluísse e suplantasse todas
as distorções locais” (idem, p. 12). Essa estratégia universalista e
dogmática241 conduziu, porém, como hoje fica claro, não a um reforço da moralidade, mas antes, “à substituição da responsabili239
240
241
De novo, ou pelo poder da ciência moral ou pelo poder do direito: “ou (i) ao antepor o saber
que se pode aprender a partir de regras à moral que se constitui espontaneamente a partir da
responsabilidade, ou (ii) ao colocar a responsabilidade na mão do legislador e dos guardiães
do código, onde antes existia uma responsabilidade para com um Outro e para com a consciência
moral própria, esse contexto de onde se colhe o fundamento da moral”. (idem, 11)
Mas, mais importante do que isso, virtualmente todos os impulsos morais, se levados até ao
fim, conduzem a consequências imorais (sendo o exemplo mais característico o impulso moral
de solicitude para com o outro que, quando levado ao seu extremo, conduz à aniquilação da
autonomia do outro, ao seu domínio e à sua possessão-opressão (tema que Z. Bauman desenvolve magistralmente no seu livro: Liquid love, de 2003).
Que corresponde à universalização dos padrões jurídicos ocidentais, tanto no plano dos conteúdos, como no das formalidades e da organização.
124
Antônio Manuel Hespanha
dade autónoma do sujeito moral por regras éticas heterónimas e
aplicadas do exterior (o que não significa senão a castração ou
mesmo a destruição desse sujeito moral). Portanto, o seu efeito
global não é a ‘universalização da moral’, mas o silenciamento
dos impulsos morais mais autênticos e o encaminhamento das capacidades morais para objectivos socialmente heterodeterminados que podem incluir propósitos imorais (o que, de
facto, acontece)”. (idem, ibidem.)242
5. Cada um deve assumir que “a responsabilidade moral – ser para
o Outro em vez de ser apenas com o Outro – é a primeira realidade do sujeito, um ponto de partida, mais do que um produto da
sociedade”. Neste ponto, Z. Bauman segue uma antropologia filosófica muito parecida com a de E. Levinas, ao defender o carácter
constitutivo, para cada um de nós, da presença e interpelação do
Outro, em toda a sua totalidade e, ao mesmo tempo, em toda a sua
indefinibilidade (inefabilidade)243. O dever de solicitude para com
o outro é infinito, porque não entendemos completamente aquilo
que ele nos pede. A pulsão para o diálogo não tem limites, porque
a interpretação do outro nunca deixa de deixar um resíduo.
6. As sociedades modernas, ao degradar a responsabilidade moral,
praticaram um paroquialismo ético sob a máscara de promover
uma ética universal. O relativismo actual – a que Bauman, nas
obras mais recentes, chama “liquidez”, ou seja, falta de solidez e
de forma, leveza e efemeridade244– provém justamente disso e não
– como normalmente afirmam os antirrelativistas – da defesa da
inexistência de valores morais interiormente cogentes. Justamente
porque não é fácil ser uma pessoa moral, é que não é também de
admirar que surjam sucessivas ofertas para aliviar o sujeito da
carga de responsabilidade moral: as regras do mercado, as normas
do Estado, os consensos da sociedade civil. Mas, em vez de “moralizar”, de dar valores, estes expedientes rompem o compromisso
pessoal com esses valores, tornando-os em algo de pré-fabricado,
que poupa à consciência moral as dores saudáveis de os parir por
si. Ou, em alternativa, que surjam tentações de instituir formas
“leves” de relacionamento, que não comportem responsabilidades,
que se limitem ao flirt sem compromissos nem consequências245,
242
243
244
245
A referência implícita é, aqui, o Holocausto, a que Z. Bauman dedicou um livro de referência
(Modernity and The Holocaust. Ithaca: N.Y., Cornell University Press, 1989).
Sobre a imagem do Outro, ibid., p. 146 ss. e 165 ss.
“Liquid modernity”, “liquid love”, “liquid life”.
V. a notável análise da arte de amar da pós-modernidade em Liquid love On the Frailty of
Human Bonds. Cambridge: Polity Press, 2003.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
125
que dissolvam a atenção pela diferença no cosmopolitanismo ligeiro e aplanador246.
7. A unidade moral da humanidade pode ser pensada, mas, “não
como o produto final da globalização do domínio de poderes políticos com pretensões éticas universais [v.g., “o Eixo do Bem”]”,
mas [...] como um projecto de uma moral que encara de frente,
sem tentativas de fuga, a ambivalência inerente e incurável na
qual esta responsabilidade se molda [...] “ (idem, p. 15). A unidade moral da sociedade é o resultado da coexistência de todos nessa dolorosa tarefa comum de dar à luz, cada um por si, o sentido
das suas próprias acções, bem como da compreensão por todos
das condições éticas que possibilitam o êxito desse parto – a liberdade radical de cada um, o risco de escolher, a incerteza dos
resultados, e – apesar disso – a responsabilidade por eles.
Nem tudo é rosas, porém, na construção de um mundo baseado na
responsabilidade moral, entendida como solicitude para com o Outro. De facto,
mesmo este compromisso pode ter resultados diametralmente contraditórios. Por
um lado, o ego-centrismo ético, “a fúria sectária da reafirmação tribal” [da apropriação do Outro pelo Eu; da “transformação da coisa amada no amador”]. Por
outro lado, a recusa em julgar ou escolher, uma vez que todas as escolhas seriam
boas, desde que fossem uma escolha do Outro247.
Na perspectiva de Z. Bauman, as alternativas estão, porém, esgotadas.
A moral estabelecida (as convenções sociais), o direito e a política não podem
continuar a ser extensões e institucionalizações da responsabilidade moral (cf.
idem, p. 346). No fim do livro, conclui:
“Se os capítulos sucessivos deste livro sugerem alguma coisa é que as questões morais não podem ser “resolvidas”, como não pode ser garantida a vida
moral da humanidade, ou pela via do cálculo, ou do direito fundado na razão. A moralidade não está a salvo nas mãos da razão, embora seja isso precisamente o que os porta-vozes da razão prometem. A razão não pode ajudar
os sujeitos morais sem os expropriar daquilo que os torna, justamente, sujeitos morais: ou seja, essa urgência infundamentada, não racional, não argumentada, não justificada, não calculada, para se aproximar do Outro, para o
246
247
CF. COHEN, Robin; VERTOVEC, Steve: Conceiving Cosmopolitanism. Oxford: Oxford
University Press, 2002. (e aí: Peter van der Veer; “Colonial Cosmopolitanism”).
Ou seja, a tolerância moral alimenta a intolerância das tribos. A intolerância das tribos torna-se
arrogante e tira partido da tolerância moral (cf. idem, p. 238). “Tal como o aventureirismo [moral] moderno, com a insistência na ordem e na clareza, levou à opacidade e à ambivalência, a
tolerância pós-moderna alimenta a intolerância” (idem, p. 238), aquela mesma que é exemplificada com aquelas culturas que importam alegremente a tecnologia ocidental, mas põem restrições, por exemplo, à concepção ocidental de cidadania (cf. idem, p. 239). Mais um risco a
acrescentar a tantos outros – o de que a prevalência conjuntural do egoísmo prevaleça, temporária ou definitivamente, sobre a atitude moral de solicitude.
126
Antônio Manuel Hespanha
acariciar, para ser por, para viver por, aconteça que acontecer [...]. Afortunadamente para a humanidade (embora nem sempre para o sujeito moral …)
– e apesar de todos os sábios esforços em contrário – a consciência moral – esse
último apoio do impulso moral e raiz da responsabilidade moral – apenas foi
anestesiada, não amputada. Ela ainda aí está, talvez dormente, talvez atordoada, talvez frequentemente num silêncio envergonhado – mas em condições de ser
acordada [...]. A consciência moral impõe a obediência, sem a prova de que o
comando deva ser obedecido; nunca pode convencer nem coagir. Por isso, a
consciência não é portadora de nenhuma das armas reconhecidas pelo mundo
moderno como insígnias de autoridade. Pelos padrões do mundo moderno, a
consciência é, por isso, algo de fraco”. (idem, p. 246-249)
Um dos efeitos benéficos da empresa desconstrutiva do pós-modernismo
seria este facto de oferecer as condições para que a consciência moral ganhe ousadia e se revigore, escolhendo sem rede, assumindo a sua subjectividade e correndo
os respectivos riscos.
Em certo sentido, E. Levinas, mas sobretudo Bauman, prosseguem
uma empresa de desconstrução do iluminismo (da “modernidade”), quando
põem em causa a ortodoxia e o dogmatismo religiosos. Só que, agora, o seu alvo
é também o direito (pelo menos o direito “moderno”, mas talvez mesmo com o
direito em geral), enquanto forma de construir relações interpessoais inautênticas, em que o fogo interior da abertura ao Outro (do viver para o Outro) é substituído por uma regulamentação exterior que nos permite apenas viver com o
Outro248, criando uma série de regras que, objectivando o Outro, dando-lhe o
estatuto de “objecto”, nos permitem acomodá-lo adequadamente, de acordo com
a nossa visão e valoração do mundo249.
No direito, dois vícios convergem: (i) o constituir uma armadura de
regras exteriores de comportamento a disciplinar algo que deveria ser apenas do
foro interior – a relação com o Outro; (ii) o reduplicar a autoridade da lei com a
autoridade da razão, fazendo supor que a responsabilidade moral tem algo a ver
com a coerência racional. Por uma coisa e por outra, o direito – esse “mínimo
ético” (como se a ética pudesse ter “mínimos”) – anestesia a consciência mo-
248
249
Ecoam aqui as antigas críticas das visões proféticas dirigidas aos formalismos. E, no caso
concreto do direito, a oposição da “lei do Amor” à lei do Estado. Não é de estranhar que ambos
os autores sejam religiosos (judeus), um deles – E. Levinas – um judeu praticante, que escreveu
tanto textos filosóficos como textos religiosos (talmúdicos).
Levinas relaciona esta objectivação com a visão “ocular-cêntrica”, própria do Ocidente, que
produz um mundo constituído por objectos de formas bem definidas e bem separados do Eu.
Como refere um estudioso de Levinas, “num mundo povoado deste tipo de objectos, as outras
pessoas aparecem como mobiliário (meubles) que podemos rearrumar ou de que podemos
mesmo desfazer-nos [...]”. Para Levinas, o mundo visual é tão incompleto e enviesado como o
dito em relação ao dizer (ou seja, a linguagem, com o seu carácter inevitavelmente infinito e
ambíguo). Cf. Julian Edgoose, “An Ethics of Hesitant Learning: The Caring Justice of Levinas
and Derrida”. In: Philosophy of Education. A Publication of the Philosophy of Education Society, também disponível em: <http://www.ed.uiuc.edu/eps/PES-Yearbook/default.asp>.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
127
ral250, banaliza a escolha ética e trivializa o risco que ela faz correr. Paradoxalmente, é esta destruição massiva da responsabilidade moral das pessoas concretas que é levada a cabo, quer pelos projectos de recuperar o nexus entre pecado e
crime – como no caso da criminalização do aborto –, quer pelas intenções até
agora falhadas de ligação da “cidade europeia” a uma dimensão ético-religiosa –
o Cristianismo251. Se este último projecto triunfasse, a Europa – agora também no
campo da moral e da religião, decidiria doravante por nós, porventura mediante
uma qualquer directiva comunitária. Para já, porém, ficamo-nos com a obsoleta
declaração papal de anátema, proferida, com solenidade e má catadura, nos últimos dias de março de 2007.
Como a abertura ao Outro é sempre uma abertura parcialmente falhada (incompleta, que deixa resíduos improcessáveis e inapreensíveis), nem a
esperança de um diálogo transparente (à la Habermas) constitui uma consolação. Aparentemente, do ponto de vista do direito (deste direito moderno ?), nada
há a esperar.
Jacques Derrida – ao qual já nos referimos, mas que aproximamos,
agora, das posições de E. Levinas e de Z. Bauman, como desconstrutores do
direito da modernidade – revela muito bem esta aparente inanidade normativa da
empresa desconstrutiva. Na sua obra La force de la loi252, J. Derrida é de opinião que nem o direito, como aplicação universal de normas, pode deixar de despersonalizar o Outro, na medida em que lhe impõe os nossos modelos e valores
de comportamento, a nossa compreensão do sentido do direito. Porém, se procurarmos lançar mão da “justiça”, em vez do “direito”, isto envolveria estar atento
a “muitos particulares Outros”, a dirigirmo-nos ao outro na sua inacessível linguagem (ou seja, na sua inacessível pré-compreensão das coisas). Significaria,
na expressão impressiva de um comentador “uma monopolização [engrossment]
pelo outro”, o que também excluiria tanto a justiça com o “direito”, pois a primeira supõe uma abertura a todos os Outros (e não a entrega exclusiva a um
Outro) e este, a universalidade que permite a sua aplicação a “todos” (a uma
espécie de máximo divisor comum da universalidade da pluralidade dos Outros).
“Vivemos num mundo onde há sempre mais do que um Outro. Estamos rodeados de diferentes vozes e de diferentes línguas. Se nos dirigimos a cada voz
singular, o cuidar da justiça (juste) é negado. Para além de que esta pluralidade não pode colapsar numa narrativa unificada. Ela responde à singularidade
do Outro, mas de cada Outro”253. Na arquitectura da teoria de Derrida, o que
250
251
252
253
Tal como anestesia a consciência política (a consciência moral relativa a esse outro colectivo
que é a sociedade de pessoas concretas para as quais vivemos).
Lembremo-nos de uma idêntica tentativa, embora apenas a nível nacional, numa das últimas
revisões da Constituição de 1933, quando se tentou introduzir no preâmbulo constitucional uma
invocação de Deus. Mesmo então, o integrismo católico não prevaleceu.
Cf. nota 218.
Julian Edgoose, An Ethics of Hesitant Learning: The Caring Justice of Levinas and Derrida, In:
Philosophy of Education. A Publication of the Philosophy of Education Society, 97, 1997.
128
Antônio Manuel Hespanha
realiza a justiça é a própria desconstrução. Realmente, a desconstrução visa
restaurar a irredutível ambiguidade, a infinita superabundância de sentidos, a
multiplicidade caótica de valores deste mundo de Outros diferentes em que vivemos; significa “to think – in the most faithful, interior way – the structured
genealogy of [its] concepts, but at the same time to determine - from a certain
exterior that is unqualifiable or unnameable by [it] – what this history has been
able to...forbid”254. E, com isso, restaurar uma plena, mas indizível justiça.
Para os juristas, haverá alguma lição a tirar, ainda que incompleta e
incerta?
Tentei inventariar algumas lições.
A primeira lição a tirar é a da necessidade de proceder a uma radical
baixa de expectativas quanto à função humanista do direito:
a) como garante da autonomia moral dos indivíduos, pois, na verdade, o que leva a cabo é a sua expropriação;
b) como factor de responsabilização (e de educação moral) dos indivíduos, pois o que faz é apropriar-se deles e conduzi-los;
c) como modelo geral de resolução de dilemas humanos, pois – para
Um se reconciliar com o Outro – há mais mundo para além do direito: os afectos, o diálogo, a política, a moral, a religião255;
A segunda lição é a de assumir que o direito, não podendo cumprir
objectivos éticos, deve procurar antecipar a ética256, construindo-se sobre um
princípio idêntico, o da solicitude (viver para o Outro): ou que, pelo menos, o
clássico princípio da mera tolerância (viver com o Outro) com que o direito
moderno se bastava (nos termos do tal “mínimo ético”) tem que ser substituído
254
255
256
Disponível em: <http://www.ed.uiuc.edu/eps/PES-Yearbook/default.asp>. Acesso em: dez.
2006.
Autor anteriormente citado.
Como escreveu recentemente Pierre GUIBENTIF, numas notas de intervenção num colóquio
sobre Z. Bauman (“Liquid Society and Its Law” Conference, Cardiff, 16 September 2005, cuja
comunicação lhe agradeço), “o principal desafio é o de restabelecer as conexões entre o indivíduo e a sociedade: o de fazer de tal modo que as experiências individuais possam conduzir,
de novo, à formulação de causas comuns [...] mas é também necessário reinventar um espaço
público no qual possam ressurgir impulsos morais, na confrontação com situações concretas.
Daí a importância que reveste a noção de cidadanias, sobre qual Bauman permanece, no entanto, bastante impreciso, constituindo o seu apoio à ideia de Basic Income (que garantiria as
condições materiais mínimas da participação de todos nos debates públicos, ainda que a insegurança actual torne cada vez mais improvável a tomada de posições individuais) a sua proposta mais concreta a este respeito”.
Um pouco como, na teoria medieval do direito, a Cidade Terrena devia antecipar e preparar a
Cidade Divina.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
129
por um princípio mais exigente – o de uma solidariedade mais fundamental
(viver para, viver como se o Outro fosse Eu)257;
E, por isso, a terceira lição é a de que a eventual solicitude do direito
(nomeadamente, para com os mais fracos) deve constituir um princípio cardinal
do direito, princípio incorporado na ordem jurídico-constitucional portuguesa.
(arts. 1, 2, 9, 26, etc. da Constituição da República)
Mas, quarta lição, a de que a prossecução deste objectivo não pode
funcionar perversamente, menorizando ainda os já desfavorecidos (nomeadamente, ao torná-los meros objectos da acção redistributiva [caritativa, filantrópica] do Estado; ou ao degradá-los de cidadãos [participativos] a meros consumidores [passivos]); mas, antes, que esse objectivo há-de ser cumprido com eles,
com o reconhecimento da sua plena cidadania e do seu indeclinável direito de
participar, em plena igualdade, na modelação da nossa própria solicitude258.
A quinta lição relaciona-se antes com a desmontagem de técnicas alienantes de “pensar o direito” – generalização, conceptualização, separação entre o
direito e a vida (formalismo), pseudo-neutralidade etc. Aqui, trata-se de interpelar, directamente, a responsabilidade moral dos juristas, levando-os a assumirem as contradições, ambivalências, irracionalidades, conspurcações e unilateralidades, do seu discurso alegadamente racional, despertando-os para a presença
perturbante de uma totalidade (ou infinidade, E. Levinas dixit) que eles têm,
tragicamente (em vão), de compreender para que se compreendam a si próprios
– a totalidade constituída pelas pessoas reais.
A sexta lição relaciona-se com a denúncia do “cosmopolitanismo”,
como um outro nome da “indiferença”. Por muito paradoxal que isso possa parecer, este é um discurso que pode ser feito a propósito da defesa pelo direito de
valores universais, nomeadamente, dos “direitos humanos”. Confrontando-nos
aqui, uma vez mais, com a ambivalência das decisões. Se a ideia de direitos
humanos pode ser uma manifestação de solicitude, já a sua a extensão generalizada a todo o universo de culturas do mundo pode denunciar superficialidade de
compreensão e, portanto, uma indiferença “cosmopolita” pelas pessoas reais
(nesta caso, também, pelas culturas reais). Sendo, também, certo que o completo
abandono da ideia de direitos humanos pode também significar a rendição da
consciência moral a formas tribalistas de arrogância. Aqui, como diria Bauman:
“se tiver dúvidas, pergunte à sua consciência”.
257
258
Tal como, na ordem jurídica de Antigo Regime, a Justiça constituía um patamar anterior ao da
Graça. Cf. sobre isto, A. M. Hespanha: Les autres raisons de la politique. L'économie de la
grâce, In: SCHAUB, J.-F. Recherches sur l'histoire de l'État dans le monde ibérique (15e.20e. siècles). Paris: Presses de l'École Normale Supérieure, 1993. p. 67-86; também em Pierangelo Schiera (a cura di): Ragion di Stato e ragione dello Stato (secoli XV- XVII). Napoli, Istituto Italiano di Studi Filosofici, 1996, 38-67. Disponível em: <http://www.hespanha.net/>.
Ou seja: na construção dos modelos do tal direito solidário.
130
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
131
5
O ESTATUTO JURÍDICO DA MULHER NA
ÉPOCA DA EXPANSÃO
Em 1557, um advogado da corte, Rui Gonçalves, animou-se a oferecer
à rainha D. Catarina um livrinho em que coleccionava, juntamente com exemplos de “algumas virtudes em que as mulheres foram iguais e precederam os
homens” (p. 4), os privilégios e prerrogativas que o direito lhes concedia259.
Rui Gonçalves não era, de certo, um “feminista”. O intuito da sua obra
era, como o de muitos escritores cortesãos da época, concitar o favor real. Neste
caso, estando a coroa sob a tutela de uma mulher, elaborando uma recolha de
exemplos e tópicos que favoreciam – por diversas razões, incluindo a condescendência paternalista ou o favor devido aos imbecis – o género feminino. Levantar a carga de preconceitos que a tradição fizera cair sobre a natureza ou a
condição das mulheres exigiria renegar as autoridades estabelecidas e inventar
um discurso novo.
De facto, ontem como hoje, a condição da mulher, concretizada nos
usos da linguagem, em preceitos cerimoniais e de etiqueta, em normas jurídicas,
decorria de modelos de leitura (ou de construção) da natureza depositados na
tradição cultural europeia. Nesta tradição, os textos fundadores quanto às grandes questões da compreensão do mundo e do homem são os livros de autoridade
da cultura religiosa, da cultura letrada difundida, em geral, nas Escolas de Artes,
e de duas culturas especializadas, com antiga tradição universitária e fortíssimo
impacto na vida quotidiana – a dos médicos e a dos juristas. E, mesmo neste
âmbito, manifestam-se hierarquias. Se, pegando em textos de direito, explorarmos as suas genealogias, é muito provável que terminemos no Génesis ou na
Física de Aristóteles. E, se partirmos de textos de medicina, chegaremos prova-
259
Gonçalves, Rui. Dos privilegios e praerogativas que ho genero feminino tem por direito comum
& ordenações do Reyno mais que ho genero masculino. Lisboa, 1557. Outro título jurídico,
mais tardio, sobre o género feminino: Duarte de Barros: De Iure foeminarum. Quaestines iuris
civilis. 2 t. 1678.
132
Antônio Manuel Hespanha
velmente aos Aforismos de Hipócrates ou nos textos de Galeno sobre a natureza
e as doenças das mulheres.
Ressalvadas as diferenças de ênfase e alguma discussão de detalhe –
como a conhecida polémica entre platónicos e aristotélicos sobre a alma das
mulheres ou entre Aristóteles e Hipócrates sobre a existência de sémen feminino260 –, a imagem da mulher contida nesta tradição era consistente, podendo
explicar, não apenas as práticas habituais, mas também as normas de comportamento. Neste sentido, tudo o que se relaciona com mulheres – desde os provérbios e as representações literárias até às normas jurídicas e aos preceitos morais
– constitui um universo sem surpresas, pois cada detalhe é imediatamente referível
a uma ideia força, frequentemente ligada a um lugar textual bem conhecido, como
o relato bíblico da Criação ou da Queda ou os passos do Tratado da geração dos
animais de Aristóteles sobre a função dos machos e das fémeas na geração.
O direito participava deste sistema de pré-compreensões profundas
sobre a identidade e a natureza dos sexos e recebia dele as suas intuições fundamentais261. No entanto, como saber prático de um mundo social em que as mulheres eram mais do que seres passivos e menorizados, o direito – que, de resto,
partia dos dados da cultura romana sobre o género, muito mais igualitária do que
a cultura judaica –, diferenciara-se como sistema produtor de imagens sobre o
feminino. Descolara dos pontos de vista extremos sobre a incapacidade das mulheres, frequentes em vários lugares das Escrituras e da Patrística, e desenvolvera algumas valorações próprias, que permitiam a integração de situações reais,
como as da mulher dona de bens, da mulher feudatária, da mulher rainha.
Antes de tudo, o que era “mulher” ?
5.1
MULHERES
Eis uma questão que, para os juristas, tem um alcance próprio. Para eles,
não se trata, fundamentalmente, de identificar uma coisa. Claro que existiam questões facticamente complicadas, como a classificação sexual do hermafrodita, a
que os juristas também se dedicaram. Como se dedicaram a estabelecer normas
que impedissem a confusão dos géneros na ordem das coisas, proibindo, por
exemplo, que as mulheres se vestissem de homens ou que cortassem os seus
cabelos como os dos homens262.
260
261
262
ARISTÓTELES, Tratado da geração dos animais, II, 5, 20.
Sobre o estatuto da mulher no direito comum, v., por todos, Helmut Coing: Europäisches
Privatrecht. 1500 bis 1800. Band I. Älteres Gemeines Recht. München, C. H. Beck, 1985. p.
234 ss.
Decreto, I, dist. 30, c. 6 (concílio Gangrense, contra os maniqueus, c. 376) “Anátema seja a
mulher que, por isso lhe ser útil, se vista com vestes masculinas [ou cortar os cabelos à homem]”.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
133
Mas, rigorosamente, saber se, na ordem dos factos, existem seres sexualmente diferentes e quais são essas diferenças é, para os juristas, coisa pouco
menos do que irrelevante. Os juristas não trabalham com coisas, trabalham com
conceitos. O importante, para eles, é saber como é que, por cima dessas préjurídicas distinções das coisas, o direito constitui, ao classificar o mundo, os
seus objectos próprios e que força expressiva dá aos seus nomes.
Por exemplo, que força tem, juridicamente, o nome “mulher”, o feminino. Ou seja, dispondo a lei para as fémeas, abrange também os machos? E,
dispondo a lei para os machos, abrange também as fémeas? Por detrás destes
problemas de interpretação das palavras genéricas, muito usuais e importante
para quem lida com normas formuladas em termos abstractos, escondem-se
todavia questões muito mais substanciais do ponto de vista de uma ontologia do
género.
A regra mais geral que os juristas evocam263, quanto a este uso do género das palavras, é a de que na locução corrente, o masculino inclui geralmente
o feminino. O que está de acordo com um princípio de representação simbólica
de âmbito muito geral segundo o qual a cabeça evoca, naturalmente, todo o corpo. Já o feminino não compreende, senão excepcionalmente, o masculino, pela
mesma ordem de razões de que não se designa o todo pela parte mais fraca.
Já se vê que esta regra generalíssima é tudo menos inocente, do ponto
de vista da hierarquização dos géneros, remetendo - na época muito mais do que
hoje, quer para uma concepção hierarquizada do mundo, quer para uma concepção realista da linguagem, em que o poder denotativo das palavras se enraizava
nos poderes e hierarquias recíprocos das próprias coisas. As próprias excepções
são significativas. As Ordenações filipinas (I, 74, 20) falam das coimas a aplicar
às “mulheres que são useiras de bradar”264; tal como, ao tratar do crime de feitiçaria, o Decreto de Graciano (p. II, C. 26, q. 5, c. 12) evoca, naturalmente, feiticeiras. Num caso e noutro, a norma contida nos textos aplicava-se também aos
homens. Aqui o uso do feminino remetia para usos correntes da linguagem em
que este género significava – contra a regra generalíssima – o todo. Mas isto não
pode deixar de se relacionar com a presunção subjacente de que situações como
as previstas envolviam normalmente as mulheres. Zaragateiras e bruxas.
Agostinho Barbosa – um célebre canonista do séc. XVII – discute detidamente esta questão do uso do feminino e do masculino, a propósito do par
“filhos/filhas”265. Em geral, “filhos” incluiria as filhas, excepto naqueles casos
em que a razão do direito fosse diferente para os homens e para as mulheres. Os
exemplos que dá destes casos excepcionais também são característicos. Não se
263
264
265
Cf., v.g., Rui GONÇALVES: Dos privilegios..., cit., “prólogo”.
Cf. Manuel A. PEGAS: Commentaria ad Ordinationes, 1669, VII, ad Ord. fil. I, 74, 20, n. 4:
“o mesmo se passa com o estatuto que proíbe [o pastoreio de] cabras, pois sob tal proibição se
compreendem também os bodes”.
BARBOSA, Agostinho: Tractatus varii. De appelativa verborum utriusque iuris significatione. Lugduni, 1644 (ed. util.), v.”Filius”, ns. 48 ss..
134
Antônio Manuel Hespanha
aplicaria às filhas, por exemplo, a lei que manda punir os filhos pelo crime do
pai, como na lesa-majestade. Uma vez que a razão da lei é que a memória do
crime do pai se mantenha nos filhos, esta não valeria nas filhas, não só porque
nestas se perde a memória da família (ao ganhar, por casamento, uma outra família), mas também porque as filhas “por causa da fraqueza do sexo, são menos
ousadas”. Já na heresia – que era equiparada à lesa-majestade (laesae majestatis
spiritualis) –, se passaria o contrário: a punição do pai deveria passar às filhas,
porque “na heresia, o perigo é maior nas mulheres por causa da imbecilidade
do seu intelecto”. (n. 55)
A regra de que o masculino inclui o feminino é, além disso, em geral
afastada sempre que daí decorram soluções absurdas ou inconvenientes (idem,
ns. 67-68). Ou seja, sempre que, neste mundo particular construído pelos conceitos do direito, o ser mulher seja, para certos efeitos, tão radicalmente específico, que se rompa a unidade de natureza entre o varão e a fémea e se transforme
esta numa espécie à parte, à qual o regime jurídico genérico não possa ser aplicado sem absurdo ou impropriedade. Um destes casos em que a femilidade bradava por uma especialidade do direito era o da sucessão de bens que importassem dignidade. Pois era tão absurdo que estes viessem a recair numa mulher
que, se o pai no testamento falou de “filhos”, era claro que não poderia ter querido incluir as filhas na locução. Esta era a regra hermenêutica adequada a cláusulas testamentárias referidas aos castelos, aos feudos ou jurisdições, “em que as
mulheres não podem suceder” (n. 71) ou aos bens que só se transmitam a varões,
“por causa da dignidade ou da conservação da memória familiar” (n. 70).
Uma interpretação profunda destas regras de uso do género nos textos
jurídicos – decalcadas, em parte, dos usos da linguagem corrente – permite detectar já, não apenas os âmbitos do feminino no direito, mas também os contornos da imagem da mulher.
O feminino é, em geral, irrelevante (inexistente), sendo denotado pelo
masculino tanquam corpus a capite sua. Porém, quando a imagem da sua particular natureza o faz irromper no direito, o próprio direito explicita os traços da
sua pré-compreensão da mulher, traços que o próprio saber jurídico amplifica e
projecta socialmente em instituições, regras, brocardos e exemplos – fraqueza,
debilidade intelectual, olvido, indignidade.
Percorramos mais detidamente os traços desta imagem da mulher.
5.2
MENOS DIGNAS
O primeiro traço é o da sua menor dignidade, o que incapacitaria as
mulheres, nomeadamente, para as funções de mando.
Esta distinção era constante nas matérias políticas e jurisdicionais, em
que, ou por natureza ou por decência, a mulher não podia ter as mesmas prerrogativas que os homens.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
135
O texto fundador era, neste caso, um passo de Ulpianus, inserido no
Digesto (*): “As mulheres estão afastadas de todos os ofícios civis ou públicos; e,
por isso, não podem ser juízes, nem desempenhar magistraturas, nem advogar,
nem dar fianças, nem ser procuradoras”. (D. 50. 17, 2) Santo Agostinho devia
tê-lo conhecido, pois quase o reproduz, combinado com outros e ampliado, nas
suas Quaestiones super veteris Testamenti (c. 45), em apoio da imagem negativa
da mulher que perpassa todo o Antigo Testamento. Daí passa ao Decreto de
Graciano (**) 266: “Constata-se que a mulher está sujeita ao domínio do homem,
não tendo, por isso, qualquer autoridade, nem poder ensinar, nem ser testemunha, nem dar fianças, nem julgar; muito menos pode exercer o império”. O
círculo – direito civil, direito canónico – fechava-se, constituindo a mulher em
sujeito particular – na verdade, um sujeito excluído – do direito político; ou seja,
identificando a mulher para a poder exluir do universo dos detentores possíveis
de prerrogativas políticas.
A lição de alguns escritores clássicos permitia mesmo atribuir fundamentos naturais a esta interdição. Aristóteles, por exemplo, abunda no tema da
inferioridade do género feminino. No seu Tratado da geração dos animais 267, o
filósofo insiste longamente no tópico do papel gerador e activo do macho na
procriação. Para além da enunciação deste princípio geral da natureza (I, 2, 2-5;
I, 14, 15-18; I, 15, 4-8; II, 5, 6-7 etc.), Aristóteles ilustra-o com provas concretas
tiradas da fisiologia da união sexual. Tanto as fémeas eram inferiores, que nem
sequer emitiam, no coito, qualquer sémen (I, 13, 12-13; I, 14, 2-3, 15-18; II, 5,
20). Também o seu prazer era puramente derivado, coincidindo com a efusão na
madre do sémen masculino (II, 5, 16-17)268. Em suma, tal como o oleiro age,
com a sua ideia e a sua acção, sobre o barro inerte e passivo, assim o macho
trabalharia, na geração, a matéria passiva do fluxo menstrual feminino, considerado como a matéria-prima do embrião (I, 15, 8; I, 16, 1-2). Passivas, e mais
fracas: “as fémeas são naturalmente mais fracas e mais frias269 do que os machos; pode-se crer que isto é uma espécie de inferioridade de natureza do sexo
feminino” (IV, 6, 7). Platão fora, como se sabe, mais longe na indignificação da
mulher. Um e outro convinham, porém, na inabilidade natural da mulher para o
(*)
(**)
266
267
268
269
Compilação bizantina de doutrina jurídica romano-clássica, incluída no Corpus iuris civilis;
obra central em toda a tradição jurídica europeia.
Compilação de cânones e de doutrina canonística (séc. XII), incluída no Corpus iuris canonici;
outro texto central na tradição europeia do direito até ao séc. XVIII.
II, C. 34, q. V, c. 17.
Ed. util. Traité de la génération des animaux. ed. J. Barthélemy-Saint Hilaire, Paris, 1887.
Cf. HIPÓCRATES: Da geração, n. 6 (ed. util., Oeuvres médicales, Toulouse, 1801. Sobre as
concepções acerca dos aspectos físicos e fisiológicos do género feminino, Edward SHORTER:
A history of women's bodies. New York: Basic Books, 1982; Susan R. SULEIMAN: The female body in western culture. Contemporary perspectives. Cambridge: Harvard U. Press,
1986 (colecção de ensaios de interesse desigual).
Frialdade e calor, humidade e secura, são, na medicina hipocrática, sintomas, respectivamente,
de imperfeição e de perfeição. O calor é a fonte da geração e da acção; a humidade, o sinal da
degenerescência e decomposição.
136
Antônio Manuel Hespanha
exercício de funções de mando. A aplicação de tudo isto ao género humano
também não deixa de ser expressamente feita (II, 5; II, 6).
S. Tomás de Aquino, um bom leitor de Aristóteles, partilhava destes
pontos de vista sobre a condição feminina270. Na Summa theologica271, uma obra
que influenciará decisivamente toda a cultura europeia, antes e depois de Trento,
ele manifesta a opinião de que as mulheres são infelizes acidentes da natureza:
[...] Deve dizer-se que, pela natureza particular, a mulher é algo de deficiente e
ocasional. Pois a virtude activa que reside no sémen do varão, tende a produzir um efeito semelhante a si mesmo, de sexo masculino. Porém, se se gerou uma mulher, isto aconteceu por causa de debilidade da virtude activa, ou
por alguma indisposição, ou ainda por alguma mudança extrínseca, como os
ventos do sul, que são húmidos.
A tradição judaica vincava ainda mais a inferioridade da mulher. O
relato da criação da mulher (Génesis, I, 2, 18), bem como a da sua parte na tentação de Adão e sua consequente condenação por Deus (Génesis, 1, 3) têm
efeitos devastadores muito duradouros sobre a imagem da dignidade da mulher.
No universo dos textos jurídicos, a presença desta imagem é constante. O Decreto de Graciano – que recolhe muito da tradição patrística, fortemente antifeminista – está cheio de referências à menor dignidade da mulher, aos seus fundamentos e às suas consequências.
Alguns textos baseiam a menor dignidade da mulher na lei da natureza. “É da ordem natural em tudo, que as mulheres sirvam os homens e os filhos,
os pais; pois não constitui nenhuma injustiça que o menor sirva o maior”. (Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 12)272
Outros ligam-na à história da criação de um género e de outro. As palavras de S. Paulo aos coríntios sobre a submissão da mulher ao homem e da
esposa ao marido (cf. Coríntios, I, 11) estão constantemente subentendidas,
sempre que se aborda o tema das relações entre os géneros. De Santo Agostinho
cita-se, por exemplo, a doutrina de que “a imagem de Deus reside no homem, de
modo a que ele seja tido como que senhor; de onde alguns deduzem que o homem tem o império de Deus, como seu vigário [...] Mas a mulher não é feita à
imagem de Deus”. (Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 13)273
Outros fundam a menor dignidade da mulher no papel da mulher no
pecado original e na condenação com que Deus, por isso, a fulminou (Génesis,
1, 3, 16). Daí provinha a ideia bíblica de impureza da mulher, nomeadamente
270
271
272
273
Sobre a condição feminina em S. Tomás, Otto H. Pesch: Tomás de Aquino. Límite y grandeza
de una teología medieval. Tradução de esp., Barcelona: Herder, 1992, 246-271 (notável).
Summa theol. I, 92.1 ad 1.
A fonte é S. Agostinho (1 lib. quaest. Genesis, q. 153).
Fonte: S. Agostinho: Quaestiones veteris et novi test. c. 106.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
137
nos períodos caracteristicamente femininos da menstruação e do parto, nos quais
estava interdita de frequentar o templo, não podia ser acedida sexualmente e
impurificava as coisas em que tocasse. (Levítico, 3, 12; 3, 15, 19 ss.) Os cristãos
atenuaram estas interdições; mas as Decretais continuam a desculpar a mulher
que, por se sentir impura, observasse os preceitos da Lei Antiga274. De qualquer
modo, o Decreto retinha o ensinamento de Santo Ambrósio de que “foi Adão
quem foi enganado por Eva e não Eva por Adão. Foi a mulher quem o atraiu
para a culpa, pelo que é justo que seja ele a assumir a direcção, para que, por
causa da facilidade das mulheres, não volte a cair”. (Decreto, 2. p., C. 34, q. V,
c. 18)275
Na tradição cultural que arranca daqui, a mulher permanece sempre
marcada por esta mancha original. Ela deve ser continuamente lembrada e assumida. O véu era uma das marcas de vergonha que sempre devia levar276. E o
seu comportamento exterior deveria ser continuamente regulado pelas ideias de
sujeição e de expiação. S. Paulo (A Timóteo, I, 2, 9-15) sintetiza assim o seu
comportamento devido. “Aprenda a mulher em silêncio e com toda a submissão.
Não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Que se mantenha em
silêncio. De facto, Adão foi criado primeiro, e depois Eva. E Adão não foi seduzido, mas a mulher foi-o para o pecado. Apenas se salvará pela geração de
filhos, se permanecer na fé, caridade e santificação com sobriedade”.
Esta subordinação, no estado de inocência e no estado de pecado, da
mulher ao homem aviva-se ainda no caso da mulher casada, a que alguns dos
textos antes citados mais directamente se referem. Apesar de, no casamento, os
cônjuges serem um para o outro e se fazerem carne de uma só carne277, a desigualdade natural (pré-nupcial) dos dois sexos limitava esta igualdade prometida.
Daqui decorrem todas as incapacidades específicas da mulher casada, bem como
a sua subordinação ao marido. S. Jerónimo, esse campeão da androgenia, fulmina a mulher desobediente com o pecado equivalente ao daquele que se revolta
contra o próprio Cristo “como a cabeça da mulher é o marido, mas a cabeça do
marido é Cristo, toda a mulher que não se submeter a seu marido, isto é, à sua
cabeça, torna-se ré do mesmo crime do homem que não se submeta a Cristo,
274
275
276
277
Decretais, III, t. 47, de purificatione post partum, c. un.: a mulher pode entrar na Igreja durante
o puerpério e menstruação; mas se se quiser abster disso por respeito, tal facto não é considerado falta de devoção.
Fonte: Santo Ambrósio: In: hexameron in tractatu diei quartae.
Decr., 2. p., C. 33, q. V, c. 19 (< S. Ambrósio: Super primam epist. ad Corinthios, in cap. 2):
“A mulher deve velar a cabeça [...] pois o pecado foi provocado por ela e, por isso, deve trazer
este sinal. [...], devendo aparecer como sujeita ao pecado original”.
“Desta vez, sim, és osso dos meus ossos,
E carne da minha carne. Esta será chamada mulher
Porque do varão foi tomada.” (Génesis, 1, 2, 23)
O passo é citado por Mateus, 19, 5; Paulo, Coríntios, I, 6, 16; Paulo, Efésios, 5, 31.
138
Antônio Manuel Hespanha
sua cabeça [...]. Mesmo as mulheres gentias servem seu marido segundo uma
lei comum da natureza”. (Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 15)278
Esta pré-compreensão da mulher como ser degradado desentranha-se,
no decurso da tradição jurídica europeia, em consequências normativas, algumas
das quais são meras extensões dos lugares das Escrituras, comunicadas ao direito pela sua recepção no direito canónico.
Directamente do Levítico se extrai a consequência de que mulheres,
mesmo as consagradas a Deus ou as monjas, estão proibidas de tocar os vasos
ou vestes sagradas. (Decreto, I, dist. 23, c. 25)
A regra paulina sobre a sujeição das mulheres aos homens - nomeadamente, a sua proibição de que a mulher domine o homem - combina-se com o
já citado passo ulpinianeu do Digesto (D., 50, 17, 2) e gera uma tradição formidável de interdições quanto ao acesso das mulheres a tudo quanto possa ser entendido como lugar de magistério ou de mando.
No plano do direito canónico, está-lhe vedado o sacerdócio, pois este
implica jurisdição e magistério. Bem assim, todos os actos avulsos desta natureza. As abadessas ou outras superioras, por exemplo, não podem pregar, benzer
ou ouvir as monjas em confissão. (Decretais, V, 38, 10)279 Por maioria de razão,
“qualquer mulher, ainda que douta, não deve ensinar em reunião de homens”.
Mas também não pode baptizar. (Decreto, I, d. 23, c. 20)
Pelo direito civil, como já se viu, “as mulheres estão afastadas de todos os ofícios civis ou públicos; e, por isso, não podem ser juízes, nem desempenhar magistraturas, nem advogar, nem dar fianças, nem ser procuradoras”.
(D., 50, 17, 2)
O direito comum aplica este princípio, com algumas limitações, ao
mundo político medieval e moderno. Assim, veda-lhes, em princípio, o exercício
de magistraturas e de lugares que importem jurisdição, a sucessão nos feudos e
nas alcaidarias280.
Esta recusa de capacidade política às mulheres tinha, depois, consequências na sua capacidade sucessória relativamente a todos aqueles bens que
278
279
280
Fonte: S. Jerónimo: Super epist. ad Titum, in cap. 2, c. an. 386. O texto é recolhido em Decreto, 2. p., C. 33, q. V, c. 15.
“Mulier nos potest ordinari quia est incapax ordinis clericalis[...] nec potest exerceri spiritualia, neque tangere sacra vasa [...], neque potest accedere ad altare [...] neque potest praedicare, neque publice docere, quamvis sit docta, & sancta, quoniam hoc est officium sacerdotale”
(António Cardoso do Amaral: Summa seu praxis judicum, et advocatorum a sacris canonibus deducta. Ulyssipone 1610. Ed. cons. cit. Liber utilissimus..., cit., Conimbricae 1740 [adições de José Leitão Teles], v. “Mulier”, n. 2.
A opinião é comum. V., em PORTUGAL, Alvaro Valasco. Decisionum, consultationum ac
rerum judicatarum Ulysipone 1588 (ed. util., Ulysipone, 1730), dec. 120, n. 3; 157, n. 8;
PAREIRA, António da Gama. Decisionum Supremi Senatus..., cit., Ulyssipone 1578 (ulta.
ed. 1735), dec. 337, n. 2; AMARAL, António Cardoso do. Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 4.
139
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
contivessem alguma dignidade: feudos, morgados, ofícios e regalia281. “As mulheres não costumam suceder nos castelos, que costumam ficar para os filhos,
pro dignitate, & consuetudine familiae [a bem da dignidade e memória da
família]”, escreve, no séc. XVII, Agostinho Barbosa282.
Em Portugal, o princípio da incapacidade política feminina é recebido
na Lei Mental (primeira metade do séc. XV), que exclui as mulheres da sucessão
nos bens da coroa. (Ord. fil., II, 35, 4)
283
As mulheres – escreve Jorge de Cabedo no início do século XVII – são incapazes de serem donatárias de bens da coroa, estando proibidas de os possuirem. A razão é patente, pois tais bens compreendem muitos actos de jurisdição, como são julgar, nomear ouvidores para julgar, confirmar os juízes
eleitos, apresentar tabeliães e outros magistrados e, de vez em quando, nomear alguns ofícios. Compreendem também regalia, como os ofícios dos
castelos, que são os chefes dos castelos a que chamamos Alcaides mores dos
castellos, os quais também não competem às mulheres, nem estas os podem
exercer por si, pois não pertencem a mulheres actos de guerra, como também não
lhes pertencem os actos de jurisdição, l. foeminae [...] Estas proibições existem, a
não ser que o Príncipe conceda especialmente a mulheres estes cargos.
O mundo medieval e moderno europeu participava, no entanto, de outras tradições jurídicas e políticas que outorgavam papéis políticos diferentes ao
feminino. Conhecia rainhas, condessas, senhoras de terras, padroeiras de mosteiros, que exerciam prerrogativas de mando e que, enquanto senhoras, exerciam
também a jurisdição. O direito feudal lombardo – que, através dos Libri feudorum incluídos no Corpus iuris civilis, influenciava o direito feudal e senhorial de
toda a Europa – conhecia a sucessão feminina dos feudos. Se isto não foi suficiente para obliterar a tradição judaica, foi pelo menos bastante para temperar as
opiniões quanto ao fundamento da exclusão das mulheres dos cargos de dignidade. Se havia costumes e leis que as admitiam, se, além disso, a história era
abundante em exemplos de boas governantes, é porque a incapacidade política
da mulher não podia decorrer de um defeito do sexo; mas apenas de um costume
criado em certas nações, atenta a honestidade e o pudor femininos284. “A mulher
– sintetiza António Cardoso do Amaral –, segundo costume prescrito, não pode
ter jurisdições, exercê-las por si, julgar e dar sentenças. À mulher não é proibido julgar e ter jurisdição por causa da capacidade, mas por causa da honesti-
281
282
283
284
PEGAS, Manuel A. Commentaria ad Ordinationes, 1669. XI, cap. 69, n. 3 ss.; CABEDO,
Jorge de. Practicarum observationum sive decisionum Supremi Senatus regni Lusitaniae.
Olyssipone 1602-1604. v. 2. (ult ed. 1734), I, dec. 208; já nas sucessões de bens indiferentes
(como os bens alodiais ou enfitêuticos), o varão não deve preferir a mulher (GAMA, António.
Decisiones..., cit., dec. 194, n.3; Valasco, Alvoro; Decisionum..., cit., cons. 157, n. 7.
Tractatus varii. De appelativa..., cit., v. “Filius”, n. 61.
CABEDO, Jorge de. Practicarum observationum..., cit., II, 27, 1 ss..
Codex, tit. de mulieribus in quo loco munero sexui congruentia vel honores adgnoscunt.
140
Antônio Manuel Hespanha
dade [...] não porque careça de juízo, mas porque foi recebido que não exerça
ofícios civis”285.
5.3
FRÁGEIS E PASSIVAS
Mesmo que esta tradição literária, fundamentalmente judaica, da indignidade das mulheres pudesse ser cancelada, restava ainda a tradição, essa
predominantemente clássica, da sua fraqueza e fragilidade.
Os juristas são unânimes em considerar que as mulheres carecem das
capacidades suficientes para se regerem por si só. “As mulheres, em razão da
ignorância, equiparam-se às crianças”, escreve Pegas286, recolhendo uma opinião comum. “O seu engenho é móvel [...] a sua disposição vária e mutável,
como diz o poeta, presumindo-se que se deixam facilmente mover com carícias”,
escreve Pegas287. Daí que já o direito romano lhes proibira, pelo Senatusconsultum Velleianum, dar fianças, para evitar que cedessem às manobras de sedução
dos devedores288.
São naturalmente ignorantes, como os meninos e os rústicos, não sendo de presumir que conheçam o direito289. Daí que a Glosa enumere os casos em
que essa ignorância lhes vale como excusa290.
Por tudo isto, têm de estar sujeitas à tutela de alguém291. S. Tomás explica com detalhe que os fundamentos desta sujeição – que é diferente da do
escravo – são altruístas, destinando-se a proteger a própria mulher.
[...] A sujeição é dupla. Uma é a servil, pela qual o senhor usa aquele que lhe
está sujeito para sua própria utilidade; e esta sujeição foi introduzida depois
do pecado. Mas existe uma outra sujeição, a económica ou civil, pela qual o
senhor usa daquele que lhe está sujeito para utilidade deste. E esta sujeição
existiu também antes do pecado, pois teria faltado algum bem à multidão dos
homens se eles não fossem governados por alguns mais sabedores. E por tal
sujeição a mulher está sujeita ao homem, pois no homem abunda mais, por
natureza, a discrição da razão. Nem a desigualdade dos homens é excluída
pelo estado de inocência [...]. (Summa theol., Ia., 92.1 ad 2)
Antes do casamento, estão sob a patria potestas do seu pai. Depois,
estão como pupilas debaixo da curatela do marido. De qualquer modo, “por
285
286
287
288
289
290
291
AMARAL, António Cardoso do; Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 5.
PEGAS, Manuel A. Commentaria ad Ordinationes, 1669, IV, ad Ord., I, 62, gl. 43, n. 5 ss..
CABEDO, Jorge de. Practicarum observationum..., cit, I, dec. 114, n. 9.
Cf. D. 16, 1; C., 4, 29, Ord. fil., IV, 61; VALASCO, Alvaro. Decisionum..., cit., cons. 138, n. 23.
Cf. VALASCO, Alvaro. Decisionum..., cit., 138, n. 24 (embora devam consultar peritos em direito).
Gl. in l. fin Cod. de juris et facti ignorantia.
AMARAL, António Cardoso do. Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 29.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
141
causa da fragilidade do sexo e da sua pior condição [...] não se devem intrometer nas reuniões dos homens”292; não podem ser fiadoras293; não podem ser
testemunhas nos testamentos (Ord. fil., IV, 76); nos delitos são castigadas mais
brandamente.
Mas a fraqueza da mulher decorre ainda dessa impotência do feminino
para se impor ao masculino, dessa passividade e plasticidade do género que o
torna disponível e o faz receber todas as determinações alheias. Esta fraqueza
está relacionada com a maior debilidade dos genes e do sémen femininos294. De
novo, a fisiologia do coito é chamada como testemunho e fundamento: “É que ensina S. Tomás - em todo o acto de geração se requer um poder activo e outro
passivo. Donde, como em tudo quanto respeita o sexo, a virtude activa está no
macho, a virtude passiva, porém, na fémea”. (Summa theol., I, 98.2. resp. § 3)
Nas mulheres, por isso, tudo se perde: a família, o estado295, o nome, a
memória. “A mulher chefe de família é o fim da família”, conclui Alvaro Vaz296.
Esta é uma das razões que, a mais da sua menor dignidade, leva a excluir
as mulheres da sucessão em que o sucessor ou a lei tiveram em vista a conservação
dos laços familiares que então mais contavam – os laços agnatícios297. Isso acontece, frequentemente, nos bens vinculados à memória da família, como os morgados
e, em Portugal, é estabelecido, em geral, para os bens da coroa.
5.4
292
293
294
295
296
297
LASCIVAS, ASTUTAS E MÁS
AMARAL, António Cardoso do. Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 1.
V. supra.
HIPÓCRATES. Da geração (ed. cit.), n. 10 (os genes do homem são mais fortes do que os da
mulher); Da natureza das crianças (idem), n. 8 (o sémen de que provém as raparigas é mais
fraco e mais húmido do que aquele de que provém os rapazes)
“A mulher filha de nobre, ao casar com plebeu, perde a dignidade nobre”, AMARAL, António
Cardoso do. Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 27. Esta “disponibilidade” da mulher também lhe
permitia aproveitar a nobreza do marido (C., XII,1,13; PEGAS, Manuel A. Commentaria ad
Ordinationes, 1669. VII, ad I,90, gl.18, n. 1).
VALASCO, Alvaro. Allegationes..., cit., all. 29, n. 10; Manuel A. Pegas, Commentaria ad
Ordinationes, 1669, XI, ad Ord., II, 35, cap. 181, per totum “A linha masculina é a linha que
começa num varão e neles se continua sem qualquer mulher ou interposição de seus descendentes [...] A linha feminina é a que começa na mulher [...] e divide-se em duas espécies, uma
sob o ponto de vista do princípio, se começa em mulher, pois todos os que descendem dela se
dizem ser de linha feminina, embora sejam varões, pois procedem daquela primeira mulher
como estirpe [...] Outra é a linha feminina que se compõem só de mulheres sem qualquer mistura de varão. A mulher que é chefe da sua família também é o seu fim, pois, em primeiro lugar, a
linha masculina extinguiu-se no pai, não se transmite à filha, antes nela terminando, e não se continua nos seus herdeiros, que se dizem de linha feminina e se consideram de outra familia e agnação”.
BARBOSA, Agostinho. Tractatus varii. De appellativa..., cit., v. “Filius”, n. 61; CABEDO,
Jorge de. Practicarum observationum ..., cit, I, dec. 208, n. 3 ss..
142
Antônio Manuel Hespanha
A pré-compreensão do feminino de que o direito parte contém também referências à perversidade das mulheres.
Muito desta perversidade parece partir do sexo.
Como, em geral, as fémeas em relação aos machos, as mulheres são
mais lascivas do que os homens. A própria forma côncava da madre criaria um
desejo mais violento, explicável pelo princípio natural do horror ao vácuo298.
Mas, de entre todas as fêmeas, a mulher e a jumenta atingiam o extremo da lubricidade, pois tinham a particularidade de serem as únicas fémeas que se entregavam ao coito mesmo durante a gravidez299. Isto não deixa de ser recordado
pelos moralistas e pelos juristas, quando querem justificar a imoderada luxúria
das mulheres. A fraqueza da vontade fazia o resto: “A sobriedade – ensina S.
Tomás – requer-se mais nos jovens e nas mulheres: pois nos jovens abunda a
concupiscência do desejo, por causa do fervor da idade, e nas mulheres o vigor
da mente não é suficiente para resistir à concupiscência”. (Summa theol.,
IIa.IIae, 1, 49, resp. 4, § 1)
Por isso, o estado de pureza é, nas mulheres, sempre precário e instável, sujeito a mil atentados e desejos. S. Cipriano, um outro látego do género
feminino, avisa da evanescência da virgindade: “pode-se desflorar com a vista;
mesmo a mulher incorrupta pode não ser virgem. Pois o dormir com homem, a
conversa, os beijos, contém muito de criminoso e impúdico”. (Decreto, II, C. 27,
qu. I, c. 4; fonte, S. Cipriano: ad Pomponium)
O luxúria chamava a curiosidade – que já perdera a mulher do Éden –
e a astúcia.
Embora estas disposições do espírito nem semprem fossem defeitos e
explicassem até uma especial aptidão da mulher para o conselho nos casos árduos, eram também responsáveis pela tendência feminina para a imodéstia e
para o cultivo dos saberes ocultos e proibidos.
À imodéstia nos enfeites e nos trajos se refere S. Agostinho: “Pintarse com pigmentos, de modo a parecer ou mais rosada ou mais branca, é uma
falácia adulterina. Pois sem dúvida os maridos próprios não se deixam enganar
por ela. E apenas a eles pertence decidir se as suas mulheres se enfeitem, segundo a permissão (venia) deles e não segundo o poder (imperium) delas. É
que os verdadeiros ornamentos são [...] os bons costumes”300. Quanto à feitiçaria, um cânone conciliar do séc. IX, incorporado no Decreto de Graciano, manda reprimir duramente as mulheres que se dediquem a sondar o sobrenatural por
meio de práticas demoníacas. “Também não é de omitir – diz-se – que algumas
mulheres celeradas, reconvertidas a Satanás e seduzidas pelas ilusões e fantasmas dos demónios, creem e confessam que cavalgavam de noite aquelas bestas,
com Diana, deusa pagã, ou com Herodíades, e uma enorme multidão de mulhe-
298
299
300
ARISTÓTELES. Da geração dos animais (ed. cit.), II, 5, 5 ss..
Idem, IV, 5, 4-5; História dos animais, VI, 22, 2 ss...
Epis. 73 ad Possidiam, c. 415; passo recolhido em Decreto: De consecr., dist. V, c. 38.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
143
res, viajando no silêncio da noite por muitas terras distantes, obedecendo ao
seu império e dedicando certas noites ao seu serviço [...] E o próprio Satanás se
transfigura em anjo da luz para se apossar da mente dessas mulherzinhas [...]”
(Decreto, p. II, C. 26, q. 5, c. 12). E esta prevenção especial acompanha a prática
inquisitorial, que mantém uma particular atenção aos sortilégios e feitiços das
mulheres301.
O remédio contra estes defeitos das mulheres302 era uma constante vigilância sobre os seus costumes e um seu rigoroso confinamento ao mundo doméstico. Era isto que se predicava sob a regra do pudor e honestidade das mulheres.
A honestidade é, de facto, “a virtude moral oposta à lascívia”303. De
alguma maneira, é a virtude que consiste em usar do sexo segundo a recta razão
da natureza304. Os direitos e deveres que dela decorrem são, assim, de direito
natural, impondo-se às obrigações civis ou políticas, e mesmo às ordens expressas do príncipe305.
O primeiro preceito da honestidade feminina é que a mulher não se
misture com os homens306. “A mulher – escreve António Cardoso do Amaral307–
não deve advogar nem procurar em juízo a favor de causas alheias. É incompatível com o pudor do sexo que se meta em negócios alheios ou importune desavergonhadamente os magistrados”.
Daí que ela não possa ser juiz ou ocupar cargos que a obriguem a privar com homens - a não ser que, pela sua dignidade ou idade, o pudor não corra
riscos nessa privança308; não possa ser obrigada a ir ao tribunal, como juiz309 ou
procurador (Ord. fil., III, 47; V, 124, 16), nem a ser testemunha310; não possa ser
metida em cárceres públicos, mesmo que de mulheres311; não deva meter-se em
questões alheias, nem sequer para acusar crimes públicos312.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
Cf. as comunicações de Arlinda Leal, Anita Novinsky e José Gentil da Silva ao colóquio Inquisição. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Estudos do séc. XVIII, 1989. v. 2.
Outros eram a avareza (testemunhada por Cícero) e a rixosidade (“vale mais estar sentado na
asna do telhado do que com uma mulher litigiosa que compartilhe a mesma casa”, Provérbios,
21, 9).
GIL, Bento. [Benedictus Aegidius]: Tractatus de iure, & privilegiis honestatis, Ulyssipone,
1618, art. proem., n. 2.
Daí que honestidade não se confunda com virgindade, pois realmente não impede o coito em
geral, mas apenas o “desonesto”. (GIL, Bento. Tratado..., cit., art. proem., n.2)
GIL, Bento. Tratado..., cit., art. 2., ns. 2 ss..
Sextum, II, 2 (não convém que se passeiem ou participem em reuniões de homens e, por isso,
não devem vir a juízo).
AMARAL, António Cardoso do. Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 7.
GIL, Bento. Tratado..., cit., art 2, n. 6.
GIL, Bento. Tratado..., cit., art 2, n. 1 (Ord. fil.; Nueva recop., III, 9, 7: “porque no seria cosa
guisada, que estuviese entre la muchedumbre de los hombres, librando los pleytos”).
Digesto, 12, 2, 15. Ord. fil., I, 78, 3. AMARAL, António Cardoso do. Summa..., cit., v. “Mulier”, n. 52. Esta isenção é atenuada no caso de mulheres desonestas ou plebeias. (GIL, Bento.
Tratado..., cit., art 2, n. 15)
Porque sempre existe o carcereiro (GIL, Bento. Tratado..., cit., art 3, n. 2); se tiver que ser encarcerada, deve sê-lo em mosteiro de mulheres. Para Portugal, v. Ord. fil., II, 31, 4; IV, 76, ult.
144
Antônio Manuel Hespanha
Embora muitas destas restrições sejam apresentadas pelos autores
como honras devidas ao estado de mulher, se nos perguntamos pelos seus fundamentos, encontramos sempre a virtude da honestidade. E, buscando a arqueologia
desta virtude quando predicada do género feminino, chegaremos rapidamente ao
seu oposto, a natural lascívia das mulheres. Nelas, a honestidade é uma virtude
contra a natureza, um freio da recta razão que compense a violência das pulsões
do desejo e a debilidade da vontade natural para a elas resistir.
5.5
PORTUGAL
Esta imagem da mulher, latente nos textos do direito comum europeu,
projectava-se sobre os direitos dos vários reinos. Neles ganhava, eventualmente,
refracções próprias, que decorriam de tradições culturais particulares. Era o que
se passava com o direito português que, como se pôde ver das indicações de
fontes que foram sendo dadas, recebera a generalidade das regras de direito
comum.
Onde se verifica alguma especialidade era no regime de comunhão geral de bens, considerado como costume geral do reino (Ord. fil., IV, 46/47) –
embora sujeito a progressiva usura pelo regime de dote e arras, de direito comum313 – e que limitava mais os poderes de disposição patrimonial da mulher.
“O marido e a mulher – escreve Jorge de Cabedo no início do séc. XVII314 –
possuem os dois os bens e são como que sócios na casa divina e humana (cf.,
Ord. man., IV, 17)”. Sendo o marido a cabeça de casal, a mulher não podia dispor de quaisquer bens, contratar ou estar em juízo sem a sua autorização, mesmo
que este estivesse longe. Alguma doutrina era reticente quanto à capacidade de
disposição da mulher casada, mesmo em relação às pequenas esmolas que o
direito comum permitia que a mulher dese sem autorização do marido315.
Que influência pode ter tido a expansão ultramarina sobre este estatuto
é tema que não tem ocupado os historiadores portugueses.
Sabe-se que, em geral, a situação estatutária da mulher tendeu a desvalorizar-se a partir do séc. XVI. Em Portugal, todos os traços negativos da
condição feminina se encontram abundantemente documentados nos juristas e
nos moralistas seiscentistas e setecentistas. Numa aproximação impressionista,
poderia supor-se que, quanto às mulheres casadas, a ausência dos maridos teria
312
313
314
315
Digesto, 3, 1, 1, 2; 48, 2; Decreto, C. 5, 3, 1-3, Bento Gil: Tratado..., cit., art. 2, n. 12.
V. a minha nota em GILISSEN, John. Introdução histórica..., cit., 592 s.. É provável que a
generalidade de cada um dos regimes dependesse dos estratos sociais; aparentemente, o regime
de dote e arras era mais comuns nos grupos nobres. As camadas populares, com poucos bens de
família (“troncais”, “de avoengo”), pouco ciosas dos valores linhagísticos e recorrendo menos
ao direito letrado e escrito, usavam o costume da comunhão, inicialmente mais comum no Sul,
mas depois (a partir de Ord. man., IV, 7) recebido como costume geral do reino.
CABEDO, Jorge de. Practicarum observationum..., cit, I, dec. 106, n. 1.
Idem, I, dec. 106, n. 5.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
145
conduzido necessariamente a uma sua maior autonomia, nomeadamente contratual e de disposição de bens. E, de facto, nos livros de notas dos sécs. XVI e
XVII, encontram-se mulheres dispondo de bens. Se são próprios ou do casal e,
neste último caso, por força de que é que o fazem (como procuradoras? autorizadas pelo juiz?) é questão que não pode ser respondida sistematicamente.
Também não o pode ser a questão de saber que repercussões poderá
ter tido na imagem reinol da mulher o contacto com as culturas africanas e orientais e com os seus modelos do feminino. Ou seja, de que modo os estatutos
exóticos das mulheres poderão ter influenciado, como modelo ou como aberração, o estatuto da mulher europeia. Embora fontes não faltem, desde os relatos
de viagens às cartas dos missionários, nada se tem estudado, nesta perspectiva.
De um modo geral, os ventos da Índia ou da China não eram de molde a beneficiar o género feminino. Em todo o caso, deparamo-nos, em algumas das regiões
tocadas pelos portugueses, com regimes matriarcais ou, pelo menos, matrilineares (como o dos macondes) que influenciaram instituições de direito colonial
português. É o caso dos “prazos da coroa”, em Moçambique, espécie de bens
enfitêuticos com alguma jurisdição, transmitidos por via feminina, que se mantiveram até ao séc. XIX316, cobrindo uma época em que, na Europa, o princípio da
masculinidade permanecia bem firme ou, até, se reforçava.
316
ISAACMAN, Allen. The “prazos da coroa”, 1752-1830. A functional analysis of the political
system. Studia, 26(Abril 1968) 194-277.
146
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
147
6
“CARNE DE UMA SÓ CARNE” – PARA UMA
COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS
HISTÓRICO ANTROPOLÓGICOS DA
FAMÍLIA NA ÉPOCA MODERNA317
A imagem da família e do mundo doméstico – como grupo humano e
como universo da afectividade – está presente por todo o lado no discurso social
e político da sociedade de Antigo Regime. É invocada a propósito das relações
entre o Criador e as criaturas, entre Cristo e a Igreja, entre a Igreja e os fiéis,
entre o rei e os súbditos, entre os amigos, entre o patrão e os seus criados, entre
os que usam o mesmo nome e, evidentemente, entre os que partilham o mesmo
círculo doméstico.
O carácter modelar desta imagem provinha, desde logo, do facto de
ela constituir uma experiência comum a todos. Todos tinham uma família. E,
para além disso, todos a tinham como um facto natural, i.e., fundada em relações
e sentimentos que pertenciam à própria natureza das coisas. Relações e sentimentos que, por isso mesmo, eram iguais em todas as famílias, porque eram
independentes da vontade dos seus membros.
Uma reconstituição do universo mental e institucional da família de
Antigo Regime tem, portanto, que começar por aqui, pela sua naturalidade.
6.1
UMA COMUNIDADE NATURAL
Nem o advento de uma concepção individualista da sociedade veio
destruir a ideia de que a família constituía uma sociedade naturalmente auto-
317
Análise social, 123/124.I (1993), p. 951-974. de homenagem ao Prof. Doutor Adérito Sedas
Nunes.
148
Antônio Manuel Hespanha
organizada. Um assento da Casa da Suplicação da segunda metade do séc. XVIII
é típico desta insularidade da família, concebida ainda como um todo orgânico, no
seio de uma sociedade já imaginada como um agregado de indivíduos mutuamente
estranhos e desvinculados: “He regra, e preceito geral de todos os Direitos, Natural, Divino, e Humano, que cada hum se deve alimentar, e sustentar a si mesmo;
da qual Regra, e Preceito geral só são exceptuados os filhos, e toda a ordem dos
descendentes; e em segundo lugar os pais, e toda a serie dos ascendentes”318.
A mesma ideia aparece numa interessante e pouco referida obra de
António da Natividade (NATIVIDADE, 1653) onde, embora - como se dirá - se
opine que, no interior da família, não há lugar a falar de deveres jurídicos recíprocos, se reconhece, porém, que “o direito económico, patriarcal ou da casa,
que se exerce com o fundamento na piedade, é mais exigente e devido, do que o
político, pois existe em virtude da unidade que existe entre o ecónomo e os
membros da casa”. (op. IV, cap. 3, n. 8, pg. 111)
Esta concepção organicista da família radicava em representações
muito antigas, mas sempre presentes, sobre o especial laço com que a natureza
ligara os seus elementos por normas inderrogáveis.
6.2
CARNE DE UMA SÓ CARNE
A família tinha o seu princípio num acto cujo carácter voluntário a
Igreja não deixava de realçar, sobretudo na sequência do Concílio de Trento
(1545-1563), onde se estabelecera, enfaticamente, que “a causa eficiente do
matrimónio é o consentimento” (Conc. Trident., ss. 24, cap. 1, n. 7). Um consentimento verdadeiro e não fictício, livre de coação e de erro e manifestado por
sinais externos, requisitos com os quais se pretendia pôr freio, tanto às pretensões das famílias de substituirem aos filhos na escolha dos seus companheiros,
como às tentativas dos filhos de escapar a estes constrangimentos casando secretamente.
Mas, dado o consentimento, pouco restava, no plano das consequências do casamento, que não decorresse forçosamente da própria natureza da instituição que ele fizera surgir – o estado de casado, a família. A teologia cristã
explicava este paradoxo de um acto de vontade dar lugar a consequências de que
a vontade não podia dispor concebendo a vontade de casar apenas como uma
matéria informe a que a graça divina vinha dar uma forma (i.e., consequências)
determinada319.
A primeira destas consequências era a obrigação, para os dois cônjuges, de se entregarem um ao outro, gerando uma unidade em que ambos se con-
318
319
Cit. por LOBÃO, 1828.
A definição do casamento como um sacramento (causativum gratiae unitivae, causador da
graça da união) foi feita no concílio de Florença, de 1438.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
149
vertiam em carne de uma só carne (“Erunt duo in una caro” [serão os dois uma
só carne], Genesis, 2). Esta união mística dos amantes já ocorria pelo facto
mesmo do amor que, de acordo com a análise psicológica dos sentimentos empreendida pela escolástica, fazia com que a coisa amada se incorporasse no próprio amante320, ideia a que Camões se referia no conhecido soneto “Transforma
-se o amador na coisa amada...”. A união conjungal não era, de resto, senão
uma repristinação de uma unidade originária, pois (e esta distinção não deixará
de marcar o imaginário das relações entre os sexos), a mulher saíra do corpo do
homem, reintegrando-se com o matrimónio, no plano espiritual, essa comunidade corpórea.
Mas, com o casamento, esta unificação dos amantes ganhava contornos físicos, pois os cônjuges ficavam – passados dois meses de reflexão, o bimester, em que nenhum deles podia ser forçado à consumação carnal do casamento321 – a dever um ao outro a entrega corporal (traditio corporis), tornandose tal entrega moral e até juridicamente exigível (debitum conjugale)322.
Justamente porque se enraizava na natureza, o matrimónio devia ter
um uso honesto; ou seja, devia consistir em práticas (nomeadamente sexuais)
cuja forma, ocasião, lugar, frequência, não dependiam do arbítrio ou do desejo
dos cônjuges, mas de imperativos naturais. Assim, a mútua dívida sexual dos
esposos tinha uma medida; medida que se fundava num critério que, também
ele, não dependia da vontade dos cônjuges, mas das finalidades naturais e sobrenaturais do casamento. Segundo a teologia moral da época, as finalidades do
casamento eram: (i) a procriação e educação da prole; (ii) a mútua fidelidade e
sociedade nas coisas domésticas; (iii) a comunhão espiritual dos cônjuges e (iv)
– objectivo consequente à queda do género humano, pelo pecado original – o
remédio contra a concupiscência.
São justamente estas finalidades e a sua hierarquia que explicam o
conteúdo dos deveres mútuos dos cônjuges, nomeadamente no plano da disciplina da sexualidade matrimonial.
320
321
322
“Ex hoc quod aliquis rem aliquam amat, provenit quaedam impressio, ut ita loquatur, rei
amatae in affectu amantis, sicut intellectum in intelligente” (do facto de alguém amar alguma
coisa provém uma espécie de impressão – por assim dizer – da coisa amada no afceto do
amante, semelhante à da coisa apreendida intelectualmente naquele que a apreende”. Sum. th.,
I, q. 37, p. 267.2)
O bimester tinha como finalidade permitir a qualquer dos cônjuges uma última reflexão sobre o
ingresso no estado religioso. Mas, subsidiariamente, destinava-se a aumentar, pela espera, o desejo de consumação. (San José, 1791, tr. 34, II, n. 110)
As limitações ao dever de entrega eram poucas: doença sexual transmissível, demência, embriaguez, pendência de divórcio, incapacidade da mulher para dar à luz filhos vivos (mas não já perigo de parto difícil). Algumas destas causas de inexigibilidade do débito cessavam sempre que
a recusa causasse perigo de desavença ou de incontinência (e, logo, pecado) do outro cônjuge
(SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, II, n. 135 ss.). Fora destes casos, a exigência de relações sexuais tinha que se conformar, como se verá, àquilo que era considerado como um “uso honesto” do casamento (SAN JOSÉ, 1791, idem; LARRAGA, 1788, tr. 9, 8).
150
Antônio Manuel Hespanha
De facto, o facto de a reprodução aparecer como a finalidade principal
do casamento implicava que a sexualidade apenas fosse tida como natural desde
que visasse este fim.
Seriam, desde logo, contra naturam todas as práticas sexuais que visassem apenas o prazer323, bem como todas as que se afastassem do coito natural
e honesto – vir cum foemina, recta positio, recto vaso (homem com mulher, na
posição certa324, no “vaso” certo). Daí a enorme extensão dada ao pecado (e ao
crime) de sodomia, que incluía não apenas as práticas homossexuais, mas ainda
todas aquelas em que, nas relações sexuais, se impedisse de qualquer forma a
fecundação.
Mas, mesmo que “natural”, a sexualidade matrimonial não devia estar
entregue ao arbítrio da paixão ou do desejao, antes se devendo manter nos estritos limites do honesto. Assim, a sexualidade – e, particularmente, a sexualidade
da mulher – era drásticamente regulada por aquilo a que os teólogos e moralistas
chamavam o “uso honesto do casamento”. O coito não devia ser praticado sem
necessidade ou para pura satisfação da concupiscência, antes se devendo observar a moderação (SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, ns. 158/160). Em rigor, devia terminar com o orgasmo do homem, pois, verificado este, estavam criadas as condições para a fecundação. Tudo o que se passasse daí em diante, visava apenas o
prazer, sendo condenável325. Os esposos deviam evitar, como pecaminosas326,
quaisquer carícias físicas que não estivessem ordenadas à prática de um coito
honesto. Pecado grave era também o deleite com a recordação ou imaginação de
relações sexuais com o cônjuge (SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, 163). Para além disso,
o coito podia ser desonesto quanto ao tempo327 e quanto ao lugar328.
323
324
325
326
327
“Copula [vel osculi, amplexus, tactus vel delectatio memoriae] ex sola delectatione [...] habet
finem indebitum” (a cópula, beijos, abraços, afagos ou o deleite pelas recordações que visem
apenas o prazer têm um fim indevido), San José, 1791, tr. 34, n. 149 e 156 ss..
Sobre a gestualidade sexual, v. San José, 1791, tr. 34, ns. 158 ss.: condenação de todas as
posições sexuais diferentes daquela que veio a ser conhecida como a “posição do missionário”
(amantes deitados, voltados um para o outro, com o homem por cima). Tal opção não era arbitrária, mas antes justificada com argumentos ligados à natureza e finalidade do coito humano: na
verdade, esta posição seria a que melhor garantiria a fecundação, denotava a superioridade do homem e, pondo os amantes de frente um para o outro, realçava a dimensão espiritual do acto.
Isto penalizava, naturalmente, a sexualidade da mulher, cuja satisfação podia não coincidir com
o momento da inseminação. Neste ponto, os moralistas, condescendiam um pouco com com o
erotismo, permitindo à mulher que não tivesse tido o orgasmo durante o coito excitar-se até o
atingir ou consentindo ao marido prolongar o coito depois do seu orgasmo até ao orgasmo da
mulher (SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, n. 161; LAGARRA, 1788, tr. 9, I, 269 ss.). Não se tratava,
em todo o caso, de uma obrigação para ele, pois a mulher apenas tinha direito a um coito consumado [do ponto de vista da sua eficácia generativa], mas não a um coito satisfatório; por outras palavras, tinha direito a engravidar, mas não a gozar.
Constituíam pecado venial (ou mortal, no caso de fazerem correr o risco de ejaculação) (SAN
JOSÉ, 1791, tr. 34, n. 158).
Durante a menstruação, a gravidez e o puerpério (SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, ns. 150-153), durante a Quaresma e dias santos de guarda (idem, 150).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
151
É certo que, não sendo a procriação a única finalidade do casamento,
estes princípios acabavam por sofrer algumas restrições. Admitia-se, por exemplo, que os cônjuges pudessem fazer entre ambos voto de castidade, sacrificando
as finalidades terrenas da sua vida em comum (procriação e adjutório mútuo) a
um objectivo de natureza puramente espiritual – a união das suas almas até à
morte. Ou que se excedessem os limites honestos do débito conjugal, para evitar
que, levado pelos impulsos da sensualidade, um dos cônjuges fosse levado a
pecar, satisfazendo-os fora do matrimónio.
6.3
UMA COMUNIDADE FUNDADA NO AMOR
Esta união entre os cônjuges gerava, porém, vínculos suplementares,
tecendo entre todos os elementos da família uma rede afectiva a que os moralistas chamavam piedade familiar, mas que os juristas não deixavam de classificar
como direito, um direito de tal modo enraizado na natureza que até das feras era
conhecido (“vemos que também os outros animais, e até as feras, parecem ter
conhecimento deste direito”, escreve o jurista romano Ulpiano, num texto muito
conhecido do início do Digesto. (D.,I,1,13)
O amor fora longamente tratado pela teologia moral clássica. S. Tomás, na Summa theologica, aborda o tema em diversos contextos. Mas aqui
interessa-nos mais em concreto o amor ou piedade familiar, que se desdobrava
em vários sentimentos recíprocos.
O amor dos pais pelos filhos, superior a todos os outros, funda-se no
sentimento de que os pais se continuam nos filhos329. Estes são, assim, uma
extensão da pessoa de quem lhes dá o ser, ou seja, são a mesma pessoa, daí se
explicando que os juristas façam, por um lado, repercutir directamente na pessoa
do pai os actos (v.g., aquisições, dívidas, injúrias) dos filhos; que, por outro, não
admitam, em princípio, negócios entre pais e filhos; e que, finalmente, considerem, para certos efeitos sucessórios, os filhos do pai pré-falecido como sendo o
próprio pai.
Dado que a mesma identidade se verificava entre o marido e a mulher,
a família constitui um universo totalitário, em que existe apenas um sujeito,
apenas um interesse, apenas um direito, não havendo, no seu seio, lugar para a
discussão sobre o meu e o teu (a “justiça”), mas apenas para considerações de
oportunidade, deixadas ao arbítrio do bonus pater familias (a “oeconomia”)330.
328
329
330
Em lugar público ou sagrado (salva necessitate...); o mesmo valia para as carícias (SAN JOSÉ,
1791, tr. 34, n. 156).
“Amor parentum descendet in filios, in quibus parentibus vivunt, & conservantur [...] Filii sunt
eadem persona cum patre” (o amor dos pais prolonga-se nos filhos, nos quais os pais vivem e
se conservam [...] Os filhos são a mesma pessoa do pai), escreve Baptista Fragoso (citando
Bártolo, séc. XIV). 1641, III, l.1, d.1, 1,n.2/3.
Cf. Natividade 1653, op. IV, c. 3, n. 2/3, p. 110. Existem algumas limitações a este princípio,
consubstanciadas em direitos dos filhos (v.g., “alimentos”, dotes, bens integrados em pecúlios
152
Antônio Manuel Hespanha
6.4
AS HIERARQUIAS DO AMOR
Amor que gera identidade. Mas nem os amores deixavam de ter, no
seio da família, as suas hierarquias, nem a identidade obliterava gradações nos
direitos e deveres dos membros da família.
Quanto ao amor, discutia-se se o amor conjugal era mais forte do que
o amor pelos filhos331. Que o pai amava mais os filhos do que a mulher parecia
provável, pois o amor conjugal, se não era apenas um arrebatamento sensual
(uma affectio sensitiva, menos duradoura e profunda, segundo S. Tomás, do que
a afeição charitativa pelos filhos gerados), explicava-se de forma indirecta, pelo
facto de a esposa ser a mãe dos filhos, o “princípio da geração”. Mas, curiosamente, daqui partiam as correntes da teologia moral (v.g. Tomás de Vio Caietanus) que, na época moderna, revalorizaram o amor conjugal na hierarquia dos
sentimentos intra-familiares, salientando (muito à maneira escolástica) que,
sendo a causa mais importante do que a consequência, o amor pela esposa não
podia deixar de suplantar o amor pelos filhos332. E o amor da mãe pelos filhos?
Seria mais forte do que o do pai? Se o amor andasse ligado ao penar, decerto
que sim, pois a mãe penava antes do parto o peso do ventre; durante, as dores; e
após, os trabalhos da criação (“ante partum onerosus, dolorosus in partu, post
partum laboriosus”. (FRAGOSO, 1641, p.III, l.1. d.1. 2, n. 15) Mas, se o amor
da mãe é mais intenso, o do pai é mais forte e mais constante. Mais forte, pois o
pai é o princípio da geração, infundindo a forma numa matéria aliás inerte e
informe333. Mais constante pois, se o amor da mãe é muito intenso na intimidade
da infância, é o do pai que, ao longo de toda a vida, proporciona os exemplos de
conduta (“o filho sai à mãe no que respeita ao estado e condição [físicos]; mas
segue o pai quanto às qualidades honoríficas e mais excelentes”. (FRAGOSO,
1641, p. III, l. 1, d. 1, 2, n. 18)
Este imaginário dos sentimentos familiares constitui o eixo da economia moral da família de Antigo Regime e do seu estatuto institucional. As suas
grandes linhas – naturalidade, preferência dos laços generativos (agnatícios, de
331
332
333
próprios), da mulher (v.g., “alimentos” ou reparação de “injúrias”), dos criados (v.g. “soldadas”) e, até, dos escravos (v.g., a vindicação da “liberdade” ou reparação de “injúrias”), oponíveis judicialmente ao pater.
A questão da ordo amoris, em geral, era discutida na qu. 26 da IIa.IIae da Summa theologica: é
maior o que se tem pelos mais próximos do que o que se tem pelos melhores (princípio que não
deixa de ser subversivo em relação a um princípio constituinte da sociedade política), art. 7; o
pai prefere a mãe, na ordem do amor, art. 10; os filhos preferem os pais, art. 9; a mulher prefere
os pais, art. 11; o beneficiado, o beneficiante, art. 12).
Cf. S. Thomas, Sum. theol., IIa.IIae, qu. 26; B. Fragoso: Regimen..., cit., p.3, l.1, d.1, 1, ns.
8/9). As fontes escriturais desta eminência do amor entre os cônjuges eram, sobretudo, Gen., II,24
(“pela esposa, deixe o marido o seu pai e a sua mãe”), Mat., 19,6 (“e assim já não são dois, mas
uma só carne”); Paul., 28,33 (“os maridos devem amar as suas esposas como a si mesmos”).
“O pai é o princípio nobre, ministrando a mãe na geração do homem a matéria informe do
corpo, que por virtude do sémen do pai é formada e disposta de forma racional”. (S. TOMÁS,
Sum. th., IIa.IIae, q. 16, art. 10, ad prim)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
153
“parentesco”) aos laços conjugais (cognatícios, “de afinidade”), organicidade e
unidade da família, sob a égide do pater – estão predeterminados por esta antropologia do amor familiar.
6.4
A FAMÍLIA, COMUNIDADE GENERATIVA
Natural é o amor entre os esposos. Mas natural é também a sua primordial ordenação em relação à procriação. Daí que, contrariamente a algumas
tradições que vinham do direito romano, o elemento estruturante da sociedade
familiar seja o facto natural da geração, quaisquer que fossem as condições jurídicas em que ela tivesse lugar. Assim, filhos são, antes de mais, os que o são
pelo sangue, independente de terem nascido na constância do casamento. Isto é
particularmente verdade em Portugal, onde (contra a regra do direito comum),
os filhos naturais de plebeus estão equiparados aos legítimos, pelo menos no
plano sucessório (Ord. fil., IV, 92); já os dos nobres, embora adquiram a qualidade nobre do pai e tenham direito a alimentos, carecem de legitimação para
herdar334. Mas quanto à principal obrigação dos pais – o sustento e educação –
filhos eram todos, os legítimos, os ilegítimos e até, com alguma limitação335, os
espúrios (i.e., aqueles cujos pais não eram nem poderiam ser casados, por existir
entre eles algum impedimento não relevável [impedimento impediente], como o
estado clerical ou um prévio casamento com outrem)336.
Esta ideia de que o pátrio poder anda ligado à geração (e não à impossibilidade de os filhos se governarem a si mesmos) faz com que, no direito português, ele seja tendencialmente perpétuo, não se extinguindo pela maioridade
do filho, que pode continuar in potestate até à velhice. Na verdade, o poder paternal só terminava com a emancipação paterna ou com o casamento do filho
(cf. Ord.fil., I, 88, 6), bem como com a assunção, pelo filho, de certos cargos ou
dignidades (v.g., episcopal, consistorial, judicial)337. Mesmo a morte do pai não
era suficiente, colocando o filho alieni iuris (i.e., sujeito ao pátrio poder) sob a
patria potestas do avô ou, na falta deste, de um tutor ou curador, sendo menores
ou incapazes.
É também este carácter natural e “generativo” da família que traça os
limites do seu âmbito como grupo social.
334
335
336
337
Cf. FRAGOSO, 1641, idem, n. 177.
No caso dos filhos legítimos e naturais, os alimentos eram devidos de acordo com a qualidade e
possibilidades do pai; nos espúrios apenas segundo a sua indigência (ut fame non pereant),
Fragoso, 1641, III, p. 153 (o A. afasta-se desta opinião, que seria a recebida, sendo favorável à
plena equiparação); Lobão, 1828, 7
Para além dos naturais, filhos eram ainda os que tivessem sido objecto de adopção, nos termos
de institutos que vinham do direito romano, onde tinham tido grande difusão. Cf., FRAGOSO,
1641, p.III, l.1, d. 2, 7; PASCOAL DE MELO, 1789, II, 5, 9; a adopção, por ser uma graça
“contra direito” deve ser confirmada pelo rei (i.e., pelo Desembargo do Paço, Ord. fil, I,3,1).
Sobre a adopção na história do direito europeu, Gilissen, 1988, 614 e 623.
Cf. FRAGOSO, 1641, III, l.2, d. 3, 3, ns. 1 ss. [sobre o termo do poder paternal] e 82 a 114 [sobre
este último ponto]; Pascoal de Melo, 1789, II, 5, 21 ss. Contra, Lobão, 1818, ad V,27,rubr.
154
Antônio Manuel Hespanha
Assim, se a família, em sentido estrito, engloba apenas os que se encontram sujeitos aos poderes do mesmo paterfamilias, já em sentido lato – que
era o do direito canónico338, depois recebido, para certos efeitos, pelo direito
civil – abarca todas as pessoas ligadas pelo geração (agnados) ou pela afinidade
(cognados), ligando-as por laços morais e jurídicos que Samnuel Coceius, já no
período iluminista, sintetiza do seguinte modo – “Deste estado da família decorrem vários direitos. Assim, 1º, todos os privilégios que aderem à família, também pertencem aos agnados, do mesmo modo que o uso do nome e dos brasões
etc.; 2º, as injúrias feitas à família podem ser vingadas também por eles; 3º, os
membros da família devem defender aqueles que não o podem fazer, pois nisto
consiste a tutela legítima”, Jurisprud. naturalis et romanae novum systema,
1742, 1, 138 ss.). Tudo isto tinha correspondente no direito português339.
Esta concepção alargada da família340, fundada em princípios generativos e linhagísticos – e a que era sensível, sobretudo, o grupo nobiliárquico –
corresponde, basicamente, ao conceito de linhagem.
Mas já nada tem a ver com o conceito de família alargada, como comunidade de vida e de bens de todos os irmãos e descendentes que se pensa
poder ter existido em comunidades rurais, favorecida pela existência de baldios
e pastos comuns e pelo sistema de encabeçamento da enfiteuse. As Ordenações
(IV, 44,1) preveem este tipo de sociedade universal; mas ela não pertencia, claramente, ao universo com que os juristas letrados lidavam. Os mais tardios consideram-na extravagante e exótica341; os mais antigos pouca atenção lhe dedicam
(à parte o caso da comunhão geral de bens entre os cônjuges, que era o regime
matrimonial “segundo o costume do reino”. (Ord. fil., IV,46,pr.; 95)
6.5
A ECONOMIA DOS DEVERES FAMILIARES
Se todo este grupo estava ligado por deveres recíprocos, mais estritos
eram, porém, os deveres entre pais, filhos e cônjuges342.
338
339
340
341
342
O direito canónico alargava ainda a noção de família – e alguns dos correspondentes deveres –
aos pais espirituais, condição que se adquiria pelo baptismo, confissão e crisma, além de deorar
também os tutores e os mestres. (FRAGOSO, 1641, p. III, l.1, d.1, 4, n. 50)
Dever de auxílio mútuo (cf. Ord. fil, V, 124,9), direitos sucessórios (Ord. fil. IV, 90,94, pr.,
96), direito de reagirem judicialmente contra a usurpação de armas e apelidos. (PEGAS, 1685,
V, c. 116)
Que alguns estendem até ao ponto de abranger o dever de ser útil aos vizinhos.
(NATIVIDADE, 1653, op. V, cap. 13.)
“Confesso que nunca vi provada claramente, nem julgada no foro tal sociedade universal
tacita com effeitos de expressa, nem tão pouco jámais vi escriptura de sociedade universal expressa”, escreve Lobão (Tratado..., cit., 789); mas não deixa de expor uma série de regras sobre as partilhas de sociedades de amanho comum das terras paternas, constituídas, nomeadamente em meios rústicos, entre irmãos, com suas mulheres e filhos. (cf. 777 e ss.; no caso de os
irmão serem “nobres”, 785)
Cf. NATIVIDADE 1653, op. V, per totum.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
155
Os principais deveres do paterfamilias para com os filhos eram: (i) o
de os educar, espiritualmente343, moralmente344 e civilmente, fazendo-os aprender as letras (pelo menos, os estudos menores), ensinar um ofício e, caso nisso
concorressem as qualidades da família e as aptidões do filho, estudos maiores345;
(ii) prestar-lhes alimentos, nisso se incluindo a bebida, a comida, a habitação, e
tudo o mais que pertence ao sustento, como o vestir, calçar e medicamentos346; a
dotá-los para matrimónios carnais ou religiosos347.
Por sua vez, os filhos deviam aos pais gratidão, obediência e obséquios348. O dever de gratidão obrigava os filhos, ainda que naturais ou espúrios,
a ajudar os pais necessitados, quer em vida, ministrando-lhe o auxílio de que
carecessem, quer depois de mortos, fazendo-lhe as exéquias e dando-lhes a sepultura, de acordo com a sua qualidade e assegurando missas por suas almas349.
Mas impedia, além disso, por exemplo que o filho acusasse o pai em juízo ou
que o matasse, ainda que para defender um inocente350. O dever de obediência
obrigava-os a respeitarem e acatarem as decisões dos pais351.
6.6
OBEDIÊNCIA E LIBERDADE PESSOAL
Em alguns aspectos fundamentais, o concílio de Trento veio minar
este dever de obediência, ao sublinhar o carácter essencialmente voluntário dos
actos relativos à fé, no número dos quais entravam, no entanto, alguns de grande
relevo externo. Assim, pune com a excomunhão qualquer pessoa (e, portanto,
também os pais) que force outra a tomar o estado religioso. (sess. 25, de reformat., cap. 18)
Mas o mesmo se passa quanto a decisões ainda mais críticas para a
política familiar – as relativas ao casamento. O Concílio enfatiza, de facto, o
carácter livre e voluntário do matrimónio. Daí que fulmine com a excomunhão
343
344
345
346
347
348
349
350
351
V., sobre o seu conteúdo (doutrina sagrada; pelo menos, o credo, o decálogo, o padre-nosso e
os principais mistérios da fé (FRAGOSO, 1641, p. III, l.1, d.1, 6, p. 21 s.). Também,
NATIVIDADE 1653. op. X).
idem, 8 e III, l.1, d.1, 4, n. 52, p. 15 (sobre a moralidade das filhas).
Cf. Ord. fil., IV,97,7; v. também, sobre o alcance desta obrigação paterna, Fragoso, 1641, p. III,
l.1, d.1, 6, ns. 96 ss. (em Portugal, seria costume dever o pai custear os estudos e livros universitários do filho, mesmo que não concorde com eles. Tudo isto limitado, naturalmente, pela
condição familiar e pelas posses do pai. Lobão (1828, 47 ss.) entende que os pais nobres estão
obrigados a pagar os estudos até ao grau de bacharel ou doutor ( 48).
FRAGOSO, 1641, III, l.1, d.2, 1; NATIVIDADE 1653, op. IX; LOBÃO, 1828, 1 ss..
FRAGOSO, 1641; NATIVIDADE, 1653, op. XI; LOBÃO, 1828, 56.
Cf. NATIVIDADE, 1653, op. cit., V.
FRAGOSO, 1641, III,l l.1, d.2, 8, ns, 226/227, p. 65; e l.2, d.3, 2, n. 44, p. 86.
idem, III, l.1, p.1, d.1, 2, n.21.
Em contrapartida, o pai podia castigar os filhos desobedientes, embora – tal como no caso da
mulher - nos limites de uma moderata domestica correctio, não lhes causando feridas, mutilações ou a morte.
156
Antônio Manuel Hespanha
quem atente contra a liberdade matrimonial e dispense os párocos de se assegurarem da autorização dos pais dos nubentes, já que este requisito podia impedir
uniões queridas pelos próprios (sess. 24, de reformat., c. 1).
Por isso é que os direitos dos reinos, mais atentos aos interesses políticos das famílias do que ao carácter pessoalíssimo das opções de vida, continuavam a proteger o poder paternal. É este o sentido da legislação de vários reinos
europeus que, sobretudo a partir dos meados do séc. XVIII, punem severamente
os nubentes que desobedeçam a seus pais.
Em Portugal, as Ordenações deserdavam as filhas menores (de 25
anos) que casassem contra a vontade dos pais (Ord. fil., IV, 88, 1); e, em complemento, puniam com degredo quem casasse com mulher menor sem autorização do pai (ib., V, 18). Mas as disposições liberalizadoras do Concílio, difundidas por teólogos e canonistas, influenciaram decisivamente párocos e tribunais,
chegando os juristas a discutir a legitimidade destas leis régias que, indirectamente, coarctavam a liberdade do matrimónio. No tempo de D. João V causou
escândalo o facto de o Patriarca de Lisboa ter ido buscar a casa de seus pais,
para a proteger das imposições destes, uma donzela que queria casar sem o consentimento parental352.
Isto não podia deixar de perturbar a disciplina familiar, com tudo o
que isso tinha de subversivo, no plano das relações pessoais entre pais e filhos,
mas também no do controle paterno das estratégias de reprodução familiar. Já as
Cortes de 1641 tinham sido sensíveis a esta quebra da autoridade paterna na
escolha das esposas dos filhos. Mas é na segunda metade do séc. XVIII – quando se procura uma nova disciplina da república e da família – que a reacção
contra esta “laxidão” se torna mais forte353. Numa diatribe354 contra a difusão
desta “Moral relaxada, opposta a todos os princípios da Sociedade civil”, Bartolomeu Rebelo descreve a situação de “libertinagem” a que tinha conduzido a
doutrina de Trento, propagada pelos teólogos “jesuítas”355 e propõe o retorno a
uma rigorosa disciplina familiar, em que a matéria das núpcias seja da exclusiva
responsabilidade dos pais “sem attenção alguma aos filhos, os quaes só se contemplão, como ministros e executores da vontade paterna [...] Donde se segue
com infallivel certeza, que competindo aos Pais a escolha dos cazamentos, devendo estes attender às qualidades dos Espozos e Espozas, que buscão para
seus filhos, não devem estes intrometer-se ao Officio paterno [...]”. (p. 21-23)
Este autor não exprimia uma opinião isolada, nem a que a própria Igreja
fosse insensível. Os teólogos começavam a revalorizar o valor da obediência, con-
352
353
354
355
Cf. CHAVES, 1989, 203.
V. anedotas sobre o tema em. Descrição de Lisboa..., cit., 1730”, CHAVES, 1989, 64.
REBELO. Bartolomeu Coelho Neves. Discurso sobre a inutilidade dos esponsaes dos filhos
celebrados sem consentimento dos pais. Lisboa, 1773.
Decorre das mesmas listas de “bons” e “maus” teólogos (cf. XI e 38) que dos dois lados estavam jesuítas; mas o sentido geral da teologia moral da Segunda Escolástica, dominada pelos jesuítas, era, de facto, liberalizador quanto a este ponto.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
157
siderando que os casamentos não consentidos pelos pais eram frequentemente
ilícitos e pecaminosos, por desobediência aos pais, sobretudo quando estes casassem indignamente, pois tais casamentos “seriam fonte de ódios, rixas, dissídios e escândalos”356. Bento XIV publicara (em 17.11.1741) uma encíclica que
atenuava os cuidados tridentinos pela liberdade matrimonial. E o Patriarca de
Lisboa enviara, no início dos anos setenta, uma circular aos párocos, recomendando-lhes que se assegurassem do consentimento dos pais (Bartolomeu Rebelo,
Discurso..., xv). Em 1772 (9.4), a Casa da Suplicação tomara um assento duríssimo, ampliando a Ord. IV, 88357. A lei de 09.06.1775 ratifica esta orientação,
deserdando os filhos e filhas (sem limite de idade) que casem sem consentimento dos pais, para além de reforçar as penas já estabelecidas nas Ordenações
contra os sedutores.
6.7
POLÍTICA DAS FAMÍLIAS E POLÍTICA DA
REPÚBLICA
Mas, se a política pombalina da família visava este objectivo de firmar
a sua autoridade e disciplina interna, visava ainda outros de “política social”,
como o de lutar contra o pronunciado casticismo das famílias nobres358 e contra
a tendência para os pais exercerem um “poder despótico” sobre os filhos, negando “absoluta, o obstinadamente os consentimentos ainda para os matrimonios mais uteis [...] em notorio prejuizo das Familias, e da Povoação, de que
depende a principal força dos Estados”. Daí que o rei, “como Pai Commum dos
[...] Vassalos”, cometa ao Desembargo do Paço, pela lei de 29.11.1775, o suprimento da autorização paterna para os casamentos da nobreza de corte, dos
comerciantes de grosso trato ou nas pessoas nobilitadas por lei; e aos corregedores e provedores, o suprimento desta autorização no caso dos casamentos de
artífices e plebeus.
Mas, de novo, a lei de 6.10.1784 reforça o controle dos pais sobre os
esponsais dos filhos, obrigando a que estes inervenham expressamente na escritura da sua celebração (ns. 1 e 2) e neles deem o consentimento (n. 4). Só que,
como compensação, se restringe a obrigatoriedade do consentimento aos esponsais dos filhos menores de 25 anos, para além de que se mantém a possiblidade
de suprir a autorização, nos termos da lei de 29.11.1775359.
356
357
358
359
SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, II, n. 71.
Pois, além da deserdação das filhas, nos termos aí consignados, cominava ainda a deserdação
dos filhos, qualquer que fosse a sua idade (!), que se casassem, fosse com quem fosse, indigno
ou digno, sem consentimento dos pais. (Collecção chronologica dos assentos..., cit., ass. 282)
Cf., v.g., as leis abolindo a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, 25.05.1773 e
15.12.1774; e o dec. contra os “puritanos” de 1768.
Para mais detalhes, v. o meu artigo “Carne de uma só Carne”. Para uma compreensão dos
fundamentos histórico antropológicos da família na época moderna” (a publicar em Análise social (1993), núm. de homenagem ao Prof. Doutor Adérito Sedas Nunes).
158
Antônio Manuel Hespanha
6.8
UMA COMUNIDADE DE BENS E DE TRABALHO
Embora não seja fácil classificar a família portuguesa de Antigo Regime – pelo menos como o direito oficial a define – como uma comunhão alargada de pessoas e de bens, existem deveres de coperação de todos na valorização do património familiar.
Um deles era o dever de obséquio dos filhos, que consistia na obrigação de prestarem ao pai a ajuda e trabalho gratuitos de que ele carecesse. No
caso de estarem sob a sua patria potestas, este dever era irrestrito (ad libitum,
qui totum dicit, nihil excipit), obrigando a trabalhos que, prestados a outrem,
seriam pagos. Já no caso dos filhos emancipados, se entendia que esta obrigação
não abrangia os trabalhos que requeressem arte ou indústria360.
Também no domínio das relações patrimoniais, a regra geral (mas, até
certo ponto, também caricatural) era a de que, fazendo os filhos parte da pessoa
do pai, só este era titular de direitos e obrigações, adquirindo para si os ganhos
patrimoniais dos filhos sujeitos ao pátrio poder e sendo responsável pelas suas
perdas. Com o consequência suplementar de que não poderiam entre si contratar. Tudo isto estava, no entanto, algo atenuado. Quanto à capacidade de adquirir, desde o direito romano que se reconhecia aos filhos a capacidade de terem
património próprio (peculium)361. E quanto aos seus poderes de contratar com o
próprio pai, de há muito se superara a restritíssima norma do direito romano362,
apenas se mantendo no domínio processual363.
6.9
MARIDO E MULHER: UMA IGUALDADE DE
GEOMETRIA VARIÁVEL
As relações entre marido e mulher364 estão, também, desenhadas sobre
a antropologia moderna do amor conjungal, a que acima já nos referimos. Um
amor igual e desigual ao mesmo tempo.
Igual, porque se baseia numa promessa comum e recíproca de ajuda,
de fidelidade e de vida em comum, promessa cujo cumprimento, por seu lado,
seria decisivamente facilitado pela igualdade da condição e riqueza dos cônjuges
(FRAGOSO, 1641, III, l.1, d.1, 3, 36/40).
360
361
362
363
364
FRAGOSO, 1641, III, l.10, d.22, 5, ns. 117/118, p. 650; Lobão, 1628, 22 (este mais restritivo
quanto aos deveres dos filhos).
Nos seus vários tipos de castrense, quasi castrense, adventício e profecticio, enumerados por
ordem decrescente de poderes de disposição; cf. FRAGOSO, 1641, III, l.1, d.2, 8, ns. 229 ss.;
LOBÃO, 1828, cap. 13. Sobre a capacidade para se obrigarem, FRAGOSO, 1641, III, l.1, d.2, 9.
Cf. PASCOAL DE MELO, 1789, IV,1,8; LOBÃO, 1818, 245.
FRAGOSO, 1641, III, l.2, d.3, 2, n. 43.
Cf., em geral, NATIVIDADE, 1653, op. IX.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
159
Desigual, porque, em virtude da diferente natureza do homem e da
mulher, os sentimentos mútuos dos cônjuges – e, logo, os deveres correspondentes – não são iguais nem recíprocos.
Uma boa ilustração disto é a do adultério. Embora seja, em qualquer
caso, igualmente censurável do ponto de vista da moral abstracta (pois ambos os
adúlteros violam a mútua obrigação de fidelidade), a moral positiva julga-o
diferentemente, já que o adultério da mulher não apenas faz cair o opróbio sobre
os filhos e obscurece a paternidade dos filhos (turbatio sanguinis), como - segundo o célebre jurista Baldo (séc. XIV) – causa aos maridos uma dor maior do
que a da morte dos filhos365.
Mas à desigualdade do amor, juntam-se as desigualdades naturais dos
sexos, que fazem com que esta comunhão dos esposos fosse fortemente hierarquizada. Na verdade, eles constituíam uma só carne; mas, nesta reintegração
num corpo novamente único, a mulher parece que tendia a retomar a posição de
costela do corpo de Adão.
A subalternização da esposa tinha uma lógica totalitária no ambiente
doméstico.
Começava logo nos aspectos mais íntimos das relações entre os cônjuges.
Assim, na consumação carnal do casamento. Já que se entendia que a
perfeição do acto sexual se dava com o orgasmo do homem, sendo dispensável o
da mulher366. O que decorria do facto de se considerar como meramente passivo
e recipiente o papel da mulher na gestação, que se limitava a contribuir com a
matéria bruta a que o homem daria a forma. Esta hierarquização devia tornar-se
visível na própria gestualidade do acto sexual. De facto, seria contra natura o
coito “praticado de pé, sentado ou em posição invertida, estando o homem por
baixo e a mulher por cima”367; numa palavra, a própria expressão dos corpos
devia evidenciar a posição dominante do homem.
Mas a subordinação da esposa manifestava-se, depois, no plano dos
actos externos, de natureza pessoal e patrimonial. Estava sujeita ao poder do seu
marido368, o que se traduzia numa faculdade generalizada de a dirigir369, de a
defender e sustentar370 e de a corrigir moderadamente371.
365
366
367
368
FRAGOSO, 1641, III, l.1, d.1, 3, n. 42. Daí que os juristas entendam que o adultério mútuo e
recíproca não se pode compensar, pois “a impudícia na mulher é muito mais detestável do que
no homem”, idem, III, l.3, d.4, 2, n.41. É também esta desigualdade, do amor, do ciúme e da
dor que faz com que o marido não seja punido (no secular, pois, no espiritual, sempre incorre
em pecado mortal) se matar a mulher colhida em flagrante de adultério (desde que mate também o seu parceiro) (Ord. fil., V, 38, pr.; comentário, FRAGOSO, idem, 3, 63).
“O matrimónio só se consuma pela cópula, pela qual os cônjuges se tornam numa só carne, o
que não se verifica sem a emissão de sémen pelo homem [...]. Questiona-se sobre se o sémen
da mulher é um requisito necessário para a consumação. Ambas as opiniões são defensáveis,
mas a mais provável é que não o seja”. SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, II, n. 121.
SAN JOSÉ, 1791, tr. 34, II, n. 158.
Já em relação aos poderes sobre os filhos, a inferioridade da mulher decorre, como reconhecem os
juristas na segunda metade do séc. XVIII, de respeitos que têm mais a ver com os mutáveis costumes das nações do que com a natureza do casamento. (V. PASCOAL De MELO, 1789. II,4,6)
160
Antônio Manuel Hespanha
Deste poder de correcção estava privada a mulher. Ao explicar por
que é que a mulher não podia, ao contrário do marido, abandonar o marido
adúltero (a não ser no caso de “correr o risco de perversão ou de incorrer em
pecado”), um moralista de seiscentos explica que “à mulher não compete a correcção do homem, como a este competa a correcção daquela, pois o marido é a
cabeça da mulher e não o contrário”372.
6.10
A PERPETUAÇÃO DA UNIDADE: PRIMOGENITURA
E INDIVISIBILIDADE SUCESSÓRIA DO
PATRIMÓNIO FAMILIAR
A unidade era, portanto, um princípio constitucional da família de
Antigo Regime. Este apelo da unidade fazia-se sentir não apenas enquanto sujeitava todos os membros da família à direcção única do pater, mas também
enquanto favorecia modelos de assegurar a unidade da família, mesmo para
além da morte deste.
Referimo-nos, antes de mais, ao instituto da primogenitura, cuja difusão se explica, porventura, por ingredientes da tradição judaica (testemunhados
pelas Escrituras; cf. Exodus, 13, 22) e feudais. A raiz do direito dos primogénitos a encabeçarem a comunidade familiar estaria no facto de, por presunção que
decorria da natureza, o amor dos pais ser maior em relação ao filho mais velho,
bem como no carácter ungido e quase sacerdotal do filho mais velho no Antigo
Testamento. O carácter antropológico e quase divino deste fundamento dos direitos de primogenitura fazia com que estes fossem inderrogáveis (salva justa
causa) quer pelo pai, quer pelo rei.
Na época moderna, porém, a antiga dignidade natural ou divina dos
direitos dos primogénitos já era negada por muitos, que os fundavam antes num
particular uso de certas nações quanto às regras de sucessão de determinados
bens, de acordo com a sua natureza (caso dos bens feudais) ou com a vontade do
um seu dono (caso dos morgados)373. E, de facto, na Europa ocidental, o seu
âmbito reduzia-se, praticamente, ao direito feudal (caso dos “feudos indivisíveis”) e, na área hispânica (ou de influência hispânica, como em certas zonas de
Itália), aos morgados (e, até certo ponto, aos bens enfitêuticos)374.
369
370
371
372
373
374
Administrando os seus bens com bastante liberdade (Ord. fil, IV, 48; 60; 64; 66 (cf. Pascoal de
MELO, 1789, IV,7,4 (e respectivas notas de Lobão); representando-a em juízo. (Ord. fil., III,47)
Cf. Ord. fil., IV, 103, 1; à mulher e às suas criadas, mesmo para além das forças do dote.
(FRAGOSO, 1641, III, l.3,d.4, 1, n. 9, p. 172)
Cf. Ord. fil., V, 36,1; 95, 4. A propósito da moderação dos castigos, Pascoal de Melo comenta
que, em Portuagl, mais nas classes populares do que nas elevadas, o castigo frequentemente degenera em sevícias, por causa das quais quotidianamente se afadigam os juízes. (1789, II, 7, 2)
SAN JOSE, 1791, tr. 34, II, n. 151.
Embora tal uso atribuísse ao primogénito uma certa “preeminência e dignidade” (PEGAS,
1685, cap. 1, n. 3 ss.; Fragoso, 1641, p.3, l.9, d.20, 1, n. 8, pg. 576).
Sobre o princípio da primogenitura na história do direito europeu, Gilissen, 1988. 681 s.; para
Portugal, ibid., 694 ss..
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
161
Nestes casos, porém, a indivisibilidade do património familiar (e a
unidade familiar a que isto força, com o realce dos direitos e deveres recíprocos
dos familiares que vivem na sombra do administrador do vínculo) já tem menos
a ver com a unidade natural da família do que com as vantagens políticas (do
ponto de vista familiar, mas também do ponto de vista da coroa) da indivisão
dos bens das casas e da sua conservação numa certa linha sucessória. Do ponto
de vista das famílias, porque a indivisibilidade do património vinculado evita
não apenas o olvido do nome375 e gesta familiares, mas também a dispersão dos
próprios membros da família, já que estes ficam economicamente dependentes
do administrador do morgado. Do ponto de vista da coroa, porque, justamente
em virtude deste último facto, obtém o “encabeçamento” do auxilium das famílias (maxime, das famílias nobres) num número relativamente pequeno de intermediários. (cf. Pegas, 1685, cap. 2, n. 5; Ord. fil., IV, 100,5; Lobão, Morgados,
II, 4)376 O carácter “civil” e não “natural” dos morgados é realçado ainda mais
na literatura pós-iluminista377, que propende fortemente a considerá-los “antinaturais”, justamente por ofenderem a igualdade de direitos entre todos os filhos378 que, ele também, decorria do princípio natural da unidade da família,
embora entendido de outro modo.
Do carácter civil e político (i.e., “artificial”) dos morgados seguia-se
que a sua criação dependia apenas do prudente arbítrio do instituidor (cf. Fragoso, 1641, p.3, l.9, d.18, 1, n. 11), estando, portanto, aberta a nobres e plebeus,
com a única limitação de que a instituição devia ter a opulência adequada aos
fins por ela visados.
6.11
ENTRE A UNIDADE DA FAMÍLIA E A IGUALDADE
DOS FILHOS
Com a contínua aristocratização do pensamento social durante os séculos XVII e XVIII, com o progressivo realce dos direitos de todos os filhos à
herança379 e com o advento das concepções individualistas quanto à liberdade de
375
376
377
378
379
Daí que, em geral, se excluíssem as mulheres da sucessão dos morgados, dada a sua incapacidade para transmitir o nome: “a família aumenta pelos varões em dignidade e honra e destróise e extingue-se pela mulheres; e por isso se diz que as mulheres são o fim da família”.
(REINOSO, Miguel de. Observationes..., cit., 14, ns. 9/11)
Este modelo de encabeçamento era conhecido noutros domínios, nomeadamente, no da recepção de rendas e tributos, como forma de reduzir o peso do governo.
Cf. Lobão, 1814, 6 ss., insistindo na origem “hispânica” da instituição (em Portugal, L.
15.9.1557; Ord. fil., 100, 4; em Castela, Leis de Toro [1535] e Nova rec., V,7.). Para Castela, v.
o livro fundamental de Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propriedad feudal en Castilla. 13691836, ed. alt., Madrid, Siglo XXI, 1989.
FILANGIERI, Gaetano. Scienza della legislazione, 1780, I,18,10; cf., para a discussão,
LOBÃO, Morgados, II, 1-18.
Já no direito seiscentista português, os direitos dos filhos eram acautelados: a livre instituição
só se admitia pelas forças da quota disponível (“terça”); no caso de a instituição se fazer em
prejuízo da quota legitimária dos filhos, carecia-se de um acto de graça do rei (por intermédio
162
Antônio Manuel Hespanha
disposição dos bens e à vantagem (económica e fiscal) da sua circulação, reforça-se a tendência para restringir, em nome da natureza da família, a liberdade de
instituir morgados àqueles casos em que o interesse público justificasse os prejuízos decorrentes da vinculação.
Permitir ou não a vinculação passa a depender do modo como se entenda o equilíbrio justo entre a “igualdade natural dos filhos”, a “política de
reputação das famílias” e a “política da república”. A primeira, hostil aos morgados, a segunda, buscando-os como meio de adquirir ou manter o lustre social;
a terceira, procurando combinar as vantagens fiscais e económicas da circulação
dos bens com as a existência de uma nobreza poderosa em volta do trono.
Já no séc. XVI, Luís de Molina exigia que a autorização régia para
instituir morgados em prejuízo dos restantes filhos apenas fosse concedida no
caso de o instituidor ser nobre ou de qualidade e riqueza (MOLINA, 1573, L. 1,
cap. 14, n. 8). Pois as famílias de humilde ou obscura origem, nada tinham a
perpetuar, antes procurando nos morgados um meio de, confundindo a natureza,
se insinuarem entre os nobres (cf. LOBÃO, 1814, I, 12 e lit. cit.). Esta “política
das famílias” devia ser corrente, pois Lobão, justificando as medidas restritivas
tomadas no tempo de Pombal, fala de “huma geral mania de instituir vinculos
em predios de ridiculos rendimentos” (idem, 14), apesar das limitações que alguma doutrina (não dominante no foro) tendia, como vimos, a introduzir.
É apenas com as leis de 3.8. e 9.9.1770 que a “política da república”
impõe às “políticas das famílias” um equilibrado respeito pela “direitos naturais
de todos os filhos à herança”, concretizando as condições (quanto à qualidade
das pessoas e quanto à importância dos bens vinculados) juridicamente necessárias,
para que os morgados anteriores subsistam ou outros novos se possam instituir380.
6.12
OUTRAS FIDELIDADES DOMÉSTICAS
“Família” era, no entanto, uma palavra de contornos muito vastos,
nela se incluindo agnados e cognados, mas ainda criados, escravos e, até, os
380
do seu tribunal de graça, o Desembargo do Paço), por se tratar de uma derrogação dos direitos
dos filhos (PEGAS, 1685, cap. 3, ns. 1 e 2).
V. comentário detalhado em Freire, 1789, III, t. 9 e Lobão, 1814, II, 13 ss.; III (max., sobre as
categorias admitidas de nobreza, 6 ss.; sobre as qualidades dos comerciantes, agricultores [não
os da pequena agricultura ao norte do Tejo, mas os da grande agricultura do Alentejo] e letrados que podiam instituir morgados, v. 13 e 16). Esta lei alargava ainda a necessidade de licença
régia a toda e qualquer instituição de morgado (n. 13) e reduzia a uma única (a da Ord. fil.,
IV,100) a fórmula de sucessão nos morgados (n. 10). Esta última disposição implicava, v.g., a
revogação da legislação anterior que impedia a união de morgados, a exlusão ou prejuízo das
mulheres da sucessão nos vínculos, a exclusão de cristãos novos. Note-se, em todo o caso,
como a interpretação que desta última regra faz Lobão (ao admitir substituições fideicomissárias complementares à vocação sucessória estabelecida na lei, nos termos da Ord. fil., IV, 87; cf
1814, cap. 9, 15 ss.), lhe tira muito do seu alcance.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
163
bens. “La gente que vive en una casa debaxo del mando del señor della”, eis
como define família o Dicionario de lengua castellana, da Real Academia de
Historia (1732), invocando as Part., 7, tit. 33, l. 6: “Por esta palabra familia se
entiende el señor de ella, e su muger, e todos los que viven so el, sobre quien ha
mandamiento, assi como los fijos e los servientes e otros criados, ca familia es
dicha aquella en que viven mas de dos homes al mandamiento del señor”. Mas
acrescenta, em entradas seguintes, outras acepções: “número dos criados de
alguém, ainda que não vivam dentro da casa”; “a descendência, ascendência,
ou parentela de alguma pessoa”; “o corpo de alguma religião ou comunidade”;
“o agregado de todos os criados ou domésticos do rei”; fazendo ainda equiparar
“familiar” a amigo381.
Em relação a toda esta universalidade valiam os princípios inicialmente enunciados, nomeadamente o da unidade sob a hegemonia do pater, ao
qual incumbiam direitos-deveres sobre os membros e as coisas da família.
Era assim quanto aos criados, ligados ao dominus por uma relação que
excedia em muito a de um simples mercenariato, aparecendo envolvida no mundo das fidelidades domésticas. Não é que o direito português conhecesse ainda a
adscrição (cf. Ord. fil., IV, 28). Mas as relações entre o senhor e os servos desenvolviam-se no ambiente da família patriarcal (da “casa”) que criava, de parte a
parte, laços muito variados.
Desde logo, “criados” (famuli, “família”) eram, tradicionalmente,
aqueles que viviam com o senhor “a bem fazer”, ou seja, pelo comer e dormir.
São quase apenas estes que as Ord. man. (de 1521, IV, 19) consideram, não lhes
reconhecendo (como, de resto, acontece com o direito comum) direito a reclamarem uma soldada. Apesar da inversão verificada com as Ord. fil. – que passam a reconhecer um direito geral a um salário e reflectem o advento de um
mundo (urbano ?) muito mais expandido de relações mercenárias de trabalho
(cf. IV, 32 ss.) –, a doutrina continua a resistir a integrar as relações domésticas
de trabalho no “mercado do trabalho” e distingue os criados domésticos, segundo o modelo tradicional382 – cujo direito ao salário entende estar dependente de
uma longa série de avaliações arbitrárias (cf. o comentário de Silva 1731 a Ord.
fil., IV, 30) – dos trabalhadores mercenários externos. Os laços de vinculação
pessoal – que se traduziam, nomeadamente, num muito débil direito ao salário
(ou, pura e simplesmente, na sua ausência) e na necessidade de licença do senhor para abandonar a casa – existiam também no caso dos criados dos cortesãos e nos “acostados”, ou seja, daqueles que tivessem recebido do senhor al-
381
382
Sobre o conceito de família v., ainda, MONTEIRO, 1993, 279; e, do mesmo autor: “Casa e
linhagem..., cit., Penélope, 12(1993), 43 ss.
“Domestici sunt illi, qui cum aliquo continue vivunt, data aliqua inferioritate, ad unum panem,
& ad unum vinum” (domésticos são aqueles que vivem com alguém, implicando alguma inferioridade, por um pão e um copo de vinho. PEGAS, 1789, III, ad I,24,gl.20, n.2); cf. também
REINOSO, 1625, ob. 32, n. 4 e Ord. fil., II,11.
164
Antônio Manuel Hespanha
gum benefício383. Apesar de Melo Freire (um individualista) considerar estas
leis “feudalisantes” e caídas em desuso (1789, II,1,16, in fine), Lobão (um tradicionalista) censura-o asperamente por isso, continuando a propor um modelo
pratriarcal das relações entre senhores e criados384. A contrapartida deste mesmo
sentimento de uma íntima comunicação entre senhor e criado era constituída
pelas isenções de que gozavam os criados de eclesiásticos e nobres (Ord. fil., II,
25 e 58) e o facto comum de se pedirem ao rei mercês para os seus criados385.
6.13
A FORÇA EXPANSIVA DO MODELO DOMÉSTICO
Muito do imaginário e dos esquemas de pensamento a que acabamos
de nos referir transvasavam largamente o domínio das relações domésticas, aplicando-se, nomeadamente, ao âmbito da república.
Como se diz na época, “sendo a casa a primeira comunidade, as leis
mais necessárias são as do governo da casa” (NATIVIDADE, 1653, op. I, cap.
1, p. 2, n. 10); e sendo, além disso, a família o fundamento da república, o regime (ou governo) da casa é também o fundamento do regime da cidade. Este
tópico dos contactos entre “casa” e “república” – e, consequentemente, entre a
“oeconomia”, ou disciplina das coisas da família, e a “política”, ou disciplina
das coisas públicas386) –, a que a literatura recente tem dado muito destaque387,
explica a legitimação patriarcal do governo da república, em vigor durante quase
todo o Antigo Regime, bem como o uso da metáfora do casamento e da filiação
para descrever e dar conteúdo às relações entre o príncipe e a república e entre o
rei e os súbditos. E constitui também a chave para a compreensão, num plano
eminentemente político, de uma grande parte da literatura que, aparentemente,
se dirige apenas ao governo doméstico.
Zona de expansão do modelo doméstico é também o domínio das relações internas à comunidade eclesiástica388. Não só a Igreja é concebida como
uma grande família, dirigida por um pai espiritual (Cristo ou o seu vigário, o
Papa [note-se o radical da palavra]) e regida, antes de tudo, pelas regras do amor
383
384
385
386
387
388
Cf. Ord. fil., IV, 30: casamento, cavalo, armas, dinheiro ou outro qualquer galardão. Os criados
dos estudantes, estavam obrigados a servir apenas pela roupa e calçado; os músicos e cantores,
apenas pela comida (FRAGOSO, 1641, p.3, l.10, d.21, 5); o mesmo valia para as criadas das
monjas, pois se entendia que o eram com o intuito de ingressarem no convento (SILVA, 1731,
IV, ad IV,29, pr., n. 28), para os aprendizes (idem, 30) e para os menores de sete anos, que serviam “pela criação” Ord. fil., IV,31,8).
Lobão invoca, significativamente, o direito dos Estados alemães que, como se sabe, conservaram até muito tarde o regime de servidão e de adscrição.
Cf., em geral, sobre o tema, NATIVIDADE, 1653, op. XII.
Que Aristóteles, sintomaticamente, considerara conjuntamente no seu tratado sobre a “economia”.
V., por todos, FRIGO 1985a, 1985b, 1991; HESPANHA 1990; MOZZARELLI, 1988.
Cf., infra,
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
165
familiar (fraterna disciplina, fraterna correctio), como as particulares comunidades eclesiásticas obedeciam ao modelo familiar. As congregações religiosas
chamavam- se “casas”; os seus chefes eram “abades” (palavra que significa
“pai”) ou “abadessas” (ou “madres”), a quem os religiosos deviam obediência
filial. Os religiosos eram, entre si, “frades” (fratres, irmãos) ou sorores (sorores,
irmãs; ou, também, “irmãs”). Sobre eles impendiam incapacidades e deveres
típicos dos filhos família. A disciplina interna da comunidade era – sobretudo
nas congregações femininas em que as madres não dispunham de jurisdição, por
serem mulheres – concebida como uma disciplina doméstica, competindo aos
superiores os poderes de que os pais dispunham em relação aos filhos.
Tudo isto é bastante para mostrar o papel central que, na imaginação
das relações políticas, é desempenhado pelo modelo da família. Modelo que, por
outro lado, obedece a uma impecável lógica estrturante, fundada em cenários de
compreensão do relacionamento humano muito profundamente ancorados nas
sociedades europeias pré-contemporâneas.
6.14
ORIENTAÇÃO DE LEITURAS
O enquadramento deste tema numa história ocidental da família pode
ser feita com recurso à obra de James Casey (CASEY, 1991), uma das mais
actualizadas, equilibradas e sensíveis ao contexto institucional.
Quanto aos aspectos mais especificamente jurídicos, aconselha-se a
consulta dos capítulos respectivos de Gilissen 1989, bem como das “notas do
tradutor” (da minha autoria) que os seguem; aí se podem encontrar, também,
exemplos textuais; para maiores desenvolvimentos, Coing 1985.
Indicações de bibliografia secundária portuguesa recente (geralmente sobre aspectos parcelares) podem encontrar-se em Hespanha 1992 (p. 55 ss. e 68 s.).
As fontes são, sobretudo, a literatura teológica (comentários ao sacramento do matrimónio389) e a literatura jurídica (da qual destacamos, como síntese, o aqui tantas vezes citado Baptista Fragoso). Mas a literatura “económica”
389
Dos portugueses, para além dos respectivos capítulos dos compêndios gerais ou prontuários de
teologia moral (dos quais destaco, Manuel Lourenço SOARES [1590-...]: Principios, e deffinições de toda a teologia moral muito proveitoso e necessario, Lisboa, 1642; Angelo de
SANTA MARIA [1678-1733]: Breviarii moralis Carmelitani partes. Ulysipone, 1734-1738,
7 tomos; Rebelo BAPTISTA: Summa de theologia moral. Ulysipone, 1728; Bento PEREIRA,
S.J.: Elucidarium theologiae moralis, Ulysipone, 1671-1676; João PACHECO: Promptuario
de theologia moral, Lisboa, 1739; Manuel da Silva de MORAIS: Promptuario de theologia
moral, Lisboa, 1732; Tomé Botelho Chacón: Compendio de theologia moral, Lisboa 1684), v.
Manuel Lourenço SOARES: Compendium de sacramento matrimonii tractatus Thomae Sanches Jesuitae alphabeticum breviter dispositum. Ulysipone, 1621 (trata-se de uma adaptação de
um tratado célebre, aparentemente com grande influência em Portugal): Barbosa Machado dá notícia de outros tratados manuscritos sobre o matrimónio (v.g., de Amaro de Aregas, Manuel Jorge
Henriques).
166
Antônio Manuel Hespanha
(como ANDRADE, 1630; BARROS, 1540; MELO, 1651; e NATIVIDADE,
1653) pode fornecer sugestões com uma tonalidade diferente.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Diogo Paiva de. Cazamento perfeito em que se contem advertencias muy
importantes para viverem os cazados em quietação e contentamento. Lisboa, 1630.
ANTOINE, Gabriel, S.J. Theologia moralis ad usum parochorum & confessariorum.
Romae, 1741.
BARROS, João de. Espelho de cazados, Porto, 1540.
CASEY, James. História da família. Tradução de port. The history of the familily, 1989).
Lisboa: Teorema, s./d. [1991].
CHAVES, Castelo Branco (Org.). O Portugal de D. João V visto por três forasteiros.
Lisboa: Biblioteca Nacional, 1989.
COING, Helmut. Europäisches Privatrecht. Band I. Älteres Gemeines Recht (1500 bis
1800). München: C. H. Beck, 1985.
CORDEIRO, António. Resoluçoens theojuristicas. V. De morgados, ou capelas vinculadas,
Lisboa Occidental, 1718.
FERNANDES, Maria de Lurdes C. As artes da confissão. Em torno dos manuais de confessores do séc. XVI em Portugal. Humanística e teologia. 11(1990) p. 47-80.
FRAGOSO, Baptista. Regimen reipublicae christianae. Lugduni, 1641-1652.
FREIRE, Pascoal de Melo. Institutiones iuris civilis lusitani. Conimbricae, 1789.
FRIGO, Daniela. Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione
dell “oeconomica” tra Cinque e Seicento, Roma, 1985.
FRIGO, Daniela. La dimensione amministrativa nella riflessione politica (secoli XVI-XVIII),
C. Mozzarelli (Ed.). L'amministrazione nell'Italia moderna. Milano-Giuffrè, 1985, v. 2, I,
p. 21-94.
_______. Disciplina rei familiariae: a economia como modelo administrativo de Antigo
Regime, Penélope, 6(1991).
GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. Lisboa: Gulbenkian, 1989.
HESPANHA, António Manuel. Justiça e administração entre o Antigo Regime e a revolução,
In: Hispania. Entre derechos proprios y derechos nacionales. Atti dell'incontro di studi.
Milano: Giuffrè, 1990.
_______. Poderes e instituições no Antigo Regime. Guia de estudo, Lisbos, Cosmos, 1992.
LARRAGA, Francisco O. P. Promptuario de la theologia moral. ed. cons. (3ª). Madrid, 2 t.
1788.
LOBÃO, Manuel de; ALMEIDA; Sousa de. Tratado prático de morgados. Lisboa: Imprensa Nacional, 1814.
_______. Notas de uso práticas e críticas. a Melo, Lisboa, 1818.
_______. ALMEIDA, Sousa de. Tratado das acções recíprocas I. Dos pais para com os
filhos. II. Dos filhos para com os pais, Lisboa, 1828.
MELO, Francisco Manuel de. Carta Guia de casados, 1651.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
167
MOLINA, Luís de. De hispanarum primogeniis. Compluti, 1573.
MONTEIRO, Nuno G., Os sistemas familiares, In: J. Mattoso (Dir.), História de Portugal,
Lisboa, Círculo dos Leitores, 1993, v. IV (“O Antigo Regime”, dir. A. M. Hespanha), p. 279282.
MOZZARELLI, Cesare, (Ed.). “Famiglia” del principe e famiglia aristocratica. Roma: Bulzoni, 1988. v. 2.
NATIVIDADE, Fr. António da. Stromata oeconomica totius sapientiae. sive de regimini
domus, Olysipone, 1653.
PASCOAL, José de; MELO, Freire dos Reis. Freire, Pascoal de Melo.
PEGAS, Manuel Alvares. Commentaria ad Ordinationes, Ulysipone, 1669-1703. v. 14.
_______. Tractatus de exclusione, inclusione, successione et erectione maioratus, Ulyssipomne 1685.
REINOSO, Miguel de. Observationes praticae, Olyssipone, 1625.
SILVA, Manuel Gonçalves da. Commentaria ad Ordinationes, Ulysipone, 1731-1740. v. 4.
SAN JOSE, Antonio de. Compendium sacramentorum in duos tommos distributum
universae theologiae moralis quaestiones, Pampelonae, 1791.
168
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
169
7
A NOBREZA NOS TRATADOS JURÍDICOS
DOS SÉCULOS XVI A XVIII
Num livro recente, Monique Saint Martin390 tenta definir o espaço da nobreza
na sociedade francesa contemporânea: os processos sociais de construção de
uma distinção, a gestão grupal dessa distinção e os efeitos de hierarquização
social que dela decorrem. Na sociedade de Antigo Regime, o espaço da nobreza existia também. Mas as categorias da distinção, os planos da sua
emergência, os processos da sua institucionalização e os efeitos taxinómicos
dela decorrentes eram, de todo, outros. No texto seguinte, apenas exploramos
essa diversidade para um plano particular de emergência da distinção - a
doutrina jurídica. Justamente um plano que desapareceu na constituição do
espaço actual da nobreza, embora nem sempre seja suficientemente realçada
a importância deste facto na diferença entre as arquitecturas e as dinâmicas
dos processos de distinção social nas sociedades contemporânea e de Antigo
Regime.
7.1
DIREITO E CLASSIFICAÇÕES SOCIAIS
O facto de as distinções sociais serem construídas (também) pelo direito - como acontece até à instauração da igualdade dos cidadãos perante a lei –
é relevante de (pelo menos) dois pontos de vista.
Um deles, o mais evidente, relaciona-se com a sua particular eficácia
social, i.e., com o facto de elas ganharem, então, efeitos de direito.
Não é certo que as possibilidades de imposição coactiva de tais efeitos
de direito lhes garantam uma grande eficácia social “vivida”; pontos de vista
recentes de historiadores e sociólogos realçam justamente o carácter marginal do
direito, enquanto ordem coercitiva. Mas a coercibilidade dos efeitos de direito,
como horizonte virtual, potencia a sua aceitação social espontânea; i.e., inde390
SAINT-MARTIN, 1993.
170
Antônio Manuel Hespanha
pendentemente da possibilidade ou da vontade dos poderes de tomarem a peito a
sua imposição coactiva.
Por outro lado, o estatuto discursivo dos textos jurídicos potencia
enormemente a sua disseminabilidade social. Por um lado, os textos jurídicos
traduzem, de forma compactada, aforística, compreensões (teológicas, filosóficas, éticas) muito elaboradas sobre a sociedade. Por outro, fornecem normas e
esquemas classificativos claros e nítidos. Finalmente, são actuados com um forte
envolvimento cerimonial e litúrgico que aumenta o seu impacte “educador”.
Mas o carácter jurídico destas classificações tem ainda importância
num outro plano: ou seja, enquanto atribui competências privativas a certos
actores sociais para gerirem as (ou mediarem a gestão das) taxinomias. Na época
moderna, esta mediação compete menos à coroa do que aos juristas, como veremos, muito claramente, no caso da tradição jurídica portuguesa.
Uma questão suplementar é saber de que lógica classificativa são os
juristas subsidiários ao efectuar estas distinções de categorias sociais. Neste
artigo, suspendemos (não sabemos ainda se apenas provisoriamente) a referência
a uma lógica “social”, ficando-nos, como se verá, pela descrição de uma lógica
quase exclusivamente “textual”. As concessões que fazemos a uma sociologia
mais clássica (i.e., mais dominada pelas determinações extratextuais) dos textos
são apenas duas. Por um lado, a de salientar os ganhos de poder social que advém aos juristas (face à sociedade e face à coroa) pelo facto de instituírem, a
partir, pelo menos, dos finais do séc. XVI, a primazia de uma classificação doutrinal sobre uma classificação legal. Por outro, a importância que a dominância
atribuída a um critério (de origem doutrinal) de definição da nobreza - a publica
aestimatio, a reputação pública tem na abertura do discurso jurídico a determinações classificativas vividas, atenuando, neste caso, o poder de ordenação social dos critérios genéricos formulados na literatura jurídica.
7.2
NATUREZA DAS CLASSIFICAÇÕES
“Nobre” e “nobreza” são termos muito pouco utilizados nas categorias
da lei portuguesa na primeira fase da época moderna. Num repertório das Ordenações Filipinas (1604), a palavra “nobre” aparece uma vez391, tal como a palavra “nobreza”392. O seu antónimo, “peão”, aparece com bastante frequência. A
categoria genérica de “pessoas honradas” (também) é raramente referenciada393.
Na classificação legal, existia pois uma categoria comum de peão394, a que se
opunham distintas categorias privilegiadas.
391
392
393
394
A propósito de um texto que fala de “boa linhagem” (Ord. Fil, I, 74, 1).
A propósito dos brasões como símbolo de “nobreza e honra” (Ord. Fil., V, 92, pr.).
Ord. Fil, I, 78, 3.
No seio de categoria de peão existia ainda a de mecânico ou pessoal vil.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
171
Num repertório de legislação dos inícios do século XIX, a palavra é já
muito mais comum, como elemento de uma classificação fundamental entre os
súbditos (nobre/não nobre).
No plano das taxinomias textuais, a emergência da categoria “nobre”
pode ser descrita como a recepção pela literatura jurídica portuguesa de uma
oposição bi-polar existente na literatura do direito comum italiano e que era
estruturante (nobiliese non nobiles [ignobles], sanior et melior pars vilior et
peius pars).
O primeiro problema produzido por estas classificações textuais seria
então o da arqueologia desta taxinomia bipolar no interior da cultura jurídica
(ou, simplesmente, da cultura) medieval e moderna.
Segundo o direito romano (D., 50, 16, 238)395, os homens ou são nobres ou plebeus. Esta classificação passaria para o direito comum. A origem da
distinção bipartida é obscura. Invocam-se as Sagradas Escrituras, bem como
Aristóteles. Mas, quer num caso quer noutro, podem encontrar-se classificações
bastante mais matizadas. Em qualquer delas, a oposição entre os virtuosos e os
privados de virtude parece decisiva. Mas é também claro que havia diversas
virtudes e que elas não só nem sempre coexistiam como nem sempre estavam
ausentes numa mesma pessoa.
As Siete Partidas (II, 21, 2) inauguram os títulos respeitantes às distinções do pueblo natural pela bem conhecida classificação tripartida (“los tres
estados porque Dios quiso que se mantuviese el mundo” (defensores, oradores,
labradores)). Mas, depois, quando se trata de explicar as qualidades requeridas
àqueles a quem cabe em particular a defesa da terra natural, esta classificação é
limitada a uma outra que tomava como distinção maior a distinção entre “cavaleiros” e nobles omes e os outros. Depois de discorrer sobre as virtudes primevas
dos cavaleiros nobres (capacidade de sofrimento, perícia militar e dureza de
coração), as Partidas fixam-se no critério de distinção que acabou por prevalecer, el buen linaje: “Por eso los llamaron fijos dalgo, que muestra tanto como
fijos de bien” (II, 21, 2). A qualidade principal deste grupo seria a “gentileza”,
que lhe adviria por três vias: pela linhagem, pelo saber e pela bondade de costumes e maneiras. Assim, embora esta gentileza se reportasse a virtudes pessoais, podia adquirir-se pelo sangue. E, segundo as Partidas, tal era mesmo a fonte
principal da nobreza: “E como quer que estos que lo ganan por sabiduria, e por
su bondade, son por derecho llamados nobles e gentiles, mayormente lo son
aquellos que lo han por linaje antiguamente: e fazen buena vida. E porende son
mas encargados de fazer bien: e de guardarse de yerro, e de mal estança. Ca
non tan solamente, quando lo fazen, reciben daño, e verguença ellos mismos:
mas aquellos onde ellos vienen” (II, 21, 2). E, por isso, os fijos dalgo deveriam
395
No direito justiniano havia outras classificações mais pormenorizadas das pessoas. A oposição
nobilis-ignobilis não abarca, de resto, o “imaginário das três ordens”.
172
Antônio Manuel Hespanha
ser escolhidos entre aqueles “que vengan de derecho linaje, de padre e de
abuelo, fasta nen el quarto grado”396.
A importância das Partidas que constituem uma fonte de referência
para a doutrina hispânica, sobretudo castelhana, sobre a nobreza durante as épocas medieval e moderna – é, portanto, de ter fixado uma taxinomia social bipartida e de, quanto ao conceito de nobreza, ter optado, decisivamente, por um
critério linhagista.
A segunda questão respeitante à noção jurídica de nobreza nos tratados jurídicos portugueses da época moderna é saber como e por que se impõe a
classificação binária num imaginário mais matizado como o do direito e das
instituições portuguesas nos finais da Idade Média397. Ou seja, como e por que é
que os juristas não se contentaram com as classificações encontradas nos textos
da lei portuguesa e porque é que desenvolveram um esforço continuado para
reconstruir os dados legislativos segundo uma nova, e até então inexistente,
taxinomia.
O que é que justifica tal esforço? Porque se trata com efeito de um esforço, muitas vezes penoso, o reduzir as classificações da lei, de cinco ou seis
classes, a uma classificação binária.
O sentido das classificações jurídicas (as qualificações) é descrever
uma situação de facto (Tatsbestand, fattispecie) para lhe fazer corresponder uma
consequência jurídica (neste caso, um privilégio, uma isenção).
Ora, as consequências dos estados da nobreza, no direito português,
eram descritas pela própria lei, com a ajuda das qualificações tradicionais. Isto é,
para aplicar as leis das Ordenações não era necessário inventar uma nova classificação, nem sequer dar-se ao trabalho de recomposição taxinómica que daí
decorria. Porquê, então, procurar outros parâmetros classificatórios, outros estados da nobreza, cujos conteúdos normativos não estavam previstos na lei?
Tomemos um tratado sobre a nobreza de finais do Antigo Regime398.
Aí, o conceito de nobreza é um arquiconceito (uma metacategoria)
que agrupa todas as “pessoas honradas”, ou seja todas as pessoas distinguidas
por um qualquer dos antigos estados de nobreza.
Na época, uma tal operação de síntese conceptual tinha-se tornado útil
na medida em que algumas leis dos finais do séc. XVIII utilizavam já o conceito
de nobreza, fazendo-lhe corresponder, portanto, consequências normativas. Mas,
além disso, da nova categoria de “nobreza” decorria uma maior economia dog-
396
397
398
Cf. para um comentário, o comentário de Gragorio LOPEZ, ou OTALORA, 1553, fl. 13.
As classificações a que me refiro encontram-se já nas Ordenações Afonsinas (1446). Mais tarde
foram refeitas pelos Regimentos da corte na segunda metade do século XVI (c. 1572). Seria,
todavia, necessário estudar as relações entre as taxinomias jurídicas e cerimoniais da nobreza
portuguesa com as das Partidas, em Castela, bem como as dos regimentos cortesãos do século
XVI com os da corte espanhola dessa época.
Tratado Jurídico das Pessoas Honra das [?]. Lisboa, 1851.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
173
mática, pois o conceito permitia referir, de forma sintética, todos os antigos
graus, atribuindo-lhes, como mínimo, o conjunto de privilégios gozado pelo
grau mais inferior (como “privilegiado”, “vereador”, “escrivão da câmara”)399.
De tal modo que, dizendo, em geral, que alguém era nobre, se dizia que tinha,
pelo menos, os privilégios e isenções da mais modesta das categorias particulares de pessoas privilegiadas previstas na lei400.
Com efeito, parece que o interesse suplementar desta nova entidade
taxinómica geral era permitir precisar a extensão da aplicação de normas que
geravam consequências normativas ao facto, em geral, de ser nobre.
Que normas? Dado que o conceito de nobreza não existia na legislação, era necessário encontrá-las fora.
Tratava-se, antes de mais, de princípios de direito comum, muitas vezes bastante vagos, como o que media a punição das injúrias pela categoria dos
ofendidos (cf. Ord. Fil., V, 16, 1), o que reservava o governo ou os postos de
distinção do exército aos nobres. Ou, sobretudo, aquelas que concediam a “nobreza”, sem mais, a determinados ofícios ou funções ou que exigiam nobreza
para ascender a certas dignidades.
Tratava-se, depois, de normas que falavam de peões – por exemplo
das cartas de foral criando os impostos que só se aplicavam aos peões – e que
exigiam portanto, uma definição en creux desse estado, que não existia senão
por oposição ao estado privilegiado ou honrado. Em rigor, não se tratava de
definir estados de nobreza, como notaram muito bem os juristas dos finais do
século XV. Diziam eles que, para provar que não se era plebeu, não era necessário provar nobreza, mas apenas justamente que não se era plebeu (ou seja, que se
detinha um privilégio)401.
Nos finais do século XVIII, o interesse do conceito de nobreza (no
sentido mais amplo do termo) era então402:
–
399
400
401
402
403
Determinar o âmbito de aplicação das normas de direito comum
que estabeleciam privilégios genéricos para os nobres403 ou que
exigiam nobreza para o desempenho de certas funções;
Cf. Ord. Fil., I, 66, 42; V, 120; V, 138.
Ser ouvido em casa pelos juízes (Ord. Fil., I, 78, 3; ser punido mais docemente ou com penas
não degradantes (Ord. Fil., V, 2, pr.; V, 138, pr.); excluir da herança os filhos bastardos não legitimados (Ord. Fil., IV, 92, 1).
Este raciocínio leva à admissão de uma tripartição que não existia no direito comum (e a que
nos referiremos mais tarde) a que distingue “nobres”, “plebeus” e “estado do meio”. Com
efeito, segundo o direito real português (v.g., Ord. Fil., IV, 92, 1) existiria um estado do meio
entre nobre e peões, o daqueles que têm por hábito montar a cavalo. O estado nobre seria ocupado por aqueles a quem o esplendor do sangue torna ilustres; v. infra, e PHAEBUS, 1619,
dec. 155, ns. 6/7.
V. MELO FREIRE, 1789, II, 3, 63.
Como, por exemplo, a preferência na nomeação para cargos de governo.
174
Antônio Manuel Hespanha
–
–
–
–
–
–
–
Determinar quem pagava certos impostos quando o foral não
obrigava senão os peões404;
Definir quem podia aceder aos hábitos das ordens militares que
exigiam nobreza;
Estabelecer a extensão da isenção das fintas e encargos pessoais
dos concelhos, tais como servir de tesoureiro, conduzir os prisioneiros etc. (Ord. Fil., I, 66, 42)405;
Isentar das penas infames (forca, chicote, galeras)406;
Estabelecer a extensão da exclusão dos bastardos407;
Estabelecer a capacidade de instituição de morgadios (C.L.
Agosto 1770, § 15);
Autorizar a caça no distrito da corte (A. 1 .7.1776, § 4).
Salvo no que diz respeito às normas genéricas do direito comum, não
se pode, portanto, dizer que fossem de extraordinário relevo, quanto aos seus
resultados práticos, os privilégios concedidos à nobreza, embora o mesmo não
se possa dizer, eventualmente, da sua importância simbólica. O que nos animaria
a dizer que a importância social desta distinção não era sobretudo devida aos
seus efeitos jurídicos, representando estes, antes, uma marginal, mas emblemática, formalização de uma marcação social visível, sobretudo, noutros sistemas
simbólicos.
404
405
406
407
CABEDO, 1601, II, ar. 68 (fidalgos e nobres não pagam oitavo); PHAEBUS, 1619, I, ar. 65 (os
nobres não pagam nem jugada nem “outras coisas, que pagão os piães”).
“Fidalgos, cavaleiros e escudeiros de linhagem ou de criação, pessoas de maior qualidade que
as anteriores [doutores, licenciados, bacharéis em teologia, direito ou medicina, que forem
feitos por exame em estudo geral, juízes, vereadores, procuradores e tesoureiros dos conselhos], pobres de esmola e outros privilegiados, não devem ser enforcados, mas decapitados,
Phaebus, 1619, 1, dcc. 18, as. 2/6 (fonte de direito comum: Bártolo in 1. capitalium, D. de poenis). Devem ser menos punidos tanto na imposição da pena como na execução, Phaebus, 1619,
I, dec. 18, ns. 3. Cf. Ord. Fil, V, 25; V, 120. São escusos de prisão (“presos em ferros”: Ord.
Fil, V, 120): fidalgos (de solar ou assentados nos livros), desembargadores, doutores em leis ou
em medicina, juízes formados (mas não os ordinários, MELO FREIRE, 1789, II, 3, 14), cavaleiros fidalgos, ou confirmados, e de ordens militares, escrivães da fazenda e câmara. São escusos de pena vil (açoites, baraço e pregão: Ord Fil., V, 138): escudeiros, moços da estrebaria
real (ou de dignitários até conde, conselheiro e prelado), pagens de fidalgos assentados, vereadores e seus filhos, procuradores dos concelhos, mestres e pilotos de navios reais de gávea ou
de quaisquer navios de mais de cem tonéis, amos ou colaços de desembargadores ou de cavaleiros de linhagem, pessoas que tenham cavalo, mercadores de mais de 100 000 réis.
Excepciona no caso de pena de lesa-majestade, divina ou humana (Ord. Fil., V, I ss.), erro de
oficio, falência fraudulenta (cf. Ord. Fil., V, 66).
Ord. Fil, IV, 92, 1 (dec. de 1620, PHAEBUS, 1619, I, dec. 106).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
7.3
175
O IMAGINÁRIO NOBILIÁRQUICO
Como quer que seja, esta distinção entre nobres e plebeus estava bem
trabalhada pelos juristas, que lhe inventaram uma origem e um imaginário, envolvendo-a numa completa construção teórica.
Para eles, a distinção e a hierarquização entre as coisas criadas decorrem da própria ordem da criação. Foi esta que deu a umas coisas a primazia
sobre as outras, em razão da utilidade ou da beleza (ratione utilitatis vel pulchritudinis). Daí que a nobreza pudesse ser considerada, neste sentido, como um
facto de natureza (falando-se, então, de nobreza natural)408 residindo mesmo nas
coisas inanimadas (ouro, pedra s preciosas), ou nos animais desprovidos de razão (falcão, boi, leão). Nos homens, como nas coisas da natureza, esta nobreza
natural derivaria da virtude, nomeadamente daquela virtude que torna alguém ou
alguma coisa apto a dominar (ARISTÓTELES, Política, IX; Ética, IV). Como
dirá Bártolo (citado por OTALORA, 1553, fl. 15 v.), a nobreza reside “naquele
hábito electivo [i.e., naquela habituação de bem decidir] acerca das coisas que
respeitam à preeminência e ao domínio”. Neste sentido, a nobreza natural é
irrenunciável, pois ninguém pode fugir à sua própria natureza409.
Nesta nobreza natural se funda a nobreza política, de que os juristas se
ocupam preferencialmente, e que é aquela que, na república, serve para distinguir o nobre do plebeu. A investigação sobre as suas fontes leva à Antiguidade.
Segundo Juan Arze de Otalora, Platão filiava-a: (i) na progenitura ilustre; (ii) na
graça do príncipe; ou (iii) na fama de actos passados e feitos na guerra. Já Aristóteles (Política, 4) a fizera decorrer do nascimento, da riqueza e da virtude.
(OTALORA, 1553, 16)
Apesar de citarem todas estas opiniões, e de raramente ousarem discutir a preferência teórica atribuída à nobreza que advém das virtudes (nobreza
natural), os nossos autores, que eram juristas e não teólogos ou moralistas, que
se ocupavam da política e não da monástica, confrontaram-se com uma questão
decisiva: formular critérios seguros e práticos para reconhecer nobreza. Ou seja,
que a nobreza natural, a virtude, fosse a causa eficiente de toda a nobreza política ninguém duvidava. Só que a nobreza natural constituía um critério escondido
e sujeito a disputa. Esse era o seu principal defeito como critério operacional de
hierarquização da república. Necessitava, portanto, como qualidade virtual, de
um agente suplementar que a tornasse actual e visível.
408
409
É Bártolo (in alleg. lege prima, C. de dignitat.) que distingue entre nobreza teológica (cf. S.
Tomás, Summa th., I.IIae, q. 1 10, correspondente ao estado de graça, nobreza natural e nobreza
política.
A questão da irrenunciabilidade da nobreza coloca-se mesmo em face da nobreza política. Em
geral, entende-se não se poder renunciar à nobreza, mesmo por juramento. Porque, ao fazê-lo,
atentar-se-ia contra a ordem política e injuriar-se-ia toda o estado a que se pertencia. Do mesmo
modo, o clérigo não pode renunciar ao seu estado. Cf. FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n. 154.
176
Antônio Manuel Hespanha
Assim – diz-se –, “a nobreza não se presume [...] pois não é intrínseca à natureza [comum] dos homens, mas atribuída [a alguns] por feitos ilustres,
pelas letras, pela riqueza ou pela graça do príncipe (“nobilitas non praesumitur [...] quia nobilitas non insit a natura, sed illustribus factis, litteris, divitiis,
aut Principum gratia pariatur hominibus”410) “e, assim, deve provar-se por
indícios, fama e testemunhas de ouvir ou outras presunções” (“et sic probari
debet, ex indiciis, fama, et testibus de auditu, & aliis praesumptionibus”411).
Esse factor que tornava visível (e, logo, politicamente, actual) a nobreza interior podia ser, desde logo, o príncipe, que, tal como Deus em relação
às virtudes sobrenaturais, pode revelar virtudes políticas aliás escondidas. Mas o
mesmo pode ser feito pela fama e, ainda, por uma tradição familiar de virtude –
a linhagem ou geração (cf. OTALORA, 1553, 14 v.).
7.4
TÍTULOS DE AQUISIÇÃO
Daqui, a tipologia das vias de aquisição (talvez melhor, de manifestação, de demonstração, de publicação) da nobreza.
Comecemos pela graça do príncipe. Para Baptista Fragoso, que escreve em Portugal nos finais do séc. XVI, a nobreza concedida pelo príncipe não
deixa de constituir, pela oposição à nobreza interior, natural, uma “nobreza extrínseca”. É a “qualidade atribuída pelo que detém o principato, em virtude da
qual o que a recebe é assinalado como superior ao plebeu” (nobilitas extrinseca412 est qualitas illata per principatum possidentem, que quis acceptus ostenditur ultra honestos plebeius. (Fragoso, 1641, I, 1.3, disp. 6, p. 316, n. 131)
Mas outros dão à acção do príncipe um carácter mais criador. Tal
como Deus, ele seria a verdadeira causa eficiente da nobreza: “Do mesmo modo
que junto de Deus é nobre quem Deus pela sua graça faz grato ao mesmo Deus,
assim no mundo é nobre quem o príncipe, por lei ou pela sua graça, faz grato
ou nobre” (BÁRTOLO, cit. por OTALORA, fl. 17 v). Por isso, l’arbitrium principis não teria limites. Uma ilustração: apesar de a nobreza que decora um doutor se fundar na sua ciência, o príncipe poderia criá-los sem qualquer formalidade, apenas pelo facto de os chamar doutores, tal como, na milícia, ele enobrecia
um soldado, chamando-o cavaleiro413.
410
411
412
413
CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 10.
CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 12.; PEGAS, 1669, III, ad I, 24, gi. 1, n. 7. V., ainda, “nobilitas
est qualitas extrinseca, cum a principio omnes aequalis conditionis homines estiterint”,
PHAEBUS, 1619, I, d. 106, n.4.
Segundo Aristóteles, é virtude de antiga riqueza (Polit., IV, 8) ou dignidade dos antepassados
(Rhetor., 15); mas agora, a nobreza induz-se do príncipe; tal é a opinião de Baptista
FRAGOSO, 1641, I, 1.3, disp. 6, p. 316, n. 132.
FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n. 143/41.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
177
Em Portugal, o carácter constitutivo da graça régia na outorga dos títulos particulares da nobreza era muito clara para os juristas. De facto, as Ordenações não lidavam, como se viu, com a categoria genérica da “nobreza”, mas
antes, com categorias particulares, ligadas a distinções outorgadas pelo rei414.
Por outro lado, estas categorias eram bastante arbitrárias, parecendo não conterem qualquer referência a uma classificação “natural” ou linhagística. “A nobreza pertence apenas ao rei, sendo uma superioridade real; e a nobreza surge de
concessão régia ou de privilégio” (nobilitas ad solum Regem pertinet, & est
superioritatis regalis: & nobilitas inducitur ex regis concessione, seu privilegio), afirmam Jorge de Cabedo, escrevendo nos finais do séc. XVI415
(CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 1), e Meichior Febo, um pouco mais tardio
(PHAEBUS, 1619, I, d. 14)416. Baptista Fragoso, por sua vez, filia esta prerrogativa régia no próprio exemplo de Deus, ao criar os anjos como seres excelentes e ao
atribuir-lhes uma hierarquia; de Deus teria passado aos reis deste mundo, a começar pelos do Antigo Testamento (Esther I, 6; Macabeus, 1)417. Entre esta nobreza
dativa e a nobreza generativa não existiria nenhuma diferença (ibid., n. 138). António Gama é ainda mais decisivo: ninguém adquire nobreza por si mesmo, mas
pela dignidade do ofício ou por concessão real (nemo acquiritur nobilitatem a se
ipso, sed a dignitate oficii, vel concessione regis). (GAMA, dec. 86, n. 5)
Em todo o caso, o carácter eficiente da vontade do príncipe não deixa
de se chocar com a ideia de que a nobreza é um facto da natureza. E, por isso, a
doutrina oscila entre a definição da concessão da nobreza pelo príncipe como
um acto verdadeiramente constitutivo ou como um acto apenas ratificador de
uma nobreza anterior, inscrita na ordem das coisas.
Esta concessão real de nobreza é tácita para aquele a quem o príncipe
permite que esteja perto de si, nomeadamente os oficiais colaterais418 ou outros
oficiais régios419. Também o fazia, chamando alguém de nobre, concedendo
414
415
416
417
418
419
V.g., todas as categorias de fidalgos, cavaleiros e escudeiros da Casa Real (mais tarde, damas
do Paço), fidalgos de cota de armas, [i.e., fidalgos a que o rei concedera cartas de brasão], cavaleiros das ordens militares, desembargadores, juízes, vereadores, capitães de navios do rei.
Excepção, no sentido de uma nobreza obtida “expontaneamente” (i.e., sem intervenção régia),
eram os fidalgos de solar (que não se sabia, agora, ao certo o que fossem, não faltando quem os
equiparasse aos senhores de terras; logo, de novo, a “criaturas” régias), os mercadores de grosso trato e os capitães de navios de alto bordo.
Cita Bártolo: In Cod, XII, de dignitatibus, I. 1, n. 12; Baldo, in, 1. sacrilegii, C. de diversis
rescript.; Chassaneus: Catalogus gloria mundii, p. VIII, cons. 17.
Cita Tiraqueilus, A. Gama, J. Cabedo, Paulo de Castro, e apoia-se num texto do livro de Esther,
6, n. 9 (Si honorabitur, quemcumque voluerit Rex honorare).
FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n. 137.
“Adhaerentes lateri principis, & ei servientes in officio aliquo sunt nobilis”. CABEDO, 1601,
II, dec. 73, n. 4; Phaebus, 1619, I, d. 106, n. 38. Esta nobreza colateral não se estendia, no entanto, aos que exercem ofícios mecânicos (como cozinheiros ucheiros, moços de estrebaria etc.).
Sobre a nobreza dos oficiais palatinos: v., com muitos detalhes: CARVALHO, 1634, n. 362 ss.
Cf. CARVALHO, 1634, n.os 405 ss.: governadores de armas das províncias (n. 405), regedor
das justiças (n. 406), presidente do Desembargo do Paço (n. 409), governador da Casa do Cível
e demais Relações (n. 410 s.), conselheiros do rei (n. 413), chanceler-mor (n. 413), desembar-
178
Antônio Manuel Hespanha
armas ou doando-lhe um senhorio com jurisdição420. Alguns inferiores ao príncipe teriam também o privilégio de criar nobres, inscrevendo-os nos seus livros
de matrícula, como se fossem criados pelo rei. Em Portugal, era o que acontecia
com o duque de Bragança421.
Em qualquer dos casos, quando se trata desta categoria geral de nobreza, tal como aparece nas fontes do direito comum (ou na parte penal das Ordenações e nas cartas de foral, a propósito das isenções fiscais), a doutrina recorre às formas de manifestação de nobreza menos dependentes de um acto real,
tal como a dos habitus sociais, como, por exemplo “viver à maneira da nobreza”, as quais não reenviam já para taxinomias de proveniência real, mas sim,
para classificações sociais fundadas sobretudo na fama inveterada422.
Nestas sociedades onde a natureza se deixava ler na tradição, a nobreza interior não podia deixar de se manifestar no exterior desde que se deixasse
passar tempo suficiente. Tal como no campo da religião, a justificação de um estado de nobreza não podia provir de meras disposições interiores (nobilitas probatur
per actus, qui faciunt veram disctintionem inter nobilem et plebeum)423. Devia
exprimir-se por actos repetidos e espalhados ao longo da vida, pois a nobreza não
nasceria de um piscar de olhos (nobilitas non nascitur in ictu oculi)424.
A reputação pública não era senão consequência desta exteriorização
da nobreza interior. Mas, estando o interior inevitavelmente escondido, a reputação tornava-se um símbolo indispensável, ou mesmo generativo de nobreza. Como
diz Melchior Phaebus, insuper nobilitas consistit in hominum existimatione425.
Na realidade, esta independência da qualidade de nobre em relação a
um acto de graça régia reflectia a ideia de que a hierarquização das pessoas consiste num facto da natureza, na existência de uma hierarquia natural das pessoas426 e não num facto da vontade política. Esta apenas a pode declarar, conceder
expressamente a quem já a tem implicitamente (a “quem a merece”); não concedê-la como que de fiz427.
420
421
422
423
424
425
426
427
gadores (n. 416 ss.), corregedores (n. 424 ss.), provedores (n. 426), juízes de fora (n. 428 ss.),
juízes ordinários (n. 432 ss.), oficiais dos concelhos (n. 436 ss.).
FRAGOSO, 1601, I, 13, disp. 6, n. 157-161.
FRAGOSO, 1641, I, 1.3, disp. 6, p. 316, n. 133.
“Grande jurisdição tem o tempo sobre a estima, e reputação da nobreza”, escreve João Pinto
Ribeiro. (RIBEIRO, 1730)
PHAEBUS, 1619, I, d. 106, n. 35.
FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n. 198 [n. 7] [?].
PHAEBUS, 1619, I, d. 106, n. 35. Nobilitas causatur ex communi opinio. CABEDO, 1601,
II, dec. 73, n. 5. Nobilior maior est, quo antiquor, Gama, dec. 1, n. 21. Cf., ainda, Phaebus,
1619, I, dec. 14, per totam (questão julgada em Aveiro em 1614): era costume, em Aveiro, que
apenas relevasse, para isenção de oitavo, a nobreza originária; o costume não foi reconhecido
pela Relação, que decidiu que bastava a reputação e a vida segundo a lei da nobreza.
“Em todas as coisas bem regidas, & governadas, ha de haver esta ordem: que isto é o que a
natureza principalmente em si contem”. VERA, 1631, 3.
“[A nobreza] é uma qualidade concedida por qualquer príncipe aquele, que a merece, ou
porque descende de pessoas, que a mereceram por serviços feitos a Republica, assim em ar-
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
179
A admissão da relevância da reputação social como forma de acesso à
nobreza torna o discurso jurídico num espelho dos sistemas sociais de distinção
do estado de nobre. O direito doutrinal e jurisprudencial não faz mais do que
ratificar um sistema regulado de prova e de certificação - classificações já operadas na vida quotidiana. Abre-se à vida, evolui com ela; mas introduz nas classificações sociais maior certeza e maior durabilidade. Em rigor, não cria nada de
novo; mas atribui ao que já está criado uma fiabilidade e uma permanência
muito maiores.
Uma outra via de acesso à nobreza é a linhagem. Certos autores - nomeadamente autores castelhanos, orientados pela noção de hijos dalgo, muito
marcante no direito nobiliárquico das Partidas - preferiam destacar a linhagem
como origem principal da nobreza. E o caso de Juan de Otalora, que afirma que
“pela palavra nobreza se entende simplesmente a nobreza de género” (fl. 17),
tanto mais que esta não é apenas um critério seguro de diagnóstico da nobreza
natural, mas antes uma das suas causas eficientes, já que “a nobreza de sangue e
a virtude natural dos pais excita à virtude dos filhos” (fl. 16)428. E, daí que reaja
contra o anterior dito de Bártolo sobre o carácter generativo da graça do príncipe, opondo-lhe um de Boécio, em que se destacava, pelo contrário, o carácter
eficiente do sangue: “A nobreza é um certo louvor e clareza dos pais”; ou de
Landolfo, no mesmo sentido: “A nobreza do género [= de linhagem] é a qualidade ou dignidade que provém do brilho do sangue, com origem nos pais e
continuada pela carne nos filhos legítimos”. “Esta definição - encerra Otalora contém toda a substância da nossa nobreza”.
Baptista Fragoso, escrevendo nos finais do séc. XVI, também adopta
este conceito naturalista e generativo da nobreza, acolhendo a mesma definição429 e sublinhando que o estado de nobreza surgira com a própria criação do
homem430, sendo depois transmitida de geração em geração (FRAGOSO, 1641,
I, I. 3, disp. 6, p. 316, n. 134). Mas não deixa de sublinhar o carácter meramente
probatório da linhagem, afirmando que a nobreza generativa não existiria se não
estivesse decorada com as virtudes431.
428
429
430
431
mas, como em letras; ou por se aver aventajado dos mais em qualquer memorável exercício”,
VERA, 1631, 5; embora o A. afirme que “os reis são os que concedem essencialmente a nobreza e fidalguia”. (ibid., 6) as causas eficientes destas são a virtude e a linhagem, sendo o rei apenas a causa formal (idem, ibidem.)
“É que a virtude paterna transmitida aos filhos não só os obriga à sua imitação, mas ainda os
provoca e estimula [a obrar virtuosamente]”. OTALORA, 1553, fl. 16.
“Nobilitas generis est qualitas sive dignitas promanans ex splendore claris sanguinis a parentibus trahens originem, & et in filios naturales, ac legitimos per carnem continuata” (sublinha-se a diferença em relação à definição de Otalora, pois aqui não restringe a transmissão da
nobreza aos filhos legítimos).
Embora Caim e Cam a tenham perdido (Genesis, 9), manteve-se em Abel, Sem e Japhet.
Cita Baldo, in 1. nobiliores, C. de commerc. & mercat; onde diz que existem três espécies de
nobreza: proveniência da estirpe, virtude, estirpe e virtude, que seria a verdadeira nobreza,
FRAGOSO, 1641, I, 1.3, disp. 6, p. 316, n. 134; cf., também, PEGAS, 1669, VI, ad 1, 74, gl. 2,
n. 11.
180
Antônio Manuel Hespanha
Em todo o caso, para a maior parte dos autores portugueses a linhagem era apenas uma das manifestações de nobreza, equivalendo à fidalguia432.
Reconhecia-se, no entanto, que esta forma de manifestação de nobreza era a
preferível433.
A discussão sobre a capacidade de cada um dos pais para transmitir
nobreza relacionava-se com as imagens sobre os sexos. Sendo a mulher o elemento passivo do casal, não podia transmitir nobreza, da mesma forma que o
casamento a fazia perder a sua identidade familiar434.
Jorge de Cabedo, apoiado num texto das Ordenações (Ord. Fil., V,
92, 4, que permite ao filho tomar as armas da mãe), opina que, segundo o direito
português que seria, portanto, excepcional em relação ao direito comum se devia
considerar a nobreza do lado da mãe como generativa435. A opinião, ainda que
isolada, permanece viva na memória textual, ganhando aparentemente força ao
longo dos anos, sobretudo nos casos em que a nobreza materna era excelente436.
O marido, pelo contrário, representando a unidade familiar, prolongava o seu
estado de nobre na mulher e nos filhos, os quais, com efeito, faziam parte da
própria pessoa do pai437.
Segundo outros autores (como o francês Chassaneus), haveria outras
modalidades de manifestação de nobreza. Para ele esta manifestava-se por: (i)
dignidade, (ii), riqueza; (iii), reputação comum; (iv) privilégio do príncipe438 (v)
lugar de nascimento439 (vi) adopção; (vii) feitos militares; (vii) estado clerical;
432
433
434
435
436
437
438
439
Nobilitas gentilitia est, quae provenit ex nobili genere, & familia, nomine, & insigniis, seu
armis decorata [...] quod in nostro regno fidalguia vocatur. PEGAS, 1669, III, ad I, 24, gl. 1, n. 9.
A nobreza originária (i.e., de origem) deve ser sempre preferida (cf. Ord. Fil., 1, 96, 2). Só esta
é admitida na confraria da Misericórdia [de Aveiro], PHAEBUS, 1619, I, d. 14, n. 11/12.
Gloria hominis ex honore patris sui, Sapient., 3; mas não a partir da mãe (Bártolo, in 1. 1, col.
vers. Videndum est utrum, C. de dignit.). Baldo chega a defender que não vale o estatuto que
atribua ao filho a nobreza da mãe; mas, dado que a nobreza é de direito positivo, são de admitir
leis ou costumes em contrário (que, como excepcionais, só valem nos casos contemplados).
Todavia, na Espanha e Lusitânia, só se atende à nobreza do pai, para se chamar a alguém fidalgo
(cf. FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n. 139); fidalgo é o filho de pai nobre; nobre é o filho de
ambos nobres (idem, n. 139; mesma opinião em OTALORA, 12); da nobreza dos dois progenitores espera-se mais firmemente nobreza de ânimo. PEGAS, 1669, VI, ad I, 74, gl. 2, n. 10.
Nobilitas ex parte matris de jure lusitano consideratur (& quid de iure commune). CABEDO,
1601, II, cons. 73.
Cf. FRAGOSO, 1601, I, 1.3, disp. 6, n. 141.
Nobilitas et gloria patris in filios transit. Memoria patris conservatur in filiis. Filius et pater una
persona censetur. CABEDO, 1601, II, dec. 36, n. 14. Se a nobreza passa aos filhos e à mulher,
Fragoso, 1641, I, 1. 3, disp. 6, n. 177 ss. Nobilitas generis unde profluat, Pegas. 1669, VI, ad I,
74, gl. 2, n. 10. Nobilitas transit in posteros in infinitum. CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 5. Se é
de considerar o momento da concepção ou o do nascimento, PHAEBUS, d. 106, n. 19/20. An
nobilitas filii ascendit ad parentum. PHAEBUS, 1619, I, dec. 154 (decisão de 1621 sobre o direito de homenagem, Ord. Fil., v, 120).
Além da concessão directa de nobreza, a concessão do título ou ofício exigindo nobreza: nobilitas causatur ex titulo (comitatus, ducatus, baroniae) & hoc est quod vocamus “de solar”.
(CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 6)
Era o caso da nobreza basca.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
181
(viii) prescrição. Mas, mesmo não entrando nesses pormenores, muitos autores
questionavam a eficácia de duas qualidades - a riqueza e a ciência - para exprimir nobreza.
No que respeitava à ciência os textos clássicos apoiavam-na. (Aristóteles e o Codex Iustiniani) A opinião afirmativa tornara-se comum440. Os próprios
juristas estavam interessados nisso.
A eficácia da riqueza para dar nobreza provinha também de Aristóteles, que fazia equivaler a nobreza à riqueza antiga441. Pressente-se que, para
estes autores, a justificação desta proposição não era tão evidente, pois não se
podia dizer que houvesse um laço necessário entre a riqueza interior e a dos bens
deste mundo. A posição deles fundava-se então numa espécie de realismo sociológico, fundado na observação442, e sensível às leis da vida, nomeadamente no que
respeita às dificuldades de levar uma vida nobre sem o suporte da fortuna443.
Os fundamentos da perda da nobreza eram o reflexo, em negativo, dos
fundamentos da sua aquisição. Assim, a nobreza perdia-se por factos que infirmassem a presunção de virtude (como a prática do crime de falso444), que fizessem incorrer em infâmia (como a prática do crime de lesa-majestade. Ord. Fil.,
V, 6, 9) ou que prejudicassem a reputação pública. (como o exercício do comércio sórdido ou de profissão vil)445
7.5
PROVA
Se a reputação ocupa um lugar central na panóplia dos títulos de aquisição da nobreza, os actos e trem de vida que geram essa reputação hão-de
constituir a melhor prova da nobreza. “O tratamento elegante manifesta a nobreza de berço [...] e, assim, presume-se nobre aquele que se comporta como
440
441
442
443
444
445
Aristóteles: De anima, 1; Polit., 4, 4. Fontes jurídicas: 1. providendum, C. de postul
(FRAGOSO, 1601, I, 1.3, disp. 6, n. 149). Scientia homines nobiles facit. Pegas, 1669, IV, ad
I, 35, gl. 8, n. 3; unde bachelaureatus nobiliate fruitur. PEGAS, 1669, VII, ad I, 90, gl. 4, n. 9.
Nihil aliud est quam inveterate divitiae. Phaebus, 1619, I, d. 14, n. 8; [est] acquisita ex
propria industria, vel divitiis. PHAEBUS, 1619, 1, d. 14, n. 20.
Nobilitas plerumque consistit in divitiis. Cabedo, 1601, II, dec. 73, n. 5; Chassaneus, Cataloga..., cit., cons. 22.
Nobilitas sine divitiis sordescit. Barbosa, Remissiones doctorum..., cit., ad V, 139, n. 7. Sobre
o tema, v. VERA, 1631, 49 ss., e CARVALHO, 1634, n 459 e 466.
Falso testemunho, ocultação de bens em fraude dos credores, falência (pois os falidos são
ladrões públicos; Ord Fil., V, 66), falta de cumprimento dos deveres de rendeiros reais relapsos: (Ord. Fil., II, 53) FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n. 164.
Exercício de arte mecânica (PEGAS, 1669, XII, ad II, 60, gl. 1, n. 6); mas a agricultura não
prejudica a nobreza. (PEGAS, 1669, XII, ad II, 60, gl. 1, n.s 7/8) A nobreza perde-se pelo exercício por si do comercio, salvo costume em contrário (VALASCO, Allegationes, all. 13, n
217/233); officium vile [quod] nullam habet affinitatem cum nobilitate. FRAGOSO, 1601, I, 1.
3, disp. 6, n. 163; em Espanha, todavia, não perdem todos os privilégios, como, por exemplo, o
de não pagar impostos; idem, n. 168.
182
Antônio Manuel Hespanha
nobre em todos os actos”, escreve Jorge de Cabedo, no início do séc. XVI
(CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 14). Mas, fora destes casos de evidência, “a
fama (e, ainda mais, as testemunhas de ouvir dizer, sobretudo se são vizinhos e
parentes) também prova a nobreza (tal como provam a filiação e a consanguinidade)”446. Meios suplementares de prova eram, ainda dentro da mesma lógica,
o uso do nome paterno (CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 17), o uso de armas e
insígnias447 e, evidentemente, a carta régia de concessão de um título particular
de nobreza, de acordo com os regimentos do paço ou a sentença448, como meio
derivado de consolidação de situações jurídicas.
7.6
CATEGORIAS
Ao falar de categorias da nobreza podemos estar a falar de duas coisas
diferentes: de categorias doutrinais ou de categorias legais.
As primeiras são consequências, no plano das classificações doutrinais, da diferença dos títulos de aquisição. “A nobreza – escreve Belchior Febo
– é tomada em três acepções: primeiro, em função da estirpe, como na linguagem vulgar; segundo, em função da virtude, como na linguagem filosófica; e,
terceiro, em função de uma coisa e outra, e esta é a nobreza perfeita, ou seja a
generosidade decorada com a grandeza de alma. (Baldo, in L. nobiliores, Cod.
commerc & mercator)”449 Mas, consideradas as coisas mais no plano estritamente jurídico, “a nobreza ou é generosa e nativa ou política”450.
As segundas têm já um relevo mais marcadamente normativo. Ou
seja, servem para enquadrar as pessoas na fattispecie de uma norma.
Em Portugal, isto ocorria, desde logo, com as várias categorias de nobreza previstas na lei, das quais se falará de seguida. Mas ocorria também com
uma classificação doutrinal, já antes referida, que aparece na doutrina a partir
dos meados do Séc. XVI. Referimo-nos à classificação tripartida: “nobreza”,
“estado do meio”, “povo”. “Na república – escreve Gabriel Pereira de Castro,
pelos inícios do séc. XVII – o Estado deve considerar-se tríplice: um o de nobre, outro o de mecânico e de artes sedentárias e o último dos privilegiados que,
pela milícia ou pela arte, escaparam aos ofícios sórdidos”451. Pela mesma época, alguns autores integram estes privilegiados na nobreza, embora os cataloguem como “nobres de infima espécie”. É o caso de Belchior Febo, que diz dos
446
447
448
449
450
451
CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 15; PEGAS, 1669, III, ad 1, 24, gl. 1, n. 14/15.
Per immemorabile possessionem, iliustratas armas, & insignias nobilium, nobilitas probatur Pegas, 1669, III, ad 1, 24, gl. 1, n. 16. Sobre a importância dos nomes e títulos, v.
RIBEIRO, 1730, per totum.
PEGAS, 1669, III, ad l, 24, gl. 1, n. 16.
PHAEBUS, 1619, I, d. 106, n. 34; cf. também CARVALHO, 1634, n. 200.
PHAEBUS, 1619, dec. 106, n. 2; também dec. 14, n. 10 e CARVALHO, 1634, n. 264.
CASTRO, 1621, dec. 113, n. 2.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
183
nobres excusos de oitavo que são “de ínfima ordem, e de simples figura, que não
dispõem daquela glória dos que adquiriram a nobreza dos seus antepassados,
apenas a tendo por causa das suas riquezas; mas o dinheiro não pode adquirir
nem a virtude nem a verdadeira geração”452. Daí que, como ele expressamente
acautela, estes nobres nascidos plebeus não devam ser admitidos nas confrarias
reservadas aos nobres453. Já na segunda metade do séc. XVIII, Pascoal de Melo
complica um pouco mais as coisas: “Na sociedade civil, como sociedade desigual, convém que existam várias ordens de cidadãos: a primazia detém-na a
ordem dos patrícios; depois a dos cavaleiros e a dos plebeus [...] Os patrícios
são os nobres por excelência que, na cidade, obtêm junto do rei o principal
lugar [...] Por isso, aqui apenas incluímos os que dantes se chamavam filhos
d’algo e hoje chamamos fidalgos”454. Mas, antes de tratar da terceira ordem, a
do povo, fala de “um outro género de nobreza” (III, 3, 14), constituído pelos que
se ocupam “nos ofícios e funções civis” aos quais são devidas honras, embora
não sejam propriamente nem nobres (patricii) nem cavaleiros (equites). Tal seria
o caso dos desembargadores e dos restantes magistrados455, professores e doutores456. No povo, finalmente, inclui os que não têm nenhuma nobreza; ou seja, os
que não se incluem em qualquer das anteriores categorias ou, ainda, na dos agricultores, já que “os cultivadores dos campos são sempre de enumerar no conjunto dos nobres”457.
Quanto às categorias correspondentes a graus especiais de nobreza
previstas nas leis, elas eram, em primeiro lugar, as várias categorias decalcadas
dos regimentos do paço do séc. XV para as Ordenações e cujo sentido e limites
não eram isentos de dúvidas nos últimos séculos do Antigo Regime; são categorias como as de ricos-homens458, infanções459 e vassalos460. Depois, os títulos de
duques, marqueses, condes, barões, viscondes461 ou, simplesmente, de senhores
de terras462. Depois, ainda, as várias categorias de fidalgos (de solar463, de cota
de armas464 ou inscritos nos nossos livros465 466, de escudeiros467. E, finalmente,
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
PHAEBUS, 1619, I, dec. 14, n. II.
Nomeadamente na da Misericórdia de Lisboa; idem, n. 12.
Aqui inclui as subcategorias de “ricos homens”, “infanções”, “vassalos”, “duques”, “marqueses
e condes”, “viscondes e barões”, “fidalgos da Casa Real”. (MELO FREIRE, 1789, II, 3, 3 ss.)
Exclui os juízes ordinários.
MELO FREIRE, 1789, II, 3,1
MELO FREIRE, 1789, III, 3,15.
Cf. CABEDO, 1601, II, dec. 108; PEGAS, 1669, III, ad I, 24, gl. 1, n. 11.
Cf. CABEDO, 1601, II, dec. 107.
Cf. CABEDO, 1601, II, dec. 106.
CABEDO, 1601, II, dec. 105; MELO FREIRE, 1789, II, 3, 6 ss..
MELO FREIRE, 1789, II, 3, 9.
“Não se sabe o que são; parece serem nobres notórios, com solar”. FRAGOSO, 1601, I, 1. 3,
disp. 6, n. 173. Sobre o tema, cf. Ribeiro, 1730, 125 ss..
Cf. RIBEIRO, 1730, 130 ss..
(= cavaleiros), PEGAS, 1669, XIV, ad 1, 1, n. 54. Fragoso diz que são os que têm armas expedidas pelo rei de armas. Opunham-se aos cavaleiros simples ou cavaleiros de ordenanças
184
Antônio Manuel Hespanha
categorias como as de doutor468, licenciados469 470, juiz471, mercador472, com um
regime de privilégios e isenções que decorria mais do direito comum do que do
direito régio.
466
467
468
469
470
471
472
(FRAGOSO, 1601, I, 1. 3. disp. 6, n. 146; cf., ainda, VALASCO: Allegationes, all. 13, n.os
4/11; RIBEIRO, 1730, 128 s., 136 ss.).
De acordo com o Regimento de 1572, MELO FREIRE, 1789, II, 3, 10; PEGAS, 1669, I, ad 1, 2, gl.2, n.4.
CABEDO, 1601, II, dec. 106; RIBEIRO, 1730, 138 ss. Segundo Manuel Álvares Pegas, escrevendo na segunda metade do Séc. XVII, haveria quatro espécies: (i) os que têm foro de escudeiros da Casa Real dado pelo rei (cf. Ord. Fil., I, 65, 30); (ii) os que tem foro na Casa Real por
carta especial (só têm os privilégios desta) (Ord. Fil., II, 45, 38); (iii) criados ou escudeiros de
fidalgos (cf. Ord. Fil., II, 45, 38; V, 139, pr.); (iv) escudeiros de linhagem (PEGAS, 1669, XIV,
ad 1, 66, n. 102). Segundo Belchior Febo, os escudeiros não costumavam ser nobres; o título
era usualmente dado a plebeus e mecânicos e filhos de plebeus, nomeadamente quando iam à
Índia em serviço do rei. (PHAEBUS, 1619, I, d. 106, n. 38)
São equiparados a cavaleiros confirmados; têm os mesmos privilégios dos bispos, abades beneditinos e fidalgos (Ord. Fil., V, 120); cf. FRAGOSO, 1641, I, 1. 3, disp. 6, n. 144/5; CARVALHO,
1634, n. 265. Os filhos dos doutores estão incluídos, PHAEBUS, 1619, I, dec. 161 (ou 162 noutras
edições), n. 4/5; os doutores jubilados ou eméritos são equiparados a condes, n. 6.
Há dúvida sobre a sua nobreza, n. 7; mas, segundo a jurisprudência palatina e o entendimento
comum, são equiparados aos nobres pelo menos para alguns efeitos legais (maxime, necessidade de legitimação dos filhos), Phaebus, 1619, I, dec. 11 (ou 12), n. 8; CARVALHO, 1634, n.
278. Sobre os bacharéis, idem, 284 (discutido).
Quanto aos advogados, são equiparados aos cavaleiros (L. qui advocati, Cod. advocat divers.
Jur.), segundo decisão da Casa da Suplicação (pelo menos para os efeitos da Ord. Fil, III, 59),
PHAEBUS, 1619, I, dec. 161 (ou 162 noutras edições), n. 9. Quanto aos médicos, apesar de dificuldades com textos do direito romano que os referiam como exercendo um oficio vil, era
certo e julgado na Casa da Suplicação (decisão de 1595) que gozavam dos mesmos privilégios
que os doutores em teologia e direito, mesmo que não sejam doutores, n.°s 15/16; mas deve
distinguir-se entre a medicina especulativa e a cirúrgica, sendo esta mecânica, n.os 18/19; um
cirurgião com quartão na estrebaria não paga oitavo (CABEDO, 1601, II, ar. 36); o boticário é
nobre (PHAEBUS, 1619, 1, ar. 65). Ouanto aos notários, foi julgado frequentemente na Casa
da Suplicação (PHAEBUS, 1619, I, dec. 161 (ou 162 noutras edições), n. 22), com base em
textos do direito romano que os declaravam servos públicos que exerciam um ofício vil, não
adquirindo, antes perdendo, a nobreza. Mas Febo contraria este ponto de vista: o notário é servo público, não porque seja servo e careça de personalidade, mas porque serve um múnus público e é obrigado a prestar serviço a qualquer pessoa do povo; ora, neste sentido, seriam servos
públicos todos os que servissem os ofícios da república. De resto, como se poderiam dizer infames os notários, se da sua fé depende todo o peso daqueles que agem em juízo. Opina, por
isso, que o cargo não tira a nobreza, embora não a dê, como viu frequentemente julgado, n. 2028. No mesmo sentido, PEGAS, 1669, III, ad 1, 23, gl 1, n. 4 ss (o tabelião de Besteiros, apesar
de ser homem baixo, está escuso de oitavo. CABEDO, 1601 , II, ar. 103). Sobre os pintores,
entende-se, nos finais do séc. XVI, que o costume da pátria os inclui entre os mecânicos, apesar
de alguns privilégios de nobreza, Castro, 1621, d. 113. Sobre estas categorias, também
CARVALHO, 1634, 278 ss..
A nobreza do juiz depende do costume do lugar; em geral só os juízes de vilas notáveis (mas
não os de vintena) - e os seus filhos – são considerados nobres. (Phaebus, 1619, I, ar. 124;
Melo Freire, 1789, II, 3,14) (um vereador e almoxarife de Tentúgal, com cavalos e bestas de
sela, não paga oitavo, CABEDO, 1601, II, ar. 7)
São nobres para efeito de excusarem de pena vil (Ord. Fil., V, 139), se exercem a mercancia de
forma nobre. (L. nobilibus, cod.. commerciis, & mercaturis) Em todo o caso, a questão era
controversa, devendo observar-se o costume da pátria: Phaebus, 1619. I, dec. 161 (ou 162 noutras edições), n. 29 s.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
7.7
185
EFEITOS
Sendo uma disposição espiritual, a nobreza consistia numa inclinação
do espírito para certas virtudes473, nomeadamente para aquelas mais necessárias
ao exercício da autoridade (magnanimitatem, magnificentiam, affabilitatem,
docilitatem, industriam politicam). Esta inclinação provocava a aptidão dos
nobres para realizar feitos grandes e nobres (ex nobilibus nobiles res procreantur. PEGAS, 1669, III, ad I, 24, gl. 1, n. 8). Era precisamente esta capacidade
que recomendava os nobres para os cargos de governo474 e que justificava que
os seus serviços fossem mais remunerados475.
Para além destes efeitos gerais do estado de nobreza, a lei atribuía-lhes
certos privilégios particulares, de natureza fiscal, civil, processual e penal, aos
quais, em geral, já nos referimos476.
REFERÊNCIAS
CARNEIRO, Manuel Borges. Direito Civil de Portugal. Lisboa, 1851.
CARVALHO, João de. Novus et Methodicus Tractatus de Una et Altera Quarta Deducenda [...] Falcidia. Ulisipone 1634.
CASTRO, Gabriel Pereira de. Decisiones Supremi Senatus Lusitaniae. Ulisipone, 1621.
FRAGOSO, Baptista. De regimen reipublicae christianae, Lugduni. 1641-1652.
FARIA, Manuel Severim de. “Discurso 3”, Noticias de Portugal. Lisboa, 1791.
MELO FREIRE, Pascoal José de. Institutiones iuris civilis Lusitani. Ulisipone, 1789.
PEGAS, Manuel Alvares. Commentaria ad Ordinationes Regni Portugalliae. Ulisipone,
1669-1703.
PHAEBUS, Melchior. Decisiones senatus regni Lusitaniae [...] Lisbonae, 1619 (ed. cons.
1760).
SAINT-MARTIN, Monique. L’espace de la noblesse. Paris: Metaillié, 1993.
RIBEIRO, João Pinto. Sobre os títulos de nobreza de Portugal e seus privilégios, In: Obras
Várias. Lisboa, 1730.
Tratado jurídico das pessoas honradas escrito segundo a legislação vigente à morte
d’Elrei D. João VI, Lisboa, 1851.
VERA, Álvaro Ferreira de. Origem da nobreza política [...]. Lisboa, 1631.
473
474
475
476
Sobre os vícios e virtudes dos nobres, PEGAS, 1669, IV, ad 1, 35, gl. 4, n. 4; VI, ad 1, 74, gl 2,
n. 07-12; “politici, & urbani, ac bene morati; nobilitati omnes virtutes famulentur, maxime
magninamitas, & magnificentia, docilitas, & affabilitas”. (FRAGOSO, 1601, I, 1. 3, disp. 6, n.
1 36 in fim.) Também têm defeitos típicos. (ingrati, illiberales, libidini dediti, ibid, n. 135)
Praeferendi sunt ad honores, & magistratibus, & dignitates (saeculares et spirituales):
CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 7; nobiles, & non ignobiles sunt eligendi ad gubernationes, &
officia publica reipublicae: PEGAS, 1669, I, ad 1, 1, gl. 5, n. 4; Caeteribus paris anteponendi:
CABEDO, 1601, II, dec. 73, n. 7.
Maioribus gratiis, beneficiis, & privilegiis munerandi sunt nobiles, & magnates, quam inferioris gradus homines. PEGAS, 1669, VII, ad II, 45, gl. 2, n. 1.
V., para uma enumeração exaustiva que aqui não se justifica: Tratado jurídico..., cit.
186
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
187
8
A ORDEM MORAL DA FAZENDA:
O CÁLCULO FINANCEIRO DO
ANTIGO REGIME
8.1
A TEORIA FINANCEIRA DO ANTIGO REGIME
Nos seus “Advertimentos dos meios mais efficases e convenientes que
há, para o desempenho do património real e restauração do bem público destes
Reynos de Portugal sem oppressão do povo e com commua utilidade de todos”
(1607, ANTT, ms. “Livraria”, 1821), Baltasar de Faria Severim inicia o seu
discurso com algumas considerações não isentas de ironia sobre o estado da
reflexão sobre as matérias da fazenda e finanças neste início do século XVII.
Escreve ele:
Todos os que até agora escreverão do governo político (a que os modernos
chamão Razão de Estado) tratarão esta matéria tão largamente, e nos deixarão escrito tão doutos e excellentes tratados, que em parte parecerá a alguem
pouco necessário este nosso trabalho. Porém, se se considerar com attenção
as regras que derão, e as questões que ventilarão facilmente se achará que
somente nos insinuarão huas theoricas tão especulativas e espirituaes, que
vem a ser de mui pouco momento, e utilidade para a Republica, pela difficuldade que tem de se porem em pratica. Porque ordinariamente fasem hua descripção das grandes virtudes e partes que hade ter o Principe o Governador:
como hade ser justo, temente a Deus, mizericordioso, liberal, afavel, prudente, e valeroso; dizem muitas cousas da fidelidade, scientia, prudencia, e
experiência dos Conselheiros, mostram, quão prudente, animoso, acautelado,
e experimentado hade ser o Capitão; tratão mui diffusamente o muito que
convem que o Rey tenha muitas rendas, grandes riquezas e thesouros, e dizem
outras muitas cousas, que servem somente de pintar hum perfeito Principe, e
hua perfeita Republica [...] E finalmente são tão especulativos, que não consideram mais que a bondade dos fins, sem darem regras de como se hão de
achar os meios para estes fins se alcançarem [...] escrevem dos grandes the-
188
Antônio Manuel Hespanha
souros e rendas que o Principe ha de ter, e não dão remedios para se aiuntar
este dinheiro, e para as rendas de presente se desempenharem. (p. 1-3)
Este texto descreve muito justamente a situação. Na verdade, o tema
da riqueza do rei era abordado pela literatura tradicional sobre o governo, desde
os espelhos dos príncipes até aos capítulos das obras de teologia moral dedicados aos específicos deveres e virtudes dos reis477. Como diz Baltasar Severim,
nem os novos “políticos” (como Maquiavel ou Botero) ou “económicos” (como
Castiglione ou Della Casa) inovam muito sobre o tema. Os segundos, porque,
referindo-se explicitamente ao governo da casa, não cuidam dos problemas e
meios específicos da Fazenda da república. Os primeiros, por sua vez, por duas
ordens de razões.
Primeiro, porque, na esteira de Maquiavel e, finalmente, dos grandes
moralistas da Antiguidade, se deixam conduzir, na discussão dos problemas da
Fazenda dos príncipes, pela polémica, aberta pelo florentino (Il principe, cap.
XVI), acerca da avareza ou da liberalidade como virtudes reais, com o que se
reduzem a um discurso político-moralista sobre a eficácia de cada uma destas qualidades como estratégias de governo e evacuam qualquer reflexão de natureza técnica sobre o modo de engrandecer, conservar e gerir o património da coroa478.
Depois, porque, na perspectiva tradicional, a riqueza do rei não era um
bem superior ou sequer separável da riqueza do Reino, entendida como o somatório da riqueza dos súbditos; de onde, a riqueza do Reino fosse medida,
segundo esta corrente do pensamento financeiro, pelo bem-estar e, logo, pela
abundância da população (MAGALHÃES, 1959, v. 9, p. 157). Daqui decorria
que as regras de ouro da gestão financeira fossem as mesmas que presidiam a
toda a actividade de governo: as da justiça, ou seja, de que qualquer intromissão
do rei no património dos vassalos deveria ser excepcional e que só seria legítima
precedendo justa causa, igualdade e justiça materiais e processo devido (que
poderia incluir o consentimento do Reino). Especificando mais, daqui resultava
que o rei devia: I) cobrir as despesas da coroa com as rendas do património próprio do rei, mas, não sendo isto possível (e tinha-se a consciência de que o era
477
V., para nos restringirmos a peninsulares de grande voga na época, Martin de Azpilcueta Navarro, Manual de Confessores, & Penitentes..., cit., Coimbra, 1549, cap. 25, p. 4 I 3 [“De alguas
perguntas particulares (...) quanto aos senhores”], Juan de Azor, Institutionum moralium,
Roma, 1600-1611, pars. II t. II), livro XI, “De regum origine, officiis et potestate”, maxime, c.
VII (“De regum vitiis et peccatis”) e António de Mendoza, S. 1. Liber theologiae moralis,
Lugduni, 1659, tr. II, ex. III, p. 302. e ss. Para um teólogo italiano de grande divulgação na Península Ibérica, Tomás de Vio Caietanus, Peccatorum surnmula..., cit., Duaci, 1613, p. 721.
478
Giovanni Botero (Della ragione di Stato e della grandezza e magnificenza delle cità, 1589,
maxime, livro VII; utilizei uma versão castelhana mais próxima da época que nos interessa,
Razón de Estado con tres libros de la grandeza de las ciudades, Burgos, 1603); no entanto,
marca uma ruptura – ou não fosse ele um pensador de ruptura, embora controlada –, ao desenvolver numa prototeoria financeira, a sua máxima de que convém ao príncipe ter um grande tesouro (livro VII, p. 90 e ss.).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
189
cada vez menos num período de desvalorização monetária como fora o século
XVI e de crescentes gastos da coroa); II) usar de uma tributação justa.
A questão da justiça (distributiva, isto é, relativa ao equilíbrio entre
carga fiscal e recursos dos contribuintes, e comutativa, isto é, equilíbrio relativo
dos contribuintes) estava, assim, no centro da reflexão financeira e encaminhava-a, portanto, para duas direcções. Por um lado, a questão de como aumentar a
riqueza do Reino, de modo a poder, sem desproporção e comoção, aumentar a
carga fiscal. E o problema do aumento da riqueza, ao qual se ligam sucessivamente, na teoria seiscentista e setecentista, os do aumento da população, da
acumulação de metais preciosos, da criação de indústrias, do equilíbrio favorável do comércio externo, do favor da agricultura. Por outro, a questão dos meios
mais justos e menos opressivos de transformar a riqueza do Reino em riqueza do
rei. É a questão da política fiscal, que normalmente, se reduz a questões de ética
fiscal, como veremos.
Em contrapartida, é mais difícil que surjam, neste contexto, questões
de oportunidade ou de mera técnica financeira.
As primeiras são mesmo suspeitas de imoralidade ou de indecência,
de tal modo o plano em que se colocam é diferente daquele considerado adequado. Por exemplo, a questão, levantada por Maquiavel, da vantagem de um príncipe ser miserável (ou avaro) contrariava – independentemente da oportunidade
dos resultados financeiros – tudo o que se cria estabelecido quanto à deontologia
do ofício de reinar, porque desde a Antiguidade se definia a liberalidade e a
magnificência como qualidades reais por natureza. Do mesmo modo, discorrer
sobre se seria conveniente ao príncipe, por razões de oportunidade política, empenhar o seu património – de modo a conseguir que a multidão dos seus credores (de juros, de tenças, de ordenados) ficasse naturalmente solidária com o
destino do monarca e da sua fazenda – era aberrante, de tal modo a solução
afirmativa contrariava tanto os fundamentos naturais da obediência dos vassalos
como as ideias fundamentais de liberdade (G. BOTERO, Ragioni di Stato...,
cit., 40 v., 92) e de reputação do príncipe, para não falar já do facto de se promover um meio tão pecaminoso como a usura479.
Quanto às questões meramente técnicas, existiam idênticas reservas.
Nos finais do século XVI, põe-se, por exemplo, a questão de saber se seria “em
serviço e proll” da Fazenda real “aver nella livro de caixa e correr por esta
ordem ou pella antigua feita no ano de 1591”. (ANTT, ms. “Livraria”, cod.
2257, p. 205-207). Um dos pareceres é no sentido negativo, com o fundamento
em que tais técnicas contabilísticas seriam ajustadas aos comerciantes, mas, em
contrapartida, impróprias de reis. Embora com outros pontos de vista, Duarte
Gomes Solis dá conta desta mesma distância entre a contabilidade real e a con479
Num curioso texto de 1609, escrito como apêndice à antes referida obra de seu tio (Resposta
que se dá a hua ojecção que alguns oppoem contra a doutrina deste livro, dizendo ser boa Razão de estado estar empenhado o património real em Hespanha, p. 82-91), Manuel Severim de
Faria discute esta última questão.
190
Antônio Manuel Hespanha
tabilidade dos comerciantes480. E, de facto, é só no século XVIII que métodos
rigorosos, já há muito em uso na contabilidade dos privados – como a contabilidade por partidas dobradas – começam a ser usados na contabilidade da coroa481.
Mas, sobretudo, estas questões técnico-organizativas, como métodos de previsão
de receitas e despesas, sistemas de administração das rendas, sistemas de contabilidade e de organização burocrática, não suscitam a atenção dos teóricos ou
dos cultores da “alta política”. Mesmo já nos meados do século XVIII, um político tão atento aos mecanismos quotidianos de governo como D. Luís da Cunha
não dedica às finanças senão umas notas fugidias e menos ainda à sua organização técnica [Instruções Inéditas de (...) a Marco António de Azevedo Coutinho,
1738, ed. de Pedro de Azevedo e António Baião, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1929, p. 191 e ss.], confessando mesmo que ignora “a quanto montam as
rendas não casuais da coroa”. (Testamento Politico ou Carta Escrita ao Senhor
Rei D. José I, antes do Seu Governo. Lisboa, 1820, 23)482
A excepção mais brilhante é o já citado texto de Baltasar de Faria Severim, injustamente esquecido483.
Onde esta discussão existe é em textos de muito menores ambições
teóricas, da pena de arbitristas ou, sobretudo no período filipino, nos memoriais
enviados ao rei sobre o estado das finanças do Reino (v. infra). E, muito mais
tarde, quando – também no domínio das finanças – as considerações de oportunidade sobrelevam as de justiça, na literatura reformista dos finais do século
XVIII.
480
“O primeiro e principal ponto do mercador é o Livro de caixa, que na Casa da Índia havia de
haver [...]”, SOLIS, 1628, p. 42.
A escrituração por partidas dobradas é instituída com a criação do tesoureiro-mor do Reino
(carta de lei de 22 de Dezembro de 1761, tít. XII). Em França fora introduzido na contabilidade
da coroa em 1716. Em Castela, a existência de um “livro de caixa e razão”, o método do “dever
e haver”, que teria correspondido à escrituração por partidas dobradas, data de 1592 [cf. Esteban Hernández Esteve, Estabelecimento de la partida doble en las cuentas centrales de la real
hacienda de Castilla (1592). 1. Pedro Luís de Torregosa, primer contador del libro de caja,
Madrid, Banco de Espanha, 1986]. Se for assim, a citada e contemporânea discussão, entre nós,
a respeito da existência de um “livro de caixa e correr” pode ser interpretada com o mesmo
sentido. Mas a ênfase da Lei de 1761 indicia que, realmente, a escrituração anterior não correspondia à usada nos círculos mercantis do século XVIII sob a designação “partidas dobradas”.
482
Ignorância clássica desde o século XVII (v. Advertencias sobre a Confusão Que Ha na Renda e
Despesa da Fazenda Real de Portugal e como Se Poderia Atalhar. BNL, 917, 115 v.-18 v.;
1624, Advertencias Importantes Que Se Mandarão ao Conde Duque sobre o Reyno de Portugal.
BNL, cód. 2632., p. 119-122, 1628, e Solis, 1622, p. 131, 1628, p. 118 e ss.). Raras são, de
resto, as relações das rendas da coroa que não contenham erros de cálculo, explicados, talvez,
pela dualidade entre unidades monetárias com curso efectivo (como os cruzados) e unidades
meramente de conta (como os contos de réis).
483
Até por ser a fonte (quase sempre copiada ipsis verbis) de muito do que aparece atribuído ao seu
sobrinho Manuel Severim, no “seu” conhecido discurso “Dos meios com que Portugal pode crescer em grande número de gente [...]” (cf., sobre ele, MAGALHÃES, 1959, vol. IX, p. 144 e ss).
481
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
8.2
191
CONSTRANGIMENTOS DO CÁLCULO
FINANCEIRO
Mas não era isto que impedia que os diagnósticos sobre as dificuldades da Fazenda fossem quase todos coincidentes e, de um ponto de vista estritamente financeiro, bastante exactos.
O que impedia que esta perspicácia do diagnóstico se transformasse
numa eficácia da terapêutica era o facto de o cálculo financeiro estar subordinado a uma série de constrangimentos relacionados com a deontologia do governo.
“Constrangimentos morais e religiosos”, que excluíam todas as medidas financeiras que atentassem contra a deontologia do governo ou contra a liberdade da
Igreja. “Constrangimentos intelectuais”, correspondentes à evidência de certos
modelos de gestão do património, como o modelo da “casa”, que se impunha
desde Xenofonte e Aristóteles, à administração pública e privada europeia.
“Constrangimentos políticos”, que sobrepunham, por exemplo, a reputação ou a
política dinástica do príncipe à sua solvabilidade. A que se acrescentavam, naturalmente, “constrangimentos técnicos e institucionais”.
Os constrangimentos “morais e religiosos” da política financeira incidiam
sobretudo sobre dois aspectos: a licitude dos tributos (que incluía o aspecto particular da licitude da tributação da Igreja) e a licitude das operações creditícias.
A primeira questão ainda envolvia dois momentos distintos. Um, o da
licitude in abstracto, por assim dizer, do tributo, face à ordem ético-jurídica
comum. Outro, o da sua licitude no plano de uma ordem jurídica concreta, v. g.,
a portuguesa, com as limitações específicas que ela contivesse ao poder tributário do rei.
No primeiro plano – o da moral e do direito comum –, a doutrina tinha
como guia dois princípios. O do carácter odioso de novos tributos e o de que, de
qualquer modo, estes (como os antigos) tinham que ser legítimos.
O primeiro princípio estava, de resto, consagrado no § V da bula In
Coena Domini (Bula da Ceia, de Gregório IX, publicada anualmente na QuintaFeira Santa), onde se excomungavam os senhores que, nas suas terras, impusessem novas portagens ou gabelas (isto é, impostos sobre as vendas) ou as aumentassem sem especial permissão da Santa Sé, a não ser nos casos permitidos
pelo direito484. É certo que este cânone distingue as portagens ou gabelas — que
incidem sobre as mercadorias que transitam (importadas ou exportadas) — das
talhas, ou fintas, que constituem contribuições pro rata impostas pelos magistrados a quem compete a cura do bem da república, e destinadas a subvencionar
os gastos comuns, estas últimas podendo ser licitamente criadas. Em todo o
484
Embora, na interpretação dos juristas mais modernos (a partir, pelo menos, do século XIV),
este cânone não se aplicasse aos senhores ou repúblicas que não reconhecessem superior (cf.
Fragoso, 1641. v. II, livro I, disp. 3 e ss., ad. § v, n. 114 e 115, citando fontes doutrinais ainda
medievais, como Baldo e Saliceto).
192
Antônio Manuel Hespanha
caso, esta proibição de novos tributos (embora o cânone só falasse de certo tipo
de tributos) permaneceu como um tópico de invocação corrente, pronunciandose os autores pela presunção da sua injustiça, o que importava consequências
bem concretas – ninguém seria obrigado a pagá-los, podendo ainda defraudar o
fisco, sem perigo da sua consciência (FRAGOSO, loc. cit., n. 1 14).
De qualquer modo, novos ou antigos, senhoriais ou régios, os tributos
tinham que ser legítimos, sob pena de excomunhão para quem os impusesse e de
recusa justificada de pagamento pelos tributados. De facto, a ilicitude dos tributos podia decorrer de quatro circunstâncias, que a teologia moral escolástica
tinha arrumado de forma característica, segundo o modelo expositivo das quatro
causas aristotélicas. Assim, os tributos (novos) podiam ser ilícitos e levar à excomunhão: I) ex causa efficiente, ou seja, por falta de poder tributário de quem
os criou: II) ex causa finale, por não terem em vista o bem comum; III) ex causa
materiale, se incidem sobre bens de sustento – mas não já sobre as mercadorias
objecto de comércio (FRAGOSO, loc. cit., n.° 119, citando a opinião comum);
IV) ex causa formale, se não fossem iguais ou proporcionados, sobrecarregando
mais os pobres do que os ricos.
Para além disto, os tributos tinham que ser lícitos em face do ordenamento jurídico concreto, o que levanta, desde logo, o problema da obrigatoriedade ou não do consentimento dos povos. Em Portugal, a opinião geralmente
recebida até ao início do século XVIII é a da necessidade do consentimento do
Reino, reunido em cortes485.
Caso particular, neste capítulo da licitude dos tributos, era o da tributação da Igreja. Na verdade, o § 18 da Bula da Ceia feria de excomunhão todos
os que impusessem, sem licença expressa do papa, quaisquer colectas, décimas,
talhas, contribuições ou outros ónus sobre os eclesiásticos, instituições da Igreja,
benefícios eclesiásticos ou bens patrimoniais adquiridos de qualquer modo pela
Igreja (BAPTISTA FRAGOSO, 1641, I, parte 2, liv. I, disp. 3, p. 220), embora
se admitisse que, quando se tratasse de ónus exigidos pela utilidade pública, os
clérigos estivessem obrigados a eles, podendo ser coagidos pelo juízo secular ou
eclesiástico. (idem, n. 311) No direito nacional, a discussão girava em torno de
três textos das ordenações: Ordenações Filipinas, II, 1, 19, que estabelecia a sua
sujeição ao foro comum (e, implicitamente, aos respectivos tributos) no caso de
questões levantadas pela aplicação dos tributos das alfândegas, sisas, dízimas,
portagens e aduanas, “nos casos em que, conforme nossas Ordenações, e direito
os deverem”; um outro era o das Ordenações Filipinas, II, 11, 1, em que expressamente se isentavam os clérigos de dízima (do pescado, das sentenças, das
alfândegas), portagem e, em parte, da sisa; o último era o das Ordenações Fili-
485
É esta, ponto por ponto, a doutrina defendida por Pantaleão Rodrigues PACHECO no seu
Tractatus de justa exactione tributi (c. 1640) (BNL, cód. 395-414), publ. por Moses Bensabat Amzalak, Frei Pantaleão Rodrigues Pacheco e o Seu “Tratado da Justa Exacção do Tributo”.
Lisboa, Ed. Império, 1957 (onde se publica uma versão traduzida; para os passos citados, cf. p. 1719).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
193
pinas, II, 33, 8, que estabelecia a sujeição de princípio dos clérigos em relação
às jugadas. Tudo combinado, e atenta a magna discussão exegética e doutrinal
que estes textos levantavam (HESPANHA, 1986, v. I, p. 439 e ss.), o balanço
era muito favorável aos eclesiásticos, que, como diz Baptista Fragoso, podiam,
sem receio de sisa, portagens ou aduanas, vender os seus bens móveis e imóveis,
bem como as rendas dos seus benefícios. (FRAGOSO, 1641, I, parte 1, liv. II,
disp. 4, n. 311 e ss.)
A Igreja portuguesa conseguiu manter quase intacto este regime de
isenção – que se tinha fortalecido nos últimos anos da dinastia de Avis – até aos
finais do século XVIII, em contraste com o que se passava, por exemplo, em
Castela, onde a Igreja contribuía desde o início da época moderna com uma
parte das suas rendas para os gastos do Reino. Na verdade, os eclesiásticos (salvo os clérigos comerciantes) sempre estiveram isentos de sisa (HESPANHA,
1986, vol. p. 440) e, quanto às décimas, só vêm a ser a elas sujeitos pelo regimento de 1672. Mas por pouco tempo, pois logo em 1777 são de novo isentos,
apenas voltando a pagá-la a partir de 1796. Dada a amplitude do estado eclesiástico, a importância das suas rendas e o facto de estes pretenderem, embora
sem grande sucesso (pelo menos doutrinário), que as suas isenções abrangessem
os seus caseiros ou colonos (Ordenações Filipinas, II, 25, e ALVARO
VALASCO: Decisionum..., vol. , dec. 131), já se avalia como era central, do
ponto de vista financeiro, esta questão da “liberdade da Igreja”.
Claro que a Igreja acabava por contribuir, indirectamente, para os
gastos da coroa. Por um lado, através das rendas das capelas e igrejas do Padroado
Real (HESPANHA, 1989, v. I, p. 451, e Jorge de Cabedo: De patronatu ecclesiarum regiae coronae, ed. cons. Antuerpiae, 1734). Por outro, pelas rendas dos
mestrados das ordens militares, incorporados na coroa nos meados do século
XVI. (1550-1552) (HESPANHA, 1986, v. I, p. 455) Apesar de os rendimentos
das comendas terem um valor importante, o facto de a maior parte delas andar
concedida fazia com que o rendimento dos mestrados fosse insignificante no
cômputo das rendas da coroa.
A Bula da Cruzada, produto das esmolas dadas pelos fiéis a troco de
indulgências e outras graças (para vivos ou para defuntos) e aplicada à luta contra os infiéis, constituía uma concessão pontifícia aos reis de Portugal, tornada
regular a partir de 1591 (Bula: Decens esse videtur, de Gregório XIV, data em
que se cria, para administrar o seu rendimento, o Tribunal da Bula da Cruzada;
novo regimento em 10.5.1634, J. J. Andrade e Silva, Col. Chron...). As esmolas
para este fim eram suscitadas por uma pregação adequada. Mas, tendo que concorrer com outras esmolas e pressupondo um controlo sobre os montantes arrecadados que a coroa não podia exercer, a bula teve sempre um rendimento relativamente pouco importante.
Um outro meio, este eventual, de punção das rendas eclesiásticas eram
os pedidos de subsídios, a que se recorreu frequentemente no período filipino,
incitando a sua aceitação pela ameaça de aplicar rigorosamente o preceito das
Ordenações que proibia a Igreja de adquirir bens de raiz (Ordenações Filipinas,
II, 18; sobre a qual v. SAMPAIO. 1793, parte 3, p. 64 e ss.). As somas obtidas
194
Antônio Manuel Hespanha
foram-no, porém, sempre dificilmente, de pequena monta, e, em geral, tardiamente pagas. E, mesmo quando o braço do clero, nas cortes do período brigantino, concordou em contribuir para o esforço da guerra, não faltaram cabidos que
se dessolidarizaram dos seus representantes em cortes, negando-se ao serviço.
Para além de que a literatura pró-eclesiástica difundia continuamente a ideia de
que as empresas pagas com dinheiro da Igreja terminavam sempre de forma
catastrófica, invocando uma série de exemplos em apoio486. Finalmente, o recurso a breves pontifícios que autorizassem a tributação da Igreja. Foi o expediente
usado, nomeadamente, para a imposição dos reais sobre a carne e o vinho, nos
meados do século XVII. A obtenção dos breves, em que os não privilegiados
insistiam fortemente para não terem que arcar, só eles, com o peso do tributo,
era frequentemente menos difícil do que a sua pacífica aceitação pelos eclesiásticos, que chegaram a recorrer de sentenças do tribunal do coleitor pontifício no
sentido de os obrigar ao pagamento dos reais.
A isenção tributária da Igreja representava, assim, um desses condicionantes – a um tempo ético, religioso e jurídico-político – do cálculo financeiro
do Antigo Regime. Condicionante cujo alcance não pode ser minimizado, pois a
importância dos rendimentos eclesiásticos era enorme (cf. supra)487. Daí que os
povos, em cortes, e a literatura reformista (D. Luís da Cunha, Melo Freire, J; A.
B. Chichorro) sempre tenham insistido na necessidade da igualdade da tributação (ainda aqui, recorrendo a um tópico da teologia moral) e alertado para o
crescente poder econômico (maxime fundiário) da Igreja.
O problema da tributação da nobreza era também um problema ético,
dizendo respeito à deontologia do bom governo. Um governo que mantivesse a
ordem social justa e as distinções estatutárias pelas quais ela se revelava. E justamente neste plano que a questão é posta por Damião de Faria e Castro, quando
reflecte que “a nobreza, se se vê tributaria, exaspera-se; porque sem distinção
dos plebeos, se lhe igualaão os privilégios, que merece a virtude, e herdou o
sangue. A soberba das nossas Hespanhas não sofre estas igualdades [...]” (Política Morl..., cit., Lisboa, 1749, p. 164). O autor recorda, decerto, a eficácia classificativa que, em Castela, tinha a distinção entre pecheros e hidalgos. Em todo
o caso, a distinção entre nobres e não nobres nunca foi muito aparente ao nível
da tributação real, que, na generalidade dos casos, era geral para os estados seculares. Em matéria de alfândegas, de sisas ou de décimas não existiam privilégios para os nobres. A distinção apenas era relevante no plano dos ónus foraleiros, nomeadamente jugadas, quartos ou oitavos; mas estes impostos locais, pela
sua diminuta importância para s finanças da coroa e por estarem de há muito
fixados nos forais, não entravam nos cálculos financeiros da coroa.
486
487
Deve o príncipe fazer os possíveis para não impor tributos nos religiosos e eclesiásticos,
porque não são felizes em suas consequências”, escreve, já nos meados do século XVIII, Damião António de Lemos Faria e CASTRO: Política Moral e Civil..., cit., Lisboa, 1749, p. 164.
V. indicação das rendas eclesiásticas em L. A. Rebelo da SILVA, História..., cit., v. V, p. 308320, e BNL, cód. 7641, p. 63 v.-69 v.; c. 1630, somariam cerca de 90 contos (quase tanto como
os almoxarifados do Reino).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
195
Duvidosos, do ponto de vista moral, eram ainda outros expedientes financeiros. Um deles, a venda de ofícios. Alguns aproximavam-na da simonia,
sobretudo se os ofícios incluíam jurisdição, para além de ponderarem os prejuízos que adviriam aos povos, sobre quem os compradores repercutiriam o preço
pago, é à própria justiça distributiva, pela preferência que assim se daria aos
mais solventes sobre os mais meritórios. Mas Gaspar Severim, v. g., defende-a
também longamente, rebatendo as objecções morais e apontando as suas vantagens político-económicas. (Advertencias dos Meios..., 1607)488 Seja como for,
uma das contínuas censuras feitas aos reis de Espanha foi o facto de os terem
vendido489.
Mas o meio de legitimidade mais duvidoso era os juros. Não apenas
pelas razões de política financeira largamente expostas por Gaspar de Severim
(Advertencias..., 1607, na esteira de G. Botero, Ragion di Stato...; p. 92), mas
sobretudo porque consistiam em operações usurárias, proibidas pelo direito
divino (Exod., 22, vers: 25; Deut., 23, vers. 19-20; Proverb., 28, vers. 8; Ezeq.,
18, vers. 8-9; Levit., 26, vers. 35/37; Lucas,19 vers. 23; Math., 25 vers. 27)490, e
que consistiam no facto de alguém se comprometer a pagar ao credor algo mais
além do principal (“Usura est quidquid sorti principali accedit ex pacto” (Covarrubias).
De facto, era doutrina pacífica que o príncipe católico estava obrigado
a eliminar os costumes dos súbditos que induzam em pecado mortal.
(FRAGOSO, 1641, p. 1, livro § IV) É certo que se estabelecia uma importante
limitação casuística à regra – a de que tais costumes deviam ser permitidos
quando se não se pudessem extirpar sem escândalo ou perigo de toda a república, ou em vista de evitar males maiores. (ibid., p. 46, n.° 173) E que este princípio se aplicava à usura. Tal como se permitiam os prostíbulos ou o divórcio,
para evitar o mal maior da devassidão generalizada, o príncipe poderia permitir
também a usura (maxime a infiéis, pois neste caso o pecado de usura era consumido pelo mais fundamental da infidelidade). (idem, n.° 175) Para além disto, o
direito tinha encontrado formas de justificar a percepção pelo credor de um
“crescimento” das quantias mutuadas. A principal era o recurso aos conceitos de
lucrum cessans ou damnum emergens. Na verdade, se aplicado, por exemplo, à
compra de terras ou de um rebanho, o capital reproduz-se naturalmente, sob a
forma de frutos ou de crias. Quem empresta dinheiro abdica deste rendimento
488
489
490
No caso de ofício cujos réditos fossem emolumentares (v.g., notários), a operação era absolutamente gratuita para a coroa, pois eram os clientes e não esta quem tinha que pagar a renda
correspondente ao preço da venda.
Resta saber I) o que há de rigor nesta acusação e II) se a prática foi introduzida pelos reis da
casa de Áustria (cf. HESPANHA, 1986, vol. I, p. 719 e ss.).
Também pela lei da Igreja, cap. quia in omnibus, de usur., e q. 4, cap. quia dicam, cap. plerique, q. 4; também pelo direito civil, Auth., De Eccles., & I, e pelo direito natural, Aristóteles,
Politic., I, cap. 7). No direito português, a usura é proibida pelas Ordenações Filipinas, II, v. 9 e
IV, p. 67; cf. Cardoso: Liber utilissimus..., cit., s. v. “Usura”; há uma enorme literatura teológico-jurídica sobre o tema.
196
Antônio Manuel Hespanha
suplementar, deixando de lucrar ou aceitando o dano decorrente da renúncia à
liquidez. Ou, seguindo outra via argumentativa, dizia-se que o dinheiro presente
sempre se presume valer mais do que o futuro, com o que se legitimava uma operação usual nesta época como era a compra por menor preço de um crédito. (Amaro
Luís de LIMA, Commentaria..., cit., ad IV, 67, n. 54) Finalmente, justificava-se o
juro como uma liberalidade, correspondente à liberalidade do credor e integrada
numa economia de trocas beneficiais típica da sociedade do Antigo Regime491.
Por outro lado, existiam formas arquiconhecidas de disfarçar a usura.
As mais conhecidas são os censos e os contratos de câmbio. Os censos podiam
tomar a forma de censo consignativo [pedido de uma soma em dinheiro, consignando ao mutuante (comprador da renda) os rendimentos de certa terra] ou de
censo reservativo (em que o mutuante cedia uma propriedade, reservando-se o
direito de receber uma renda). Os censos podiam ser (e, se encobriam contratos
usurários, eram-no normalmente) a retro, podendo o devedor (“censista”, ou
“censuário”, vendedor da renda ou tomador da propriedade) desfazer livremente
o contrato, restituindo a quantia mutuada ou a propriedade recebida.
No contrato de câmbio, por sua vez, tratava-se de pôr à disposição de
um credor de um dos contratantes, numa praça diferente (distincto loco) ou em
moeda diferente (distincta moneta), uma certa soma. A licitude do contrato decorria do facto de se considerar o juro (neste caso o excesso da soma dada em um
lugar sobre a soma recebida em outro) como a remuneração das despesas feitas
pelo cambista com a manutenção da rede de correspondentes noutras praças492.
No caso de no contrato de câmbio não se verificar nenhuma das duas
condições que o legitimavam (diversidade de lugares ou diversidade de moeda),
mas apenas um deferimento no tempo (“câmbios secos”, titulados por “letras da
terra”), o contrato era considerado usurário e, logo, proibido (Amaro L. de
LIMA, ob. cit., loc. cit., n. 31; Mendes de CASTRO: Practica..., cit., 1. parte,
livro III, cap. 22, n. 28, na sequência de uma constituição de Pio V)493.
Mas existiam outras formas de encobrir a usura. Uma era a venda pelo
credor (mutuário) ao devedor (mutuante) de géneros por um preço superior ao
justo, diferindo o pagamento para certo tempo futuro (António Cardoso do
AMARAL: Liber utilissimus..., s. v. “Usura”, n. 9). Outra, a venda a retro, em
que o comprador da coisa (credor) podia ficar com os frutos dela (juros) durante
o período em que a venda se mantivesse (Ordenações Filipinas, IV, 67, 2).
Outra, ainda, estruturalmente semelhante, a venda de ofícios, em que a coroa
recebia, por uma vez, do comprador um capital, pagando-lhe periodicamente
uma renda, o salário; o único traço distintivo era o de que, sendo os ofícios pa491
492
493
Cf., sobre o tema, B. CLAVERO, Antidora. Antropología católica de la economía moderna.
Milão-Giuffrè, 1991. Isto é particularmente verdade nos juros reais, em que as quantias a pagar
pela coroa surgem frequentemente equiparadas a mercês ou tenças de natureza beneficial, remunerando serviços prestados pelo vassalo mutuante. (cf. GOMES, 1883, p. 46)
Sobre este contrato, v. Ordenações Filipinas, IV, 67, 5.
A permissão legal das leiras “de terra” apenas surge com o alvará de 16.01.1793.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
197
trimonializados, a coroa nunca podia remir a dívida (tal como, até certo ponto,
acontecia com a dívida consolidada).
Perante a generalizada realidade da usura, a doutrina jurídica não cessa de alargar o espaço da sua licitude. Não apenas a desta usura, praticada profissionalmente pelos banqueiros, tolerada um pouco como o amor mercenário,
quando praticado pelas profissionais do ofício. Mas também de qualquer forma
de mútuo oneroso, mesmo praticado por particulares. Assim, desde os finais do
século XVI que se legitima, perante a prática jurídica portuguesa, o contrato dito
“a razão de juro”, mesmo entre pessoas que não exercem o comércio494 assim,
no Reino, consideram-se válidos os contratos de mútuo em que se recebe anualmente entre 4% e 6,25% de juro como lucro cessante ou dano emergente.
(Amaro L. LIMA, ob. cit., loc. cit., n. 56) Deste modo, o recurso à venda de
juros, desde que não ultrapassassem 6,25%, tornava-se um meio legítimo para a
coroa, na perspectiva moral. A ponto de esta apenas se preocupar com as outras
espécies de mútuo oneroso (aberta ou encapotadamente realizado) quando estas
competissem com ela no mercado de capitais. E assim que um diploma de 13 de
Dezembro de 1615 (FEBO, Decisiones..., II, decreto 211) indirectamente legitima todas as formas de mútuo oneroso encobertas com censos, desde que não
ultrapassassem a taxa de 200 milhar, no caso de censos perpétuos, de 12 o milhar, no caso de duas vidas, e de 100 milhar, no caso de censos em uma vida,
justificando-se a decisão com a concorrência que os censos usurários faziam aos juros
reais, “por estar taão cahido o trato, e commercio, e cobrança de minhas rendas do
Reyno de Portugal sendo a principal causa disso os muitos interesses e reditus, que
os que se achão com dinheiro, conseguem, e tem por meios cambios, e compras de
juros, e censos, a que se applicão por grangearia segura, e de mais valor”495.
Abertamente admitidos desde o início da idade moderna, eram, em
contrapartida, os montes de piedade e os bancos. Os montes de piedade – permitidos por Leão X no Concílio de Latrão, em 1515496 – eram fundos de dinheiro ou de cereais constituídos para ajudar os pobres, evitando as usuras
(FRAGOSO, 1641, loc. cit., n. 26), lícitos sob a condição de: I) que só se emprestasse aos pobres por uma certa soma e por certo período, contra entrega de
penhor; II) que o mutuário pagasse algo para as despesas da gestão do monte;
III) que, no caso de não pagamento, se vendesse o penhor, restituindo ao mutuário o sobrante. O que o monte recebia do mutuário era, portanto, justificado
pelas despesas de gestão e de crescimento do fundo caritativo (ibid., n. 29).
Maiores problemas levantavam os montes de piedade “mistos” – algo de intermédio entre os anteriores e os bancos –, em que os participantes contribuíam
para o monte sob condição de receberem anualmente um juro (“quid per centum
494
495
496
Cf. M. Febo, Decisiones..., cit., v. II, dec. 205, n. 1 e ss., que refere ter sido julgado, em 1588, na
Casa da Suplicação, ser justo o contrário “à razão de juro” de 61/4%; cf. ainda o aresto n. 70.
Cf. também os alvarás de 12.10.1643 e de 23.05.1698. Mais tarde, o alvará de 17.01.1757 e a
lei de 6 de Agosto do mesmo ano fixaram o juro livremente permitido em 5%, por influência da
encíclica Vix pervenit, de Bento XIV.
Acerca dos montes de piedade, v. FRAGOSO, 1641, I, lib., 7, disp. 20, & I, p. 833.
198
Antônio Manuel Hespanha
ab eodem monte salva sorte”). Mas também estes foram expressamente aprovados por Júlio III, sob a condição de a retribuição do capital se situar entre 4% e
6,25%, segundo o costume da região, em razão do lucro cessante ou do dano
emergente, pois os depositantes “poderiam com esse dinheiro comprar prédios,
ou censos ou depositá-lo junto de mercadores”. (FRAGOSO, 1641, parte I, livro
VII, disp. XX, p. 833-835)
Quanto aos bancos, considera-se, logo no início do século XVII, que
não é usurário colocar neles dinheiro, pois o lucro remunera o risco e o facto de
se ter o dinheiro parado (AMARAI, António Cardoso do: Liber utilissimus...,
cit., s. v. “Usura”, n. 15) E, assim, defende-se que a usura não é passível de pena
quando é feita pública e abertamente pelos profissionais da banca e finança:
(LIMA, Amaro L. ob. cit., loc. cit., n. 48)
Em resumo, mais pela teoria dos impostos do que pela teoria da usura
(o que explica, juntamente com as dificuldades políticas mais efectivas quanto à
tributação do que quanto ao empenhamento das suas rendas, o maior crescimento da dívida pública do que a carga fiscal), a coroa encontrava limitações
doutrinais (que não apenas técnicas ou políticas) no momento de aumentar as
suas receitas. Mas estas não constituíam os únicos constrangimentos “externos”
do cálculo financeiro.
Um outro tipo destes constrangimentos de um cálculo financeiro
“puro” era constituído pela influência sobre a gestão financeira dos modelos,
não já de natureza ético-religiosa, mas de administração da “casa”. Como diz
António da Natividade (“Operis ratio”, Stromata oeconomica [...] sive de regimine domus. Olysipone, 1653). “Nem as coisas públicas nem as privadas podem
ser bem geridas, nem sequer geridas, sem a oeconomia”. A “oeconomia”, concebida como “arte ou ciência pela qual a ordem das coisas domésticas é disposta de forma sábia” (ibid., p. 1, cap. 1, I, n.° 1) é, portanto, concebida como o
fundamento da política, porque a mesma casa é o fundamento da república.
(ibid.) E daí que, por natureza, os dirigentes se devam primeiro treinar no governo doméstico, antes de se iniciarem no governo da república. (idem, p. I, cap. 2)
O tema é, enfim, conhecido (v. FRIGO, Daniela: “Disciplina rei famillariae”. A
“oeconomia”, como modelo administrativo de “Ancien Régime”, em Penélope,
n. 6, 1991, p. 47-62). Assim, não admira que a imagem da gestão do património
doméstico se perfile sempre como um horizonte da gestão do património real.
Desde logo, no que toca à prudência administrativa. Tal como o pai de família
deve manter sempre de reserva uma quantia côngrua para ocorrer a qualquer
necessidade, o rei deve cuidar de que uma parte das rendas da coroa fique sempre livre para as despesas da administração.
Mas, em contrapartida, o rei, tal como o chefe de família, tem obrigações civis que o forçam a actos de beneficência ou de liberalidade. E através
deles que, por um lado, constrói as redes da amizade de que depende a preservação da casa e que, por outro, projecta para o exterior uma imagem favorável que,
também ela, garante o seu prestígio, com a tradução material que este necessariamente tem [nomeadamente no momento de casar os filhos, de obter crédito, de
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
199
ser nomeado para certos lugares (v. g., tesoureiro) que supunham uma certa
riqueza económica]. Por outras palavras, o futuro da “casa” vivia da capacidade
do pai para gerir a “amizade” e a “reputação”. O mesmo se passava com o rei,
ainda em mais alto grau. A liberalidade era, para ele, um dever central, do mesmo modo que a avareza era o seu principal defeito. (HESPANHA, 1992) Mas o
dever régio de liberalidade era ainda multiplicado pelo seu dever de “magnificência”, pois desde Aristóteles que vinha a ensinar-se que a liberalidade dos
grandes devia ser uma liberalidade magnífica, uma liberalidade em que a medida
justa era a desmedida. Por isso, Damião de Lemos Faria e Castro duvida de que
os príncipes devam usar da parcimónia que aos outros se aconselha, “porque
como sempre têm muito, devem dar sempre à proporção do que têm. O seu thesouro se augmenta quando o erario se esgota. Cada vassalo rico he hum thesouro do Rey” (Política Moral, e Civil..., cit., v. I, p. 300). Tudo isto não representa
apenas um mero tópico deontológico, mas insere-se numa estratégia política explícita, sintetizada em afirmações como “as mercês são cadêas que se não rompem”
(idem, p. 302), “a liberalidade faz ao príncipe duas vezes rey, porque tanto domina
nas vontades como nas pessoas” (idem, ibidem.), ou “a força que vence não reina
nos corações; a generosidade que obriga, domina nas vontades”. (idem, p. 304)497
As consequências destes pontos de vista em matéria financeira tornam-se imediatamente evidentes. E, de facto, aquilo que costuma ser descrito
como o problema do desequilíbrio estrutural das finanças modernas não era
tanto que as coroas, em virtude do seu poder (e dos seus projectos de poder),
estivessem a assumir novas e onerosas funções mas, antes, que elas, em virtude
da sua debilidade, tinham que complementar a pouca força de que dispunham
com os meios “doces” de captação do favor dos súbditos por meio da liberalidade ou da demonstração magnificente. A “oeconomia” (a deontologia do governo
da casa) e a “política” (a deontologia do governo da república) irrompem assim
no cálculo financeiro, introduzindo-lhe componentes que hoje nos parecem espúrios e irracionais. A multiplicação das mercês (sob forma estrita, sob a forma
de padrões de juro ou sob a forma de empregos) e a política “de reputação”,
apoiada na exibição do luxo ou na condução de guerras “de ostentação política”,
são, decerto, os factores mais constantes do empenhamento das rendas reais; mas
elas são também os eixos de uma nacionalidade político-financeira específica e
não, como por vezes se pretende, o produto de derrapagens devidas ao egoísmo dos
grupos privilegiados, à corrupção do sistema ou à frivolidade dos monarcas.
É certo que, em épocas de crise aberta, o tópico da prudente gestão do
património familiar emerge de entre os outros e leva a melhor sobre o tópico da
liberalidade e da reputação. A prodigalidade é, então, censurada como um pecado do rei, pois daí nasceria que “os impostos, e tributos fossem mais elevados do
que o adequado (quam par sit), as dívidas se contraíssem em maior número do
que seria justo e os povos fossem gravados com ónus pesadíssimos” (AZOR,
Juan de: Institutionum moralium; Roma, 1600-1611, parte II, livro II (“De
497
Cf., sobre o tema, HESPANHA, 1992.
200
Antônio Manuel Hespanha
regum origine, officio et potestate”), cap. 7 (“De regum vitiis et peccatis”), p.
1106]. Mas, como era igualmente um pecado ofender os direitos dos particulares
(ius suum cuique toliere) e como – ainda que se não admitisse um direito (ou,
pelo menos, uma expectativa fundada) ao benefício – os benefícios já concedidos se enraizavam no património dos beneficiários, esta gestão parcimoniosa
nunca podia implicar um corte nas tenças concedidas, uma violação dos contratos de juro (como seria a sua denúncia, distrate ou redução unilateral) ou uma
privação injustificada dos ofícios.
O problema da “reforma dos assentamentos”, que ocupa os círculos
políticos logo a partir dos inícios do século XVII, não representava outra coisa
senão encontrar um sistema de compatibilizar este dever de extrema liberalidade
com a dura experiência da insuficiência dos meios para a levar acabo, hierarquizando os pagamentos dos assentamentos (entre os quais, tenças) incidindo sobre
rendas já esgotadas. Assim, muitos assentamentos viam a sua satisfação longamente adiada (ou convertida em títulos de dívida consolidada); mas, embora
cumprindo mal, o rei não se via limitado nessa virtude tão sua da liberalidade,
nem, mais prosaicamente, se via confrontado com os graves problemas políticos
(e mesmo jurídicos498) que decorriam do refrear desta sua prática dadivosa.
A todos estes constrangimentos somavam-se outros de ordem institucional, que dificultavam o diagnóstico preciso das situações.
Num texto datado de Janeiro de 1624 (“Advertencias sobre a confusão
que lia na receita e despesa da fazenda real de Portugal, e como se poderá atalhar”, BNL, cód. 917, p. 115 v. – 118 v.), Manuel Severim de Faria relaciona,
até certo ponto, as dificuldades financeiras com o modo “confuso” como estava
organizada a administração financeira e a contabilidade. O sistema de arrendamentos por períodos desiguais e não coincidentes nos seus termos impossibilitava a estimativa rigorosa das receitas, pois não haveria nenhum ano em que não
se iniciasse ou terminasse um arrendamento. O sistema de consignações das
receitas a certas despesas, que tornava disponíveis apenas os saldos, agravava
ainda a situação, pois nunca se sabia se certa receita daria, em certo ano, para
cobrir a despesa a que estava consignada (p. 115 v.), e, por outro lado, pulverizava o saldo global em pequenos saldos, arrecadados pelo miúdo e em tempos
diversos, dificilmente se podendo lançar mão deles para as despesas, que, essas,
eram em grandes quantias e em tempos certos. (p. 116) A isto acrescia a falta de
centralização na decisão das despesas, nomeadamente das tenças, mercês e alvitres, distribuídas sem controlo pelos vários conselhos (idem, ibidem.)499, bem
como a impossibilidade, pela dispersão dos seus assentamentos, de se saber ao
certo a quanto montavam. Mas, mesmo despesas mais centralizadas, como os
custos das armadas, seriam dificilmente computáveis. (p. 116 v.) Também o
facto de diferentes organismos darem ordens de pagamento aos diferentes tesou498
499
Já que os juristas consideravam como quasi debitum a obrigação de remunerar serviços. (v.
HESPANHA, 1990)
Cf. também, já para os finais do século XVIII; CHICHORRO, 1795, final.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
201
reiros impedia que se determinasse o saldo livre de encargos, o que ainda era
agravado pelo facto de, normalmente, estes encargos (fossem eles juros, tenças ou
ordenados) estarem “situados” em certa receita que, assim, lhe ficava parcialmente
consignada (Advertencias sobre a confusão..., cit., p. 117).
O núcleo das propostas de Manuel Severim é, afinal, a criação de uma
tesouraria-geral (entregue a um assentista, que, ao mesmo tempo, adiantava as
receitas), por onde passasse toda a receita e despesa e onde pudessem ser conferidas, anualmente, todas as verbas recebidas e gastas (BNL, cód. 917, p. 118 v.),
bem como a criação de uma espécie de serviço da dívida, concentrando em certas rendas todas as consignações particulares e deixando totalmente livres para
as despesas da coroa as outras rendas (p. 117).
Foi, no entanto, preciso esperar quase 150 anos para que estas reformas tivessem lugar, com a criação de um tesoureiro-geral e único, por onde
passassem todos os movimentos financeiros. Isto acontece em 1761 (carta de lei
de 22 de Dezembro, C.L.E., LL. AA., IV, 364 segs.), com a grande reforma
pombalina da organização contabilística e financeira. No preâmbulo desta importante lei – que cria os cargos de tesoureiro-mor do Reino e de inspector-geral
do Tesouro e que instaura a escrituração por partidas dobradas500 – pondera-se,
de facto (na sequência da opinião expressa por Manuel Severinï de Faria), o
modo como se arruinavam as monarquias501, pela “divisão e dilaceração das
suas rendas, separadas em muitos e muitos ramos, e em muitas e muito diversas
repartições [...] evaporando-lhes toda a força, por mais quantiosas que fossem”
(preâmbulo, loc. cit., p. 365).
Esta longa espera não tem, porém, a ver apenas com motivos de ordem técnica. E que a dispersão orçamental não era senão um dos sinais da dispersão política, típica da monarquia corporativa. Outro deles, ainda no domínio
financeiro, era a dispersão quanto ao conhecimento jurisdicional das questões
relativas a matérias financeiras, que, depois de diversas flutuações (Hespanha,
1989, p. 184-185), acaba por ficar substancialmente nas mãos da jurisdição comum da Casa da Suplicação, sujeita, assim, ao processo ordinário, com todas as
garantias que este dava aos particulares502, enquanto a instauração do princípio
da unidade orçamental e contabilística503 manifesta um novo sentido da unidade
500
501
502
503
Outra lei do mesmo dia estabelece uma jurisdição especial para as causas da Fazenda, cometida
privativamente ao Conselho da Fazenda. (Collecções de Legislação Extravagante, LL. AA.,
IV, p. 398 e ss.
E, mais do que isso, as repúblicas, já que da saúde do Erário Régio decorria a saúde das fazendas dos vassalos, pelo que o “Erário, chamando-se Régio, he na realidade público e commum”.
(preâmbulo, loc. cit., p. 365)
É a isto que se refere o preâmbulo da primeira carta de lei de 22 de Dezembro de 1761, quando
fala da “sujeição, em que a arrecadação das mesmas rendas se achava aos meios ordinários
dos processos e delongas dos pleitos”. A segunda lei da mesma data põe termo a este estado de
coisas, concentrando no Conselho da Fazenda toda a jurisdição financeira voluntária e contenciosa. (cf. tít. I)
Que se reforça, ainda, pela união do Erário Régio (ou Tesouro Real) com o Conselho da Fazenda,
pelo alvará de 17.12.1790. (SILVA, António Delgado da. Collecção... cit., v. resp., p. 629)
202
Antônio Manuel Hespanha
do Poder, a proto-história do Estado, que se deve datar, justamente, desta segunda metade do século XVIII.
REFERÊNCIAS
AZEVEDO, João Lúcio de. Épocas de Portugal Económico. Esboço da Sua História. Lisboa, 1928.
CHICHORRO, José de; BACEILAR, Abreu. Memoria Economico-Politica da Provincia da
Extremadura. Moses Bensabat Amzalak, Lisboa, 1943.
CARDOSO, José Luís. O Pensamento Económico em Portugal nas Finais do Séc. XVIII.
1780-1808. Lisboa: Estampa, 1989.
CLAVERO, Bartolomé. Antidora. Antropologia católica de la economia moderna, Milão:
Giuffrè, 1991.
CORTESÃO, Jaime; GUSMÃO, Alexandre de. E o Tratado de Madrid. Rio de Janeiro,
1952-1956. Lisboa: Livros Horizonte, 1984.
DIAS, João Alves. Um documento financeiro do século XVII. Nova História. séc XVII,
1985, p. 41-78.
EXPOSIÇÃO. Histórica do Ministério das Finanças. A. Luiz Gomes, Lisboa, Ministério
das Finanças, 1952.
FIGUEIREDO, José Anastácio de. Synopsis Chronologica da Legislação Portuguesa
(1143-1549), Lisboa, 1798, v. 2.
FRAGOSO, Baptista. Regimen reipublicae christianae. Collonia Allobrogum, 1641-1652.
v. 3.
GOMES, José da Costa. Colecção de Leis da Divida Publica Portuguesa. Lisboa: Imprensa
Nacional, 1883.
HESPANHA, António Manuel. As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político.
Portugal — Séc. XVII, Lisboa, 1986.
_______. Vísperas del Leviathán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII).
Madrid: Taurus, 1989.
_______. Les autres raisons de la politique. In: L’Etat dans le monde ibérique, Paris, École
Normale Supérieure; texto apresentado, em 1990. no colóquio ‘Ragion di Stato, ragione dello
Stato’. Nápoles, Istituto di Studi Filosofici.
MAGALHÃES, José Calvet de. História do pensamento económico em Portugal, In: Boletim
de Ciências Económicas. Coimbra: Faculdade de Direito, v. VIII (1919)- XII (1969).
OLIVEIRA, Águedo de. As Finanças Portuguesas dos Séc. XVI e XVII. Lisboa, 1960.
_______. Levantamentos populares no Algarve em 1637-1638. Revista Portuguesa de História, n. 20, 1983.
_______. A contestação fiscal em 1629: as reacções de Lamego e do Porto, In: Revista da
História das Ideias, n. 6, 1984, p. 259-300.
_______. Poder e Oposição Política em Portugal no Período Filipino (1580-1640). Lisboa:
Difel, 1991.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
203
OLIVEIRA, Eduardo F. de. Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa:
1885-1897, v. 14.
RIBEIRO, João Pedro. Indice Chronologico Remissivo da Legislação Portuguesa. Lisboa,
1805-18 18, v. 5.
SAMPAIO, Francisco C. de Sousa. Prelecções de Direito Patrio. Coimbra, 1793.
SILVA, Luís A. Rebello da. Historia de Portugal nos Séculos XVII e XVIII. Lisboa, 18601871. v. 5. (reimp. INCM, Lisboa, 1981).
SOLIS, Duarte Gomes. Discursos sobre los comercios de las dos Indias. Madrid, 1622
Lisboa, 1943.
_______. Alegación enfavor de la Compania de la India Oriental, 1628. Lisboa, 1955.
204
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
205
9
O CONTÍNUO REGRESSO DA ORALIDADE504
A oralidade foi um traço distintivo do direito popular (ius rusticorum)
na Idade Média e no início da Idade Moderna. Com ela, uma série
de marcas técnicas e intelectuais foi transportada para o discurso
jurídico, e até mesmo para as estratégias e práticas jurídicas –
diferentes normas, diferentes modos de argumentação, diferentes
relações entre o direito e os campos normativos vizinhos, diferentes conceitos de justiça.
Embora a escrita estivesse progressivamente se tornando a interface comum do mundo legal, a oralidade continuou influenciando
as práticas jurídicas nas periferias, dando suporte a narrativas de
vida alternativas. Ou até mesmo nas concepções jurídicas do centro. No século XIX, a crítica à constituição escrita ou à codificação, e a atenção dada à retórica forense ou parlamentar, foram
i
sintomas de uma reação à palavra e ao mundo escrito que jamais
abandonou a cultura ocidental.
ii
O mesmo parece ocorrer hoje, quando “a lei se torna pop” . Em
nossos dias, entretanto, a reação contra o discurso imperial do direito escrito não se constrói com narrativas feitas de palavras faladas, mas também com imagens em justaposição e movimento frenético. Neste mundo cinético, variedade e superficialidade se tornam os
traços distintivos da percepção de vida, com os quais um novo discurso sobre o direito deve lidar ou contra o qual precisa reagir.
9.1
DA ORALIDADE À ESCRITA
Há quase vinte anos toquei pela primeira vez no tema da oralidade e
da escrita no direito.
504
i
ii
Tradução do original em inglês de Walter Guandalini Junior.
No texto original há um trocadilho intraduzível – “reaction to written word/world”. (Nota do
Tradutor)
Referência à obra de SHERWIN, Richard K. When Law Goes Pop: the vanishing line between
Law and Popular Culture. Chicago: University of Chicago Press, 2000. (Nota do Tradutor)
206
Antônio Manuel Hespanha
Enquanto trabalhava com o judiciário popular no início da modernidade me encontrei em uma situação paradoxal. As fontes empíricas informavam
que o mundo esmagador dos tribunais locais estava nas mãos de juízes quase
iletradosiii, eleitos pelas elites locais. Em povoados menores havia evidência
suficiente de que a maioria dos juízes era completamente iletrada. A seus lados
havia escrivães e notários, cujas capacidades de escrita eram mais fortes, mesmo
em assuntos jurídicos. Antes de serem encarregados (por decreto real), eram
submetidos a um exame escrito. Outras investigações históricas505 mostravam
que eles geralmente eram estudantes reprovados de direito. Os tribunais populares pertenciam, portanto, ao mundo da oralidade ou, ao menos, do que poderia
ser chamado da comunicação oral manuscrita.
Não obstante, o esquadrinhamento da doutrina do ius commune sobre
os juízes e tribunais produziu um resultado escasso para a visualização deste
mundo. Atribuía-se aos juízes uma competência plena para ler e escrevr e, além
disso, uma instrução no conhecimento altamente sofisticado (e escrito em latim)
dos direitos Romano e Canônico. O direito real também supunha uma erudição
literária dos juízes, tanto neste direito como no ius commune.
Na medida em que a história legal tradicional selecionou o legal e o
doutrinário como únicas fontes aceites, o silêncio da tradição literária do direito
erudito acabou confirmando uma ignorância– ou até mesmo um desprezo –,
ambos seguramente presumidos, desse “nível mais baixo” da prática jurídica.
9.2
LEMBRANÇAS DA JUVENTUDE
Finalmente, acabei descobrindo que a doutrina jurídica não era tão silenciosa sobre a justiça popular, que aparecia, rebaixada em seu impacto social e
substância cultural, em minúsculas referências ou em capítulos curtos e marginais sobre o “direito dos rústicos” (iura rusticorum). Pesquisas ulteriores me
conduziram a uns poucos tratados dedicados às práticas jurídicas camponesas506,
revelando semelhanças surpreendentes com os fenômenos jurídicos aos quais eu
estava familiarizado.
Na verdade, como filho de um notário de aldeia, eu possuía lembranças da juventude sobre esse mundo de narrativas jurídicas emaranhadas, orais,
de simples escreventes ou mais eruditas. Pessoas iletradas explicando ao meu
pai o que desejavam fazer – vendas excruciantes de pequenos imóveis familiares, intricadas disposições de patrimônio inter vivos em favor de seus filhos
iii
505
506
Há outro trocadilho intraduzível neste trecho – “ill-literate”, ou seja, “mal-letrados” ou “iletrados”. (Nota do Tradutor)
ALMEIDA, Joana Estorninho de. A forja dos homens: estudos jurídicos e lugares de poder no
sec. XVII. Análise Social, 178(206), p. 277-284.
HESPANHA, António Manuel. Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique.
Ius commune, Frankfurt/Main, 10(1983) p. 1-48.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
207
como arriscadas garantias para uma velhice segura, tanto quanto como forma de
distribuição da herança familiar ainda sob a tutela de uma autoridade parental
ainda existente, desconfiadas hipotecas de terras. Meu pai tentava traduzir seus
interesses, desejos, medos e angústias na linguagem formal do direito erudito, ou
harmonizá-los dentro das limitações do Código Civil. O sábio e dedicado escriturário de meu pai, Senhor Armênio, também intervinha nas tentativas de traduzir inquietos e voláteis estados de espírito para os textos fixos (imóveis); escrevendo, conforme as orientações de meu pai, os resultados dessa operação intelectual arriscada e socialmente imersa; e, finalmente, lendo o texto, que tinha de
ser explicado lentamente e em voz alta por meu pai para todos os outros intervenientes, antes que fossem formalmente questionados sobre sua concordância e
assinassem (ou apusessem sua impressão digital) no impressionante livro encadernado a vermelho. Esse era o momento crucial, quando a dúplice tradução era
avaliada. Apesar de toda a prévia investigação acerca das vontades respectivas
das partes contratantes, não era rara a emergência de violentas discussões entre
eles, agora que todos haviam sido instruídos acerca do significado prático das
palavras lidas de maneira formal, técnica e ininterrupta pelo Senhor Armênio
Quando os espíritos se alteravam muito, meu pai impunha silêncio, às vezes os
expulsando do escritório. A discussão continuava na rua, com o Senhor Armênio
esperando calmamente, com o livro vermelho aberto, que os espíritos se acalmassem para finalmente coletar as assinaturas e impressões digitais. Essa era a
razão pela qual eu e meu irmão mais novo sempre esperávamos ansiosamente
por este momento dramático, pausa excitante na tarde normalmente tediosa que
passávamos esperando o momento de voltarmos para casa.
Entretanto, esse escritório de tradução de direitos tinha todo um conjunto de ritos e dispositivos. Na verdade, funcionava como posto avançado em
uma fronteira. No caso, uma fronteira cultural. De certo modo, era como um
manifesto institucional da escrita jurídica. O aspecto exterior do prédio não impressionava. Dentro, um grande balcão de mogno separava os leigos do mundo
“clerical”. Do lado de fora, dois bancos de madeira desconfortáveis, onde invariavelmente se sentava um homem deficiente que, em seu ócio forçado, servia
como “testemunha padrão”. Em sua tenra infância, um acidente – uma mordida
de porco, alguém dizia – o havia desprovido de ambas as mãos. Não obstante,
podia andar de bicicleta e, acima de tudo, podia escrever uma assinatura caprichada e florida. Anos e anos de presença o haviam tornado conhecido de todos,
de modo que ele podia testemunhar sobre a identidade de quem quer que viesse.
De certo modo, ele também era um agente entre dois mundos, com modelos
específicos de certificação da verdade.
Dentro do balcão, outro mundo. Prateleiras de madeira se dobravam
sob o peso de livros marrom-avermelhados e arquivos desbotados amarrados
com fitas cor de cinza. Gavetas cheias de cartões manuscritos, que permitiam
encontrar um documento particular em um livro ou arquivo. Outras gavetas
menores guardavam quase sacralmente uma enorme coleção de assinaturas,
teoricamente permitindo certificar a autenticidade daquelas que apareciam em
documentos presentes no escritório do notário. Duas escrivaninhas forradas de
208
Antônio Manuel Hespanha
couro, cheias de carimbos de borracha – entre eles, trancado, um selo oficial de
metal. O escritório de meu pai ficava dentro de um painel de meia altura, em
madeira e vidro pintado de branco. Lá estavam seus livros de direito, em estantes bastante desorganizadas e em um expositor rotatório a um braço de distância
de sua escrivaninha. Livros vermelhos onipresentes, arquivos, pilhas de papéis e
formulários, um par de cadeiras e um cofre de ferro completam a cena. Daqui,
ele podia escutar ou perceber tudo o que ocorria no escritório; entretanto, ainda
assim mantinha o segredo de seu labor mágico com textos importantes, sua intimidade com livros eruditos ou diários oficiais, assaz enigmáticos até mesmo
para seus empregados, cujo acesso a este nível de textos-fonte estava limitado a
formulários e regras de contabilidade.
Esse mundo de comunicação emaranhada me impressionava bastante.
Todas essas pessoas falavam a mesma linguagem. Nós éramos todos vizinhos,
ou quase. Alguns deles poderiam ser os pais de meus colegas de escola. Também o meu pai – apesar de seus estudos em direito na vizinha Universidade de
Coimbra – pertencia a este mundo de pequenos e médios proprietários de pinheirais, vinhas ou pequenas campinas. Como eles, ele entendia o quê significava
um pedaço de terra de família; quão difícil podia ser dividir pedaços de terra –
com nome, história e qualidades singulares – entre vários filhos, rapazes e moças; como era arriscado entregar sua terra em hipoteca, não a um vizinho, mas a
um agiota ou a um agente bancário de fora da terra. Era por isso que ele podia
traduzir as estratégias de vida dos camponeses e explicar os resultados jurídicos.
Mesmo quando ditava, buscava um estilo bifronte, repetindo tautologicamente
palavras com uma sutil variação de significado, tentando lidar com ambas as
linguagens, a técnica e a de senso comum, e evitando, com palavras justapostas,
ambiguidades de interpretação.
Todavia, eu percebia barreiras, mal-entendidos, estranhezas e até
mesmo hostilidades nesse ambiente aparentemente neutro e meramente burocrático. Ao mesmo tempo, eu experimentava o poder de meu pai, mesmo quando
ele explicava em tom gentil e algo paternalista o quê estava em jogo. Não porque fosse um oficial de Estado; mas por seu conhecimento, por seus estudos
legais (ele era Senhor Doutor, não apenas Senhor Hespanha), por sua familiaridade com os livros, por sua capacidade de escrita fluente, ou de ditado fluente ao
Senhor Arménio.
Agora eu posso entender o que acontecia. E o que acontecia em Oliveira do Bairro nos anos 50 do século XX não estava tão distante do que vinha
acontecendo em toda a Europa Ocidental (para não falar de além-mar), quando
uma elite letrada em direito conseguia impor sua presença em uma cultura oral.
De seus povoados e vilas os camponeses traziam interesses507, imersos
em estratégias de vida, fundados em valores culturais, frequentemente muito
diferentes dos que resultavam do cálculo de vida dos urbanizados. Suas narrati507
Sobre a natureza culturalmente determinada dos “interesses”, cf. ORNAGHI, Lorenzo. Interesse. Bologna: Il Mulino, 2000.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
209
vas – o que eles diziam ao meu pai – eram, portanto, pedaços discursivamente
trajados de suas vidas. As vestes discursivas já eram adereços híbridos, nos
quais as velhas narrativas jurídicas tradicionais (senso comum) – relacionandose a pedaços perdidos do ethos e do direito tradicional camponês, como primogenitura, propriedade familiar, prova por mera tradição, devoção filial, empréstimo como ato de caridade, troca de serviços etc. – se combinavam com topoi
estatalistas e legalistas mais recentes – como a necessidade de prova escrita, a
divisão igualitária de heranças, o abandono de limitações familiares em prol da
livre disposição da propriedade, o cadastro e o registro imobiliário, a dissolução do
sentido filial de obrigações para com os pais. Do contrário, eles nunca viriam; ou,
melhor, já não viriam508. Em outras palavras, eles haviam aprendido – em tempos mais ou menos recentes – que suas narrativas nativas não eram suficientes
para salvaguardar suas expectativas para o futuro, ou mesmo para um tempo e
que eles não estivessem mais aqui. Aprenderam também que, para assegurar
seus interesses, precisavam chegar a um acordo com a autoridade do Estado e do
direito oficial, cuja personificação era, no momento, o notário. Se eram incapazes de traduzir, por si mesmos, suas pretensões em termos do direito e dos procedimentos oficiais, eram ao menos (à força e dentro de limites...) capazes de
deixar o notário colocar em palavras oficiais os seus desejos. Além de confiarem
pessoalmente no notário (o que poderia ser concretamente o caso, por compartilharem de vizinhança, reconhecimento e modos de vida), eles temiam o seu
poder de manusear “livros de poder” (livros que, só por si, produziam efeitos
práticos, livros performativos, diríamos) – desde os encadernadas com a capa
vermelha, onde o escriturário escrevia e eles eventualmente assinavam, até os
impressos que o Senhor Doutor preservava em sua gaiola rotativa de madeira e
usava para solucionar casos difíceis. Livros que ou preservavam o presente para
o futuro, ou antecipavam o futuro de um problema presente.
Meu pai, de seu lado, dominava uma série de narrativas padrão, com
as quais tentava lidar com o que entendia ser o problema do cliente. Devido à sua
familiaridade com o mundo camponês, ao qual ele mesmo pertencia parcialmente,
podia entender a “mente selvagem” e, por outro lado, acreditava ser seu dever
como advogado e oficial público “domesticá-la” nos termos do direito acadêmico e estatal. Porque ele também pertencia a outro mundo, aquele do direito oficial. Ele fora educado em uma Faculdade, onde prevalecia, na época (os anos 30
do século XX) uma cultura jurídica específica, uma mistura de conceitualismo
acadêmico, herdado da jurisprudência dos conceitos alemã do início do século
XX, com legalismo positivista, advindo de uma tradição francesa de jurisprudência exegética (ou anotativa)509. Como notário, sua educação acadêmica era
508
509
É um fato conhecido que – mesmo em domínios como a alienação de propriedade de terra (por
transação ou sucessão), que necessita de um documento público e registro em cadastro – uma
grande quantidade de transações se realiza fora do escritório do notário. Também porque é lá
que o processo fiscal respectivo é iniciado.
HESPANHA, António Manuel. L'histoire juridique et les aspects politico-juridiques du droit
(Portugal 1900-1950). Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno.
10(1981), p. 423-454.
210
Antônio Manuel Hespanha
parcialmente suplantada por um treinamento burocrático composto por regulações do Estado relativas à profissão de notário e ao registro, incorporadas em
circulares510 provenientes do Ministério da Justiça. Apesar de complexo, seu
arquivo de narrativas era limitado e incapaz de traduzir (domesticar) a agenda de
seus clientes. Não apenas porque as palavras não correspondessem; porque, por
exemplo, usufruto511 ou usucapião512 fossem palavras desconhecidas. Nem porque algumas das palavras nativas tivessem de ser cobertas de formalidades – em
primeiro lugar, serem escritas, registradas por um notário. Mas também porque
algumas das intenções não eram traduzíveis em nenhuma das narrativas oficiais
disponíveis. Era impossível, por exemplo, encontrar uma narrativa apropriada
para traduzir a intenção de alienar uma gleba cuja propriedade não fosse registrada em favor do vendedor. Assim como era impossível inscrever em um gênero jurídico oficial a história de um pai que desejasse excluir uma filha de sua
sucessão em razão de um “mau comportamento” ou de um mau casamento, ou
um filho por um ato de séria desobediência ou desrespeito. Havia, claro, um
remédio legal, mas isso implicaria um longo procedimento judicial – provavelmente outra fonte de mal-entendidos e narrativas emergentes conflitantes –,
inteiramente fora das perspectivas das partes. Nesses casos, as capacidades de
tradução de meu pai eram muito reduzidas. Ele podia apenas “domesticar”, recusando-se completamente a transcrever esse tipo de história no mágico livro
marrom-avermelhado.
O Senhor Armênio também tinha um papel fundamental a desempenhar. Ele era basicamente um agente cultural. Sua dependência em relação às
leituras de meu pai o tornava prisioneiro de um discurso, pois ele não podia
modificar em sua fonte original. Mas como a rotina diária de escrita, a narrativa
jurídica oficial dos casos concretos ocorridos, era sua tarefa ordinária, ele era
como o escriba do templo, que dissemina conhecimento escrito sem perder a
oportunidade de uma interpolação limitada – o preço a ser pago para a construção de uma ponte flexível entre as narrativas oficiais e as dos clientes.
Era nesses momentos que o papel regulador do Estado aparecia, como
instância de distribuição, definição e limitação de poder de contar histórias ou de
compor roteiros sociais para a ação. Em nome de quê? Em nome do direito estatal, como a única narrativa oficial permitida, mesmo em negócios privados.
Uma narrativa algo vaga, como as promessas do direito civil liberal de conceder
um amplo espaço para a formatação individual das transações (conforme o Willensprinzip). Ainda que a vontade tivesse de ser “racional” e conforme à “ordem pública”. No entanto, ao lado do direito estatal existe o direito doutrinário,
que, junto com o direito burocrático (consistente em fórmulas e práticas rotinei-
510
511
512
Instruções oficiais emitidas por departamentos especializados de Estado, como a DirecçãoGeral dos Registos e Notariado.
Um efeito comumente desejado no caso de uma donatio inter vivos feita pelos pais em favor
dos filhos.
Uma maneira útil de legitimar a propriedade, em uma sociedade onde escrituras formais de
transferência de terra tendiam a ser raras.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
211
ras), também impõe narrativas canônicas, diante das quais histórias alternativas
se tornam nonsense, ignorância, provocação, desobediência, impossibilidade.
9.3
A DECADÊNCIA DO DIÁLOGO
A limitação de meu pai não seria tão estrita na época em que o conceito de iura rusticorum era reconhecido, embora como coisa subalterna. Então,
o direito oficial aquiescia em reconhecer que os camponeses possuíam algum
direito para validar seus relatos [storytelling] diante do direito oficial.
Por um lado, o direito ainda não havia recebido o status de um conhecimento racional. Era mais um conhecimento argumentado, o que é algo completamente diferente. A retórica e os entimemas513 prevaleciam sobre a demonstração e o silogismo. O processo decisório era concebido como um uso razoável
de pedaços de verdade dispersos e provavelmente tendenciosos ou contraditórios,
depositados em argumentos plausíveis514.
Por outro lado, atribuía-se aos camponeses uma natureza algo infantil.
Compartilhavam com as crianças sua inocência e falta de sofisticação. Eram, ao
mesmo tempo, inclinados para o bem; mas, talvez precisamente por sua inclinação pura em direção a uma ordem natural (já perdida, ou correndo o risco de o
ser), não eram capazes de entender a artificialidade do direito estrito criado
pelos homens. Assim, havia um amplo conjunto de regras prudenciais que permitia a manipulação dos problemas e disputas dos camponeses conforme seus
estereótipos rituais ou narrativos515.
A maior parte de ambas as ideias se modifica dramaticamente durante
a aurora da modernidade. Walter Ong516 e Zygmunt Bauman517 – por diferentes
perspectivas – escreveram páginas esclarecedoras sobre o colapso da retórica e o
advento do racionalismo. A redução de sentido que esse evento produziu no
direito já foi tema de reflexão518. Não apenas os sentimentos e emoções abando-
513
514
515
516
517
518
Cf. Aristotle: Rhetoric, Book 1, 1.2.8–13 (1356b–1357a); Bitzer, Lolyd: Aristotle's Enthymeme
Revisited. Quarterly Journal of Speech, 1959. p. 409-414; Lunsford, Andrea, Robert Connors, and Lisa Ede: Classical Rhetoric and Modern Discourse, Carbondale: SIUP, 1984.
Cf. LOMBARDI, L.: Saggio sul diritto giurisprudenziale, 1967, p. XXXIII-615; Chaïm
Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca: Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique. Paris:
Presses Universitaires de France, 1958.
HESPANHA, A. M.: Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique. In: Ius
Commune, 10, 1983. p. 1-48.
RAMUS, Walter Ong. Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the
Art of Reason. Cambridge: Harvard University Press, 1958.
BAUMANN, Zygmunt. Legislators and interpretors: On modernity, post-modernity and
intellectuals. Polity Press, Cambridge, 1989.
HESPANHA, António Manuel. Código y complejidad. In: Atti del colóquio “Codici. Una
riflessione di fine Millenio”. Univ. degli Studi di Firenze. Dipartimento di Teoria e Storia del
Diritto, (26-28 ottobre 2000) (no prelo); “Os juristas como couteiros”, Análise Social
212
Antônio Manuel Hespanha
naram o horizonte dos juristas – ao qual haviam pertencido por séculos –, mas
também a Verdade (unidimensional) consumiu a narrativa (pluralística, imprecisa, multinivelada).
Sob o impacto do racionalismo, a legitimidade de modelos alternativos de ação, de modos de vida, de sistemas de crença, de anatomias da alma, de
calculabilidade de estratégias sociais também entrou em colapso. E finalmente,
mas não menos importante, um engenhoso divisor de águas foi desenhado na
humanidade, entre normal e anormal. Os camponeses estavam deste último lado
da humanidade, diferentemente de loucos ou crianças. Eles eram parte do contrato social; eles assumiam deveres gerais para receberem direitos gerais; então
eles deviam se comportar.
9.4
SUPORTE COMUNICATIVO E ESTRATÉGIAS
DISCURSIVAS
Aparentemente, houve uma sutil mudança em meu discurso. Eu iniciei
com a oposição entre oralidade e escrita, e nos últimos parágrafos venho dissertando sobre a exclusividade ou pluralidade de narrativas. O uso de conceitos
como “narração” e a consequente evocação de formas de comunicação não são
suficientes para justificar a passagem de uma temática subjacente para a outra.
A oralidade tem, substancialmente, algo a ver com a pluralidade de
narrativas, típica da era pré-moderna? E, por oposição, a escrita tem alguma
ligação essencial com a unidimensionalidade da Verdade racional, especialmente no pensamento jurídico?
A resposta pareceria ser negativa. Por séculos – ao menos entre os séculos XIII e XVII, mesmo se deixarmos de lado o direito Romano – uma concepção argumentativa de direito foi promovida por uma cultura altamente escrita. E o contrário também pode ser afirmado.
Não obstante, hoje a relação entre os dois perfis é um lugar comum
historiográfico. Deixando de lado argumentos de autoridade – como a invocação
dos trabalhos hipercelebrados de Marshall McLuhan519, Jack Goody520, Walter
Ong521 ou Pierre Lévy522, que relacionam suportes de comunicação com galáxias
519
520
521
161(2001), p. 1183-1209; SHERWIN, Richard K. When law goes pop. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.
MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press, 1962.
GOODY, Jack. The Domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cambridge University
Press, 1977.
RAMUS, Walter J. (Ong.). Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to
the Art of Reason. Cambridge: Harvard University Press, 1958; Interfaces of the Word:
Studies in the Evolution of Consciousness and Culture. Cornell Univeristy Press, Ithaca &
London, 1977; Orality and Literacy: The Technologizingof the Word, Routledge, 1982.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
213
intelectuais –, uma análise fina do discurso jurídico pode identificar – em zonas
centrais de sua exposição, argumentação, prova ou processo decisório – um
conjunto de dispositivos intelectuais que são característicos do diálogo e da
oralidade (quaestio, topica, opinião comum, iudicium)523. Embora o conhecimento jurídico pós-romano (como o de culturas judaicas ou cristãs) tenha nascido de textos escritos, ele cresceu em um ambiente erudito na base da transmissão oral e incentivado por práticas de disputa oral, seja acadêmica, seja forense.
Ele está, desse modo, intimamente relacionado a procedimentos de leitura/escrita/correção/reescrita, como a lectio, a glosa, a adnotatio, a castigatio. Os
próprios nomes dos gêneros literários jurídicos sugerem tal origem oral – lecturae, dissentiones, disputationes, questiones.
Mesmo se aderirmos à mais nova onda da história dos livros – aquela
que relaciona a diagramação da página com os seus modelos gráficos524 –, pode
ser encontrada uma similaridade entre a exposição gráfica de um texto jurídico
canônico, cercado de glosae identificadas, com um orador na ágora, circundado
de adversários personalizados, cada um opondo seus próprios argumentos.
Por outro lado, a unidimensionalidade da narrativa jurídica está firmemente associada com textos escritos de autoridade que permitam a execução
de estratégias de grupo orientadas à sua autolegitimação como expositores, intérpretes ou autores dotados de autoridade525.
O direito erudito medieval e protomoderno tem suas raízes em uma
tradição literária. Não apenas porque tenha surgido de textos escritos canônicos
(os Corpora iuris [civilis e canonici]). Tampouco porque cada desenvolvimento
do conhecimento jurídico oficial esteja incorporado em páginas escritas (do
direito legislado, sobretudo). Mas também devido ao fato de que a forma escrita
goza de uma espécie particular de autoridade jurídica. Em direito, a razão correta (recta ratio) é equivalente à razão escrita (ratio scripta). Textos escritos
(scriptura) devem ser tomados com mais consideração que palavras. Escritos
são a melhor prova (regina probarum). Escritos denegritórios (libella famosa)
são mais prejudiciais que palavras, e, consequentemente, têm de receber punições mais graves. Escritos encadernados ou livros (libri tabelionum, libri mer522
523
524
525
LEVY, Pierre. La machine univers. Création, cognition et culture informatique. Paris: La
découverte, 1987 (=“Point-Science” Seuil, Paris,1992); L'intelligence collective, (Pour une
anthropologie du cyberspace, découverte, 1997, Qu'est-ce que le virtuel? Paris: La Découverte,
1995.
Tais marcas da oralidade aparecem submersas por marcas de uma cultura escrita, cujo investimento político na escrita e na promoção da excelência da palavra escrita era evidente.
MCKENZIE. Bibliography and the Sociology of Texts: The Panizzi Lectures 1985. London,
The British Library, 1986) [uma tradução francesa, La bibliographie et la sociologie des textes,
foi publicada em Paris em 1991, com um prefácio de Roger Chartier]; Making Meaning.
“Printers of the Mind” and Other Essays, Ed. por Peter D. McDonald and Michael F. Suarez, S.J., Univ. of Massachusetts Press, 2002.
Cf. LEGENDRE, Pierre. L'empire de la vérité: introduction aux espaces dogmatiques
industriels. Paris, Fayard, 1983; Les enfants du texte, Fayard, 1992; Sur la question dogmatique
en Occident, Fayard, 1999.
214
Antônio Manuel Hespanha
catorum, libri rationum, libellus iudicialis) constituem um mundo em si mesmos, cuja existência é independente e mais relevante que a existência natural –
“o que não está nos livros não está no mundo” (quod non est in libris non est in
mundo).
Os textos jurídicos canônicos (Corpora iuris) não são apenas repositórios (instrumentais) de uma razão escrita (ratio scripta). Eles são objetos quase
sagrados, cujas características físicas ou intelectuais devem ser cultuadas. Assim, as cópias mais famosas são reverenciadas como relíquias sagradas. Isso
aconteceu com as primeiras cópias do Corpus iuris civilis conhecidas no Ocidente; mas, em Portugal, quase o mesmo acontecia com o manuscrito encadernado da primeira tradução do Codex Iustitniani, posta à disposição do público na
primeira metade do séc. XV, preso por correntes a uma estante pública, como
sinal da sua preciosidade. Também as suas características físicas, como a diagramação das páginas ou a cor da encadernação, tinham regras próprias.
Nesses círculos eruditos, dominar o direito era, então, ler (e escrever)
livros. A proximidade entre colher o direito de um livro ou da natureza das coisas não é problemática. Explicar (“abrir”, explicare) um texto legal é uma forma
de hermenêutica intimamente relacionada ao ato de descobrir os segredos do
certo e do errado escondidos na natureza. Por trás da letra está o Espírito, assim
como por trás das coisas está a Palavra ou a Ordem Divina. A leitura, como a
observação empírica, é um ato de desvelamento da verdade.
Entretanto, o próprio sobreinvestimento em textos sagrados, a própria
multiplicação de livros interpretando diferentemente as mesmas fontes canônicas, são fatores de entropia, de distúrbio da Verdade. Os livros jurídicos se tornaram uma imensa floresta, impossível de ser dominada na vida de um homem.
A arte jurídica deve, então, colocar em ação um amplo conjunto de dispositivos
intelectuais e textuais para superar a desproporção entre o que há para ser lido e
o que pode efetivamente ser lido.
As consequências da relação entre leitura e raciocínio são dúplices.
Por um lado, textos escritos decompêm-se em argumentos, atomizados. Idealmente, um advogado teria de ler cada livro, como pedaço de uma corrente argumentativa, em que a certeza cresce com a coleção e o confronto de
opiniões, reduzindo finalmente o conteúdo escrito a elementos de diálogo, governados pela antiga arte da retórica oral. Mas não é isso que acontece. Uma
frase vale como um brocardo, como uma máxima sintética e de venerável antiguidade, que suscita a adesão, não tanto pelo seu conteúdo, mas pela singeleza e
eventual elegância da sua formulação, tornada popular pela contínua repetição526. O argumento ab auctoritate se torna apenas mais um de uma ampla série
de outros dispositivos dialógicos.
526
A palavra parece provir da latinização de Burckard, ou Burchard, o bispo de Worms, na
Alemanha, entre os anos de 1000 a 1025, e autor de uma compilação de vinte volumes de
direito canônico as Regulae Ecclesiasticae (regras eclesiásticas), que incluíam diversas máximas de direito estabelecido.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
215
Por outro lado, a ligação ontológica entre texto e verdade é perdida. A
multiplicação de materiais escritos trivializou os livros jurídicos como objetos, e
enfatizou sua importância meramente instrumental na transmissão do conhecimento jurídico. Ao final, o aspecto mais importante dos livros jurídicos passa a
ser a eficiência, não a autoridade. Informativo, mas também compacto, legível,
fácil de manusear, compendiário: estas são as qualidades de um bom livro jurídico, qualidades que são enfatizadas até mesmo nos títulos (liber utilissimus,
liber in quo facile explanatur, compendium, repertorium)527/528.
9.5
ORALIDADE E ESCRITA NO DIREITO
CONTEMPORÂNEO
Isso é o que a história nos diz sobre o conflito entre oralidade e escrita
na cultura jurídica. Hoje, essas histórias permanecem – como vimos por nosso
próprio relato – nas periferias ansiosas de nossa aldeia global. Podemos, nós que
estamos no centro, deixá-las aos antropólogos e juízes pós-coloniais? Há oralidade ainda hoje no centro de nossa cultura jurídica? Há narrativas alternativas
com as quais a narrativa jurídica oficial deveria lidar?
Em um livro recente dedicado à oralidade no universo político do século XIX, Carlos Petit529 descobriu o papel central desempenhado pela oralidade
527
528
529
De reperire, encontrar.
Na verdade, essas intenções de funcionalizar os livros, de guiar o leitor na selva de textos
escritos (lector in sylva), também foram funcionais para o desenvolvimento de dispositivos racionalistas (como Ong apontou em seu livro sobre Pierre de La Ramée). Lidando com a vertigem enciclopédica, pela construção de livros todo-abrangentes ((theatra, collectiones, opera
omnia, bibliothecae iuridicae optimae); ordenando com técnicas intelectuais (systema, methodus); selecionando e sintetizando com meios literários (opiniones communes, loca communia,
syntagma e paratitla, vocabularia, dictionaria, promptuaria, repertoria); esquematizando e ordenando com dispositivos tipográficos (rubricae, letras maiúsculas desenhadas) e referências
cruzadas múltiplas (index, tabulae, concordantiae); expondo imagens e esquemas ordenados
(arbora). Cf., para estes temas F. Alessio: La memoria del sapere. Forme di conservazione e
strutture organizzative dall’antichità a oggi. Roma Bari: Laterza, 1988; C. Bozzolo, D. Coq, D.
Muzerelle, E. Ornato: Noir et blanc; premiers résulttats d'une enquête sur la mise en page dans
le livre médiéval, Atti del convegno internazionale “Il libro e il testo”, Urbino, p. 20-23 settembre 1982. Urbino, 1985. p. 195-221. Roger Chartier (Dir.): Les usages de l'imprimé
(XV-XIXe. siècle), Paris, Fayard, 1987; Peter Classen, Recht und Schrift im Mittelalter,
Sigmaringen, 1977; Dominique Coq et Ezio Ornato: La production et le marché des incunables.
Le cas des livres juridiques, P. Aquillon et Henri-Jean Martin (Dir.): Le livre dans l'Europe
de la Renaissance. Actes du XXVIIIe. Colloque International d'Études Humanistes de Tours,
Paris, Promodis, 1988. p. 305; Albert Labarre: Les incunables: la présentation du livre, In: Histoire de l'édition française. I. Le livre conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe.
Siècle. Paris, Promodis, 1982; Roger Laufer: Les espaces du livre. Idem. II. Le livre triomphant, 1660-1830, 134-139; D. H. Green: Orality and reading. The state of the research in
medieval studies. Speculum. A journal of medieval studies. 65(1990) p. 267-280.
Carlos Petit, Discurso sobre el discurso. Oralidad y escritura en la cultura jurídica de la
España liberal. Lección inaugural. Curso académico, 2000-2001, Huelva, Universidade de
Huelva, 2000.
216
Antônio Manuel Hespanha
na conformação da política durante o parlamentarismo europeu. Leituras de
Guizot, B. Constant ou Stuart Mill apenas confirmam a centralidade teórica da
discussão política oral, da opinião pública difusa, do diálogo e das discussões,
mesmo que frequentemente se dê a impressão de que o que é referido é a controvérsia escrita (v.g., quando se fala de la liberté de presse; de l’opinion publique, que não é, muitas vezes, a opinião publicada).
Seria facilmente possível, é claro, transferir as ideias de Petit para o
mundo forense, descobrindo-se o papel constitutivo dos plaidoyers orais, como
aparecem enfaticamente nas gravuras de Daumier.
Ainda mais decisiva na recente reavaliação do papel da oralidade na
formatação do direito oficial é o novo livro de Marta Lorente530. Ela parte de um
tema que tanto a história quanto a dogmática jurídicas trivializaram – a publicação de leis (leyes) na teoria e prática contemporâneas do direito oficial. As leis,
feitas pelos parlamentos, eram a própria voz do Estado. Dessa forma, a própria e
única voz do poder político. Apesar de tudo o que a teoria jurídica e política
possam ter declarado solenemente no tom soprano da voz de nosso dono (our
Master’s voice), Marta Lorente descobriu fatos surpreendentes sobre a fraqueza
quase sussurrante da publicação das leis, debilmente regulada, frequentemente
dependente de promulgação oral, sujeitas à sorte econômica de editores oficiais
e também ao sucesso problemático dos serviços postais. Mesmo antes de estarem sujeitas à exegese subversiva dos advogados, mesmo antes de serem abrogadas ou distorcidas por apropriações práticas, apesar de escritas, as próprias
leis estavam enredadas nas cadeias da oralidade.
9.6
NARRATIVAS DA GALÁXIA PÓS-GUTENBERG
O mundo comunicativo atual não é o mundo tradicional da oralidade.
No entanto, tampouco é o mundo clássico da narrativa escrita.
Em nossos dias, as narrativas são feitas principalmente de imagens,
como Marshall McLuhan ressaltou há quase meio século531. Com imagens, especialmente imagens em movimento (como no cinema ou na televisão), as narrativas recuperaram o caráter empático que a comunicação oral já teve, e que
quase foi perdido na comunicação escrita. Imagens seduzem mais facilmente
que palavras, conduzem mais fortemente o espírito à adesão entusiástica, à adoração ou abominação. No entanto, com um impacto enorme que, parcialmente,
apenas recentemente – com o rádio – a comunicação oral obteve. Novas imagens cinéticas podem ser repetidas e exportadas sem limites de tempo ou de
espaço. Seu potencial de modelar mentes é enormemente mais forte que o da
palavra impressa, e até mesmo que o da imprensa.
530
531
SARIÑENA, Marta Lorente. La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889).
Madrid, BOE/CEC, 2001.
MCLUHAN, Marshall. The Gutenberg Galaxy..., cit., 1962.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
217
Mais recentemente, entretanto, a cinética de imagens se desenvolveu
em novos estilos de narração. Não mais a narração extensa e unilateral com a
qual estávamos habituados, desde a novelística clássica e a pintura naturalista
até os roteiros tradicionais de cinema. Sequências literárias ou de cinema longas
e racionais, uma linha do tempo sequencial, uma explicação causal limpa e bem
construída. Nas palavras de Richard Sherwin,
a proliferação de imagens visuais [...] na sociedade contemporânea foi
acompanhada por uma significativa mudança cognitiva. O estilo de pensamento linear (ou fluência interpretativa) característico da cultura baseada na
palavra impressa, está agora em competição com o que pode ser chamado
um estilo cognitivo “associativo”, um estilo que é característico de nossa
atual cultura saturada de imagens. Como escreve Richard Lanham, hoje estamos
mais inclinados a nos deixarmos levar pela superfície de telas eletrônicas. Olhamos para signos e símbolos que fluem, em vez de através de palavras impressas
para quaisquer significados que elas possam oferecer [...]. Ou, como alguns pósmodernistas adoram dizer, se os significados estão lá, estão todos na superfície:
aparecendo e desaparecendo, sendo criados e recriados tanto por fazedores
quanto por espectadores de imagens, conforme obtemos controle crescente sobre
532
o fluxo das imagens que vemos e a ordem em que desejamos vê-las .
A tendência nos é familiar. Todas as noites zapeando na TV, ou o estilo
“hipercinético e fragmentário de Oliver Stone em filmes como JFK, The Doors, e
Assassinos por Natureza. Aqui a arte do corte rápido desloca a composição em
foco profundo preferida por uma geração anterior de cineastas, como John Ford,
Howard Hawks e Otto Preminger”533. Tanto a multiplicidade de canais de TV
disponíveis à velocidade de um apertar de botão quanto o estilo frenético de cortes
de imagens criam um novo estilo de narrativa, caracterizado por:
•
•
•
uma percepção fragmentária da realidade exterior;
uma necessidade de “compreensão” (processamento mental) instantânea (não reflexiva, “superficial”) das imagens percebidas;
um “pensamento” associativo correspondente à natureza multilateral e paralela das informações percebidas, como aquela, demandada pela leitura do cubismo, mas intensificada ainda mais pelo
fato de que o novo cubismo não trabalha apenas com planos estáticos, mas também, com imagens em movimento e sequências de
tempo.
Além disso, o impacto midiático dessas novas narrativas – ainda mais
quando se lida com provocadores casos excepcionais (crimes notórios, personalidades singulares, ambientes exóticos) – mistura as imagens convencionais do
532
533
SHERWIN, Richard K. When law goes pop. Chicago: The University of Chicago Press, 2000. p. 6.
Idem, 19.
218
Antônio Manuel Hespanha
mundo, criando “percepções aumentadas de contingência, acaso, incerteza e
multiplicidade (de verdade e razão, e da realidade de si e social)” (SHERWIN,
2000, p. 235), reprimindo o pensamento dicotômico que caracterizou o Iluminismo (e o direito). Certamente poderíamos falar de uma “queda do Império” –
como narrativa oficial feita de Lei e Verdade534 – se, ao mesmo tempo, fosse
instalado um diálogo equilibrado – aquele ideal panglóssico de Habermas535 –
entre narrativas clássicas e emergentes. Porém, não é esse o caso. Um Império
igualmente tendencioso está sendo construído, aquele de um senso comum fabricado. Não mais o já opressivo senso comum espontâneo contra o qual Stuart
Mill havia se rebelado em seu ensaio Sobre a Liberdade; mas um senso comum
artificial, modelado por propósitos intencionais e técnicas elaboradas, e difundido pelos dispositivos de inculcação mais poderosos da história 536. É claro, a
dinâmica cinética do discurso contemporâneo da mídia não instala unanimidade,
padrões fixos, sentimentos harmônicos, visões externas. Em contraste, multiplica (ao menos aparentemente) perspectivas e roteiros, esmaece normas, antagoniza emoções, carrega paixões. De tal modo que o novo Império tende a ser, não
um Império monótono, mas um Império que poderia ser descrito como pluralista, relativista, devotado a uma aparência de vida tida como certa.
Portanto, novas características podem ser adicionadas aos tópicos prévios da comunicação contemporânea:
•
•
•
9.7
Pluralismo de narrativas;
Abandono de padrões fixos;
Extremo desequilíbrio entre a eficiência performativa de diferentes discursos.
VELHOS PAPÉIS DE UM NOVO DIREITO
Como a narrativa jurídica deve lidar (se é que deve) com este mundo
pluralístico?
Em meio a esta constelação de narrativas, o direito é confrontado com
dois tipos de problemas. Um é substancial; o outro, procedimental.
Substancial é a questão do estabelecimento de padrões, o quê é a suposta função do direito. Uma vez que a Verdade (Jurídica) esteja desacreditada –
534
535
536
AUSTIN, Cf. Arthur. The Empire Strikes Back. Outsiders and the struggle over legal education. New York: NYU Press, 1998.
Refiro-me a J. Habermas. Theorie des Kommunikativen Handelns, Frankfurt, 1981;
Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1992; Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur
politischen Theorie, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1996; critical resumé, Sherwin, 2000, 235 s.
V. a magnifica entrevista de P. Bourdieu, em Disponível em: <http://www.youtube.
com/watch?v=PuPO9ND3iJk>. Ou Noam Chomsky, Disponível em: <http://www.youtube
.com/watch?v=mVo1lQXzmus>.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
219
mesmo se concedermos que ela não deveria estar –, uma narrativa que estabeleça valores apenas pode ser estabelecida através do diálogo, pelo encontro de
tópicos comuns acerca dos quais uma verdade transacional pode ser estabelecida. Há quem tenda a conceder uma natureza para ontológica a esses padrões
compartilhados (a via hermenêutica). Outros mantêm sua validade meramente
convencional (a via republicana). No entanto, ambas as alas compartilham a mesma
suposição: a de que haja um diálogo justo, em que as partes estejam igualmente
posicionadas e no qual as regras de conversação não sejam tendenciosas. A situação atual da comunicação cívica está distante deste ideal. Os meios de comunicação de massa são altamente seletivos. Não apenas em razão de várias formas de
culturo-centrismo; mas também pela necessidade da mídia de focar a atenção sobre
situações extremas ou chocantes, para a captura e manutenção de audiências.
Segundo Sherwin, essa é a situação em que é necessária uma “sabedoria trágica”:
a sabedoria trágica expressamente leva em consideração as contingências,
incertezas e limitações do entendimento humano, e os desequilíbrios que
existem em interações linguísticas particulares. Dessa forma, ela nos convida
a tomar em consideraçã as reivindicações concorrentes ou conflitos de crenças que surgem em uma dada situação de conflito, inclundo nisto: diferenças
de estratégias discursivas, diversidade de conhecimentos, arranjos distintos
de poderes institucionais ou comunitários. Em suma, a consciência trágica
reconhece as diversas formas segundo as quais se pode compreender o sentido de ações e eventos e as consequências de a verdade, a razão, a consciência de si e a realidade social, serem todas elas construídas de uma maneira
específica, a que se opõem outras possíveis. (SHERWIN, 2000, p. 237)
Outra questão substancial é a de compreender integralmente o sentido
embutido nas narrativas, de submeter a escrutínio a vida que existe por trás das
aparências, de evitar dar como certo que a vida coincide com o que (a)parece (ou
que o que (a)parece é vida). Aparentemente, esta é uma convocação dos juristas
ao papel que têm desempenhado desde há séculos, o de intérpretes537; mas agora, com a dificuldade suplementar de que estamos profundamente conscientes de
que a conversão da aparência em vida, a reconstrução da profundidade a partir
de imagens superficiais, a costura de continuidades com imagens distintas da
vida, implicam uma participação ativa do observador (neste caso, o direito e o
jurista). A ponto de se poder dizer que a observação do jurista já é um começo
de apropriação por este das narrativas de vida construídas pelos outros. Assim,
são extremamente baixas as expectativas de uma hermenêutica bem-sucedida
das narrativas alheias.
537
Cf. BAUMANN, Z. Legislators and interpreters. On Modernity, Post-Modernity and
Intelectuals. Cambridge: Polity Press, 1987.
220
Antônio Manuel Hespanha
De qualquer maneira, essa tentativa de utilização de competências adquiridas e técnicas controladas para a busca de um significado mais profundo
promove, por si mesma, um esforço reflexivo que pode, ao menos, relativizar as
certezas dos juristas sobre as suas imagens da vida, assim como aprofundar e
tornar mais reflectidos os seus pontos de vista sobre senso comum.
Este é precisamente o ponto em que as questões substanciais se convertem em questões procedimentais (ou, em contraste, em que questões procedimentais se tornam questões substanciais). Competências adquiridas e técnicas
especializadas constituem procedimentos explícitos, protocolos, conjuntos de
regras, treino de observação (de escuta, de leitura) mais perspicazes. Os procedimentos não são bons por serem naturais538, nem porque funcionem539; eles são
bons porque são explicitamente formulados e (tragicamente, no sentido acima)
aceitos por um acordo nesse sentido de uma comunidade de pessoas540.
9.8
DE VOLTA PARA A DOGMÁTICA JURÍDICA(?)
“Como toda essa elucubração confusa, vaga e fútil se refere ao nosso
trabalho concreto e prático?” perguntaria um advogado honesto. Retoricamente
eu responderia que não há nada mais capaz de compreender a vida real e concreta que esse tipo de elucubração confusa, vaga e fútil, quaisquer que sejam os
sentimentos que possam ter os advogados acerca do tema (proposição que –
tenho que admitir – é novamente uma elucubração confusa, vaga e fútil).
Entretanto, tentarei me aprofundar mais na dogmática jurídica comum.
O trabalho de Richard K. Sherwin – com o qual estou agora contrastando minhas próprias ideias – se refere a um modelo diferente de direito, o
common law. Os comportamentos do júri e do tribunal são os ambientes centrais
de seu discurso. Narrativas emaranhadas são aquelas apresentadas em tribunal
(tribunais reais ou de docudrama). A avaliação e a eleição das narrativas factuais
pertinentes é a tarefa do júri. A combinação do roteiro vencedor com a(s) narrativa(s) jurídica(s)541 é a tarefa do tribunal. De qualquer modo, há uma questão
comum: o ajuste de um conflito de versões, seja quanto aos fatos ou quanto aos
padrões. A típica questão jurídica é, no entanto, a segunda (na medida em que a
distinção entre fatos e padrões possa ser metodologicamente estabelecida). Assim, a questão jurídica seria: “Como acomodar narrativas jurícas diferentes e
conflitantes?”.
Neste ponto, Sherwin parece bastante otimista, merecendo uma extensa citação:
538
539
540
541
Como postula o direito natural.
Como uma (tendenciosa) interpretação crítica de Luhmann tende a supor.
Como algum tipo de “gnoseologia republicana” poderia afirmar.
Falar de padrões legais como “narrativa” já é uma provocação frequentemente insuportável.
Espera-se que o que foi dito até agora justifique a expressão.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
221
Eu gostaria de sugerir que esta imagem de desequilíbrio produtivo encaixa
bem em uma compreensão afirmativa pós-moderna de nosso sistema jurídico
constitucional. Nessa compreensão há, então, uma instigante “históriamoldura” para a profusão de narrativas jurídicas que constituem e reconstituem o domínio do direito. Pois o que é a Constituição, se não a fonte legitimadora de múltiplas e conflitantes formas de discurso, conhecimento e poder
jurídico? Dessa perspectiva, o direito é, para usarmos a expressão de Kauffman, um “ecossistema” complexo feito de “um banco intricado de papéis
entrelaçados”, ou, como eu prefiro chamá-las, práticas e competências comunicativas entrelaçadas. É precisamente a proximidade da desordem – que
deriva da contestação constante entre comunidades discursivas conflitantes,
bem como das várias forças irracionais que as circundam e infundem – que
instiga novas formas de auto-organização jurídica (ou “juridicidades emergentes” [...] É assim que o direito se adapta às contingências e às vicissitudes das transformações no desenvolvimento social, cultural e tecnológico
(entre outros). (SHERWIN, 2000, p. 238)
O autor continua explicando como o equilíbrio constitucional dos poderes permite a interação de diferentes narrativas:
(1) o senso comum da opinião pública (doxa) baseada no conhecimento adquirido no curso de nossa experiência ordinária de vida (na tela e fora dela),
ou (2) a prudência da interpretação judicial baseada no conhecimento jurídico especializado e em habilidades de interpretação e persuasão relativas à
aplicabilidade e ao sentido de regras jurídicas, políticas, e princípios jurídicos fundamentais específicos, ou (3) as competências de formulação especializada dos membros do legislativo,
concluindo que é “do choque entre essas reivindicações concorrentes
de conhecimento, razão e verdade, o cambiante mosaico dos significados do
direito toma forma”. (idem, p. 239)
O perigo surge quando este equilíbrio é quebrado. Quando, por exemplo,
os tribunais sacrificam a prudência em nome da política partidária, ou quando os legisladores sacrificam princípios democráticos fundamentais ou objetivos da política de maximização de benefícios em nome de um ganho financeiro ou político pessoal, ou quando cidadãos comuns servindo como jurados
sacrificam o senso comum da experiência vivida em razão da informação
distorcida e das paixões artificialmente aumentadas de propagandas comerciais, relações públicas e eventos de mídia hiper-reais. (idem, 240)
Um fato que constitui, segundo Sherwin, um risco cada vez mais presente.
222
Antônio Manuel Hespanha
9.9
A PLURALIDADE DE NARRATIVAS NO DIREITO
CONTINENTAL EUROPEU
O direito continental é considerado bem menos centrado nos tribunais542. E os tribunais continentais não são, em sua maioria, tribunais de jurados.
De tal modo que, na Europa, os freios e contrapesos que emergem do sistema de
common law americano têm de ser clonados pela abertura doutrinária a narrativas sociais díspares, especialmente narrativas subalternas, como o movimento
doutrinário italiano do “uso alternativo do direito” (uso alternativo del diritto)
proposto há alguns anos.
Uma história, de novo. Lisboa, 2002. Um grupo de pessoas, mais ou
menos espontaneamente reunidas, manifesta-se contra a destruição iminente de
um jardim público por uma nova rua. Algumas pessoas estavam lá de propósito;
outras estavam apenas passando e aderem à manifestação; outras foram forçadas
a estar lá pelo congestionamento causado pelo evento, aumentando a multidão e
a confusão, alguns deles alegando que seus interesses estavam sendo ofendidos
pelo atraso causado no tráfego. Embora os manifestantes se esforçassem para
utilizar a faixa de segurança, para evitarem serem multados pela polícia, os policiais identificaram alguns participantes e, subsequentemente, os acusaram de
violação das leis de trânsito. Podem ser construídas narrativas conflitantes sobre
o caso.
Uma fala sobre a liberdade de manifestação, amplamente garantida
pela Constituição, mesmo em face de limitações introduzidas pelo direito legal
ordinário. Como pano de fundo, imagens emblemáticas de atentados anteriores à
liberdade durante a ditadura de Salazar. Outra conta a história ambiental. Como
contexto, ao lado da preocupação geral com as florestas, flores e árvores, idosos
e crianças que deveriam usar os parques, episódios recentes de sacrifício da
beleza e da qualidade da cidade a interesses econômicos da construção. Ainda
outra fala sobre a liberdade de circulação, referindo-se principalmente a casos
extremos de sequestro, exílio político ou obstáculos à imigração. Mais claramente, outra narrativa fala das pessoas que desejam trabalhar ou, mais dramaticamente, cujo emprego pode ser ameaçado por chegarem atrasados em virtude
daquela confusão. Em um mundo onde ser é aparecer na TV, outra história é a
da necessidade de cobertura por um telejornal, que só é possível com um distúrbio social grave o suficiente. No pano de fundo, imagens do efeito de comoção
pública causado pela divulgação mediática do Watergate e coisas similares. A
polícia conta a história monótona e impessoal do cumprimento da lei, enquanto
manifestantes falam do seu uso legítimo de uma calçada de pedestres. E o painel
poderia continuar, listando histórias emaranhadas, contraditórias, multinivela542
Essa é uma suposição arriscada. Não há evidência empírica suficiente nem quanto à comparação dos efeitos do direito legal e da jurisprudência dos tribunais na desintegração dos sentimentos comuns de justiça, nem quanto ao papel desempenhado por cada um desses padrões jurídicos em processos de acomodação de conflitos.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
223
das, cuja dimensão emocional (oral) é precariamente reduzível a um texto jurídico convencional.
Tomando-se os fatos como dados, o problema aberto é tipicamente jurídico. Qualificar de acordo com padrões e harmonizar regras conflitantes. Tipicamente, também, harmonizar é, no direito continental, construir uma hierarquia
de normas, de uma vez por todas – normas sobre direitos constitucionais (a parte
constitucional [Verfassung] da constituição [Konstitution]), normas sobre políticas públicas (leis “governamentais”), normas jurídicas sobre interesses civis
(direito privado). O direito de manifestação estaria no topo, uma vez que o direito à livre circulação seria difícil de se aplicar ao caso de um microcongestionamento de trânsito. Em seguida, o direito a um meioambiente harmônico, também explicitamente protegido pela Constituição, embora – dizem os constitucionalistas – em um segundo grau de dignidade543. O direito governamental a
manter o tráfego fluido viria em seguida. Entretanto, uma hierarquia nítida começa a colapsar aqui, na medida em que o bem-estar (da cidade) – o próprio
valor reivindicado pelos manifestantes – depende também da fluidez da circulação. No fim, custos privados: perda de tempo, empregos ameaçados. Conforme
as circunstâncias, alguns desses interesses podem adquirir uma dimensão constitucional, especialmente se se leva a sério os chamados “efeitos externos” (Drittwirkung)544 da Constituição: ser-se posto em risco de ser despedido, em uma
conjuntura econômica recessiva, é ser ofendido em seu direito ao trabalho. Um
novo distúrbio do modelo hierárquico. Nada foi dito acerca do direito de aparecer em telas de TV no horário nobre. Formalmente, este não é um meio legítimo
de defesa de direitos. Os tribunais, as instâncias administrativas de apelação, e
até mesmo as provedores dos cidadãos (Ombudsman) estão disponíveis nos
Estados modernos. O fato de que são demorados, ineficientes, caros, de que
filtram a vida, ou de que raramente chegam a um resultado útil, é tido como
juridicamente irrelevante, segundo a narrativa dos juristas
Em meio a um diálogo tão confuso, com vozes de diferentes tons e
forças, é necessária a sensibilidade vibrante de um ouvinte de música virtuoso,
para avaliar o equilíbrio adequado que cada narrativa merece. Quase sem as
orientações de uma partitura musical, como em uma jam session de jazz.
543
544
Um “direito social” (como o direito à moradia, à assistência médica, à educação, ao trabalho),
não um “direito fundamental”, uma distinção que parece ter pouco a ver com uma experiência
vital (verdadeiramente experimentada) da vida.
“Externo” é, nessa expressão, uma palavra com sabor ideológico. Supõe que apenas o Estado
pode ofender direitos fundamentais, e que, portanto, sua defesa se opera diretamente em face
do Estado. A proteção de indivíduos em face da sociedade é um efeito colateral, um efeito nãointencional, uma aplicação constitucional quase ultra vires, já que a sociedade é um ambiente
individual inofensivo e livre de restrições.
224
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
225
10
AS CORES E A INSTITUIÇÃO DA ORDEM
NO MUNDO DO ANTIGO REGIME
Em abril de 1683, o estudante Hermann Wissmann, de Magdburgo,
escolhia para tema da sua dissertação na Universidade de Leipzig545, perante
Christian Thomasius (1655-1728)546, já então famoso (e iconoclasta) professor
de direito natural nessa universidade, o direito acerca das cores. O tema era um
tanto bizarro, embora não inédito entre os juristas547. O mestre, porém, tinha-lhe
pedido – como decerto fizera com outros candidatos – um tema não vulgar nem
óbvio, decerto para evitar a crítica corrente de que, em tais actos académicos, a
545
546
547
Como em todas as universidades europeias, também nas universidades alemãs se praticava,
desde o período medieval, a prática de organizar disputationes sobre matérias determinadas, ou
mesmo discussões de tema aberto (disputationes de quod libet). Um tipo destas disputas era o
das dissertationes em que o candidato tinha que defender um tema contra os seus colegas oponentes, sob a presidência de um professor (Praeses)545. A partir da segunda metade deo séc.
XVI, começa-se a fazer colecções organizadas de dissertações, por vezes por temas, universidades, ordem cronológica ou praeses. Sobre este tema: Gerd Ueding (ed.), Historisches
Wörterbuch der Rhetorik, Tübingen, Niemeyer, vol. 2 1994, p. 866 – 884; W. A. Kelly, Early
German dissertations: their importance for university history. East Linton, The Cat's Whiskers
Press, 1997 (3. ed. aumentada). Síntese on line: Filippo Ranieri, “Juristenausbildung und
Richterbild. In: der europäischen Tradition”, Disponível em: <http://ranieri.jura.unisb.de/Veroeffentlichungen/trier.htm>. (=Deutsche Richterzeitung, 1998. p. 285-294, Manfred
Komorowski: “Die alten Hochschulschriften: lästige Massenware oder ungehobene Schätze
unserer Bibliotheken?”, Disponível em: <http://www.bsz-bw.de/depot/media/3400000/
3421000/ 3421308/3421308/971_0232.html#F11>.
Ernst Bloch, Christian Thomasius, ein deutscher Gelehrter ohne Misere. Frankfurt/Main,
Suhrkamp, 1968; Friedrich Vollhardt (Coord.), Christian Thomasius (1655-1728): neue
Forschungen im Kontext der Frühaufklärung. Tübingen, Niemeyer, 1997. Súmula em inglês,
com bibliografia, em http://plato.stanford.edu/entries/18thGerman-preKant/#1.
Hoppoingius [Höping]. De Jure Insignium [obra que não consegui identificar completamente, é
citada como abordando o tema das cores]; Johann Guldte, De coloribus quaesitis, vulgo Von
gesuchten Schein des Rechtens. Altdorf 1675; Georg Lindenberg: De titulo colorato, Kiel,
Reumann, 1681, Christian Friedrich Fischer: Dissertatio optica de coloribus. Jena, Krebs,
1699.
226
Antônio Manuel Hespanha
preguiça dos candidatos os levava a escolher matérias vulgares, tratadas vulgarmente, a partir de dois ou três compêndios saídos da própria universidade548. A
dissertação cumpriu com êxito, sendo publicada nesse mesmo ano de 1683 – De
Jure circa colores. Von Farben- Recht [...]549.
O candidato estava consciente de que a palavra cor tinha sentidos próprios e figurados. Nestes últimos, incluía-se um outro que podia ser também
relevante para o direito, já que a palavra “cor” era sinónimo de “a pretexto de”,
“como ficção de que” (“sob cor de”)550; e que, como tal, seria também objecto
de dissertações académicas contemporâneas551. Ele quer, no entanto, fixar-se nos
sentidos próprios, tentando listar todos os pontos do direito em relação aos quais
a cor – tomada a palavra no sentido físico, ligado àquilo que os olhos viam (qui
visus objectum est) – era relevante (p. 2).
Porém, o problema começava justamente aqui. O que é que os olhos
realmente viam? Além de pouco vulgar, o tema podia ser também fascinante.
Desde logo, Wissmann está a escrever sobre as cores – talvez não por
acaso, porque não é o único a fazê-lo nesse período de menos de 25 anos552 justamente num momento crucial da evolução da teoria das cores; e sob o olhar
de um mestre, Christian Thomasius, tão desconfiado da erudição tradicional dos
juristas553 como ávido de conhecimentos científicos novos554.
Em 1672, Isaac Newton (1642-1726) começa a publicar a sua crítica à
teoria tradicional das cores555, revendo por completo o legado helénico, devido,
548
549
550
551
552
553
554
555
Christophorus Besold [1577-1638]. Ed. novissima emendata. Ratisbonae: Pedeponti, 1740 (1.
ed. Tübingen 1629).
Sub praesidio Chr. Thomasius. Diss. 24.4.1683 Lipsiae, Typis Garbrielis Trogii.
“Sub colore iuris”, expressão ainda hoje usada; outro exemplo, tirado de uma fonte contemporânea: “grandes denariorum summas illicite lucrari et obtinere sub colore colligendi eleemosinas”, etc.
AUGUST, Hommel, Ferdinand. Orationem qua culpandusne sit praetor Romanus quod veris
rationibus dissimulatis, fictionibus aliisque coloribus usus sit in corrigendo iure antiquo? disquirens professionem iuris ordinariam ... sibi demandatam sollemniter auspicabitur ... indicit
insimulque An deceat ICtum rationes legum ignorare? Leipzig, Langenheim, 1734; Gottfried
Franz Ehrenberg, De genuino colore possessorii ex solo iure in re, Halle, Saale 1729.). A este
sentido metafórico, como argumento provável na defesa de uma causa frágil, se referia Quintiliano: Institutiones Oratoriae, L. 4, c. 2, p.m. 190 ss.; também a referência a cores como o
branco e o negro podiam conter referências metafóricas à parte boa e à parte má (p. 3); o que
explicava o facto de ser hábito vestir de negro os réus. (v. infra)
Johann Guldte: De coloribus quaesitis, vulgo Von gesuchten Schein des Rechtens. Altdorf
1675; Georg Lindenberg, De titulo colorato. Kiel, Reumann, 1681, Christian Friedrich
Fischer: Dissertatio optica de coloribus; Jena, Krebs, 1699.
Cf. o título o jornal que começou a publicar em 1668: Scherzhafte und ernsthafte, vernüftige
und einfältige Gedanken über allerhand lustige und nutzliche Bücher und Fragen (aparece com
títulos ligeiramente variáveis: v.g., Schertz- und ernsthaffter, vernünfftiger und einfältiger
Gedancken über allerhand lustige und nützliche Bücher und Fragen).
Weitere Erläuterungen der neueren Wissenschaft anderer Gedanken kennen zu lernen (1711).
Isaac Newton, Philos. Trans. R. Soc. London, 6, 3075 (1672), reprinted in I. B. Cohen, ed.,
Isaac Newton's Papers & Letters on Natural Philosophy and Related Documents. Harvard
U. Press, Cambridge, Mass. (1958).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
227
sobretudo, a Aristóteles e ao seu discípulo Teofrasto. Para Newton, as cores não
eram modificações da luz branca, mas os seus componentes originais. Não eram
o produto de uma mistura de luz e sombra, mas elementos primitivos, cuja variedade dependia do modo como os seus corpúsculos eram refractados (OPTICKS,
1704)556. Poucos anos antes (em 1678), o holandês Christian Huygens tinha
publicado a sua obra Traité de la Lumière, na qual defendia que a luz era um
movimento num meio ultrafino, provocado por choques da matéria que, por sua
vez, produziam luz.
Quer a teoria “corpuscular” de Newton, quer a teoria “ondulatória” de
Huyghens, diferiam muito do legado da antiguidade sobre o assunto. Aristóteles557 558 via a cor como uma mistura, sobreposição ou justaposição de luz e
sombra, de branco e negro; o carmim, por exemplo, seria o produto da mistura
da escuridão com a luz do fogo ou do sol. Como tal, a luz do sol não teria cor,
constituindo esta alguma matéria dos objectos, capaz de degradar ou alterar a luz
pura que incidisse sobre eles. Numa data já muito próxima daquela em que
Wissmann escreve, o matemático jesuíta François d'Aguilon (1567-1617) reproduzia deste modo a teoria da mistura ou modificação das cores:
O amarelo, vermelho e azul eram as cores básicas ou “nobres”, das
quais todas as outras derivavam. Já as cores primárias eram o branco e o negro,
556
557
558
De acordo com o tamanho destes corpúsculos: os grandes corpúsculos do vermelho eram menos refractados do que os pequenos do azul.
A autoria da principal obra de Aristóteles sobre as cores – De coloribus – não está definitivamente atribuída, podendo ser dele ou de um dos seus discípulos, sucessores no Liceum, Theophrastus (c.372–c.287 B.C) ou Straton de Lampascus.
Edições actuais: “On colours”, (J. Barnes), The complete Works of Aristote. The revised
Oxford Translation, I, 1961, pp. 1219-1229; Aristotle: Works in Bi-Lingual Greek-English
Edition. Loeb classical Library, 23 Volumes, vol. 14 (“Minor Works: On colours. On things
heard physiognomics. On plants. On Marvellous things heard. Mechanical Problems. On indivisable Lines. The Situations and names of winds. On Melissus, Xenophanes, Goorgias”).
228
Antônio Manuel Hespanha
a luz e as trevas, como dois elementos opostos de cuja luta derivavam todas
cores559.
Não se pode dizer que Wissmann mostre grande ousadia no tratamento de um tema tão cheio de indecisões. Embora enuncie algumas das grandes questões que os físicos se punham sobre a origem e a natureza da luz, ele
tenta ser expedito a desfazer-se delas. Refere também perplexidades dos teólogos, mas estas nem sequer explica quais são. E, no entanto, teria muito que explicar. Ele próprio afirma que o seu objectivo é limitado: as cores, todas as veem
e conhecem, sem que se tenham que esmerar em reflexões alambicadas; e é
disso, dessas cores trivialmente vistas, que o direito – que se ocupa com aquilo
que geralmente acontece (id quod plerumque accidit), do ponto de vista de um
homem médio (bonus pater famílias) – trata: enfim, das cores como qualidades
visíveis dos objectos.
Num certo ponto, Wissaman toca uma questão jurídica que poderia
por grossas dificuldades teóricas – a questão da acessão ou da especificação, um
dos modos de aquisição da propriedade. Trata-se, em suma, de saber a quem
pertence uma coisa que é produto da junção de duas coisas de donos diferentes;
ou de uma coisa, à qual se aplica a indústria de outrem que não o dono, no sentido de a modificar. No caso das cores, isto acontece, tipicamente, com a tintura de
panos ou com a pintura de tábuas. As regras gerais da especificação privilegiavam
aquele a quem pertence trabalho aplicado à coisa, pondo a hipótese de geração
de uma compropriedade entre o proprietário original e o trabalhador; mas havia
outros elementos a considerar, como a irreversibilidade da transformação ou o
valor relativo dos dois componentes560. No entanto, a questão supunha uma certa
compreensão do acto de tingir ou de pintar que era problemática. Era a lã tingida
(ou a tábua pintada) apenas uma espécie do género lã (ou tábua) ? Ou seja, a cor
era apenas uma qualidade da coisa ? Ou antes um elemento da luz que incidia
sobre ela? E, num caso ou noutro, era a cor de tal modo relevante que pudesse
mudar um género noutro ? Um tecido de lã tingido dessa cor insigne que era a
púrpura continuava a ser lã ? Os próprios clássicos o tinham discutido, a propósito de um texto do jurista romano Labeo, embora não tivessem dado à discussão
este tom filosófico, mas antes um sentido ou conceitual, em torno das relações
entre género e espécie, ou meramente prático, acerca da relação entre o valor
originário e o valor acrescentado. Qualquer das perspectivas levantava questões
relevantes sobre a natureza da cor. Sendo ainda certo que, se se encarar o pro-
559
560
A teoria aristotélica das cores foi resistindo, mesmo depois das descobertas de Newton. No
início do séc. XIX, J. W. von Goethe (1749-1832) contribuíram para pôr em causa o bem fundado das teorias newtonianas e para revalorizar certos aspectos das concepções clássicas, voltando a destacar, nomeadamente, os elementos subjectivos da cor; o que, calhando muito bem
com o espírito romântico, potenciou de novo as leituras simbólicas da paleta cromática.
V., muito resumidamente, Helmut Coing, Derecho privado europeo, tradução de castelhana
de António Pérez Martin. Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1996 (ed. orig. alem.,
1985). p. 380-81 e bibl. Aí citada; Para o direito romano clássico, com o qual sobretudo lida
Wissmann, Álvaro d’Ors. Derecho privado romano. Pamplona: EUNSA, 1973, 186 s.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
229
blema do ponto de vista dos valores das coisas acedida e acessória, entra em
jogo todo um complexo sistema de valoração dos materiais, das tintas, do trabalho, mas também das cores em si mesmas, que traz à liça aspectos que já não
têm muito a ver com as coisas, mas com os valores – materiais ou simbólicos –
que os homens lhes dão.
Era por esta via da consideração dos elementos subjectivos da visão
das cores – que J. W. Goethe irá valorizar poucos anos mais tarde561 – que
Wissmann poderia enquadrar sistematicamente uma série de questões que pontuam a sua obra, apenas explicáveis por uma visão abertamente construtivista do
universo cromático. Ou seja, de uma visão que realce que a identidade e o valor
das cores é produto, não de qualidades residindo no mundo exterior, mas de
modos de percepção – fisiológica ou simbólica – que pertencem ao sujeito que
vê. E, realmente, o mundo das cores, tal como o mundo da linguagem, tem sido
dois campos de eleição no surgir de perspectivas radicalmente construtivistas
acerca da realidade, que a identificam com modificações da consciência562.
Todavia, Wissmann não trata, sequer, a questão gritante do daltonismo, ou da percepção das cores desviante do sentido comum. Embora se multiplique em exemplos de tratamento jurídico das cores que as revelam, antes de
mais, como suportes de simbolismos e de valores que nós hoje não temos dúvidas em ter como atribuídos arbitrariamente pelos homens.
Wissmann também reconhece que muitos dos valores e das hierarquias
das cores são socialmente produzidos e, por isso, a sua estimação e significado
varia de lugar para lugar, chegando a depender de actos claramente arbitrários,
como uma lei imperial. Porém, o seu ponto decisivo de mira é o de que os significados, valores e hierarquias das cores estão inscritos na natureza das coisas,
como elementos de uma ordem natural, ou como sinais postos nas coisas para
que o seu lugar nessa ordem se torne patente a todos. O branco exprime, naturalmente, a inocência; o vermelho, o sangue e as paixões (dolorosas ou gozosas)
do corpo; o terroso e baço, o primitivo e rústico; o pálido ou cerúleo, tal como o
negro, a morbidez e a morte. Tal como a forma e a fisionomia, a cor era um dos
elementos dessa hermenêutica universal que tornava a face visível do mundo
num livro com o qual se desvendava, por meio de uma contínua hermenêutica, a
sua fase oculta. Os homens potenciavam ainda essa leitura, apondo nas coisas
sinais cromáticos que as classificavam e apontavam a sua natureza íntima – os
sinais amarelos obrigatórios para os judeus ou para os loucos, o luto negro para
as viúvas, o branco para as vestes dos meninos e das (noivas) virgens, o vermelho ou púrpura para o poder e seus atributos (como para as encadernações dos
livros de direito civil ou para a tinta dos rescritos imperiais).
561
562
V. infra.
Não por acaso, na origem da teoria dos sistemas autopoiéticos, inspirando directamente Niklas
Luhmann, estão trabalhos de Ricardo Varela e Humberto Maturana sobre a visão (dos pombos
e de uma rãzinha das Caraíbas). Cf. SCHMIDT, Siegfried J. (Org.). Der Diskurs des
radikalen Konstruktivismus. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1987.
230
Antônio Manuel Hespanha
A firmeza ou invariabilidade destes sinais cromáticos seria mínima
nas sociedades domésticas, das quais o autor nem sequer trata; menor, nas repúblicas particulares, em que usos locais poderiam complicar aquela taxinomia
cromática natural; máxima, porém, na sociedade de todos os homens, na sociedade das nações (societas civilis major vel gentium), cuja comunhão se baseava,
muito proximamente, na natureza das coisas.
A “árvore das cores” de François d'Aguilon, antes reproduzida, já organizava as cores pela sua proximidade ao branco ou ao negro, respectivamente.
E, partindo embora de considerações meramente físicas, insinuava também elementos sobre os quais toda uma complexa simbologia e hierarquia das cores se
podia enxertar. A qual, basicamente, haveria de tender a valorizar as cores claras
– como o branco, o amarelo, o laranja, o vermelho e todas as suas compósitas –
sobre as cores escuras – como preto, o pardo, o azul, o castanho.
E, na verdade, as conotações destas últimas cores com a morte, o luto,
os espíritos infernais, a falta de luzes ou de virtude, a barbárie, a inexistência ou,
pelo menos, a discrição e a modéstia, são correntes e estão estudadas, nomeadamente no magnífico livro de Michel Pastoreau dedicou ao tema563. A própria
linguagem remetia, no latim, para este carácter quase inominável das cores “deprimidas”: caeruleum (azul, a cor da cera, que, de facto, não tem cor); glaucum
(derivado de Glaucus, um dos deuses gregos do mar, a que Ovídio atribui, no
entanto, uma forma monstruosa, e extensivo ao azul pálido ou fugidio do mar [o
qual tão-pouco tem cor]); lividum, caesium, aerium, ferreum, blavum (palavra
que provém do germano blau e que adquire uma conotação pejorativa, de bárbaro, sendo associada aos povos dos confins do Império – celtas, germanos). Enfim, como diz Pastoreau, “tudo termos polissémicos, cromaticamente imprecisos
e de emprego discordante” (p. 26/7). No teatro, personagens de olhos azuis,
sobretudo se associados a cabelos loiros ou ruivos (o que corresponde, de facto,
ao tipo bárbaro do norte) são típicos de figuras ridículas ou negativamente conotadas564.
Mas os elementos que podiam suportar uma teoria simbólica das cores
não eram apenas estes, de origem clássica. Também a tradição bíblico-cristã –
sobretudo a partir da imagética e da liturgia, se encarregarão de cobrir as cores
de significados565. O branco é a cor da pureza (candidus), do baptismo, do mistério pascal, da ressurreição (o renascimento, a manhã, a alba ou alva) e da vida
eterna. Enfim, o branco corresponde à luz pura e luminosa do sol, essa luz que
tantas vezes é identificada com Deus. Em contrapartida, o negro carrega-se de
uma pesada simbologia: a falta de luz, a abstinência, a penitência, a aflição e o
563
564
565
Michel Pastoreau: Bleu. Histoire d’une couleur. Paris: Seuil, 2000 (2002, col. “Points”); In:
português, M. Pastoreau, Dicionário das Cores do Nosso Tempo. Simbólica e Sociedade.
Lisboa: Editorial Estampa, 1993.
Terência, em Hecyna, descreve “um gigante obeso, com olhos azuis e cabelos ruivos e encrespados e uma face lívida [livida; cor de cera, caerulea], como a de um cadáver. Citado por M.
Pastoreau: Bleu..., cit. 27.
Cf. M. Pastoreau: Bleu..., cit., 33 ss.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
231
sofrimento. O vermelho, enfim, remete para o sangue de Cristo e dos mártires,
sinal do amor (ou a paixão) sagrados, embora a sua semântica se estenda, depois, ao amor profano (contrastando então o vermelho de novo com o branco,
que une amor e pureza, logo, amor cristão). O verde e o amarelo fazem o papel
de cores intermédias, entre o negro e o branco; enquanto que o roxo ou violeta
se aproxima do negro (subnigrum). Pastoreau descreve também – é este um dos
temas maiores do seu livro – como o azul, antes escandalosamente ausente, tanto
da física como da metafísica, começa a surgir, ligado à cor do céu ou – neste
caso com o tom mais violáceo do sofrimento – do manto da virgem, à medida
que as técnicas de coloração e os suportes (o vitral, por exemplo) lhe permitem
dar luminosidade, destacando-o das cores escuras. Porém, também esta valorização positiva da luz é objecto de controvérsia, pois as correntes mais ascéticas
veem nela e nas cores que ela faz aparecer um engano dos olhos, destinado a
afastar os fiéis do recolhimento e da reflexão soturna e aflita (logo, negra), sobre
a natureza perecível e arriscada do mundo, tomando esta aparência de claridade
pela luz verdadeira de luz verdadeira566.
São, na verdade, estes elementos simbólicos das cores, que o direito
sempre haveria de valorizar, mesmo antes de J. W. Goethe567 ter lançado as
bases daquilo a que se poderia nomear como uma teoria romântica das cores,
centrada no sujeito. Na verdade, é J. W. Goethe que insiste nos aspectos subjectivos, na percepção (fisiológica, mas também emocional) das cores. Ele afirma
que as sensações cromáticas dependem também do modo como o nosso cérebro
processa a informação externa: daí que o que nós vemos dependa tanto do objecto e da luz como da nossa percepção. Isto abrirá a porta para interpretações
estéticas ainda mais subjectivistas e simbólicas, que florescerão, primeiro, com o
romantismo e, depois, com o simbolismo e com o expressionismo, transformando as cores em como que espíritos sensíveis ou, pelo menos, em entidades que
seriam, antes de mais, estímulos para a sensibilidade do espírito. O poeta expressionista Emil Nolde não hesita em falar das cores como seres sensíveis “nas
566
567
João 1:9 – “Ali estava a Luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo”;
João 8:12 – Eu sou a luz do mundo: quem Me segue não andará em trevas”; Mateus 4:16 – “O
povo que estava assentando em trevas, viu uma grande luz... na região e sombra da morte, a
luz raiou”; Lucas 2:30-32 – “Luz para alumiar as nações”; João 2:8 – “Vão passando as trevas,
e já a verdadeira luz alumia”.
Zur Farbenlehre, v. 5. (completo, com notas de R. Steiner)conteúdo: Beiträge zur Optik
(179112); Versuch, die Elemente der Farbenlehre zu entdecken (1794); Von den farbigen
Schatten (1792); Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt (1793); Erfahrung und
Wissenschaft (1798); Entoptische Farben (1813-20); Tafeln zur Farbenlehre / Entwurf einer
Farbenlehre (1810); Enthüllung der Theorie Newtons (1810); Newtons Persönlichkeit (1810);
Konfession des Verfassers (1810); Über den Regenbogen (1832); Goethe gegen den Atomismus /
Goethe als Denker und Forscher / Goethe und der naturwissenschaftliche Illusionismus (Rudolf
Steiner): Disponível em: <http://www.farben-welten.de/farbenlehre/index.htm>; downloads:
<http://www.farben-welten.de/farbenlehre/index.htm)>; traduções: Zur Farbenlehre (v. 3, 1810; trad.
como Goethe's Theory of Colors, 1840). Sobre as inovações da teoria das cores de Goethe, v. Dennis
L. Sepper, Goethe contra Newton. Polemics and the Project for a New Science of Color, Cambridge University Press, 1988.
232
Antônio Manuel Hespanha
suas próprias vidas chorando e rindo, sonho e êxtase, quentes e sagradas e
sagrado, como canções de amor, eróticas como hinos e corais gloriosos! Cores
em vibração, tintilando como campainhas de prata e soando como sinos de
bronze, proclamando a felicidade, a paixão, o amor, o sangue e a morte”. Pela
mesma época, o simbolista português Eugénio de Castro (1869-1944) corporizará esta simpatia entre cor, som e sentimentos em termos muito semelhantes568.
É, portanto, em plena convulsão das teorias dos físicos sobre as cores
que Wissmann escreve o seu pequeno tratado jurídico.
Logo no início, ele constata essa mesma vertigem teórica, multiplicando as definições, sobretudo medievais e modernas (Joseph Justus Scaliger
[1540-1609], um erudito comentador de Teofrasto, considerado por Leibniz
como o melhor representante da física e metafísica de Aristóteles; a Margarita
Philosophica de Gregor Reisch (1508); remetendo ainda para outros autores,
como Höpping e Guldte, que tinham coligido outras).
568
Cf., por exemplo, o seu poema “Um sonho” (em Oaristos, 1890):
Na messe, que enlourece, estremece a quermesse
O sol, o celestial girassol, esmorece...
E as cantilenas de serenos sons amenos
Fogem fluidas, fluindo à fina flor dos fenos...
As estrelas em seus halos
Brilham com brilhos sinistros...
Cornamusas e crotalos,
Cítolas, cítaras, sistros,
Soam suaves, sonolentos,
Sonolentos e suaves,
Em suaves, lentos lamentos
De acentos graves, suaves.
Flor! enquanto na messe estremece a quermesse
E o sol, o celestial girassol esmorece,
Deixemos estes sons tão serenos e amenos,
Fujamos, Flor! à flor destes floridos fenos...
Soam vesperais as Vésperas...
Uns com brilhos de alabastros,
Outros louros como nêsperas,
No céu pardo ardem os astros...
Como aqui se está bem! Além freme a quermesse...
– Não sentes um gemer dolente que esmorece?
São os amantes delirantes que em amenos
Beijos se beijam, Flor! à flor dos frescos fenos...
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
233
No entanto, lembrado decerto do dito de Ulpiano de que o saber jurídico não precisava senão de um conhecimento suficiente (adequado) “das coisas
divinas e humanas” (D., 1,1,12), reconhece a inutilidade de uma pugna – “como
as dos gladiadores”, isto é, artificiais, se não artificiosas – sobre definições
quanto a uma coisa – a cor – que de todos era conhecida e clara, sendo, demais,
certo que a ele lhe interessava a coisa em si mesma e não, as elucubrações filosóficas sobre a sua natureza ou essência569. Bastar-se-á, portanto, não com uma
definição cuidada, mas com uma descrição notória que se possa aplicar a qualquer cor: “a cor é a qualidade que se pode perceber visualmente” (§ 5)570. Já
com eventuais implicações simbólicas, retém a opinião de Aristóteles, que liga a
água e o ar ao branco, o fogo ao vermelho e a terra ao branco ou ao negro (§ 22),
bem como o elenco das cores fundamentais: branco (album), negro (nigrum),
vermelho (rubrum), azul (caeruleum), flavum (ouro, amarelo), com base no
ensino de Schaeffer (De arte pingendi) e no perturbante Athanasius Kircher (In
Mundo subterraneo)571, mas dando conta de outras opiniões que omitiam o azul
e substituíam o rubrum pelo puniceum (escarlate) (§ 27)572. A sua síntese sobre a
combinação das cores é, afinal, a da Arte magna573 e do Mundus subterraneus,
de Kircher:
569
570
571
572
573
“No entanto, para mim, reconhecendo certa ingenuidade, nenhuma me agrada, pois obscurecem mais do que esclarecem uma coisa que de todos é suficientemente clara e conhecida de
qualquer um; na verdade, o primeiro fim das boas definições é fazer com que os homens possam adquirir um conceito distinto e notório de uma coisa desconhecida ou obscura [...] No
entanto é inteiramente de admitir que a cor é do género das coisas físicas que, de qualquer
modo, é mais fácil em geral conhecer, apesar de não ser fácil determinar a sua essência. E, por
esse facto, é porventura fácil esperar poder ser desculpado de remeter este tipo de especulações
para os filósofos, abordando, em si mesmo, aquilo de que me encarreguei”.
Basta-se também com a uma noção vulgar de “qualidade” – “acidente pelo qual uma coisa é
como é”; e bastrai da discussão dos físicos sobre se essa qualidade é real ou intencional, ou se a
cor adere ao corpo, que se diz colorido, ou antes à luz (remetendo para Robert Boyle, Experiments and considerations touching colours. London: Royal Society, 1664). Em todo o caso,
situa-se brevemente em face de alguns dos problemas da física sobre a percepção da cor, sobre
a diferença entre luz e cor, sobre a casa das cores, sobre as divisões das cores (reais e aparentes,
§ 16; nativas, §18, e factícias ou artísticas ,§ 19; simples e mistas, §§ 21-23) etc. (§§ 7 a 23)
SCHEFFERUS, Joannes: Graphice id est arte pingendi liber singularis (cum indice necessario). Nuremberg, 1669. Athanasius Kircher, S.J. Mundus Subterraneus, in XII Libros digestus;
quo Divinum Subterrestris Mundi Opificium, mira Ergasteriorum Naturae in eo distributio,
verbo pantamorfon Protei Regnum, Universae denique Naturae Majestas et divitiae summa rerum varietate exponuntur. Apud Joannem Janssonium et Elizeum Weyestraten, Amsterdam,
1665. v. 2.
Outras divisões com relevo simbólico: cores húmidas e secas; cores nobiliores (que têm muita
luz) e ignobiliores (que têm muito de sombra); Outros (Höpping) chamam nobres às cores
principais, embora algumas delas (o negro e o azul) tenham muito de sombrio) (§ 34).
Ars magna, lucis et umbrae, in decem libros digesta, Romae, Ludovigo Grignani, 1646 (que se
tornou numa obra central da Ordem Rosa-Cruz).
234
Antônio Manuel Hespanha
Subcinereus vel Fulcus
Subfulcus
Cinercus
Viridis
Subrubeus
Incarnatus
Purpureus
Aurcus
Subbalbus
Albus
Flavus
Subcaetruleus
Rubeus
Cocruleus
Nigar
De todos estes autores574, Wissmann procurava contributos para encontrar uma ordem do justo relativa às cores (quid justum sit circa colores, vel
colorem occasione, § 35), ordem que havia de se fundar em sentidos e hierarquias naturais das mesmas na ordem divina e humana da natureza.
O primeiro capítulo em que o assunto é tratado substancialmente (cap.
II. “O uso das cores em diversos estados do homem”, § 36 ss.) trata do modo
como as cores são o sinal dos estados dos homens; pois, se a natureza e o direito
distinguem os homens de acordo com a variedade dos seus estados – ou seja, dos
seus estatutos nas sociedades humanas (“civil maior, civil e a civil mais pequena ou
doméstica”, § 37) –, estes “devem originar diferenças no seu aspecto”.
Na sociedade civil maior – a sociedade de todos os homens do universo vivendo em paz, societas gentium ou sociedade das nações, § 38 –, tais diferenças de cor já existem: gregos seriam russati (corados, enrubescidos), os cartagineses albi, os coríntios rubri os germanos de várias cores, segundo Tácito,
tendo as suas nações, desde a antiguidade, diferentes cores de corpo, cara e cabelos575 (§39). Dos hispanos se dizia que eram fusci (escuros), “ao passo que a
Gália está menos infectada por este rubor dos vizinhos (at contra Galia vicino
minus est infecta rubore). Aqui começam as alusões a uma clara teoria rácica
baseada na cor da pele, que se conclui pela afirmação de que, segundo muitos,
os etíopes foram dominados pelos mouros por causa das suas faces queimadas e
574
575
Outros autores citados (filósofos, físicos, médicos, teólogos § 35).
Embora os autores clássicos lhes associassem a cor blava (azul < blau), por isso conotada com
a barbárie e um aspecto medonho.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
235
pelo negrume da cor; a estes parecendo opor-se os brancos (albos), entendendo
como tal os habitantes do norte da Europa, especialmente os franceses (gallos)
(§ 40). Já os germanos, pela cor de seus cabelos e olhos, continuavam amarrados
à simbologia antiga – originária em Tácito – do barbarismo: teriam olhos selvagens e azuis (caerulei); os cabelos seriam russos ou amarelos, não tanto por
natureza, mas por os lavarem com sabão, para que tivessem um brilho avermelhado, o mesmo fazendo os dinamarqueses e os suecos (§ 41). É decerto por
causa desta carga negativa dos olhos azuis associados aos cabelos russos (ou
ruivos) que mais tarde, ao tratar das cores como indícios de índole criminosa, o
autor se pergunta, como outros juristas, sobre se o ruivo dos cabelos não é indício de um espírito violento e criminoso576.
Nesta teoria cromática das raças, passa-se com a cor da pele o que se
passa com o tingir dos tecidos. O branco – cor difícil de obter nos tecidos, à
custa de exposição ao sol (“pôr a roupa a corar [não a descorar]”), barrelas de
cinza e de lixívias) – era a cor, elaborada, cultivada, aperfeiçoada, da limpeza e
do requinte. Uma cor ao mesmo tempo trabalhosa, cara e perecível. Em contrapartida, o pardo, encardido, terroso, indistinto, era a cor (ou não cor) nativa,
rústica, não polida. Na humanidade, era a cor dos primeiros homens, formados
do insignificante e descolorado pó, pelo que teriam os olhos e os cabelos de cor
azul (caerulea) e amarelada (flava) (§ 42). Embora os físicos se interrogassem
sobre as diferenças de coloração da pele, era fácil aproximar as cores terrosas,
baças, encardidas, desse estado primitivo do homem acabado de sair do pó, ainda antes de soprado por Deus, ou, terminado o seu trânsito animado e abandonado do espírito vital, retornado, já cadáver, a esse tom de palidez ou de cera577.
A outras chaves simbólicas estavam ligados os usos que os vários povos faziam das cores. O uso do preto, em Espanha, para falar com o rei. Também no Japão o negro era, então, a cor mais nobre. Na Turquia, o verde era reservado para a família do Profeta. Já a cor amarela fora julgada por muitos povos como abjecta. Essa era, na Europa, a cor do barrete (Viena, 1228, pileum
cornutum) ou da marca que os judeus deviam cozer às roupas, tendo variado a
sua forma: estrela, rodela ou triângulo). O IV Concílio de Latrão (1215,
Inocêncio III, cân. 68) mandava que os judeus e os sarracenos de ambos os
sexos devem usar roupas que os distingam publicamente das outras nações. Esta
mesma ideia aplicava-se também a profissões vis como as de talhante e prostituta (cf. Polizeiordnung de 1577, § 68). No caso dos judeus, a fama de que eram
comerciantes gananciosos e dados à usura permitia a aproximação entre a cor
amarela e a cor do ouro e do oportunismo. Também os loucos se deviam vestir
de amarelo, em sinal de ignomínia.
576
577
“Se a cor russa dos cabelos aumenta os indícios de crime ? Cons. Rupertum, ad Salust., p.
549” (§ 135, n. 6).
Com elementos sobre uma teoria cromática das raças, Renato G. Mazzolini: Leucocrazia o
dell’identità somática degli europei. In: PRODI, Paolo; REINHARDT, Wolfgang. Identità colletive tra Medioevo ed Età Moderna. Bologna: CLUEB, 2002. p. 43-64.
236
Antônio Manuel Hespanha
Mas, na China, o amarelo era a cor imperial, proibida a todos os outros. Embora os persas tivessem o azul como cor real, os alemães continuavam a
tê-la, então, por desprezível, comunicando essa conotação à mulher que, traindo
a sua natureza, se cultivava e se tinha por sabichona ou reivindicativa de prerrogativas de mando578. E, por isso, a expressão Blaustrumpf (tal como, por razões
já referidas, “cabeça russa” ou “ruiva” [Rothkopff]) podia ser considerada juridicamente injuriosa, como sinónimo de “sabichona”, “pedante”. (§ 120)579
Depois da sociedade das nações vinha a sociedade civil, cobrindo todas as acções externas os homens (§ 44). Neste plano, se as simbologias das
cores remetiam menos para a natureza do que para os usos enraizados – essa
segunda natureza do mundo de então –, a sua riqueza era enorme. Embora,
Wissmann apenas se preocupe com as conotações relevantes para o direito, os
seus exemplos são muitos580.
O Autor começa, como era de esperar, pela simbologia do poder, descrevendo como, para ostentar a majestade, várias foram as cores usadas. No
Império romano, o púrpura fora uma cor imperial, como tal interditada por Nero
a qualquer outra pessoa (§ 45), tal como, na República, também o fora o branco581. Estas cores reais tinham-se mantido. Na corte inglesa, a vara branca era
um sinal real, preferindo os oficiais reais (officers of the white staff 582) aos da
fazenda. O mesmo prestígio tinha a cor na corte francesa, em honra da pomba
branca que teria trazido do céu os santos óleos para a unção do rei; daí a escolha
do lírio, “flor branquíssima”, como insígnia real583. O mesmo, com a escrita e
578
579
580
581
582
583
“Blaustrumpf” (meias azuis) era o epíteto destas protossufragistas (§ 43). A expressão encontra-se na letra (de autor desconhecido, 1708) de uma cantata de Bach (BWV 524 Quodlibet
(Fragment) Was seind das vor grosse Schlösser. Significando alguém que revelou hipócrita,
traidor, jactancioso ou fanfarrão (cf. Disponível em: <http://www.bach-cantatas.com/Articles/
BWV524Quodlibet%5BBraatz%5D.htm>.). A expresssão surge na Inglaterra do séc. XIX, significando um forma desviada de comportamento das mulheres que pertenciam ao primeiro movimento feminista. Já por volta de 1750, Lady Elizabeth Robinson Montagu abrira o seu Salon;
como um dos convidados – o botânico Benjamin Stillingfleet – usava umas meias de seda preta
que ela não podia suportar, autorizou-o a usar umas das suas meias de malha azul. O facto tornou-se conhecido, pelo que os participantes destas reuniões intelectuais passaram a ser conhecidos como “Blue-Stockings”.
Este tipo de mulher é caricaturado por Honoré Daumier e objecto de chacota e ódio dos homens: Alle Eure poet’schen Siebensachen/ Ich schätze sie nicht ein Pfifferlein. Nicht sollen
Frauen Gedichte machen: / Sie sollen versuchen, Gedichte zu sein (Oscar Blumenthal, 18521917. Blaustrümpfe, 1887.) [Toda a vossa tralha poética/Vale para mim tanto como uma
porcaria / As mulheres não devem fezer versos, / Mas sim tentar tornar-se poesia].
Embora alguns deles se refiram a cores incorporadas em insígnias e, por isso, nos interessem
menos, já que a simbólica da insígnia consumia, em geral, a da cor.
Talvez por isso, as varas dos juízes das câmaras portuguesas (também no Brasil) eram vermelhas (juízes de fora, representantes do império) ou brancas (juízes ordinários, representantes da
república municipal).
De entre os quais avultava o Lord Chamberlain. Oficiais de vara vermelha eram os officers of
the wardens of the Fleet, que esperavam o rei empunhando um bastão vermelho.
Que, no entanto, figura nas armas reais de França, em amarelo (or) sobre campo azul (fonds
d’azur).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
237
com os selos: os rescritos imperiais deveriam ser escritos a vermelho, assim
como devia ser proibida ou sujeita à licença do imperador o uso da cera rubra –
tinta sagrada (sacrum encaustrum [inchiostro] (§ 71) – na selagem dos documentos584/585. Já os documentos deviam, em geral, ser escritos586 em papel branco, sem manchas, não podia ser encardido ou com letras apagadas (§ 128).
Depois, as alusões simbólicas multiplicam-se. O negro significa o
luto, e o branco, a alegria. (cf., também, § 53). Na França e na Inglaterra, porém,
a cor do luto real era o violeta. O luto das rainhas francesas era o branco (daí que
se chamassem Blanches). O dos cardeais e o dos reitores de algumas Universidades da Alemanha era o púrpura (vermelho-escuro) (§ 47, § 52).
Nas mulheres, as libertas usavam vestidos de cores diferentes das matronas: verde desmaiado ou amarelo, açafrão, mirtilo, ametista, cor de vinho ou
rosa, azeviche, castanho, amêndoa; enquanto que estas usavam tecidos mais
caros, cor púrpura. Também o cabelo negro as distinguia das prostitutas que o
usavam louro (flavum), as (§ 48) […]. Nos monges, as cores oscilavam entre o
branco, o negro, o azul e o castanho, tudo cores neutras ou escuras, evocadoras
da sobriedade, da honestidade, da pureza ou do sofrimento e luto. Os advogados
deviam vestir-se de negro, pois esta era a cor da firmeza e da preserverança (por
muito que, acrescenta, muitos gostem precisamente, de variar) (§ 50).
Também às várias idades competiam, por natureza, cores diferentes. À
infância (até aos sete anos) convinha o branco ou o prateado da inocência; aos
púberes (até aos 15 anos) convinha o azul; até aos vinte anos, o amarelo; o verde
(viridium) era, onomatopaicamente, a cor da virilidade sendo a própria dos homens até aos trinta anos; o vermelho (a cor do amor carnal) acompanhava-os,
por sua vez, até aos cinquenta; quanto ao negro, acompanhava, como um eloquente vaticínio, os idosos (senes) (de mais de 60 anos). Embora nesta cor se
combinasse, também, a evocação da serena constância própria da idade, e, por
isso, esta era também a cor que em muitas nações tingia as vestes dos magistrados, confirmando a majestosa lentidão e parcimónia que lhes devia caracterizar
o gesto (§ 51).
Estes mesmos sentidos das cores eram utilizados no teatro, para que os
espectadores, de um golpe de vista, pudessem caracterizar o personagem: assim,
os meninos vestiam de branco ou de linho; as prostitutas de açafrão ou de cor de
barro; os sacerdotes, de branco; a túnica dos adolescentes variava com as situações e a sua condição; a alegria era sugerida pelo branco; a tristeza, por uma cor
584
585
586
O A. refere um parecer da Faculdade de Direito de Leipzig dado aos escabinos de Wittenberg e
de Halle, segundo o qual nenhum privado, nobre ou plebeu, poderia usar cera rubra, a não ser
por privilégio especial (§ 72), em princípio, do imperador (cf. Corollaria, p. 68).
Por razões diversas, mas já explicadas, também as sentenças de mortes deviam ser escritas a
vermelho (idem, ibidem.); a decisão sobre a morte devia ser tomada, em tribunal, por votação
por bolas negras e brancas; e, finalmente, o condenado deve ir vestido de negro (§ 135).
Com tinta negra e não cinzenta ou, muito menos, de outras cores, como verde ou vermelho (§
128).
238
Antônio Manuel Hespanha
gasta; a riqueza, pelo púrpura; a pobreza, pelo escarlate; os velhos vestiam negro, e os chulos, cores variegadas587.
Certas peças de vestuário, nomeadamente as que se usavam na parte
mais nobre do corpo, a cabeça, que assim figurava como o lugar da insígnia ou
timbre, tinham regras mais fixas quanto a cores. Assim, o chapéu (§ 54). O dos
cardeais era vermelho, conforme já decorria da fórmula da sua imposição:
Ad laudem omnipotentis Dei et Sanctae Sedis Apostolicae ornamentum accipe
galerum rubrum, insigne singulare dignitatis Cardinelatus, per quod designatur, quod usque ad mortem & sanguinis effusionem inclusive pro exaltatione Sanctae Fidei, pace et quiete populi christiani, augmentu et statu Sacrosanctae Ecclesiae Romanae intrepidum te exhibere debeas, in Nomine
Patris, & Filius, & Spiritus Sancti.
Também os barretes universitários tinham as suas regras cromáticas.
Os juristas usavam borlas vermelhas ou negras; ou violeta, como em Leipzig,
embora esta fosse a cor da teologia, pois se ocupava do mundo celeste, que virá
depois da morte deste mundo (§ 56). Em alguns países, como a Espanha ou a
Alemanha, o Reitor presidia às disputas académicas, trajando vestes amarelas
(batina, manto, pequeno barrete com um penacho) (§ 61).
Togas, meias, sapatos, pantufas e fardas, tudo podia ser objecto de regulamentação cromática, sempre baseada na natureza simbólica das cores ou em
significados longamente sedimentados588, neste mundo em que a aparência devia
corresponder à essência, como a etiqueta corresponde ao objecto etiquetado. E
em que, como num grande teatro, a marcação cromática – ao lado de outras,
duplicando outras589 – devia remeter para a hierarquia dos personagens.
Etiquetas eram, também, as penas que, portanto, se podiam também
exprimir pela imposição de cores. A uma certa cidade, em sinal da sua perfídia,
ter-lhe-ia sido impedido o uso do vermelho e imposto o do amarelo. Em 1582, o
Parlamento de Paris condenou os falidos, mesmo de boa fé, a usarem um chapéu
verde. Em outros lugares, como no Saxe, era-lhes imposto um chapéu amarelo
(SACHSEN, 1661), como aos loucos, em Veneza. Segundo a lei judaica, os
sacerdotes com mancha deviam usar veste e véu pretos. Os outros, os puros,
usavam-nos brancos (§ 128 [numerado, por erro, de 126]).
Daí a gravidade da usurpação das cores que, como a usurpação do
nome, das insígnias (§ 101), do estado, do sexo, constituem tanto crimes de
falso, punidos pelo direito, como faltas morais graves contra a honestidade (ho587
588
589
Tal como as prostitutas se deviam vestir assim, segundo o direito português antigo.
Cf. §§ 63 a 68.
Tal é o caso da combinação entre a forma dos assentos e sua cor. Cadeiras de docel, de espaldar, de braços, meros tamboris, bancos e almofadas representavam uma hierarquia, que podia
ser duplicada pela cor dos materiais (couros e estofos): “Não erraremos se dissermos que é
conveniente que cada dignidade de pessoa use bancos de cor diferente, vermelhos para os superiores, violáceos ou negros para os inferiores”. (§ 70)
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
239
nor, honestas). Assim, é crime apor na sua casa as armas de outrem, ou mesmo
pintar a sua casa com uma cor que, por uso, outro tenha reservado para as suas590;
utilizar cores adulteradas; pintar um cavalo de modo a que a cor lhe aumente o
preço; um magistrado usar cores abjectas nas suas vestes (§ 127).
Este carácter natural da ordem das cores explica também, por sua vez,
a gravidade da mistura de cores, já realçada por M. Pastoreau591. Uma cor nova
nunca se deve obter pela mistura dos princípios activos das cores simples. Por
exemplo, o verde não se deve obter misturando corantes azuis com corantes
amarelos; mas antes buscando corantes autónomos verdes, ou degradando os
tintos das cores originais até se obter o tom desejado. Misturar cores seria como
que perturbar a ordem do mundo, criando um hermafroditismo contra natura 592.
Para além de eventuais questões de técnica e de fiabilidade do novo tinto, há
aqui profundas questões de ética, relacionadas com o interdito da impurificação.
Era nesta ordem simbólica das cores, correspondente a uma ordem
subjacente do mundo, que se baseavam as pragmáticas, tanto as que apenas
pretendiam conservar a ordem do mundo, como aquelas que, já dentro de uma
lógica mercantilista ou de rigorismo religioso, visavam limitar o luxo. Sendo
que uma ou outra das perspectivas tomava por base, muito frequentemente, a cor
dos adereços. Assim, leis imperiais alemãs de 1530 regulavam o uso do carmim
(carmasinus); uma Polizeiordnung de 1577 proibia pessoas de categorias inferior à
de cavaleiro ou de doutor de enfeitar seus cavalos de amarelo (flavum) (§ 68).
Muitas das questões jurídicas das cores estão relacionadas com as insígnias. Já antes se disse que, nestes casos, o simbolismo das armas e insígnias
parece mais forte do que o das cores que as compõem, pelo que, mais do que de
um direito das cores, se trataria de um direito das insígnias. Porém, mesmo aqui
a simbologia autónoma das cores faz valer os seus direitos. É que, se as insígnias
– tal como os emblemas – são uma espécie de linguagem mais eloquente, em
que os significados apareceriam como que imediatamente, por uma espécie de
efeito de espelhamento directo da natureza no sinal (in signis), isso acontece
porque os elementos do sinal (do brasão, da insígnia) têm significados também
eles naturais, quer no plano das figuras, quer no plano das suas cores. De facto:
“a cor mais nobre deve anteceder a simplesmente nobre e ser posta num lugar
superior [...]; sendo deste princípio que decorre o costume de pintar nas insígnias as imagens dos animais e das feras (v.g., leões, águias, lobos etc.) de cores
diversas das naturais, como, por exemplo, azul” (§ 73), assim fazendo corresponder a nobreza (e lugar) da figura à nobreza e lugar da cor. Pois as cores “têm
os seus próprios significados, quase místicos”, os quais se impõem a uma representação naturalista do bestiário heráldico593.
590
591
592
593
Em certas aldeias do sul de Portugal, as cores das barras inferiores das paredes exteriores das
casas identifica a família proprietária.
Bleu..., cit., 60 ss.
Como exemplo, uma lei saxónica de 1626 (31.1.) proíbe a mistura de tintas (§ 84)
Pelo que a cor dos elementos das insígnias constitui um elemento distintivo essencial, não se
podendo acusar alguém de usurpar armas alheias, se as suas cores são diferentes (§ 77). Sobre a
cor na distinção dos exércitos em guerra, v. § 80.
240
Antônio Manuel Hespanha
Wissmann trata ainda, neste apartado, das normas que regem a profissão de tintureiro ou de pintor. Omito este tema, por menos interessante na economia deste artigo, apesar da relevância que possa ter numa outra abordagem
desta história do colorido (artificial, neste caso) do mundo.
Porque é que nos interessa, ao estudar a história político-social, esta
questão das cores?
Por várias ordens de razões.
Em primeiro lugar, num plano metodológico, a história das cores, da
sua percepção fisiológica e da sua conotação simbólica constitui um dos mais
eloquentes exemplos das insuficiências de uma historiografia objectivista, que
confunda a construção humana do mundo e dos seus sentidos com uma realidade
objectiva. O mundo não se nos dá em espectáculo; o mundo é o espectáculo que
as sociedades constroem, organizando-o e impondo-lhe uma narrativa. Dessa
narrativa faz parte, também, o seu colorido.
Em segundo lugar, e ainda neste plano metodológico, uma história
bem contada das cores há-de saber combinar ingredientes quase exclusivamente
imaginários – como a relacionação entre cores, sons e sentimentos – com memórias de saberes. De saberes sobre os elementos, sobre os humores corpóreos,
sobre as virtudes curativas de plantas ou de outros produtos, sobre as propriedades secretas das coisas. Mas também há-de incorporar aspectos puramente técnicos, como a origem, a qualidade e as características e condições de fabrico, a
raridade e o preço dos corantes. Finalmente, com as condições mesológicas: as
cores dominantes na paisagem, a paleta da terra, dos céus e dos mares, das
plantas, dos animais e dos próprios homens.
É sobre tudo isto que se estrutura o simbolismo das cores, fixando
sentidos e hierarquias, atracções, repulsas e interditos. Constituindo, através de
ditos, de provérbios, de normas jurídicas ou de simples modismos de diversa
natureza, significados, ordens e hierarquias para as cores, com as quais se marca
a ordem da sociedade.
O exemplo que escolhi neste artigo foi o de um texto do séc. XVIII,
escrito numa cidade do nordeste da Alemanha. Nele se compendia uma memória
europeia de sentidos que lhe chega através de citações de autores que escreveram muito antes (no seio da tradição bíblica, helenística e romana, por exemplo)
e muito longe (desde logo, no mundo mediterrânico, dotado de uma paleta mesológica muito diferente da predominante no norte da Alemanha).
A expansão colonial europeia deve ter enriquecido extraordinariamente a sensibilidade cromática, não apenas por ter posto os europeus em contacto com outros meios físicos, mas também por lhes ter criado, em virtude de
novas experiências, de novos corantes, ou de incorporação de tradições simbóli-
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
241
cas alheias594, novas sensibilidades para a cor. As designações europeias das
regiões exóticas abundam de adjectivos referidos a cores: Mar roxo ou Mar
Vermelho, Cabo Verde, Cabo Branco, Brasil, Rio Negro; assim como o imaginário ultramarino595 evoca coloridos fortes e variegados.
Os estudos sobre as cores implicam, antes de mais, levantamentos
exaustivos e rigorosos: dos pigmentos disponíveis e usados, das cores, das casas,
das vestes dos santos596, das cores das vestes. Finalmente, e mais tarde, dos símbolos regionais e nacionais. Estes últimos tiveram, nas novas nações, um impacto na sensibilidade e no gosto desconhecido de muitas das nações europeias,
de identidade mais estabilizada e, por isso, menos ávidas de sinais de identificação. Não assim nas Américas, onde o azul, branco e vermelho distinguem a
paisagem humana norte-americana como, a um nível que muitos brasileiros não
são capazes de notar, o azul, amarelo e verde dominam o espectro cromático de
uma cena de rua, no Brasil.
Mas, com isto, as velhas imagens europeias não se perdem; num grau
que importaria estudar e que variará de zona para zona, de objecto para objecto e
de situação para situação, elas terão permanecido como um património latente
que importa recordar.
594
595
596
Wissmann dá exemplos de simbolismos chineses, japoneses, turcos, das cores.
Palavra que também virará designativo cor.
Em relação ao ultramar, note-se que a gravura, facilmente transportável, não levava cor, abrindo um espaço mais alargado à invenção cromática.
242
Antônio Manuel Hespanha
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
243
11
OS JURISTAS COMO COUTEIROS: A
ORDEM NA EUROPA OCIDENTAL DOS
INÍCIOS DA IDADE MODERNA597
11.1
A MODERNIDADE, ANTES E DEPOIS
Num ensaio de 1987 sobre a sociologia dos intelectuais, Zygmunt
Bauman598 estabelece uma polaridade entre duas visões básicas da ordem do
mundo, cada uma delas correspondendo ao modernismo e ao pós-modernismo,
embora não se esgotando em nenhuma das posições:
A típica visão moderna do mundo é a de uma totalidade essencialmente ordenada; a presença de um padrão de desigual distribuição de probabilidades
permite uma espécie de explicação dos eventos que — a estar correcta — é
simultaneamente uma ferramenta de previsão e (se disponíveis os recursos
necessários) de controle. O controle ‘domínio sobre a natureza’, ‘planificação’ ou ‘concepção’ da sociedade) está simultaneamente associado à acção
de ordenação, entendida como a manipulação das probabilidades (tornar
certos eventos mais prováveis e outros menos prováveis). A eficácia do controle depende da correcção do conhecimento da ordem ‘natural’. Tal conhecimento correcto é, em princípio, alcançável. A eficácia do controle e a correcção do conhecimento estão intimamente ligadas (a segunda explica a primeira, a primeira confirma a segunda), seja na experiência laboratorial, seja
na prática social. Entre ambas fornecem os critérios necessários à classificação das práticas sociais como superiores ou inferiores.
597
598
Tradução do texto original em inglês publicado pela Análise Social, v. XXXVI (161), 2001. p.
1183-1208 por Rui Cabral.
Zygmunt Bauman (1987): Legislators and Interpreters. On Modernity, Postmodernity and
Intelectuals. Cambridge, Polity Press. Bauman (professor emérito da Universidade de Leeds) é
considerado por Anthony Giddens “o teórico da pós-modernidade”. A sua obra mais recente é
uma brilhante procura de uma moralidade pós-moderna.
244
Antônio Manuel Hespanha
Tal classificação é — uma vez mais, em princípio — objectiva, ou seja, publicamente testável e demonstrável sempre que os critérios acima referidos sejam aplicados. As práticas que não podem ser objectivamente justificadas
(por exemplo, as práticas que se legitimam a si mesmas por referência a hábitos ou opiniões ligadas a um local ou período particulares) são inferiores,
uma vez que distorcem o conhecimento e limitam a eficácia do controle. Subir na hierarquia das práticas avaliadas por meio da síndroma controle/conhecimento significa também avançar em direcção ao universalismo, deixando para trás as práticas ‘paroquiais’, ‘particularistas’ ou ‘localizadas’.
A visão do mundo tipicamente pós-modernista é, em princípio, a de um ilimitado número de modelos de ordem, cada um deles gerado por um conjunto
de práticas relativamente autónomo. A ordem não precede as práticas e, desse modo, não pode servir como uma medida externa da sua validade. Cada
um dos diversos modelos de ordem faz sentido apenas em termos das práticas
que o validam. Em cada caso, a validação traz consigo critérios que são desenvolvidos dentro de uma tradição particular; são sustentados pelos hábitos
e crenças de uma ‘comunidade de significados’ e não admitem quaisquer
outros testes de legitimidade. Os critérios acima descritos como ‘tipicamente
modernos’ não constituem excepção a esta regra geral; são, em última instância, validados por uma das muitas possíveis ‘tradições locais’ e o seu
destino histórico depende da sorte da tradição na qual se integram. Não
existem critérios de avaliação de práticas locais que se situem fora das tradições, fora das ‘localidades’. Os sistemas de conhecimento só podem ser avaliados do ‘interior’ das respectivas tradições. Se, do ponto de vista moderno,
o relativismo do conhecimento era um problema a combater e eventualmente
vencer, na teoria e na prática do pós-modernismo, a relatividade do conhecimento (ou seja, a sua ‘inscrição’ na sua própria tradição no senso comum apoiada) é uma característica perdurável do mundo. [BAUMAN, 1987. p. 3-4]
A cada uma destas Weltanschaungen corresponderá um diferente papel e natureza dos intelectuais:
A estratégia de trabalho intelectual tipicamente moderna é melhor caracterizada pela metáfora do papel do ‘legislador’. Consiste esta em fazer afirmações
autoritárias que arbitram controvérsias de opinião e seleccionam opiniões que,
tendo sido seleccionadas, se tornam justas e obrigatórias. A autoridade para
arbitrar é, neste caso, legitimada por um conhecimento superior (objectivo)
ao qual os intelectuais possuem melhor acesso do que o sector não intelectual
da sociedade. O acesso a tal conhecimento é melhor graças a regras de procedimento que asseguram o alcance da verdade, a chegada a um julgamento
moral válido e à selecção do gosto artístico adequado. Tais regras de procedimento possuem validade universal, tal como os produtos da sua aplicação.
O emprego de tais regras de procedimento torna as profissões intelectuais
(cientistas, filósofos morais, estetas) detentoras colectivas de conhecimento
de relevância directa e crucial para a manutenção da perfeita ordem social
[...] Tal como o conhecimento que produzem, os intelectuais não são limitados pelas tradições localizadas e comunitárias. São, tal como o seu conhecimento, extraterritoriais. Isto confere-lhes o direito e o dever de validarem (ou
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
245
invalidarem) crenças que podem ser sustentadas em diversos sectores da sociedade. De facto, como observou Popper, é na falsificação de perspectivas
mal fundamentadas ou infundadas que melhor funcionam as regras de procedimento.
A estratégia do trabalho intelectual tipicamente pós-moderna é melhor caracterizada pela metáfora do papel do ‘intérprete’. Consiste na tradução de
afirmações realizadas no interior de uma tradição de base comunitária, de
modo que possam ser entendidas no interior do sistema de conhecimento baseado noutra tradição. Em vez de estar orientada para a selecção da melhor
ordem social, esta estratégia visa facilitar a comunicação entre participantes
autónomos (soberanos). Preocupa-se em impedir a distorção do significado
no processo da comunicação. Para tal fim, promove a necessidade de penetrar
profundamente o sistema de conhecimento alheio, do qual a tradução deverá ser
realizada (por exemplo, a ‘descrição espessa’ de Geertz), e a necessidade de
manter o equilíbrio delicado entre as duas tradições em diálogo, de modo que a
mensagem não seja distorcida (em relação ao significado nela investido pelo
emissor) e seja compreendida (pelo receptor). [idem, ibidem, p. 4-5].
Um pouco mais à frente na explicação, Bauman utiliza outra metáfora
que amplia o alcance da distinção, a dos ‘jardineiros’ em oposição aos ‘couteiros’:
As ‘culturas selvagens’, afirma Ernest Gellner, reproduzem-se a cada nova
geração sem intenção consciente, supervisão, vigilância ou especial nutrição.
As culturas ‘cultivadas’, ou ‘culturas-jardins’, pelo contrário, são apenas
mantidas por meio da intervenção de pessoal literário ou especializado. Para
se reproduzirem necessitam de uma intenção e de uma supervisão, sem as
quais as culturas-jardins seriam dominadas pela selva. Em todos os jardins
existe uma sensação de artificialidade precária; o jardim necessita dos
constantes cuidados do jardineiro, já que um momento de negligência ou de
simples distracção devolvê-lo-ia ao estado do qual emergiu (e o qual teve de
destruir, expulsar ou subjugar para emergir). Por muito bem estabelecido
que esteja, não podemos confiar em que o jardim reproduza a sua própria
ordem por meio dos seus próprios recursos. As ervas daninhas — as plantas
intrusas, não planeadas, autocontroladas — lá estão para sublinharem a fragilidade da ordem imposta; alertam o jardineiro para a eterna necessidade
de supervisão e vigilância.
A emergência da modernidade consistiu num processo semelhante de transformação de culturas selvagens em culturas-jardins. Ou melhor, um processo
no decurso do qual a construção de culturas-jardins reavaliava o passado —
e em que as áreas que se estendiam para além das novas sebes e os obstáculos encontrados pelo jardineiro no interior do seu próprio terreno cultivado
se tornavam ‘zonas selvagens’. O século XVII marcou o momento em que o
processo ganhou impulso; em inícios do século XIX tinha sido já amplamente
concluído no extremo ocidental da península europeia. Graças ao seu sucesso nessa região, tornou-se igualmente o padrão desejado pelo resto do mundo, ou imposto ao resto do mundo.
A transição de uma cultura selvagem para uma cultura-jardim não constitui
simplesmente uma operação realizada sobre um retalho de terra; representa
246
Antônio Manuel Hespanha
também, e talvez mais seminalmente, a emergência de um novo papel, orientado
para fins anteriormente desconhecidos e exigindo capacidades anteriormente
inexistentes: o papel do jardineiro. O jardineiro passará a assumir o papel
até então desempenhado pelo couteiro. Os couteiros não alimentam a vegetação e os animais que habitam o território entregue aos seus cuidados, tal
como não têm também qualquer intenção de transformarem o estado desse
território, de modo a aproximarem-no de um ‘estado ideal’ imaginado. Em
vez disso, procuram garantir que as plantas e animais se auto-reproduzam
sem serem perturbados — os couteiros confiam no engenho dos seus protegidos. Falta-lhes, por outro lado, o tipo de autoconfiança necessária para interferirem nos hábitos intemporais dos seus protegidos; não lhes ocorre,
portanto, que um estado de coisas diferente do sustentado por tais hábitos
possa ser considerado uma alternativa realista. Aquilo que os couteiros pretendem é algo bem mais simples: garantir um quinhão da riqueza de bens que
estes hábitos intemporais produzem, garantir a recolha desse quinhão e impedir que couteiros impostores (os caçadores furtivos, como são apelidados
os couteiros ilegais) os privem da fatia que lhes cabe. [p. 52-53]
Não é por acidente linguístico que Bauman utiliza o conceito do legislador para descrever o tipo de intelectual ideal da idade moderna. Na verdade,
os legisladores modernos – aqueles que inventaram e depois difundiram por
todo o mundo a lei rígida – encaixam perfeitamente na descrição acima apresentada de:
I – Um intelectual autoconfiante e autoritário;
II – Proprietário exclusivo de um conhecimento verdadeiro e geral
[tanto supra-empírico como extraterritorial (ou extracomunal)]
sobre a natureza e a moral;
III – Agressivamente cego a acordos normativos preexistentes ou a
abordagens alternativas (nomeadamente enraizadas, tradicionais,
comunitárias) à ordem social;
IV – Capaz de reafirmar a ordem das coisas (ou melhor, capaz de impor uma ordem às coisas);
V – Capaz de decidir controvérsias de acordo com padrões monótonos;
VI – Capaz de ultrapassar aporias empíricas por meio de novos arranjos intrassistémicos e coerentes (tais como interpretação, analogia, equidade).
Em contrapartida, os juristas medievais e modernos não eram legisladores. Eram prudentes:
I – Peritos no escrutínio de ordens diferentes e quase entrelaçadas
(divini arum atque humanarum rerum notantes);
II – Derivando a ordem de arranjos ‘naturais’ existentes (ius naturale
est quod natura [isto é, Deus] omnia animalia docuit);
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
247
III – Assumindo a natureza derivada, local e limitada das suas arbitragens (non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat);
IV – Reivindicando um papel de mediadores (tradutores, intérpretes)
entre diferentes sistemas normativos (religião, piedade, graça,
amizade, usos comunitários, vontade régia) através de conceitosponte (como pietas, natura, gratia, utilitas, usus, potestas absoluta, debitum quasi legalis) que permitem o diálogo bilateral entre as ordens locais.
Em contraste com os coloridos, pormenorizados e historicamente actualizados capítulos sobre a construção dos intelectuais modernos (legisladores)
(p. 55-109), os capítulos sobre os intérpretes (p. 110-148) lidam principalmente
com os actuais modelos das funções e práticas intelectuais pós-modernas. A
referência à cultura popular tradicional (p. 63 e ss.) é praticamente a única prova
de pluralismo pós-moderno. Correspondentemente, a referência à eliminação da
sensibilidade pré-moderna surge concentrada na temática (exposta de modo
brilhante) da nova hierarquia entre razão, interesse e paixão (p. 55 e ss.). O súbito esquecimento e a impiedosa repressão da cultura jurídica pluralista mais antiga
por parte do iluminismo passaram despercebidos, como é também o caso da ainda
dominante cultura histórica sobre a construção da modernidade na Europa.
O brilhantismo da obra de Bauman – este livro, mas também Postmodern Ethics, de 1993, uma peça fundamental sobre a reconstrução de uma moralidade pluralista (sob diversos pontos de vista) – é razão suficiente para a tomar
como moldura teórica (e subjacente Vorverständnis) da minha exposição sobre a
flexibilidade do direito medieval e dos inícios da idade moderna. Como caso
contrastante – como exemplo do mais autoritário e autoconfiante dos legisladores –, apresentarei alguns tópicos sobre a rigidez do direito ocidental, enquanto
‘conhecimento imperial’, no domínio normativo durante a idade de ouro do
imperialismo europeu.
Tomar Zygmunt Bauman como base para uma dissertação sobre o direito pode parecer uma decisão bastante paradoxal. De facto, a maior parte dos
juristas, bem como dos leigos, partem do princípio de que o direito está irredutivelmente ligado ao modernismo, tão profundo é o esquecimento a que foram
votadas as mais antigas concepções sobre a ordem social e tão inevitável parece
ser hoje a identificação entre direito (hoje lei) e Estado. Pretendo provar que não
é assim.
Contudo, mesmo que a demonstração seja bem-sucedida, estou também ciente da necessidade de reconstruir quase tudo na teoria jurídica, de modo
que sejam restauradas certas capacidades perdidas:
I – Para tornar visíveis os planos da emergência da ordem;
II – Para activar pontes entre diferentes ordens sociais;
III – Para controlar a validade de transacções normativas entre aquelas;
IV – Para preparar hierarquias conjunturais entre constelações normativas.
248
Antônio Manuel Hespanha
Mais do que isto, uma importante tomada de consciência, com profundas incidências intelectuais, políticas e existenciais, deverá ser realizada
pelos juristas. O conhecimento jurídico não pode excluir decisões geradoras de
compromisso político ou pessoal. Uma decisão é sempre uma aposta arriscada,
que pode ser bem-sucedida ou fracassar. Neste caso, o sucesso ou o fracasso
significam a construção ou não, de um consenso relevante. Por conseguinte,
decidir corresponde a propor, com argumentos localmente vinculativos, uma
solução capaz de ser aceite e, assim, capaz de restaurar a paz. Mesmo uma decisão programática deverá estar de acordo com esta natureza compromissória, se
bem que a um nível ou escala superior. De facto, e ainda que recusadas pelos
representantes do meio social (pelo senso comum), as decisões poderão ser
aceites se se revelarem consensuais a um nível comunitário superior, mais vasto,
mas não heterogêneo (por exemplo, se merecerem um consenso ‘reflectido’,
embora enformado por valores locais mais elaborados e menos espontaneamente
evidentes)599.
11.2
OS JURISTAS MEDIEVAIS COMO COUTEIROS
Para a cosmologia medieval, a ordem era uma dádiva original de
Deus. S. Tomás de Aquino – que exerceu uma importante influência, antes e
depois do Concílio de Trento (1545-1563), mesmo nos países reformados –
analisou em profundidade o conceito de ordem. A sua mais incontestável manifestação era essa atracção que movia as coisas para junto umas das outras, de
acordo com determinadas simpatias naturais (amores, affectiones), transformando a criação numa imensa rede de simbiose orgânica. Numa quaestio sobre o
amor (Sum. theol, IIa.IIae, q. 26, a. 3, resp), Tomás de Aquino define o amor
como o afecto (plural) das coisas pela ordem do todo. Sublinha também que:
I – Estes afectos não são monótonos, mas atraídos pela diferente
natureza de cada coisa (e da sua relação tanto com o todo como
com as outras);
II – Expressos por diferentes níveis de sensibilidade (intelectual, racional, animal ou natural).
Esta ideia central de uma ordem global, autossustentada por meio de
impulsos naturais e plurais, é a chave para compreendermos o lugar do direito
no interior dos mecanismos de regulação do mundo.
Para começar, esta ideia explica a proximidade e relação íntima entre
dispositivos disciplinares hoje considerados tão distantes como o direito, a religião, o amor ou a amizade. Sendo a ordem, na sua origem, um acto de amor, e
estando as criaturas interiormente ligadas por afectos, o direito humano (civil)
599
Este consenso mais elaborado é o que os juristas provam ao invocarem a opinião comum dos
doutores”, a “equidade civil”, a “elegância (ou a razão) do direito.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
249
não é senão um dispositivo bastante grosseiro e externo para corrigir um ocasional défice destas simpatias universais. Num estrato superior da ordem – devido à
sua maior interioridade – encontram-se outros dispositivos: aqueles que desencadeiam sentimentos religiosos ou impulsos de amizade, de magnanimidade, de
gratidão, de sentido de honra ou de vergonha. Num certo sentido, estão ainda
mais profundamente relacionados com a justiça, como a virtude que ‘dá a cada
um aquilo que merece’ (ius suum cuique tribuit), ou com o direito natural, como
aquilo ‘que a natureza ou Deus ensinaram a cada animal’ (quod natura [gl. id
est Deus] omnia animalia docuit). É por isso que teólogos e juristas definem
este conjunto de deveres como quase legais (quasi legali) (cf. CLAVERO, 1991,
e HESPANHA, 1993c), uma prova das fronteiras difusas entre os diferentes
territórios normativos.
Os juristas seriam os guardiões deste mundo multiordenado, auto-ordenado.
O seu papel não seria o de criarem ou rectificarem a ordem. Nem o de
determinarem autoritariamente o equilíbrio justo. Seria antes o de o induzirem
da natureza, tirando proveito de todos os recursos (virtutes) da sensibilidade
humana (amor, bonitas, intellectus, sensus) numa era em que os métodos intelectuais da definição do direito não estavam ainda privados de abordagens não
‘racionais’600. Assim, os juristas desempenhavam o seu papel assumindo o direito como um dado adquirido, deixando-o ser tal como era, já que emergiria das
disposições espontâneas das coisas (nomeadamente as coisas humanas).
A poiesis jurídica não seria responsabilidade deles. Responsabilidade
deles seria a de observarem, reflectirem, sentirem, acreditarem, lembrarem, meditarem e interpretarem as ordens existentes dentro, fora, acima e abaixo deles.
Para realizarem uma hermenêutica ilimitada de Deus, dos homens e da natureza.
E para encontrarem formas de a apresentarem de um modo que pudesse receber
um consenso comunitário.
11.3
UMA CONSTELAÇÃO DE ORDENS NORMATIVAS
O amor era, portanto, aquilo que mantinha unidas as comunidades
humanas. Mais exacto seria falar de amores (philiae), cada um deles em conformidade com cada tipo de relação social (comunicação).
Tomás de Aquino (Summa theologica Secunda secundae, q. 26) regista uma série bastante longa de afectos humanos:
I – Amor por afinidade, baseado na comunicação natural;
II – Amor por filiação e parentesco, baseado na geração;
III – Amor por conutrição, baseado em infância comum;
600
Cf. HESPANHA (1992f e 1997b) (de um modo geral, todos estes estudos estão incluídos em
Petit, 1997).
250
Antônio Manuel Hespanha
IV – Amor por eleição, baseado em empreendimentos comuns;
V – Amor por vassalagem, baseado na instituição do governo;
VI – Amor por cocidadania, baseado na partilha de um Estado comum;
VII – Amor por camaradagem, baseado no companheirismo militar.
A esta lista podem ser acrescentados outros itens normativos. Para
começar, a religião, uma avassaladora fonte de obrigações. Mas também essa
dura natureza das coisas não humanas que as torna evasivas a muitas das nossas
reivindicações e desejos: os ritmos da vida e da morte, as influências climáticas,
as distinções sexuais, a força das convicções conceptuais ou lógicas. Numa palavra, a natureza das coisas (natura rerum).
Estes diferentes tipos de amor (e respectivos deveres) envolviam seguramente uma hierarquia e uma comunicação. Tomás de Aquino dedica toda a
26ª. questão da Secunda secundae da Summa theologica à exploração de um
modelo de relacionamento destas diferentes ordens do dever: as obrigações domésticas, os deveres da amizade, as solidariedades pragmáticas, as limitações ou
imposições políticas. Em princípio, a proximidade em relação à fonte original da
ordem (Deus, natureza) – a interioridade – constituía definitivamente algo de
positivo. A revelação, a lei divina, possuíam supostamente uma posição suprema. Depois situava-se o mais exterior e ‘voluntário’ direito canónico. Nalguns
casos, a ordem divina excluía as ordens humanas. Os melhores exemplos são os
casos em que a observância do direito humano induz em pecado601. Noutros
casos, a ordem divina apenas podia atenuar a rigidez do direito civil (como no
caso em que a ajustava às posições mais moderadas de aequitas canonica). Finalmente, o direito civil era também sensível a outros stimuli provenientes de
cima: v.g., os juízes criminais tinham de temperar a dureza do direito legal (rigor legis) com a misericórdia (misericordia).
Depois, essas ordens onde a natureza ‘fala alto’, como a ordem doméstica, parcialmente absorvida nas anteriores devido à natureza sacramental do
casamento. Aqui as transacções com o direito resultam da própria natureza (natura, honestas), inscrevendo no corpus iuris os mandamentos da natura sexus. A
fraqueza, a indignidade e a perversidade das mulheres, a natureza do sexo (monogâmico, heterossexual, vaginal – vir cum foemina, recto vaso, recta positio), a
natureza da comunidade doméstica (unitária, monárquica), tais eram os dados
que a prudência dos juristas podia traduzir em normas legais (HESPANHA,
1993g e 1994e).
Uma vez que a família não era a única instituição natural, outras matrizes das relações humanas eram também protegidas pelo direito. Mesmo
aquelas que a cultura jurídica dos nossos dias considera inteiramente disponíveis, como é o caso dos contratos. A natureza do contrato (natura contractus;
601
Mesmo aqui, a regra não era absoluta: a prostituição, embora fosse um pecado, podia ser permitida para se evitar a difusão da promiscuidade (coitus vagus).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
251
também vestimenta pacti) foi o conceito cunhado para importar esses ditames da
natureza das coisas para a ordem local do direito (cf. GROSSI, 1986).
A necessidade e possibilidade da transcrição de valores de uma ordem
para outra foram sistematicamente testadas. Entre a ordem política e o direito
desenvolveram-se transacções mútuas reguladas por conceitos como (da política
para o direito) utilidade pública (publica utilitas), bem comum (bonum commune), poder absoluto ou extraordinário (absoluta vel extraordinaria potestas),
posse de estatuto (possessio status) (e do direito para a política), direitos adquiridos (iura quaesita), estabilidade das decisões legais (stare decisis), razão
jurídica (ratio iuris).
Uma vez que as hierarquias normativas eram sensíveis aos casos particulares e as fórmulas de transcrição não possuíam uma eficácia fixa, o resultado era toda uma ordem entrelaçada e móvel cujas instâncias concretas não podiam ser previstas com segurança. A isto podemos chamar a ‘geometria variável’
do direito comum (ius commune). Em vez de um sistema fechado de camadas
normativas cujas hierarquias recíprocas eram definidas de uma só vez, o direito
comum era uma constelação de ordens aberta e flexível, cuja arquitectura não
podia ser decidida a partir de um projecto concreto de arbitragem. Cada ordem
normativa (com as suas soluções e intenções globais: instituta, dogmata, rationes) não era mais do que um tópico (ou abordagem) heurístico cuja eficácia (na
construção de harmonia tanto normativa como comunitária) tinha de ser provada. Assim, cabia ao juiz fornecer uma solução arbitrativa602 em torno da qual a
harmonia podia ser encontrada (interpretatio in dubio est faciendam ad evitandam correctionem, contrarietatem, repugnantiam)603.
11.4
FLEXIBILIDADE POR VIA DA GRAÇA
Contudo, a flexibilidade jurídica era, além disso, o resultado da ideia
de que, inscrito num conjunto entrelaçado de ordens, o território do direito era
como um jardim suspenso, a meio caminho entre o paraíso e a crua realidade. As
normas jurídicas, as máximas doutrinais do direito e a justiça estabeleciam padrões de vida. Normalmente funcionavam bem. Mas não eram o padrão definitivo.
À semelhança das leis da natureza (causae secundae) em relação às
coisas não humanas, o justo do direito instituía uma ordem bastante justa para o
comportamento social. Contudo, acima da ordem da natureza, bem como acima
da ordem da justiça, situava-se a suprema e inefável ordem da graça, intimamente ligada à própria divindade (causa prima, causa incausata).
Devido à sua influência para a compreensão da geometria dos diferentes estratos da ordem, é útil recordar a teologia da criação, tal como foi ex-
602
603
Arbitrium iudex relinquitur quod in iure definitum non est.
Cf. GROSSI (1995), p. 223-236, e HESPANHA (1997), p. 92-97.
252
Antônio Manuel Hespanha
posta pelos excelentes teólogos ibéricos (e italianos) do catolicismo dos inícios
da idade moderna (cf. Domingo de Soto: De iustitia et de iure. Cuenca, 1556,
liv. I, q. 1, art. 1.). O acto da criação, enquanto primeiro acto, é um acto livre e
sem causa, um acto de vontade puro (absoluto), um acto de graça. Contudo,
sendo Deus a mais alta perfeição, a criação não é um acto arbitrário. A criação é
boa por se conformar a uma bondade, paradoxalmente anterior à vontade de
Deus; mas, por outro lado, Deus não podia ter querido outra coisa. Em suma, a
criação é um acto de vontade e de liberdade, mas não um acto arbitrário.
Além deste acto primordial, Deus desenvolve a ordem (acrescenta à
ordem outra ordem mais elevada) por meio de outros actos, também eles livres –
outros actos de graça (dos quais se destacam os milagres). A tendência geral da
teologia católica após o Concílio de Trento foi a da limitação do livre arbítrio de
Deus, tornando-o menos soberano no domínio dos actos de graça. Passou a darse maior ênfase ao papel justificativo das acções humanas. Para a sensibilidade
católica, as acções eram factos palpáveis, responsáveis, objectivos, que compeliam
Deus na sua gestão da graça. À semelhança dos serviços de vassalagem, que
compeliam os reis à atribuição de recompensas e mercês.
Ao nível político-institucional, os actos sem causa (como a promulgação de leis ou os actos principescos de graça), que reformulam ou alteram a
ordem estabelecida, são, pois, prerrogativas exclusivas e extraordinárias dos
representantes de Deus na Terra – os príncipes. Utilizando este poder extraordinário (extraordinaria potestas), os príncipes imitam a graça de Deus e, enquanto
distribuidores de graça, introduzem, como que por milagre, uma flexibilidade
divina na ordem humana. Enquanto senhor da graça, o príncipe:
•
•
•
•
Introduz novas normas (potestas legislativa) ou revoga antigas
normas (potestas revocatoria);
Torna pontualmente ineficazes normas existentes (v.g., desobrigando a lei); 1193 Os juristas como couteiros;
Modifica a natureza das coisas (v.g., emancipando menores, legitimando bastardos, concedendo títulos nobiliárquicos a plebeus);
Reformula e redefine aquilo que é devido a cada um (v.g., distribuindo recompensas ou mercês).
De certa forma, estas prerrogativas são a face mais visível do poder
taumatúrgico dos reis. Teorizando sobre esta ‘livre e absoluta’ actuação dos reis,
João Salgado de Araújo, escritor político português de meados do século XVII,
utiliza expressamente a palavra ‘milagre’ (cf. ARAÚJO, 1627, p. 44), ao passo
que outro autor declara que ‘o Príncipe pode transformar quadrados em círculos’
(mutare quadratos rotundis) (cf. PEGAS, t. IX, p. 308, n. 85,1669.).
Enquanto extraordinaria potestas, enquanto acto fora da ordem, a
graça não pode ser presumida. Assim – de modo a ser claramente distinguida da
irreflexão, erro ou engano –, a intenção de utilização da graça teve de ser expressa por meio de fórmulas apropriadas – de motu proprio et potestate absolu-
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
253
ta, non obstans, pro expressis, de certa scientia604. Através delas, o rei anunciava a sua intenção de abandonar a esfera do seu poder ordinário (de manutenção
da ordem, de administração da justiça), recorrendo à sua prerrogativa milagrosa
e extraordinária de representante de Deus, senhor da criação.
Contudo, esta passagem para o universo da graça não nos remete para
um mundo de flexibilidade absoluta. Por um lado, a graça é um acto livre e absoluto [ou seja, tal como é afirmado numa conhecida fonte jurídica, plenitudo
potestatis, seu arbitrio, nulli necessitate subjecta, nullisque júris publici limitata
(um poder ou vontade plenos, livres de toda a necessidade, livres de todas as
limitações da lei pública), Cod. Just., 3, 34, 2]. Mas, por outro lado, a graça não
é uma decisão arbitrária, já que a sua invocação deve estar de acordo com uma
causa justa e elevada [salus & utilitas publica, necessitas, aut justitiae ratio (a
salvação e utilidade públicas, a necessidade ou a razão da justiça)]. Finalmente,
a graça não dispensava nem a observância da equidade, boa fé e justa razão
(aequitate, recta ratio [...] pietate, honestitate, & fidei data) nem o dever de
uma indemnização justa para os colateralmente afectados605.
Uma vez que a graça não constitui uma total arbitrariedade, relacionando-se, pelo contrário, com um nível supremo da ordem, a potestas extraordinaria do príncipe surge, não como uma violação da justiça, mas, antes, como um
seu complemento sublimado. Para João Salgado de Araújo (Ley regia de Portugal, Madrid, 1627.), o governo, por meios extraordinários ou fora do devido
curso das questões administrativas (isto é, por meio das célebres e controversas
‘juntas’), representava a forma última de cumprimento da justiça sempre que
isto não pudesse ser alcançado pelas vias comuns (ARAÚJO, 1627, p. 46):
Uma vez que o Príncipe soberano é o mar de toda a jurisdição terrena dos
seus reinos, que ele exercita através da Sua Real Pessoa e seus ministros [...]
em todo o caso que toca a sua real obrigação e consciência, ele pode e deve
secar os canais da justiça ordinária e difundi-la por outros, sempre com vista
à melhor forma de averiguar a verdade e de fazer justiça [...]
Este tipo de flexibilidade correspondia, portanto, à existência de sucessivos níveis de poder. Quanto mais elevados os níveis, mais secretos e inefáveis eram. A flexibilidade era, assim, a marca da incapacidade humana para esgotar, pelo menos por meios discursivos, a ordem total da natureza e da
humanidade.
604
605
Sobre estes, v. DIOS (1994), p. 77 e ss.
Para mais pormenores, cf. HESPANHA (1993f) e DIOS (1994), p. 264 e ss.
254
Antônio Manuel Hespanha
11.5
FLEXIBILIDADE POR VIA DA EQUIDADE
A equidade era outro factor de flexibilidade. Na tradição jurídica europeia a questão da equidade foi longamente debatida606, evocando uma série de
problemas distintos. No século XII, Graciano associou esta questão à legitimidade dos privilégios, ou seja, das disposições normativas singulares que se opunham às normas gerais: ‘Assim, concluímos do anterior que a Santa Madre
Igreja pode preservar alguns privilégios e, ainda que contra decretos gerais,
conceder alguns benefícios especiais, considerada a equidade da razão, a qual,
enquanto mãe da justiça, em nada difere dela. Como, por exemplo, os privilégios
concedidos em atenção à religião, à necessidade, ou para manifestar graça, já
que não causam dano a ninguém’. (Decretum de Graciano, II, C. 25, q. 1, c. 16)
Esta forma de apresentar a questão identifica o problema da equidade
com o da graça. Para expressar a ideia de graça/equidade enquanto ordem normativa suprema, inefável em termos das proposições gerais da justiça, o texto
acima utiliza a colorida imagem de uma relação maternal entre mãe e filha. Elas
são iguais, ainda que exista uma certa superioridade da equidade enquanto
mãe/fonte da justiça.
Uma outra, mais elaborada, posição é a de Tomás de Aquino na sua
análise da justiça e da equidade (Summa theologica, IIa.IIae, q. 80, art. 1). O
ponto de partida é a afirmação de Aristóteles de que a equidade (epieikeia)
constituía uma virtude anexa à justiça. Utilizando a sua peculiar técnica de raciocínio (quaestio, partindo de um problema local para questões cada vez mais amplas), Tomás de Aquino atinge o ponto crucial em que regressa às conclusões de
uma anterior discussão sobre a natureza do gnome (II.IIae, q. 51, n. 4, ‘Se o
gnome é uma virtude especial’):
Respondo que os hábitos do conhecimento são distintos, já que se fundamentam em princípios superiores ou inferiores. Assim, o conhecimento das coisas
especulativas lida com princípios mais elevados do que os da ciência. Essas
coisas que estão para além da ordem de princípios ou causas inferiores são,
evidentemente, dependentes da ordem de princípios mais elevados: por
exemplo, embora os monstros estejam para além da ordem das forças activas
do sémen, caem sob a ordem dos princípios mais elevados, tal como os corpos celestes, ou, para além deles, sob a ordem da divina Providência [...]
Acontece por vezes que é necessário fazer alguma coisa que vai além das regras da acção comum [...] e assim, neste caso, devemos arbitrar em conformidade com princípios mais elevados do que as regras comuns, de acordo
com as quais decide o synesis. Para arbitrarmos de acordo com estes princípios mais elevados necessitamos de outra virtude judicativa, chamada gnome, que implica uma certa perspicácia de julgamento [...]
606
VALLEJO (1992).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
255
[...] Tudo o que pode acontecer para lá do curso normal das coisas deve ser
considerado como pertencendo unicamente à divina Providência. Seja como
for, entre os homens, aquele que é mais perspicaz pode arbitrar muitas destas
coisas por meio da utilização da razão. O gnome está relacionado com isto,
implicando algum discernimento de julgamento.
Esta análise da psicologia subjacente — que confirma, de um modo
expressivo, aquilo que tem sido dito sobre os diferentes estratos da ordem —
permite uma distinção mais nítida entre justiça e equidade. Avançando para a
análiseda afirmação de Aristóteles sobre a diferença entre justiça e equidade (se
bem que sob a forma de ‘virtudes anexas’) (Summa theologica, IIa.IIae, q. 80,
art. 1, n. 4 e 5), Tomás de Aquino faz a distinção entre justiça legal (geral) e
particular, limitando à primeira a especificidade da equidade. Em contrapartida,
a equidade e a justiça particular seriam uma e a mesma coisa, correspondendo ao
eugnomosyna, que Aquino define como bona gnome (conhecimento do bem) e
identifica com o atrás referido gnome.
Mais à frente, ao discutir a equidade enquanto virtude (Summa theologica, IIa.IIae, q. 120, art. 1, ‘Se a equidade [epieikeia] é uma virtude [autosuficiente]’), Tomás de Aquino retoma o problema em termos menos elaborados,
lidando com problemas de interpretação, nomeadamente a não correspondência
entre palavras da lei e o seu espírito:
Sobre o n. 1 deve, pois, afirmar-se que a equidade não se afasta de toda a
justiça, mas apenas daquela justiça que é fixada pela lei. Nem também se
afasta da severidade, quando esta é consequência da verdade da lei, nos casos em que tal severidade é necessária. Pelo contrário, obedecer [rigorosamente] às palavras da lei em casos em que isso não é necessário é algo prejudicial.
Tomás de Aquino passa então a citar uma constituição romana sobre a
violação do espírito da lei através da estrita observância das suas palavras (C., 1,
1, 14, 5, ‘Viola indubitavelmente a lei aquele que, compreendendo as palavras
da lei, toma uma posição contra a vontade da mesma’). Contudo, um pouco mais
à frente na mesma obra (Summa theologica, IIa.IIae, q. 120, art. 2, ‘Se a equidade [epieikeia] faz parte da justiça’), as questões recuperam um alcance mais
amplo, se bem que sem as referências fundamentais às concepções relacionadas
com a articulação dos diferentes estratos da ordem:
[...] Daqui inferimos que a equidade é uma parte subjectiva da justiça. Falamos desta justiça, mais do que da justiça legal. De facto, a justiça legal é dirigida pela equidade. Assim, a equidade é uma regra superior (por assim dizer) das acções humanas.
No que respeita ao n.º 1, deve explicar-se em que medida a epieikeia corresponde propriamente à justiça legal, em que medida a equidade está contida
256
Antônio Manuel Hespanha
nela e em que medida a excede. De facto, se definirmos a justiça legal como
aquilo que tempera a lei, seja relativamente às palavras ou à intenção do legislador (o que é ainda mais importante), então a equidade é a parte mais
poderosa da justiça legal. Mas, se definirmos justiça legal apenas como
aquilo que tempera a lei em termos literais, então a equidade não é uma
parte da justiça legal, mas antes uma parte da justiça tomada em sentido comum, distinta da justiça legal no sentido em que a primeira excede a segunda.
No que respeita ao n.º 2, devemos afirmar que, como é dito pelo Filósofo
[Aristóteles] no livro V da Ética, a equidade é uma justiça melhor do que a
justiça legal, que se conforma com as palavras da lei. De facto, embora a
justiça legal seja uma espécie de justiça, não é a melhor de todas.
Depois da secularização do mundo e do triunfo do racionalismo, a
ideia de uma esfera de ordem sobrenatural e oculta, a partir da qual se torna
possível a moderação da lei, perdeu todo o sentido. A graça, enquanto critério
livre de ajustamento da lei geral aos casos particulares, foi eliminada do direito.
Os únicos vestígios – como o perdão e a amnistia — foram confiados ao poder
político supremo. Mas mesmo aqui surgem implicitamente condicionados por
critérios generalizáveis e objectivos. Definitivamente, a graça e a equidade parecem não fazer mais parte deste mundo.
A ideia de conceitos não racionais, não discursivos, neste estrato supremo da ordem constituiu também a base da teoria jurídica como disciplina argumentativa607, a teoria do arbitrium iudicis608, bem como das linhas de orientação do
retrato deontológico dos juristas609.
11.6
LEGISLADORES COLONIAIS
A primeira constituição jurídica colonial assentava num respeito básico pelas organizações indígenas, enraizado no pluralismo do direito europeu clássico. Embora pertencendo à humanidade, as populações nativas não eram ‘vassalos
naturais’ e, portanto, não participavam na esfera jurídica metropolitana.
Esta situação de pluralismo legal, ou de jurisdição mista, era normal
no contexto da imagística política e jurídica do início da idade moderna. Diversos poderes, diversos estatutos políticos, diversas leis, partilhavam o espaço
social, nenhum deles aspirando à regulamentação social exclusiva610. Esta atitude pluralista era mais alargada nas áreas culturais que impunham respeito aos europeus pelo seu brilhantismo e ‘neutralidade’ religiosa. Foi este o caso, nomeadamen-
607
608
609
610
Cf. VIEHWEG (1953).
Cf. HESPANHA (1988f).
Cf. HESPANHA: Doctor perfectus. Para uma antropologia cultural dos juristas na época
moderna. (a publicar).
Cf. PAGDEN (1982), CLAVERO (1994), HESPANHA (1995i) e PAGDEN (1995).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
257
te, da Índia e da China, onde os portugueses, desde os inícios da expansão, reconheceram as instituições das comunidades hindu (mas não muçulmana) e chinesa. Nalgumas zonas centrais de Goa (ilha de Goa, Estado Português da Índia),
por exemplo, os usos das aldeias hindus foram reconhecidos e codificados em
1526, quinze anos após a conquista portuguesa. Na colónia portuguesa de Macau, as justiças portuguesas nunca lidaram com os litígios, ou mesmo com a
criminalidade, chineses611.
A protoantropologia da época, baseada em ideias antigas sobre a natureza de homens civilizados e homens bárbaros, atenuou a nitidez deste princípio,
permitindo o desrespeito das instituições nativas, na medida em que manifestavam uma humanidade subdesenvolvida612. Por outro lado, esta mesma ideia da
humanidade subdesenvolvida dos nativos promove a sua identificação com as
crianças ou os camponeses (rustici), submetendo-os ao modelo de um domínio
patriarcal, também utilizado na Europa para com os rústicos613. À semelhança
do campesinato europeu (ou de outros ‘indivíduos mais fracos’, como as mulheres e as crianças), os indígenas mereciam também um moderado reconhecimento
dos seus costumes e regimes, temperado por uma atenção solícita e paternal, que
visava protegê-los e guiá-los. Mais do que implicações regulamentares, deste
padrão resultou uma atitude epistémica de desvalorização das instituições indígenas, baseada na sua inferior capacidade. Esta atitude teve também um resultado quotidiano devastador – ainda que sob o disfarce de uma solicitude doméstica
protectora –, abrindo caminho ao racismo do século XIX.
Nos países católicos, após o Concílio de Trento (1545-1563), a militância religiosa do colonialismo católico revelou-se ainda mais forte, saltando
dos assuntos religiosos para os civis e constituindo a mais notória fonte de desmantelamento do direito indígena. Neste sentido, o colonialismo católico deve
ser identificado como um tipo ideal específico de domínio colonial. Deverá
sublinhar-se que esta militância religiosa existia tanto na metrópole como no
ultramar. Foram identificadas determinadas similaridades entre os povos indígenas e os estratos religiosos dissidentes ou resistentes da sociedade europeia, retirando-se da analogia inferências práticas de ordem disciplinar ou catequética614.
O ‘colonialismo católico’ introduziu uma dinâmica centrífuga no colonialismo da coroa. O poder régio era concebido como um ‘braço’ solidário do
poder eclesiástico. Assim, a Igreja (nacional ou romana) conheceu uma espécie
de supremacia que lhe dava o direito de controlar as políticas coloniais – pelo
menos em matérias relacionadas com a fé ou moral e a disciplina eclesiástica – e
de impor as normas jurídicas correspondentes. Não obstante os perturbadores
conflitos entre a coroa portuguesa e a Igreja, relacionados com o tráfico de es611
612
613
614
HESPANHA (1995i).
PAGDEN (1982).
HESPANHA (1983b; também 1993iv).
Sobre a assimilação entre actividades missionárias e disciplina entre os rustici europeus e os
índios americanos, v. PROSPERI (1997).
258
Antônio Manuel Hespanha
cravos em África, com o controle de aldeias nativas no Brasil e no Paraguai ou
com a organização e disciplina eclesiásticas na China, o modelo funcionou durante quase três séculos. A instituição emblemática desta união política foi o
Tribunal (régio) da Inquisição, que teve uma profunda e permanente acção disciplinar na América Latina e no Estado Português da Índia. Tanto os assuntos
eclesiásticos como os seculares estavam sob a sua jurisdição. O seu papel na
subversão da ordem local quotidiana foi o mais decisivo entre todos os dispositivos políticos coloniais.
Estas excepções a um reconhecimento total do autogoverno indígena
foram combinadas com um conceito bastante autocrático de governação colonial. Ao contrário dos funcionários públicos comuns da metrópole, os funcionários
coloniais eram considerados magistrados extraordinários615 (vice-reis, capitães,
comissários), cuja competência escapava ao domínio do direito. A sua governação era orientada por critérios decisionistas, oportunistas, casuísticos e experimentais, e não pelos padrões do direito legal ou doutrinal. A sua actuação tinha
lugar a milhares de quilómetros de distância da metrópole, numa paisagem completamente estrangeira onde os exempla codificados pelos juristas não podiam
funcionar. Apenas o seu julgamento e vontade constituíam a lei.
Estas últimas características do imperialismo jurídico não desmantelaram a abordagem substancialmente pluralista do direito nativo por parte do colonialismo clássico europeu. Contudo, o dogmatismo católico e o governo decisionista foram certamente precursores do imperialismo jurídico do século XIX.
11.7
CONHECIMENTO IMPERIAL
No período tardio do colonialismo (finais do século XVIII-século
XX), o direito desempenhou um papel mais sistemático e, contudo, paradoxal.
Neste período tornar-se-ia central o axioma de que o direito e ordem europeus
constituíam a moldura de qualquer ordem humana. Assim, aquilo que deveria ser
promovido era uma atitude de mera brandura para com as instituições indígenas.
A nova (racionalista) episteme política dizia tanto respeito ao direito
como ao Estado. O direito era então entendido como o produto de uma razão
humana natural e universal (jusracionalismo) que cintilava em cada mente humana. Por outro lado, considerava-se que as formas adequadas de organização
social obedeciam a um governo único e centralizado (o soberano ou o Estado),
que protegia os interesses públicos, de acordo com uma sabedoria política racional (iluminada).
O modelo incluía um aspecto paradoxal que embaraçaria a teoria colonial durante décadas. Como era possível que, sendo a razão jurídica e política
615
Utilizando extraordinaria potestas, como os chefes militares (duces) ou os delegados ad hoc do
rei (commissarius); para a definição dos conceitos, v. HESPANHA (1984).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
259
uma característica universal, existissem contradições evidentes entre os valores
jurídicos dos colonizadores e os dos indígenas? E, sendo as coisas assim, por
que motivo haveria a razão dos colonizadores de corrigir a razão dos nativos?
Não obstante, o vigor expansivo do modelo racionalista, tanto na sua dimensão
política (Estado) como jurídica (lei, justiça oficial), foi suficientemente forte
para dissimular o paradoxo. Só em finais do século XIX um ‘realismo’ sociológico, fundamentado em teorias racistas, solucionaria este paradoxo ao defender
um gradualismo da realização da razão entre os seres humanos.
Ao longo desta fase imperialista, o papel colonialista do direito não foi
assim tão diferente do papel que desempenhou nas metrópoles europeias no
desmantelamento dos sistemas organizacionais do Ancien Régime. Os argumentos e estratégias que foram desenvolvidos para minar a ordem tradicional, as
hierarquias sociais e os ‘costumes’ locais (sendo a palavra ‘lei’ reservada para a
disciplina estatal), a resolução informal das disputas, a argumentação e invenção
populares, tudo isso se verificou tanto no caso das comunidades tradicionais
européias616 como das sociedades coloniais.
As principais características do novo padrão do direito colonial eram:
•
•
•
•
O universalismo: os valores jurídicos são universais e, desse
modo, comuns às metrópoles e às colónias;
A abstracção, a generalidade e o igualitarismo: as normas jurídicas devem ser abstractas e gerais, no sentido em que não podem
admitir diferenças (de cultura, posição social, sexo);
A soberania: o poder estatal é único e não pode reconhecer transacções com poderes e governos inferiores;
O publicismo: o poder estatal é confiado para proteger (e apenas
para tanto) o interesse geral da comunidade; os interesses privados
devem ser excluídos do cálculo político.
Teoricamente, a flexibilidade deveria ser totalmente eliminada. Qualquer compromisso com as regras locais ou com as circunstâncias peculiares
(nomeadamente culturais) dos novos cidadãos violaria, por um lado, o novo
projecto de uma sociedade universal, mantido por legisladores e jardineiros
inflexíveis. Por outro lado, contradiria (ou, pelo menos, iludiria perversamente)
os dogmas fundamentais do Estado liberal. Visto da perspectiva peculiar dos
nativos, o preço era certamente elevado, já que nenhum dos novos valores, procedimentos ou terapêuticas jurídicos faziam qualquer sentido para eles. Num
esforço para demonstrar a completa realização das políticas assimilatórias nas
colônias portuguesas, nomeadamente no domínio da justiça, um magistrado
colonial em Angola não pôde evitar uma pungente admissão:
616
HESPANHA (1983); HASSEMER (1976); SANTOS (1980); no geral, sobre a repressão da
cultura popular, v. BAUMAN, p. 63 e ss.
260
Antônio Manuel Hespanha
Contudo, o julgamento de um nativo deixa-nos sempre uma desagradável impressão, trazendo à memória aqueles julgamentos medievais em que os animais respondiam em tribunal pelos danos causados [...] o réu compreendia
apenas que era posto em liberdade ou reenviado para a prisão. A leitura dos
actos processuais, da acusação, da defesa e da sentença eram para ele sons
sem sentido617.
Defrontamo-nos aqui com a suprema forma de despersonalização das
culturas jurídicas dissidentes numa cultura legalista. Os valores dissidentes não
eram sequer considerados para efeitos de derrogação ou limitação. E os seus portadores eram meramente transformados em objectos brutos, cuja mera obediência externa
à ordem jurídica era considerada como bastante.
Outro sinal desta absoluta niilificação da dissidência era o facto de
que – não obstante as populações nativas não poderem corresponder aos pressupostos da constituição e do direito liberais, nem ser suposto que neles se integrassem – o tema raramente foi debatido na arena política ou jurídica. Os nativos tendiam a não ser, pura e simplesmente, visíveis. Pelo menos a este nível
dogmático.
11.8
A GRAÇA IMPEDITIVA: IMPÉRIO, HUMANIDADE
E DECÊNCIA ENQUANTO LIMITES AO
AUTOGOVERNO
Na prática, contudo, a vida era aquilo que era e estabelecia dispositivos práticos para lidar com os nativos. Quando a solução não era prejudicial aos
projectos coloniais, permitia-se aos nativos viverem sob o seu direito costumeiro. Quando as transacções com os colonizadores eram mais íntimas, provocando
conflitos ou ferindo o sentido de humanidade ou de decência dos colonizadores,
o autogoverno era abandonado ou tinha de ser restringido.
Uma vez que o novo direito geral e abstracto não reconhecia nenhuma
ordem jurídica ou política particulares, tais limitações ao autogoverno não podiam assumir uma forma legislativa. Eram introduzidas por meio de decretos do
governo metropolitano ou colonial ou pelo arbitrium dos juízes. Finalmente,
recorria-se uma vez mais à graça, enquanto conceito não legal que permitia uma
arbitragem mais sensata em cada caso concreto. Os novos tempos não eram,
contudo, tempos para atropelos à sólida legalidade democrática em favor desta
evanescente e metafísica hermenêutica da natureza. Em Portugal, não obstante a
concessão pela Constituição (desde 1838, mas, em termos definitivos, após
617
ALMEIDA, Joaquim de; CUNHA: Os indígenas nas colónias portuguezas d’África e especialmente na província de Angola. Luanda: Imprensa Nacional, 1900. p. 29. Resposta a um
inquérito do comité organizador do Congresso Internacional de Sociologia Colonial. Paris,
Agosto de 1900.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
261
1852)618 de prerrogativas legislativas às autoridades supremas coloniais, esta
abertura pluralista não funcionaria até ao fim do século, já que entrava em choque com diversos axiomas sagrados do constitucionalismo liberal (como a generalidade da lei e a separação dos poderes)619.
Seja como for, a um nível inferior, o da prática jurídica quotidiana, o
pragmatismo dominou certamente sob a forma de uma justiça de cadi, administrada por magistrados coloniais ou mesmo por juízes letrados. De facto, se os
magistrados não podiam aplicar a lei metropolitana à maior parte das situações
nativas, também não podiam arbitrar de acordo com os costumes nativos, dos
quais não tinham conhecimento e sobre os quais os informadores – justamente
porque eram apenas informadores e não intérpretes – produziam versões mal
traduzidas ou até mesmo intencionalmente distorcidas620. A situação é descrita
por testemunhas contemporâneas:
Do conflito entre o cumprimento do dever, que obriga à aplicação da lei, e a
impossibilidade de, racionalmente, o conseguir emerge este estado anómalo,
comum no nosso ultramar, onde a maior parte das nossas leis são letra morta: algumas delas nunca foram aplicadas, outras são voluntariamente transgredidas [...] para se fazer justiça. [MAGALHÃES, 1907. p. 39]
11.9
UMA QUESTÃO PRÁTICA
Por volta de meados do século XIX, o pensamento social europeu começou a problematizar o programa liberal. A igualdade do homem e o universalismo dos valores humanos pareciam uma construção utópica ou metafísica sem
correspondência nas características ‘positivas’ da convivialidade humana. As
formas de organização humanas e mesmo o conjunto da humanidade começavam a ser concebidos como entidades orgânicas, marcados por hierarquias naturais, diversidades funcionais e diferentes estádios de evolução. Em vez de uma
natureza fixa, aquilo que caracterizava os indivíduos e sociedades humanos era
um pluralismo de valores e instituições. De qualquer modo, uma vez que o pen618
619
620
Cf. HESPANHA (1995i).
Após um ensaio na Constituição de 1838 (art. 137), o poder das autoridades coloniais para
adaptarem a legislação geral à situação colonial foi previsto pelo Acto Adicional de 1852 (art.
15). Mas a medida foi fortemente limitada pela doutrina e prática constitucionais [“este sistema
não está em execução, pois as propostas chegam e não se lhes dá execução” (MAGALHÃES,
1907, p. 81); reacções contra a descentralização legislativa (p. 95 e ss.)]. Todas estas rotundas
afirmações podem ter de ser matizadas em função de estudos em curso (nomeadamente de Ana
Cristina Nogueira da Silva).
Sobre a situação africana, v. MAGALHÃES (1907), p. 131-132; sobre a Índia portuguesa (a
imprecisão da lei tradicional hindu devido a informações contraditórias e a sua corrupção pelos
modelos conceptuais europeus), v. PINTO (1901), p. 133 e ss.; sobre Macau, v. HESPANHA
(1995i) e MAGALHÃES (1907), p. 144 (mentiras dos informadores chineses sobre a lei chinesa); há estudos relevantes, ainda não publicados, de Carla Araújo).
262
Antônio Manuel Hespanha
samento social era marcado por um modelo evolucionista (progressivo), a diversidade humana tornou-se uma hierarquia de formas de pensamento e organização, desde as primitivas até às modernas.
Este novo quadro de referência intelectual serviu para conciliar o modelo liberal com um domínio colonial marcado pelo paternalismo ou pela autocracia. Renovando certas distinções com uma muito longa tradição no pensamento europeu sobre o outro, a nova teoria colonial limitava a eficiência da
constituição liberal às nações civilizadas, considerando que os povos não civilizados, ou menos civilizados, teriam ainda de esperar pelo seu momento, sob a
orientação e domínio do homem branco. Esta distinção não só justificava a recusa de direitos políticos liberais aos nativos, como recomendava também a manutenção da sua organização original por parte do colonizador, de modo que
fossem evitados saltos civilizacionais artificiais. Autogoverno, desenvolvimento
dual, estabelecimento de um sistema jurídico baseado em costumes e tribunais
nativos, trabalho forçado (como meio de encorajar o autodesenvolvimento),
‘estatuto do indigenato’ (como no caso português das colónias africanas) —
todas estas características se tornaram parte essencial do novo programa constitucional para as colónias.
A diferenciação de estádios evolucionistas permitiu também um diferente tratamento das populações coloniais, de acordo com uma velha hierarquia
da antropologia europeia. Os africanos estavam no fundo da escala. Os asiáticos,
em contrapartida, ocupavam o escalão intermédio, se bem que desvalorizados
por caracterizações difusas, como ‘a doença do turco’, a ‘feminilidade do indiano’, a ‘imobilidade do chinês’. Esta hierarquia influenciava o grau de autogoverno permitido, bem como a divisão do trabalho administrativo nas colónias621.
Havia, pois, um novo impulso para o pluralismo. Uma sucessão de especialistas coloniais começou por propor formas abertas de autogoverno para as
populações nativas, bem como um reconhecimento formal das suas ordens jurídicas. Alguns deles tentaram ligar esta nova política à sabedoria do colonialismo
português original, nomeadamente a protecção outorgada por Afonso de Albuquerque ao governo hindu de Goa622. Outros foram inspirados pela política inglesa na Índia ou pela mais recente (orientada pela sociologia positivista) doutrina colonial623. Mas todos eles eram contrários ao doutrinarismo liberal que
sacrificava os factos da vida a concepções abstractas ou metafísicas da humanidade. Mesmo nos textos jurídicos, esta tendência antidoutrinarista torna-se visível: ‘Não é fundamento para a boa administração estabelecer legislação geral
igual para povos em diferentes condições, sendo necessário romper energicamente com os pressupostos doutrinários’. (provisão real de 9-12-1890) Em
621
622
623
Nas colónias do Leste africano, os indianos constituíam a camada intermédia do funcionalismo
público; na Ásia, os africanos eram frequentemente utilizados como força militar “bruta” (sipaios).
PINTO (1901).
MAGALHÃES (1907); COSTA (1903).
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
263
1906, o Congresso Internacional de Sociologia Colonial, em Paris, recomendava
também: (a) o estudo das instituições nativas; (b) a preservação do direito nativo
em matérias de família e propriedade; (c) a preservação das jurisdições nativas
em assuntos civis; (d) o impedimento aos nativos de recurso à jurisdição colonial; (e) a organização de códigos penais e de códigos de processo criminais para
os nativos; (f) a organização de um sistema penitenciário independente para os
nativos (MOREIRA, 1952. p. 9).
Os governadores e altos comissários das províncias africanas de finais
do século XIX, ainda mais informados sobre a situação local, mantinham também pontos de vista similares624.
O reconhecimento formal do direito nativo começou, em Portugal,
com a extensão ao ultramar do Código Civil de 1867. O decreto de 18.11.1869
(art. 8, 1) garante:
I – Na Índia, os usos das ‘Novas Conquistas’ (novos territórios maratha incorporados em Goa em finais do século XVIII), de Damão e Diu, reunidos em códigos organizados algumas décadas
antes625, desde que não entrem em conflito com a moral e ordem
públicas;
II – Em Macau, os usos dos chineses;
III – Em Timor, os usos nativos nos casos de litígio entre nativos;
IV – Em África, os usos de algumas tribos (na sua maior parte islamizadas) de Moçambique e da Guiné626.
Na realidade, esta nova orientação política, associada ao facto de que
o princípio do carácter oficial da justiça não tinha sido abandonado, deu origem
a um dilema prático:
A codificação ou, pelo menos, o estudo dos usos e costumes dos nativos de
cada região impõe-se com uma força que não pode ser ignorada. Não podemos esperar que cada juiz ou funcionário do Estado que chega a um país
para fazer justiça ou para administrar se submeta a tal estudo; levaria mais
tempo do que a sua estada aí; e, enquanto não adquirisse esse conhecimento,
aplicá-lo-ia perigosamente, como acontece hoje; e, já que eles, de um modo
geral, não possuem informação, guiamse pela lei metropolitana! Juízes e administradores necessitam de códigos ou, pelo menos, de livros pelos quais
624
625
626
ALBUQUERQUE (1934), II, p. 243 e ss.; COUCEIRO (1948), p. 436.
Código dos Usos e Costumes das Novas Conquistas, 1824 (revisto em 14.10.1855); compilação
dos usos de Damão e Diu, 31.08.1854, 04.08.1855 e 16.12.1880; novos códigos: 16.01.1894
(Diu) e 30.06.1894 (Damão). Já em vigor de acordo com a reforma da justiça do distrito da
Relação de Goa, decreto 7-12-1836 (cf. GONÇALVES, 1923. p. 146-163 e 344-363, e 1950.).
Sobre este direito, v. GONÇALVES (1937).
264
Antônio Manuel Hespanha
possam aprender rapidamente esses usos e costumes; mesmo codificados,
não é tarefa menor aplicá-los às hipóteses correntes627.
A elaboração de códigos foi também prevista no decreto que punha
em vigor o Código Civil de 1867. Contudo, sem resultados visíveis.
A codificação foi a derradeira vingança do legalismo. Existiram certamente razões práticas que promoveram a redução a escrito do direito tradicional. Mas a própria empresa da codificação representava não apenas uma oportunidade única de purificação normativa, como também uma mudança dramática
na natureza do direito tradicional. Estudos em curso sobre os resultados desta
política de codificação mostrá-lo-ão com maior pormenor.
11.10
CONCLUSÃO – VOLTANDO A BAUMAN:
FLEXIBILIDADE E ÉTICA CONTEMPORÂNEA
Zygmunt Bauman não é historiador. Embora a nomenklatura académica o classifique como sociólogo, aquilo que realmente lhe interessa é a ética.
Em Legislators and Interpreters, o tema crucial é, afinal, o do papel moral dos
intelectuais. Como podem os intelectuais (se é que podem) averiguar as regras
para a convivialidade humana? Numa obra posterior, Postmodern Ethics (1993),
a sua agenda moral é integralmente explícita.
Partindo da sua anterior exegese do papel dos intelectuais antes, durante e depois do modernismo, Bauman rejeita a possibilidade de fundamentar
uma ética para os dias de hoje num projecto jurídico — tal como no racionalismo, no tecnologismo, no positivismo lógico ou no neocontratualismo. Mais
importante ainda, Bauman acusa o projecto jurídico (racionalista) de anestesiar o
impulso moral:
Se os sucessivos capítulos desta obra sugerem alguma coisa, é que as questões morais não podem ser ‘resolvidas’, nem a vida moral da humanidade
garantida, por meio dos cálculos e esforços normativos da razão. A moralidade não está a salvo nas mãos da razão, embora seja precisamente isto o
que os porta-vozes da razão prometem. A razão não pode ajudar o ego moral
sem o privar daquilo que o torna moral: essa urgência infundada, não racional, indiscutível, indesculpável e incalculável de alcançar o outro, de acariciar, de ser para, de viver para, aconteça o que acontecer.
[...] A moralidade pode ser ‘racionalizada’ apenas a expensas da autonegação e do auto-atrito. Da autonegação assistida pela razão, o ego emerge moralmente desarmado, incapaz de enfrentar a multiplicidade de desafios morais e a cacofonia das prescrições éticas. No extremo da longa marcha da ra-
627
MAGALHÃES. 1907. p. 149.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
265
zão aguarda-nos o niilismo moral, esse niilismo moral que, na sua mais profunda essência, não significa a negação de um código moral vinculativo, nem
os erros da teoria relativista, mas a perda de capacidade para se ser moral.
[Postmodern Ethics, p. 247-248]
Ao invés de um ‘código moral que se subscreve’, propõe Bauman, a
consciência deve ser guiada, nos nossos dias tal como no período anterior ao
modernismo, por uma quase amputada força de impulso moral interior. ‘Em
caso de dúvida, consulta a tua consciência’:
A responsabilidade moral é a mais pessoal e inalienável das pertenças humanas e o mais precioso dos direitos humanos. Não pode ser roubada, partilhada, cedida, penhorada ou depositada num banco. A responsabilidade
moral é incondicional e infinita e manifesta-se na constante angústia de não
se manifestar suficientemente. A responsabilidade moral não procura garantia para o seu direito de existir nem desculpas para o seu direito de não existir. Está antes de qualquer garantia ou prova e depois de cada razão ou absolvição. [Idem, p. 230]
Privados do seu papel de legisladores, jardineiros, guias ou guardiões,
os intelectuais recuperariam de novo um antigo papel a cumprir: o da clarificação de opções, da intertradução de valores entre diferentes corpos normativos
locais (comunidades, culturas, discursos, tradições morais, métodos práticos
quotidianos) [o de ‘mediarem a comunicação entre ‘domínios finitos’ ou ‘comunidades de sentido’ (Legislators and Interpreters, p. 197).] Forneceriam matéria sobre a qual decidir, tornando compreensíveis a cada um a enorme pluralidade de abordagens parciais. Uma vez mais, tornam-se intérpretes, empenhados
numa estratégia que nada tem que ver com a missão autoritária do legislador:
Abandonam abertamente, ou rejeitam como irrelevante, a tarefa em curso, o
pressuposto da universalidade da verdade, do julgamento ou do gosto; recusam-se a estabelecer diferenças entre comunidades que produzem significados; aceitam os direitos dessas comunidades, como o único fundamento de
que necessita o significado de base comunitária. [Legislators and Interpreters, p. 197]
Paradoxalmente, Bauman não se alarga tanto relativamente ao tema
dos juristas. Aparentemente, na sua ampla perspectiva sobre a institucionalização da ordem no Ocidente, os juristas não passavam de funcionários menores. A
ordem provinha de cima, dos filósofos, desde que instituíram a razão como o
padrão obrigatório universal para a acção humana. Neste sentido, o direito natural racionalista não era senão um passo secundário. Em primeiro lugar, porque
não representava mais do que uma instância local do princípio geral do primado
266
Antônio Manuel Hespanha
da razão. Em segundo lugar, porque, no seu âmago, era um passo inútil, já que a
razão não necessita da força da lei (do Estado) para se tornar convincente.
Seja como for, o direito natural racionalista – tal como o pandectista,
que se lhe segue, e todas as formas de cientismo jurídico do século XIX – desempenhou um papel importante no desmantelamento da anterior estrutura (pluralista, probabilista, hermenêutica) do discurso jurídico. Com este movimento
intelectual, produziu-se também um importante resultado moral a dois níveis.
Em primeiro lugar, protegeram-se os juristas – enquanto guardiões neutrais de
um código pré-escrito – da responsabilidade moral e política. (Mais tarde, com o
positivismo estatalista do século XIX, esta responsabilidade seria entregue aos
políticos.) Em segundo lugar, uma vez que o normativismo elimina tanto o casuísmo como o decisionismo do juiz, os juízes seriam igualmente libertos da
ansiedade moral da arbitragem concreta.
Contudo, se o programa ético de Bauman for adoptado pelos juristas,
o direito conhecerá uma viragem copernicana:
•
•
•
•
A teoria das fontes do direito e a teoria da interpretação terão de
ser revistas de ponta a ponta (no sentido daqueles que dominaram
sob o ius commune);
A estrutura discursiva deve ser renovada com uma estratégia argumentativa, tópica, orientada para o caso e para a quaestio;
Os juristas e os juízes devem estar conscientes da natureza incerta
das suas arbitragens;
O público deverá ser informado da natureza política da decisão jurídica e do elo indissociável entre o caso jurídico e o caso de vida,
a razão jurídica e a razão comum.
E, acima de tudo, os juristas têm de esquecer o optimista ‘projecto jurídico’ e de assumir a humildade esquecida dos velhos tempos, combinada com
o cauteloso e sábio desencanto recomendado pela nossa época. E contentarem-se
com isso.
‘À objecção provável ‘esta proposição é irrealista’, a resposta adequada será ‘é bom que seja realista?’’. (BAUMAN, Postmodern Ethics, p.
240)
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, Mouzinho de. Moçambique. 1896-98. Lisboa: Agência Geral das Colónias.
1934.
ARAÚJO, João Salgado de. Lei régia de Portugal. Madrid, 1627.
BAUMAN, Zygmunt. Legislators and Interpreters. On Modernity, Postmodernity and
Intelectuals. Cambridge: Polity Press, 1987.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
267
CARRIVE, Paulette. La pensée politique anglaise: passions, pouvoirs et libertés de Hooker
à Hume. Paris: PUF, 1994.
CLAVERO, Bartolomé. Derecho Indígena y Cultura Constitucional en America. Madrid:
Siglo XXI, 1994.
COISSORÓ, Narana Sinai. As instituições de direito costumeiro negro-africano. In: Angola.
Curso de Extensão Universitária, 1963-1964. Lisboa: ISCPU, 1964.
COSTA, Eduardo da. Estudos sobre a administração das nossas possessões africanas.
Memória apresentada ao Congresso Colonial Nacional, Lisboa. 1903.
COUCEIRO, Paiva. Dois Anos de Governo: Junho 1907-Junho 1909. História e Comentário.
Lisboa: Gama, 1948.
CUNHA, Joaquim de Almeida. Estudos acerca dos usos e costumes dos banianes, bathias,
parses, mouros, gentios e indígenas. In: Moçambique, 42, 1885.
_______. Os indígenas nas colónias portuguezas d’Africa e especialmente na provincia
de Angola. Angola: Imprensa Nacional, 1900.
DIOS, Salustiano de. Graça, Mercê e Patronazgo Real. La Camara de Castilla entre 14741530. Madrid: CEC, 1994.
GONÇALVES, Luís da Cunha. Direito hindu e mahometano. Comentário ao decreto de 16
de Dezembro de 1880, que ressalvou os usos e costumes dos habitantes não cristãos do distrito de Goa na Índia Portuguesa. Coimbra, 1923.
GONÇALVES, Luís da Cunha. Usos e Costumes dos Habitantes não Cristãos do Di trito
de Goa na Índia Portuguesa. Lisboa, 1950.
GROSSI, Paolo. L’ordine giuridico medievale. Bari: Laterza, 1995.
_______. Sulla natura del contratto (qualche note sul mestiere di storico del diritto, a proposito de un recente corso di lezioni). In: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico. 15, p. 593-619, 1986.
HESPANHA, A. M. Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique, In: Ius
commune, 10, p. 1-48, Frankfurt/Main, 1983b.
_______. Da “iustitia” à “disciplina”. Textos, poder e política penal no Antigo Regime, In:
Anuario de História del Derecho Español. Madrid (versão portuguesa: Estudos em Homenagem ao Prof. Eduardo Correia. Coimbra, Faculdade de Direito de coimbra, Coimbra,
1989; versão francesa: Le projet de Code pénal portugais de 1786. Un essai d’analyse structurelle, In: La Leopoldina. Le politiche criminali nel XVIII secolo. Milão: Giuffrè, 1990. v.
11, p. 387-447.
_______. Les autres raisons de la politique. L’économie de la grâce, In: J.-F. Schaub (Ed.),
Recherche sur l’histoire de l’État dans le monde ibérique (15e-20e siècle), Paris, Presses
de l’École Normale Supérieure, p. 67-86. Também in A. M. Hespanha. La Gracia del Derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
_______. Panorama da história institucional e jurídica de Macau. Macau, Fundação
Macau 1995I. [Ye Shi Peng, Ao Mem Fa Zhi Shi Gai Lun. Macau: Fundação Macau, 1996.]
_______. O poder, o direito e a justiça numa era de perplexidades. In: Administração. Administração Pública de Macau, 15, p. 7-21, 1992f. (incluindo a versão chinesa).
_______. Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos históricoantropológicos da família na época moderna. In: Análise Social. n. 123-124, p. 951-974.
1993.
268
Antônio Manuel Hespanha
_______. O estatuto jurídico da mulher na época da expansão. In: O Rosto Feminino da
Expansão Portuguesa. Congresso Internacional. Lisboa: Comissão da Condição Feminina,
p. 54-64, 1994.
_______. La senda amorosa del derecho. Amor e iustitia en el discurso jurídico moderno. In:
Carlos, Petit (Ed.), Pasiones del Jurista. Amor, Memoria, Melancolia, Imaginación. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, p. 23-74. 1997.
KOSAMBI, D. D. The village communities in the old conquests of Goa. In: Journal of the
University of Bombay, 15, p. 63-78. 1974.
MAGALHÃES, Albano de. Estudos coloniaes I. Legislação colonial. Seu espírito, sua
formação e seus defeitos. Coimbra, 1907.
NELSON, Daniel Mark. The Priority of Prudence: Virtue and Natural Law in Thomas
Aquinas and the Implication for Modern Ethics. Pensilvânia, Pennsylvania State University,
1992.
PAGDEN, Anthony. The Fall of the Natural Man. The American Indians and the Origins of
Comparative Ethnology. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
_______. Lords of All the World. Ideologies of Empire in Spain, Brittain and France, 15001800. New Haven: Yale University Press, 1995.
PEGAS, Manuel Álvares. Commentaria ad Ordinationes Regni Portugalliae. Ulysipone,
1669-1703. 12 v. 2, 1669.
PEREIRA, Carlos Renato Gonçalves. História da Administração da Justiça no Estado da
Índia. Século XVI. 1954-1955. v. 2.
PETIT, Carlos (Ed.). Pasiones del Jurista. Amor, Memoria, Melancolia, Imaginación. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
PINTO, Christovam. O antigo imperialismo portuguez e as leis modernas do governo colonial.
Memoria apresentada ao Congresso Colonial Nacional. Lisboa: Imprensa Nacional, 1901.
PROSPERI, Adriano. Tribunali della coscienza. Milão: Einaudi, 1997.
VIEHWEG, Theodor. Topik und Jurisprudenz. Munique (versão italiana: Topica e giurisprudenza. 1962. Milão). 1953.
WILENSKY, Alfredo Héctor. La Administración de Justicia en África Continental Portuguesa (Contribución para Su Estudio). Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1971.
XAVIER, Filipe Nery. Collecção de bandos e outras differentes providencias [...] para o
governo económico e social das Novas Conquistas. 1840-1851, Nova Goa, 1840. v. 3.
_______. Collecção de leis pecculiares das communidades agricolas das aldeias dos concelhos das Ilhas, Salsete e Bardez. 1851-1853 (2 partes), Nova Goa, 1851.
_______. Códigos dos usos e costumes das Novas Conquistas. Nova Goa, 1861.
A Política Perdida – Ordem e Governo antes da Modernidade
269
ÍNDICE ALFABÉTICO
270
Antônio Manuel Hespanha
Esta obra foi impressa em oficinas próprias,
utilizando moderno sistema de impressão digital.
Ela é fruto do trabalho das seguintes pessoas:
Professores revisores:
Adão Lenartovicz
Dagoberto Grohs Drechsel
Editoração:
Elisabeth Padilha
Emanuelle Milek
Índices:
Emilio Sabatovski
Iara P. Fontoura
Tania Saiki
Impressão:
Dorival Carvalho
Marcelo Schwb
Willian A. Rodrigues
“.”
Acabamento:
Afonso P. T. Neto
Anderson A. Marques
Bibiane A. Rodrigues
Carlos A. P. Teixeira
Emerson L. dos Santos
Francielen F. de Oliveira
Luana S. Oliveira
Lucia H. Rodrigues
Luciana de Melo
Luzia Gomes Pereira
Maria José V. Rocha
Maurício Micalichechen
Nádia Sabatovski
Terezinha F. Oliveira