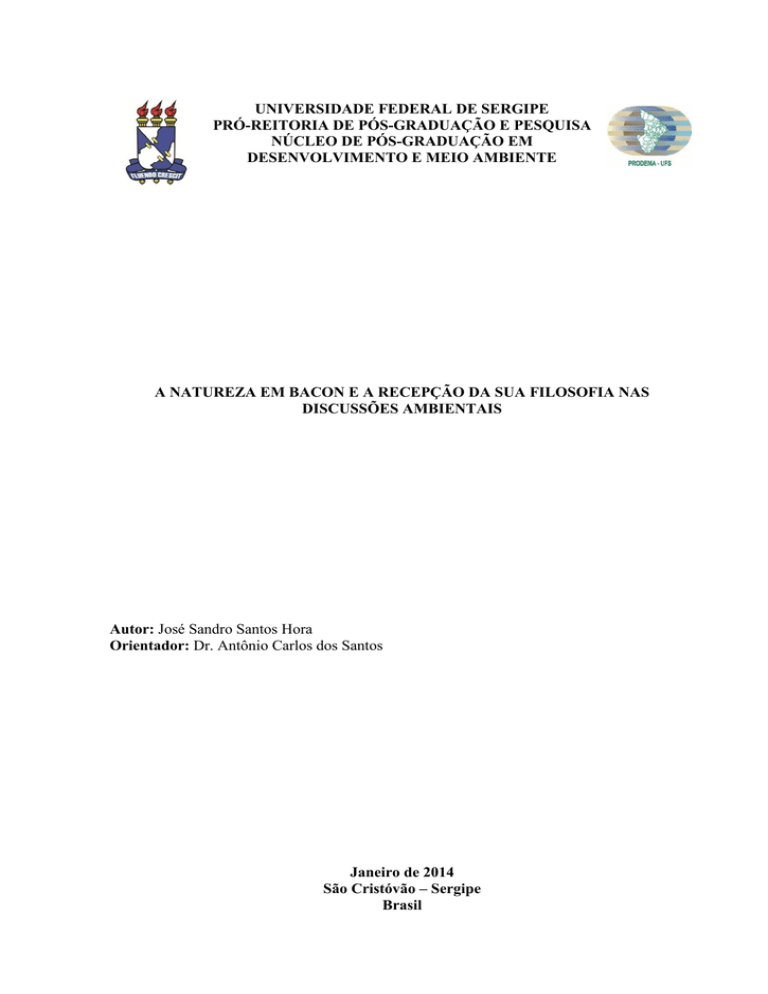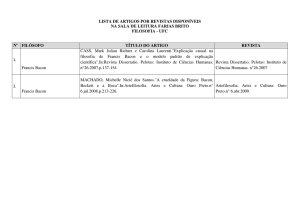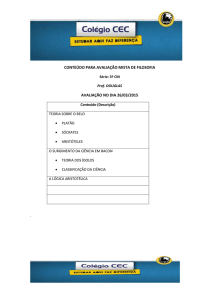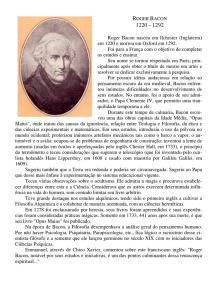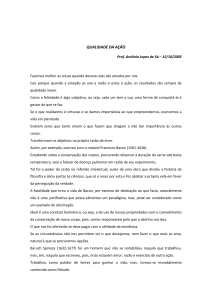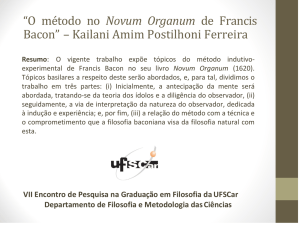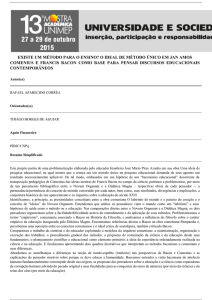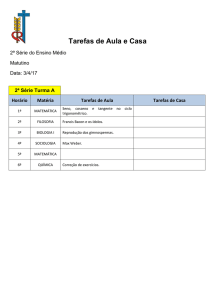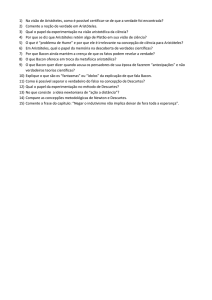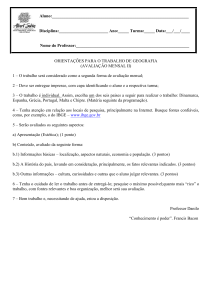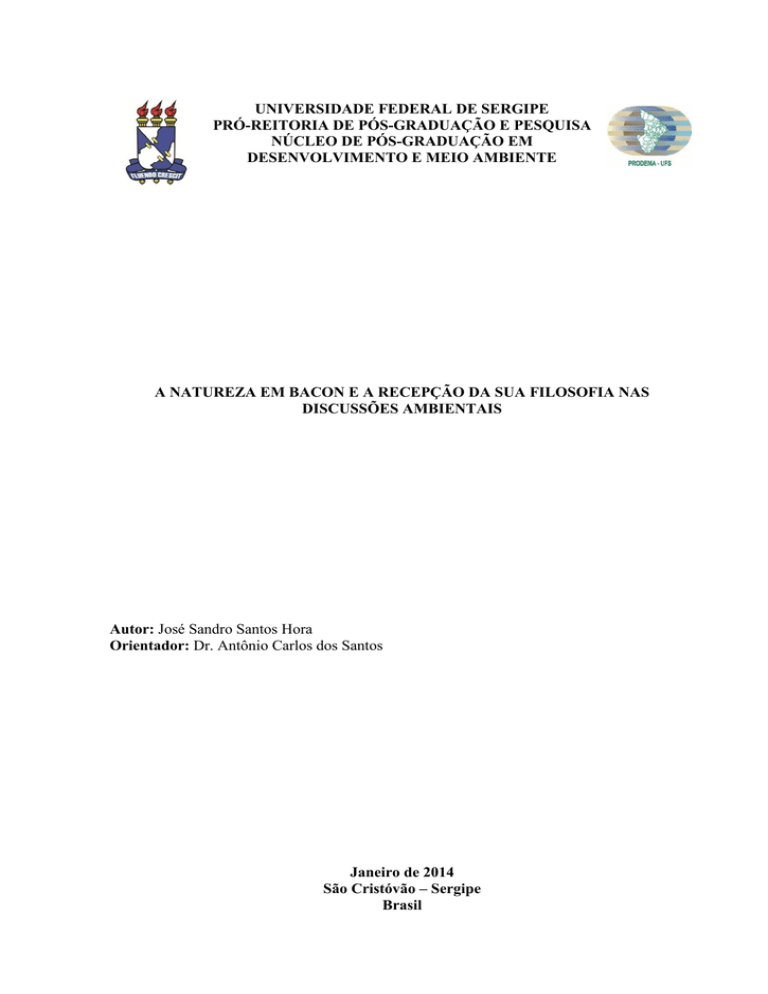
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
A NATUREZA EM BACON E A RECEPÇÃO DA SUA FILOSOFIA NAS
DISCUSSÕES AMBIENTAIS
Autor: José Sandro Santos Hora
Orientador: Dr. Antônio Carlos dos Santos
Janeiro de 2014
São Cristóvão – Sergipe
Brasil
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE
A NATUREZA EM BACON E A RECEPÇÃO DE SUA FILOSOFIA NAS
DISCUSSÕES AMBIENTAIS
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Núcleo
de
Pós-Graduação
em
Desenvolvimento e Meio Ambiente da
Universidade Federal de Sergipe, como parte
dos requisitos exigidos para a obtenção do
título de Mestre em Desenvolvimento e Meio
Ambiente.
Autor: José Sandro Santos Hora.
Orientador: Dr. Antônio Carlos dos Santos.
Janeiro de 2014
São Cristóvão – Sergipe
Brasil
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Hora, José Sandro Santos
A natureza em Bacon e a recepção de sua filosofia nas
discussões ambientais / José Sandro Santos Hora;
orientador Antônio Carlos dos Santos. – São Cristóvão,
2014.
122 f.
H811n
Dissertação (mestrado em Desenvolvimento e Meio
Ambiente) – Universidade Federal de Sergipe, 2014.
O
1. Ciências ambientais. 2. Natureza. 3. Progresso. 4.
Ética. 5. Ciência. 6. Bacon, Francis, 1561-1626 I. Santos,
Antônio Carlos dos, orient. II. Título.
CDU: 502/504:113
ii
iii
Este exemplar corresponde à versão final da dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e
Meio ambiente concluído no Programa de Pós-Graduação PRODEMA da Universidade
Federal de Sergipe (UFS).
______________________________________________
Profº. Dr. Antônio Carlos dos Santos (Orientador)
Universidade Federal de Sergipe
iv
À saudosa avó Dolores;
à Mayara (filha do amigo José Maximino,
com quem partilhei diversas e difíceis circunstâncias
durante a graduação);
e ao sobrinho Gabriel Vinícius.
v
AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, agradeço ao Ser Supremo que ultrapassa toda capacidade de
cognição e de linguagem, Deus.
Segundo, ao professor Dr. Antônio Carlos dos Santos. Não apenas por me orientar
nessa dissertação, mas principalmente pelos constantes incentivos a pesquisar e a seguir a
trilha acadêmica. Sem os seus incentivos de forma alguma teria chegado até aqui.
Terceiro, à minha família. Especialmente, pais (Pedro Hora e Maria Vanilde), irmãos
(Celio e Ernando), avós maternos (Evanda e Antônio), tios(as) – que não são poucos. Aliás,
entre as tias sublinho uma: Maria Farias – tia Aía como a chamo –. Essa mulher dedicou os
melhores anos de sua vida a cuidar de mim e dos meus irmãos. Erica Sá pela companhia, por
participar de perto das angústias de um mestrando. Ressalto ainda a importância do carinho e
dos encontros super agradáveis com o sobrinho Gabriel.
Nesse quadro de agradecimentos, mencionarei alguns nomes sem os quais jamais eu
teria conquistado o que conquistei, física e metafisicamente. São eles: primo José Carlos
(Ninho). Por seu intermédio me foi oportunizado mudar-se para Aracaju, inserir-se no mundo
do trabalho e lutar pela concretização do grande sonho que era estudar. Padrinhos Airton da
Mota e Lindete Cruz. Ambos abriram as portas da sua casa e me abrigaram como filho
quando mudei para Aracaju. Costumo dizer que a Fortuna me presenteou com os melhores
padrinhos do mundo. Às filhas dos meus padrinhos – que na verdade se tornaram minhas
irmãs: Val, Line e Naizinha. Elas me apoiaram enormemente afetiva e psicologicamente
quando me infiltrei em seus espaços, durante a minha graduação e em tantos outros momentos
que precisei. Minha avó paterna, mãe Dolores, lamentavelmente há mais de 4 anos deixou de
„ser‟ entre nós. Mãe Dolores era incapaz de ler os nossos livros, mas conhecia com
profundidade o livro da vida, investiu nos meus estudos e fez tudo que pôde para que eu
pudesse alcançar uma condição de vida melhor. Esses nomes foram peças-chave sem as quais
jamais seria quem sou.
Agradeço aos professores Dr. Evaldo Becker e Dr. Sérgio Menna, pela participação na
minha Qualificação e Defesa, por apontarem sugestões e caminhos que foram fundamentais
ao desenvolvimento do nosso trabalho. O professor Evaldo, aliás, acompanhou e contribuiu
com essa pesquisa desde a fase mais incipiente, passando pelo Seminário Integrador até os
momentos “finais”.
vi
Estendo minha gratidão a Manuela Nascimento pela imensa ajuda na Qualificação e
também na organização final do trabalho. Aos estimados Jaime Rodrigues, Eronides Bravo,
Manu Silva, Lucineide Monteiro, José Maximino e Marta Moura, pelas constantes palavras
animadoras e revigorantes. Alam Fabiano pela paciência, atenção e informações prestadas
sempre com muita destreza. Rosangela, Sueli, Gleidinha, Ana Vanúzia, Joélia Ferreira,
Camila Barreto, Aline de Oliveira, entre outros colegas de trabalho, pela compreensão e
apoio.
Aos colegas dos grupos: Filosofia & Natureza, bem como, Ética e Filosofia
Política/NEPHEM/UFS, sobretudo, Saulo Henrique pelo constante diálogo; Christian
Lindberg, pelas sugestões de leituras e atenção com a minha pesquisa; Prof. Thomaz por
indicação de leitura; Silvia Matos, Cleber Rick, Michele Becker e Caroline, por indicações de
leitura, empréstimos de bibliografias e compartilhamento de ânsias e experiências. Aos
colegas de turma, em especial, Emmanuely Poncell, Eduardo Pina, Itamar Prado, Claydivan,
Andrea Vaz, Elaine Praes, Luane Nascimento, Andréa Sarmento, Graze, Marcela, Cleomar e
Edilson Carneiro.
Por fim, agradeço imensamente o apoio da FAPITEC/SE por custear boa parte da
nossa pesquisa. Ao Núcleo de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –
PRODEMA/UFS, na pessoa da sua Coordenadora, a Prof.ª Maria José. A todos os
professores, pela acolhida, troca de ideias, oportunidade de discutir, problematizar diversos
dilemas ligados ao meio ambiente e por nos formar cidadãos atentos, sobretudo, no que tange
às questões ambientais. Ao pessoal da Secretaria do PRODEMA, Aline, Amanda, Luzia,
Najó, Valdirene e Wandison. E a todos que direta ou indiretamente – embora minha falha
memória não os mencione – me ajudaram nesse desafio.
vii
RESUMO
O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a recepção da filosofia de Bacon em determinados
teóricos das ciências ambientais. Os objetivos específicos são: estudar o conceito baconiano
de natureza, a noção de progresso e a absorção desses conceitos nas ciências ambientais. O
trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro versa sobre o conceito de natureza. O
segundo, sobre a ideia de progresso. E o último, sobre determinadas apropriações da filosofia
baconiana em Hans Jonas, Andrew Brennan e Mauro Grün. A pesquisa é fundamental e
bibliográfica. Assim, os procedimentos metodológicos adotados foram leitura e análise de
texto. A relevância do trabalho consiste em dois pontos fundamentais. i) Vincular o
pensamento baconiano às discussões ambientais. ii) Criticar a visão quase hegemônica por
parte das ciências ambientais contra a modernidade. É nesse sentido que guardamos
expectativas de acréscimo à bibliografia existente sobre Bacon, especialmente no que tange à
atualidade de seu pensamento. Esta pesquisa busca a interdisciplinaridade na medida em que
dialoga não só com a filosofia, mas também com a sociologia, a ética e a educação
ambientais.
PALAVRAS-CHAVE: Bacon, Natureza, Progresso, Ciência, Ética, Ciências Ambientais.
viii
ABSTRACT
The overall objective of this research is to analyze the reception of the philosophy of Bacon in
certain theoreticians of environmental sciences. The specific objectives are: to explore the
Baconian concept of nature, the concept of progress and the absorption of these concepts in
environmental sciences. The work is structured in three chapters. The first deals with the
concept of nature. The second is about the idea of progress and the last one presents an
analysis on certain appropriations of the Baconian philosophy in Hans Jonas, Andrew
Brennan and Mauro Grün. The research is fundamental and bibliographic. Thus, the
methodological procedures adopted were reading and textual analysis The relevance of the
work consists in two fundamental points: Bring the Baconian thought for environmental
discussions. ii) Criticizes the hegemonic vision of environmental sciences against modernity.
It is in this sense that we store expectations to increase the existing bibliography on Bacon,
especially with respect to the relevance of his thought. This research seeks to
interdisciplinarity in so far as it interacts not only with the philosophy, but also with the
sociology, ethics and environmental education.
KEY-WORDS: Bacon, Nature, Progress, Science, Ethic, Environmental Sciences
ix
“Pois bem, o império do homem sobre as coisas se apóia unicamente
nas artes e nas ciências. A natureza não se domina, senão obedecendo-lhe”.
[Destaque meu]
(Francis Bacon)
“Na filosofia de Bacon, a natureza tem a primeira e a última palavra”.
(Sergio Hugo Menna)
SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS ............................................................................................................. v
RESUMO................................................................................................................................. vii
ABSTRACT ...........................................................................................................................viii
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1
Capítulo 1 - Em torno do conceito baconiano de Natureza .................................................... 6
1.1 Aforismos, crítica à sistematicidade rígida e valorização da criatividade no processo
de interpretação da Natureza .................................................................................................. 8
1.2 Acepções e características do „termo‟ Natureza com base no Novum Organum ........ 10
1.3 A natureza com base na Sabedoria dos Antigos ............................................................. 27
1.4 As três histórias ou estágios da Natureza e a contribuição dos saberes não
acadêmicos com o processo de interpretação e conhecimento da Natureza ..................... 39
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à
Natureza ................................................................................................................................... 45
2.1 Discussões preliminares acerca da noção de progresso ................................................ 46
2.2 Defesa da excelência e ampliação do conhecimento ...................................................... 52
2.2.1 O posicionamento dos teólogos ..................................................................................... 53
2.2.2 A problemática em torno dos políticos ........................................................................ 56
2.2.3 A problemática em volta dos doutos e acadêmicos ..................................................... 58
2.3 Aspectos que integram a noção baconiana de progresso .............................................. 60
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais ........................... 73
3.1 Considerações acerca das epígrafes iniciais, rastros e ecos da filosofia baconina na
sociologia de Boaventura ....................................................................................................... 75
3.2 O Foco da análise de Hans Jonas .................................................................................... 82
3.3 A crítica de Jonas à filosofia baconiana ......................................................................... 86
3.4 As interpretações de Brennan e Grün: Bacon, a máquina de terraplanagem, a
Natureza fêmea e a negação da tradição e do passado ........................................................ 91
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 104
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 110
1
1 INTRODUÇÃO
Percebe-se, ao longo da história da humanidade, que várias questões e problemas
foram responsáveis pela elaboração de teorias, surgimento de concepções e construção de
saberes. Não há como esconder que um dos grandes problemas contemporâneos, o tema da
pauta na ordem do dia, não é mais saber se a alma é imortal, não é provar a existência de
Deus, não é demonstrar se o conhecimento é inato ou exterior ao sujeito, mas a relação entre o
homem e a natureza. O foco das atenções tem se voltado de maneira muito incisiva,
sobretudo, para a relação entre homem e meio ambiente. Nessa perspectiva, escreve Vera
Vidal: “a problemática do meio ambiente tem sido objeto de inúmeras abordagens e se tornou
uma das mais debatidas da atualidade, seja nos meios acadêmicos, na mídia, em instituições
governamentais ou ONGs”. (VIDAL, 2008, p. 128). Complementa Antônio Carlos dos
Santos, “não é por acaso que o tema, por excelência universal, gira em torno do meio
ambiente” (SANTOS, 2012, p. 40). Diante desse „espanto‟ que toma o meio ambiente como
categoria de reflexão e análise pergunta-se: o que tem a ver a filosofia com essa questão?
Uma resposta provável para essa pergunta deixamos por conta da própria Vidal. Conforme a
autora, “a Filosofia não poderia ficar alheia a esta discussão e a tem tratado principalmente
sob o prisma da Ética, mas também da Epistemologia (buscando esclarecer o significado de
termos) ou da Lógica (verificando a validade dos argumentos correntes nestas discussões)”.
(VIDAL, 2008, p. 128).
Feitas tais considerações, passamos a apresentar a problemática da nossa pesquisa. O
objetivo geral é analisar a recepção da filosofia de Bacon em determinadas abordagens tecidas
por teóricos das ciências ambientais. Para sustentar tal objetivo, formulamos três objetivos
específicos. Cada um será desenvolvido por capítulo na dissertação.
O primeiro, diz respeito às acepções, características e definições que se podem atribuir
ao conceito de natureza conforme a filosofia de Bacon. Três textos do inglês nos serviram de
referencial teórico para esse fim. A saber, o Novum Organum, A Sabedoria dos Antigos e O
progresso do conhecimento. Ao lado deles, recorremos a trabalhos de comentadores, a
exemplo de Paolo Rossi, Sergio Menna, Bernardo de Oliveira, Silvia Manzo, Catherine
Larrère, entre outros. Veremos no primeiro capítulo que, para o inglês, domínio da natureza,
compreensão ampla da realidade e obediência às leis da primeira constituem fios de um
mesmo tecido. Não é verdade que para o autor do Novum Organum, a natureza seja encarada
como alvo de exploração e de transformação ilimitadamente em função dos avanços da
1 Introdução
2
técnica e da ciência. Veremos que, para Bacon, os resultados práticos oriundos da pesquisa e a
transformação do real devem levar em consideração os limites que são dados pelas esferas
epistemológica e ética. Epistemológica porque só deveríamos efetivar as ações tendo em vista
o limite do que se conhece. As ações, a ciência, o aperfeiçoamento e poderio da técnica
precisam estar vinculados à ética enquanto princípio que envolve moderação, obediência às
leis da natureza e preocupação com o bem da humanidade.
O segundo, visa analisar a noção de progresso tal como arquitetada por Bacon. Nesse
caso, constituem referencial teórico os seguintes textos: O progresso do conhecimento, A
sabedoria dos Antigos e a Nova Atlântida de Bacon; O mito do progresso, de Gilberto Dupas;
Natureza, Ciência e Progresso em Bacon, de Guimarães e Santos; Crítica moral de Francis
Bacon a La Filosofía, de Maximiliano Prada Dussán; A filosofia experimental na Inglaterra
do século XVII, de Luciana Zaterka; Máquinas, gênios e homens na construção do
conhecimento: uma interpretação heurística do método indutivo de Francis Bacon, de Sergio
Menna; entre outros. Veremos nessa parte da dissertação que a noção de progresso
baconinana reivindica certas nuances. Por exemplo: estudo profundo da natureza; afastamento
do saber meramente retórico, livresco e professoral; efetivação de uma educação criativa,
conectada com a vida e que una teoria e prática; investimento público em pesquisa;
reconhecimento meritocrático e escolha dos mais bem preparados; dispensa de bons salários
para os que se envolvem seriamente com a atividade de pesquisa; humildade e permanente
diálogo entre as diversas instituições de pesquisa. Para Bacon, o progresso científico não fora
pensado como uma proposta hegemônica, unilateral, impositiva, segregacional. Embora, seja
desta forma que muita das vezes ele é considerado nas discussões ambientais.
Terceiro, o telos é examinar determinas interpretações da filosofia baconiana nas
discussões das ciências ambientais. Através desse capítulo, haja vista o viés da
interdisciplinaridade, faremos um diálogo entre textos baconianos e de autores
contemporâneos. Por exemplo, Hans Jonas, que reflete sobre ética ambiental, Mauro Grün,
que discute educação ambiental e Boaventura, sociólogo português, que empreende
discussões em torno da relação sociedade e natureza. Os referenciais teóricos giram em torno
desses autores. Consideramos que as críticas de Jonas e Grün contra Bacon são superficiais e
afastadas da filosofia baconiana. Geralmente costuma-se atribuir ao filósofo inglês, a gênese
dos problemas ambientais, alegando que ele defendeu exacerbadamente o avanço da ciência e
da técnica, ignorou o saber do passado e propôs dominação e tortura à natureza. Boaventura
fora trazido para essa discussão, pelo fato de desenvolver reflexão a respeito do par sociedade
1 Introdução
3
e natureza, também porque consideramos que, embora não sendo um estudioso ou especialista
da filosofia baconiana, encontramos na sua sociologia possíveis “encontros” com noções
baconianas. Só para apontar algumas, em ambos é possível encontrar a defesa do ajuste e da
relação coerente que deve haver entre teoria e prática. Ambos valorizam a diversidade de
experiências. Ambos defendem proximidade entre ciência e humanidade, ciência e sociedade,
ciência e senso comum, ou, seja lá o termo que se queira dar para a outra esfera que não a da
academia. Para Bacon, o conhecimento da natureza obedece limites (epistemológicos e
éticos). A ciência deve ser solucionadora de problemas e próxima da sociedade, na medida em
que se expresse por meio de uma linguagem não ambígua e disponibilize os seus resultados a
serviço da humanidade visando assim o que poderíamos denominar de „beneficiamento
social‟1.
Nossa pesquisa traz como justificativa pelo menos duas razões. A primeira, é que
ainda não são muitas as pesquisas sobre Bacon no Brasil2. A segunda, consiste no fato de
vincularmos a filosofia baconiana para as discussões acerca do meio ambiente. Percebe-se que
há uma espécie de preconceito contra os filósofos modernos nas discussões acerca do meio
ambiente, sobretudo, quando nos referimos a Bacon e Descartes. No caso do primeiro, a
postura de propor um método para a ciência e afirmar que somente acossando a natureza
poderemos forçá-la a se mostrar, lhe rendeu e permanece rendendo-lhe inúmeras críticas.
Forjou-se uma imagem de Bacon como sendo mentor da dominação e destruição da natureza.
Segundo Paolo Rossi, critica-se os modernos, mas não os lêem como se deveria. Baseiam-se
mais em manuais que falam sobre eles do que em seus próprios textos.
1
Utilizamos esse termo, tomando como fundamento a seguinte referência: (COELHO, 2002, pp. 179-199).
Nesse texto, a autora discute questões do tipo: coletividade na construção e no avanço do conhecimento em
contraposição ao trabalho isolado e individual; estreita relação entre pesquisa e sociedade; proximidade entre
universidade e sociedade; etc. O problema é que para essa autora estes aspectos são marxistas. A nosso ver, tais
posturas, antes de serem marxistas, são baconianas. Uma recomendação, portanto, à autora e aos que defendem
tais posicionamentos seria lerem O progresso do conhecimento.
2
Em pesquisa ao site de periódicos da Capes, disponível abaixo e acessado no dia 11 de novembro de 2012, na
parte de assuntos, ao colocar como tema: a relação entre natureza e progresso em Bacon, apareceu um total de
apenas 16 trabalhos, entre eles, 10 artigos e 6 livros. Esse número foi filtrado do universo de 27.713 trabalhos
para o tema: filosofia. Neles o que se verifica é que não há sistematicidade entre os conceitos que pretendemos
estudar. Os termos natureza ou progresso, por exemplo, aparecem vez ou outra, mas não em um estudo
específico com foco em um determinado autor como é o caso do filósofo inglês mencionado acima. Os trabalhos
encontrados nesse endereço versam sobre diferentes focos, mencionam Bacon, mas não são pesquisas sobre este
autor. Eis o endereço: http://www.periodicos.capes.gov.br/. Além desse, fizemos busca também em outras fontes
como a Philósophos, revista de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás, na biblioteca
digital da USP, mas não encontramos trabalhos sobre Bacon. Seguem os endereços respectivamente:
http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos#.UJ6kBOSZlc8;
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=11&Itemid=76&lang=pt-br&filtro=filosofia. Com
isso, o desafio e a expectativa da nossa pesquisa é suscitar leitura, debate e a abertura para que outros trabalhos
nesta perspectiva possam surgir aqui no Brasil.
4
1 Introdução
Quanto à metodologia, a pesquisa será do tipo, segundo Lakatos, fundamental. Pois,
se insere no aspecto da “ampliação de conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utilizálos na prática. É a pesquisa formal, tendo em vista generalizações, princípios, leis. Tem por
meta o conhecimento pelo conhecimento” (LAKATOS, 1999, p. 22). Que significa dizer isso?
Tratar-se-ia de um conhecimento sem serventia? Não, é claro. Significa dizer que o resultado
oriundo dela não será para a aplicação ou intervenção imediata na realidade. A expectativa é
de suscitar leitura acerca da modernidade. Ou seja, trata-se de procurar não repetir nem
endossar aquilo que denuncia Paolo Rossi, a saber, ler os modernos via manuais e não por
eles próprios. Nossa pesquisa pretende indicar que mediante pensamento de autores
modernos, como é o caso, por exemplo, de Francis Bacon, poderemos encontrar diversos
subsídios capazes de contribuir com a reflexão em torno da problemática ambiental.
Ainda em relação à pesquisa, ela pode ser caracterizada como bibliográfica. De acordo
com Marconi & Lakatos, a pesquisa bibliográfica possui oito fases. São elas: escolha do tema;
elaboração do plano de trabalho; identificação; localização; compilação; fichamento; análise e
interpretação; e redação3. Entre esses procedimentos, além dos dois primeiros, dos três
últimos não tivemos como fugir. Também foram indispensáveis ao nosso trabalho, a leitura e
análise de textos. Declaram as autoras de Fundamentos de Metodologia Científica, que a
leitura
constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a ampliação de
conhecimentos, a obtenção de informações básicas ou específicas, a abertura
de novos horizontes para a mente, a sistematização do pensamento, o
enriquecimento de vocabulário e o melhor entendimento do conteúdo das
obras. (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 19).
A leitura, segundo elas, constitui matéria prima para realização de uma pesquisa.
Quanto ao conceito de análise de texto, antes de defini-lo, primeiro elas explicam o que
significa analisar. Para as autoras, analisar significa estudar, decompor, dissecar, dividir,
interpretar. Feito isso, afirmam elas que a análise de texto “refere-se ao processo de
conhecimento de determinada realidade e implica o exame sistemático dos elementos;
portanto, é decompor um todo em suas partes, a fim de poder efetuar um estudo mais
completo”. (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 27). Esses são os procedimentos metodológicos
que seguiremos.
3
A caracterização dessas fazes se encontram no capítulo 2 de Fundamentos de metodologia científica. (Cf.
MARCONI & LAKATOS, 2003, pp. 44-49).
1 Introdução
5
A perspectiva de trazer a filosofia baconiana para esse âmbito de discussão é um
desafio, mas, ao mesmo tempo, uma contribuição à bibliografia sobre o filósofo aqui no
Brasil. O resultado que esperamos é que outros trabalhos nessa linha possam surgir. Pois,
como Bacon mesmo propunha, as flutuações, o desapego a pontos fixos, a organização de
ideias, princípios, teorias e experiências sem precisar estar refém à sistematicidade rígida,
bem como, a continuidade da pesquisa são o que contribuem com a ampliação e o avanço do
saber. A nosso ver, a análise que faremos aqui acerca da „Natureza‟ não incorrerá em
conceitos batidos como se discute comumente. Será uma discussão que pretende seguir na
contramão de uma visão quase hegemônica por parte das ciências ambientais em relação ao
pensamento moderno. Visão essa que apresenta a modernidade como causadora de males ao
homem e à natureza, pelo fato de muitos dos seus pensadores acreditarem na razão, na ciência
e no progresso. Visão essa que, provavelmente, se fundamenta numa concepção romântica da
natureza e, por isso, finda achatando e reduzindo tal conceito. A natureza é complexa,
superior aos sentidos e ao intelecto. Portanto, todos nós estamos convidados a pensá-la.
6
Capítulo 1 - Em torno do conceito baconiano de natureza
“A partir de diversas indagações, emergem três conhecimentos: filosofia Divina, filosofia Natural e
filosofia Humana ou Humanidade”.
(BACON, 2007, p. 136)
“Na filosofia de Bacon, a natureza tem a primeira e a última palavra”.
(MENNA, 2011, p. 172)
O objetivo deste capítulo é apresentar possíveis definições que o termo natureza
admite no transcorrer da filosofia baconiana e procurar extrair contribuições do pensamento
do inglês no que se refere ao tema da natureza, tema este que perpassa quase toda sua obra.
Sob esta perspectiva, algumas questões podem ser formuladas. Uma delas, por exemplo, o que
seria a natureza para Bacon? Quais as acepções e características que aquele termo admite? Se
Bacon é apresentado como defensor da dominação da natureza, o que isto significa? Seria
plausível afirmar que a destruição da natureza tal como se discute no mundo contemporâneo
tem como “matriz” a filosofia do autor do Novum Organum?
Embora Bacon não careça de advogado, todavia conduziremos nosso barco sobre as
águas movidas por textos oriundos de sua própria pena, bem como outros textos resultados de
pesquisas empreendidas por seus comentadores, a exemplo de Paolo Rossi, Silvia Manzo,
Sergio H. Menna, Bernardo Jefferson de Oliveira, apenas para citar alguns, com o objetivo de
ancorar, mediante discussões e análises em torno das questões postas acima, no seguinte
posicionamento: parece equívoco e superficial atribuir ao filósofo autor da Nova Atlântida, os
danos e males que se tem causado à natureza e ao próprio homem por conta dos avanços da
ciência e da técnica. Se por um lado o inglês não dá conta de responder a contento nossos
dilemas frente ao avanço da técnica e a relação desta com a natureza, ou ainda tenha sido
superado no tocante ao método científico, por outro, é inapropriado afirmar que os males
causados ao meio ambiente são oriundos de sua filosofia.
Conforme argumentaremos no decorrer desse capítulo, para Bacon, o império do
homem sobre a natureza leva em conta ao menos dois limites. O primeiro limite é dado pela
esfera epistemológica. Ou seja, só podemos agir sobre a natureza até onde o conhecimento
adequado das suas leis nos permita. O agir sobre a natureza está fortemente vinculado à
relação de obediência e de sujeição à ela própria. O segundo limite é oriundo da esfera da
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
7
ética. Ante o vasto mar da ignorância acerca da natureza, a embarcação da busca pelo
conhecimento deve navegar permanentemente, porém não pode esquecer a instrução que fora
dada por Dédalo ao seu filho Ícaro: “não seguir um curso muito alto nem muito baixo”
(BACON, 2002, p. 86). Também não pode deixar de considerar o seguinte princípio: “O
caminho da virtude segue reto entre o excesso, de um lado, e a carência, de outro”. (BACON,
2002, p. 87). É fundamental, conforme Bacon, equilibrar a necessidade, a ousadia e a aventura
do lançar-se sobre o desconhecido, com o que se faz e com a aplicação do conhecimento
adquirido. Ao trazer a ética para o processo de conhecimento, interpretação da natureza e a
produção técnico-científica, no mito intitulado „Ícaro alado, também Cila e Caríbdes, ou
caminho do meio‟, que se encontra em A Sabedoria dos Antigos, Bacon sublinha:
Quanto à passagem entre Cila e Caribdes (moderação no intelecto),
certamente é necessário ter muita perícia... Pois se o navio se aproxima de
Cila, quebra-se nos rochedos; se se aproxima de Caribdes, é sugado pelo
torvelinho. Essa parábola nos leva a considerar... que em toda forma de
conhecimento e ciência, bem como em toda regra ou axioma a eles
pertinente, cumpre manter o meio-termo entre o excesso de especificidades e
o excesso de generalidades. (BACON, 2002, p. 87).
De acordo com a citação evocada, a atividade técnico-científica não pode abrir mão de
determinados critérios. Por exemplo, a moderação, a perícia, o exame, a crítica, a reflexão, a
paciência na pesquisa. Constituem igualmente critérios que devam ser inseridos na atividade
técnico-científica, segundo Bacon, a constância na pesquisa, o diálogo e compartilhamento de
experiências entre os pesquisadores, o afastamento da postura vaidosa-individual-egoísta e a
consciência de que os resultados precisam ter como finalidade melhorar as condições de vida
da humanidade no seu todo. A nosso ver, essa propositura do inglês contribui e permanece
viva. Pois, nos instiga a pensar, não só a respeito de nós mesmos, dos nossos papéis,
sobretudo, enquanto pesquisadores, como também a respeito do fazer técnico-científico e do
lidar com a natureza.
O capítulo está dividido em quatro tópicos. No primeiro, definimos e discutimos a
importância da escrita em aforismos para Bacon. Vimos que, não obstante o filósofo ter
proposto um método para a ciência, entretanto, critica a sistematicidade rígida e o
conhecimento estático. “Pois a natureza humana anseia em extremo ter em seu entendimento
algo fixo e irremovível, e que seja como um apoio ou suporte do espírito. ... sem dúvida
desejam os homens ter um Atlas ou eixo em seu interior que os resguarde da flutuação”.
(BACON, 2007, pp. 195-196). Em contraposição, valoriza as inquietudes próprias dos jovens
e a criatividade. Estes aspectos são fundamentais para o processo de interpretação e
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
8
conhecimento da natureza. No segundo tópico, apresentamos “definições” e características
atribuídas ao termo natureza, tomando como base uma série de aforismos. A fundamentação
teórica foi por conta do Novum Organum. No terceiro, analisamos três mitos por meio dos
quais é possível refletir sobre a natureza, o homem, a ciência, etc.. A saber, Pã, Celo e Proteu.
Nesse caso o texto referencial foi a A sabedoria dos antigos. No último tópico, abordamos
sobre os três estágios da natureza. Segundo Bacon, a História da Natureza é de três tipos: da
natureza em seu curso normal, da natureza em seus erros ou variações e da natureza alterada
ou trabalhada. A compreensão dessas histórias ou estágios são fundamentais, haja vista a
intervenção e transformação da natureza.
1.1 Aforismos, crítica à sistematicidade rígida e valorização da criatividade no processo
de interpretação da natureza
Tomando como ponto inicial a indagação „o que seria a natureza para Bacon‟, de saída
é possível afirmar – e aqui considero pelo menos cinco de suas obras: o Novum Organun, A
Sabedoria dos Antigos, Do Fluxo e Refluxo do Mar, O Progresso do Conhecimento e a Nova
Atlântida – que não há uma definição estática ou precisa acerca do termo. O que se percebe ao
longo dos textos é que são várias definições e características atribuídas ao conceito.
O referencial teórico desta análise tem como fundamento uma série de aforismos
localizados no primeiro livro do Novum Organum. O que seria um aforismo? Nos termos do
próprio Bacon, os aforismos são “breves sentenças avulsas e não vinculadas por qualquer
artifício metodológico...” (I: 86)4. Por mais que a primeira vista pareça um paradoxo – o
filósofo que propõe um método para o conhecimento, acaba elogiando a ausência de
sistematicidade – a escrita na forma de aforismos é bem vista pelo Barão de Verulam. No
Progresso do Conhecimento, ele escreve que “... o conhecimento, enquanto está em aforismos
e observações, está em tempo de crescimento;” (BACON, 2007, p. 58). O filósofo chega a
comparar o conhecimento no estado de aforismos a um jovem que está em pleno crescimento.
Tal posição permite-nos considerar que, para Bacon, a sistematicidade rígida pode se
constituir um fator não favorável ao avanço do conhecimento, portanto, um obstáculo à força
criativa.
4
Daqui em diante, utilizaremos o algarismo em maiúscula (I ou II) e o número em seguida (1, 2, 3,...) para
indicar respectivamente o livro e o aforismo do Novum Organum.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
9
Na compreensão do Lord, “a escrita em aforismos têm muitas virtudes excelentes, às
quais não alcança a escrita sistemática. ... ninguém é apto para escrever em aforismos, nem
sensatamente tentaria fazê-lo, a não ser que possua um conhecimento correto e bem fundado”.
(BACON, 200, p. 211). Pondera ainda Bacon, “e, finalmente, os aforismos, ao apresentar um
conhecimento incompleto, convidam a seguir investigando, enquanto as exposições
sistemáticas, ao apresentar uma totalidade, aquietam e fazem crer que se chegou ao término”.
(BACON, 2007, p. 212).
Ao analisarmos as duas citações baconianas elencadas no parágrafo anterior, verificase que a filosofia do inglês enaltece a ausência de pontos fixos. As inquietudes que se percebe
nos jovens são fundamentais e bem vindas aos estudos da natureza. Bacon defende e propõe
com veemência, o esforço, a paciência e a continuidade nas pesquisas. O conhecimento
precisa ser correto e bem fundado. Por isso a importância de se estabelecer o método. Porém,
isso não significa dizer que se deva ficar restrito a pontos fixos ou a exposições sistemáticas.
Os sistemas filosóficos precedentes já tinham dado sinal de que não se conseguiu avançar
nem se conseguiu grandes feitos para a humanidade. Bacon afirma que,
os Sistemas são mais adequados para obter assentimento ou crença, mas
menos para orientar a ação: pois neles se faz uma espécie de demonstração
circular, iluminando uma parte a outra, e por isso satisfazem, mas os
particulares, estando dispersos, concordam melhor com as indicações
dispersas. (Idem, p. 212).
Os pontos fixos e as exposições sistemáticas podem gerar como consequências,
inibição da criatividade5 e admissão de que o conhecimento seja estático, completo e finito. O
processo de conhecimento da natureza precisa ter regras, carece de método, mas não pode
desvincular-se da dinâmica, das inquietações indagatórias e da criatividade. Passemos à
discussão acerca das possíveis definições e características concernentes ao termo natureza
para Bacon.
5
A criatividade em Bacon exerce uma relação extremamente estreita com a capacidade de inventar. E o que seria
então inventar para o filósofo? Sua resposta é a seguinte. “Inventar é descobrir o que não se sabe”. (BACON,
2007, p. 192). Portanto, a criatividade baconiana tem a ver com a capacidade de descobrir o que não se sabe, ou
seja, tem a ver com a descoberta de conhecimentos novos em contraposição à repetição do que já se sabe.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
10
1.2 Acepções e características do “termo” Natureza com base no Novum Organum
A análise que visa compreender os elementos ou aspectos integrantes do conceito
baconiano de natureza toma como ponto de partida o primeiro aforismo do livro I do Novum
Organum. Nesse aforismo Bacon escreve: “o homem, ministro (minister) [servidor] e
intérprete (interpres) da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela observação dos
fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza; não sabe nem pode mais”. (I: 1).
São temas desse aforismo: o homem, a natureza e as possibilidades de conhecer a última. Não
obstante, pode ser inserida também a questão do limite para a esfera da ação humana sobre a
natureza.
No tocante ao homem, este é concebido por Bacon como sendo ministro, servidor 6 e
intérprete da natureza. O homem é capaz de extrair conhecimentos daquela e a partir desses
conhecimentos, agir, criar, inventar. Todavia, de que modo o homem é ministro e servidor da
natureza tal como escreveu Bacon? Quem nos ajuda nessa explicação é Sergio Menna. Este
declara que “o homem é servidor da natureza porque, não podendo modificar suas leis, só
pode obedecê-la, e é intérprete da natureza porque, devendo revelar suas leis, tem primeiro
que conhecê-la para poder obedecê-la”. (MENNA, 2011, p. 176). Essa característica do
pensamento baconiano parece passar ao largo das análises empreendidas por determinados
autores como, por exemplo, Hans Jonas, Andrew Brennan, Carolyn Merchant e Mauro Grün.
No terceiro capítulo dessa dissertação trabalharemos estes autores. Aliás, um dos objetivos da
reflexão que pretendemos desenvolver a respeito da filosofia da natureza desenhada por
Bacon – haja vista o caráter de interdisciplinaridade – trata-se de sublinhar dimensões dessa
filosofia, as quais não são bem vistas pelos autores que mencionamos há pouco, sobretudo
quando eles discutem temas como ética e educação ambientais. A filosofia baconiana tem
sido considerada por estes teóricos do meio ambiente, uma filosofia que desarmoniza a
relação homem, ciência, técnica e natureza. Entretanto, assegura Bacon por meio do aforismo
(I: 1), o homem é ministro e intérprete da natureza.
Com base no aforismo em análise, a natureza é concebida como algo passível de
interpretação. A natureza é um “livro”. Não um livro constituído meramente de palavras. Mas,
o livro das obras e das criaturas de Deus7. Por isso algo passível de ser interpretada e
compreendida. Por isso, igualmente, a necessidade de se voltar a cultuar a natureza. Cultuar a
6
7
Confira a discussão em (MENNA, 2011, p. 175).
Confira (ROSSI, 1992, p. 74).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
11
natureza não como uma deusa, uma divindade sagrada, intocável, inquestionável. Cultuar a
natureza no sentido de poder interrogá-la, de poder pesquisá-la com paciência e com método,
de se voltar para as coisas mesmas, portanto, no sentido de poder interpretá-la e conhecê-la.
Quanto às possibilidades ou vias de se conhecer a natureza, Bacon apresenta pelo
menos duas vias. Uma via é a observação dos fatos. A outra, o trabalho da mente. Sob estas
perspectivas, entende-se que pensamento e observação, ou ainda, teoria e prática são
fundamentais, necessitam estar conectados no processo de interpretação da natureza. O
trabalho da mente aponta para a esfera das palavras, para a esfera do teórico, para o âmbito da
conceituação e para a tarefa da reflexão. A observação dos fatos, com efeito, sinaliza a
necessidade de voltar-se para as coisas mesmas, para a importância do estudo de conteúdos
concretos e correspondentes à vida, portanto, para a esfera da prática. Segundo Bacon, o
avanço no processo de interpretação da natureza requer que as pesquisas estudem conteúdos
que tenham correspondência com as coisas concretas. O que não significa dizer, por exemplo,
que o estudo da história ou das letras seja rejeitado.
A propositura de estudar as coisas se contrapõe na verdade aos campos da ciência
contemplativa e da mera retórica. No Progresso do Conhecimento, mapeando erros que
atrofiam e dificultam o avanço do saber, afirma Bacon:
Eis aqui, pois, a primeira desordem do saber, quando se estudam as palavras
e não o assunto, ... pois as palavras não são senão imagens das coisas, e se
estas não estão vivificadas pela razão e pela invenção, enamorar-se delas é o
mesmo que se enamorar de um quadro. (BACON, 2007, pp. 47-48).
A abstração ou o pensamento desvinculado da realidade é algo que o inglês recusa.
Não seria proveitoso à ampliação do conhecimento restringir-se somente às imagens das
coisas [as palavras]. É preciso direcionar-se às coisas mesmas e indagar a natureza. Nesse
sentido torna-se indispensável a conjugação tanto do trabalho da mente quanto da observação
dos fatos. Pois, conforme declaração de Bacon,
Nem a mão nua nem o intelecto, deixados a si mesmos, logram muito. Todos
os feitos se cumprem com instrumentos e recursos auxiliares, de que
dependem, em igual medida, tanto o intelecto quanto as mãos. Assim como
os instrumentos mecânicos regulam e ampliam o movimento das mãos, os da
mente aguçam o intelecto e o precavêm. (I: 2).
Segundo o inglês, a mão sozinha e o intelecto isolado inviabilizam o caminhar para
adiante no tocante ao aperfeiçoamento do conhecimento. Teoria de um lado e prática do outro
parece não significar muito para o filósofo. A relação entre pensamento e ação deve ser de
12
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
proximidade e de junção com instrumentos, recursos e técnicas que contribuam com a
interpretação e com o conhecimento adequado da natureza. A Nova Atlântida, nesse sentido,
demonstra bem. É preciso, por um lado, invenções, criação de instrumentos que ampliem a
capacidade de conhecer a natureza e de melhorar a vida humana sobre o planeta – nessa
conjuntura a técnica tem a sua importância. Mas, por outro, uma lógica e um método que
orientem adequadamente o intelecto na tarefa de interpretar e conhecer a natureza. Portanto,
pode-se dizer, as possibilidades de se “acessar” ou de conhecer a natureza têm a ver com os
seguintes
aspectos:
observação
dos
fatos
e
trabalho
da
mente,
vínculo
entre
pensamento/reflexão e ação, coerência entre teoria e prática.
Ao unir trabalho da mente e observação dos fatos o homem “faz”. Esse “faz” aponta
para o poder e capacidade de ação que ele possui em relação à natureza. Porém, não se pode
esquecer, a ação humana sobre a natureza deve considerar seriamente a compreensão e a
constatação. O homem “Faz e entende tanto quanto constata”. Fazer, compreender e constatar
não são apenas verbos, mas, ao que tudo indica, na esteira do pensamento baconiano, pode-se
dizer, são princípios. A “constatação” – que não deve ser apressada nem imediatista – dá o
limite para a ação do homem. “O homem, ... faz e entende tanto quanto constata, ... não sabe
nem pode mais”. Seria ela [a constatação] que deveria dar o tom e ritmar efetivamente as
ações, tanto por meio da técnica, quanto, se quisermos acrescentar, por meio da ciência.
Portanto, de saída, é possível compreender que a proposta elaborada por Bacon em relação à
natureza como algo passível de investigação não é uma proposta sem limites. Além do limite
imposto pelos aspectos epistemológicos, ou seja, agir somente após o conhecimento
adequado, há também o limite oriundo da ética. Nesse sentido, acrescenta Menna, “o saber
baconiano conhece – e reconhece – limites; especificamente, limites éticos”. (MENNA, 2011,
p. 226). Portanto, leituras que ignorem estes aspectos do pensamento baconiano, parecem
equivocadas. Para Bacon, o fazer do homem sobre a natureza não é divorciado de limites,
nem é para destruir a natureza. Os limites da ação são postos pela compreensão, pela
constatação das coisas e, sobretudo, pela ética.
Assim, tomando como referência o aforismo (I: 1), fizemos o seguinte percurso. i)
Apresentamos uma possível concepção de homem para Bacon. Vimos que o filósofo concebe
aquele como sendo ministro e intérprete da natureza. ii) Trabalhamos as possibilidades de se
interpretar e conhecer a natureza. Vimos que o trabalho mental e a observação dos fatos
constituem duas plausíveis vias de acesso ao conhecimento da natureza. União entre mente e
mãos assim como coerência entre teoria e prática são pontos extremamente relevantes na
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
13
composição do seu pensamento. iii) Vimos a afirmação que o homem „faz‟. Todavia, esse
fazer deve ser limitado e orientado pela compreensão, pela constatação que se adquire das
coisas e, por fim, pela ética. “Não sabe nem pode mais”, encerra o filósofo.
Considerando ainda o aforismo (I: 1), encontramos uma característica atribuída à
natureza. Trata-se de conceber a última como sendo algo bem ordenado. “O homem faz e
entende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a
ordem da natureza”. Se nos cobrassem uma definição, poderíamos dizer que a natureza, à luz
desse fragmento é algo ordenado. A natureza possui cabal e rigoroso ordenamento. Por isso a
importância de procurar conhecer suas leis. A natureza não é mero objeto – natura naturata –
como aparece em algumas leituras8 que criticam fortemente a chamada modernidade. Essa
visão de que a natureza possui ordem, hierarquia e coerência é elucidada, por exemplo, por
Catherine e Raphael Larrère. O casal francês argumenta que há uma tese do fim da natureza –
tese essa que pode ser encontrada, por exemplo, em Hans Jonas –. O fundamento desta tese,
segundo Larrère, seria a convicção de que a modernidade teria destruído a natureza. Todavia,
destacam os autores franceses, essa convicção ignora a concepção moderna de natureza, que
compreende a última como sendo algo ordenado, algo que contem hierarquia, leis e coerência.
A tese do fim da natureza não convence o casal Larrère. Sendo assim, Raphael e Catherine se
deslocam para uma antítese e declaram o seguinte:
8
Entre os autores que criticam a modernidade, em virtude da concepção de natureza enquanto algo a ser
dominado e de se conceber a ciência como via que forneça ao homem instrumentos e meios para tal dominação,
tenho em vista especificamente Mauro Grün e Hans Jonas, autores, aliás, com os quais trabalharei no terceiro
capítulo dessa dissertação. O primeiro aborda o tema da educação ambiental. Já o segundo trabalha com o
problema da ética ambiental. O primeiro argumenta que a educação ambiental precisa de uma nova dimensão
ética. Essa nova dimensão ética deve considerar fortemente o papel da linguagem enquanto processo
interpretativo, para que se atinja uma compreensão e mediante essa compreensão se insira a conservação ou
preservação da natureza. Isto porque, para Grün, natureza e linguagem mantém relação estreita. O fato é que a
proposta de Grün ataca fortemente a filosofia de Bacon, sobretudo no que se refere à crítica que Bacon faz à
tradição. Em virtude dessa crítica à tradição, Grün acusa Bacon de aistórico, ou seja, de negador do passado –
voltaremos a essa discussão no terceiro capítulo como dissemos há pouco. Jonas, por sua vez, elege como objeto
de reflexão a técnica moderna, ou melhor, o poderio que essa técnica alcançou e se tornou capaz de exercer. Por
exemplo, os avanços da biologia celular, a questão da manipulação genética, o controle do comportamento, etc.
Segundo Jonas, a técnica moderna tornou-se uma ameaça para o homem, para a natureza e põe em risco a
possibilidade de existência para as gerações futuras. Qual é o problema? O problema é que, conforme a
interpretação de Jonas, o poderio elaborado pela técnica moderna é um desdobramento da filosofia de Bacon.
Portanto, como a análise sobre as leituras que se fazem sobre o pensamento de Bacon nos estudos sobre meio
ambiente constitui meu problema de pesquisa, por isso mencionei estes autores especificamente. É claro que há
uma gama enorme de críticas ao pensamento moderno. Também não estamos defendendo que a modernidade
seja isenta de críticas. O problema é fazer estas críticas baseando-se apenas em manuais como, por exemplo,
denuncia Paolo Rossi em (ROSSI, 2000, pp. 116-117). Grün e Jonas, por exemplo, quase não citam os textos de
Bacon. Entretanto fazem uma interpretação do filósofo inglês que acaba criando e reforçando a imagem de um
Bacon defensor da destruição da natureza, de um Bacon cego em relação ao progresso técnico-científico, de um
Bacon extremamente antropocêntrico e, portanto, arquiteto de uma filosofia que não contribui com as reflexões
acerca do meio ambiente.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
14
a modernidade contém uma visão coerente da natureza, que não se reduz à
da natura naturata. Desta concepção não resulta automaticamente a sua
neutralidade, que faria dela um simples reservatório de recursos para as
actividades humanas e um depósito para os seus resíduos. Da modernidade
pode, ao invés, deduzir-se uma afirmação moral de respeitar a natura
naturans como uma harmonia exterior ao homem e que não tem necessidade
dele para existir. Desde que deixemos assim de assimilar a modernidade à
afirmação de uma vontade e de um poder hiperbólicos, descobriremos que
na sua visão da natureza (a de processos em equilíbrio), tal como na divisão
que ela estabelece entre natureza e sociedade, há razões para conceber uma
empresa que insiste certamente na transformação e na exploração da
natureza, mas que se preocupa com a sua proteção. (LARRÈRE &
LARRÈRE, 1997, p. 192).
Larrère & Larrère na verdade operam uma grande virada frente a tese do fim da
natureza. Se o pensamento moderno separou o homem da natureza, ou concebeu a última
como algo exterior a aquele, o que é visto como abertura para a destruição, transformação e
exploração da natureza, o casal francês argumenta que desse mesmo pensamento é possível
compreender que dominar, transformar e explorar não significa tratar a natureza apenas como
mero objeto – natura naturata. Ainda conforme Larrère & Larrère, é preciso que se
compreenda que a modernidade não é meramente a afirmação de uma vontade e de um poder
hiperbólicos. A ideia, por exemplo, de se dominar a natureza, tal como defende Bacon, não
deixa de reconhecer que compreender precede o agir.
Podemos extrair, talvez implicitamente, da análise do aforismo (I: 1), as seguintes
considerações. a) A natureza possui ordem. b) A natureza é passível de interpretação e de
observação. c) A interpretação e observação da natureza passam pela mediação do trabalho
conjugado da mente e das mãos – estão envolvidos aí o auxílio de instrumentos e recursos, ou
seja, a técnica é de fundamental importância –. Aliás, no tocante à questão da técnica,
Bernardo Jefferson de Oliveira afirma que um dos objetivos da sua tese, “trata-se de mostrar
como vários elementos do programa de reforma proposto por Bacon são inspirados nas
atividades técnicas...” (OLIVEIRA, 2002, p. 19). Mais adiante continua ele, “julgamos,
entretanto, que o projeto baconiano caracteriza um de seus estilos de conhecimento científico
e que um dos principais traços deste estilo é sua interação com o conhecimento técnico”.
(OLIVEIRA, 2002, p. 44). De acordo com Oliveira, pode-se afirmar que, para Bacon, a
relação entre conhecimento científico e técnica é bastante estreita. d) O homem é considerado
ministro e intérprete da natureza. e) O poder antrópico potencializado pela ciência e pela
técnica não pode ignorar os limites epistemológico e ético.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
15
O próximo aforismo a fazer parte da nossa análise é (I: 3). Nesse aforismo Bacon
escreve o seguinte: “ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa
ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece...”.
(I: 3), destaque meu. O primeiro ponto apresentado por Bacon nesse aforismo que acabamos
de citar é a relação de coincidência entre a ciência e o poder do homem. Percebe-se que essa
relação é de bastante estreiteza. O segundo ponto sinaliza para a noção de que não é possível
conhecer e aproveitar bem os efeitos se as causas forem ignoradas. Conhecer as causas é
muito importante. O terceiro ponto, eu diria que chega a ser um princípio na filosofia
baconiana, é a noção de que a natureza só pode ser dominada na relação de obediência a ela
mesma. Bacon põe lado a lado „dominar a natureza‟ e „obedecer a ela‟. Domínio e obediência
formam um par que em determinadas leituras como, por exemplo, a que faz Hans Jonas, é
completamente suprimido. Essa noção de que se deve obedecer à natureza, ou seja, sujeitar-se
às suas leis, é tão importante para o inglês que ele a insere no início da primeira parte do
Novum Organum, conforme o aforismo citado acima, e a retoma ao final dela, por meio do
aforismo (I: 129), sobre o qual trataremos adiante.
A natureza, de acordo com o aforismo (I: 3), é apresentada como passível de ser
vencida. A possibilidade de vencê-la possui como elo duas perspectivas: o poder do homem
por um lado e o poder da ciência por outro. A ciência seria o meio que potencializa a
capacidade de ação do homem. Porém, é fundamental que se considere seriamente a
obediência e mesmo a sujeição às leis e regras da própria natureza. Aliás, se por um lado o
homem é intérprete, conhecedor e capaz de agir sobre a natureza, por outro lado, ele é seu
ministro e, portanto, servidor.
Bacon deixa claro através deste fragmento que entre os “ingredientes”: poder do
homem, ciência e domínio da natureza, não se pode ignorar a obediência e a submissão a ela.
Todavia, o que seria obedecer à natureza? Resignar-se perante ela? Ficar apenas
contemplando-a? Ao que nos parece não é isso. Obedecer à natureza na perspectiva do autor
inglês aponta para a necessidade de conhecer com profundidade suas leis, conhecer com
profundidade como as coisas e os fenômenos na natureza se comportam e respeitar os limites.
Nos termos do filósofo, “ninguém poderá governar ou transformar a natureza antes de havê-lo
devidamente notado e compreendido”. (II: 6). Observemos que para o filósofo inglês,
„compreender‟ precede „governar‟ e „transformar‟. Bacon lança base aqui para algo que
será retomado muito posteriormente, por exemplo, por Boaventura de Sousa Santos – no
terceiro capítulo trabalharemos esta questão. Lá veremos Santos afirmar que a nossa
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
16
racionalidade prioriza a transformação do real em detrimento da compreensão9. O argumento
é que na perspectiva da ciência moderna, transformar vem primeiro que compreender. E na
base do estabelecimento da ciência moderna se insere Bacon. Tal sentença não é plausível.
Conforme o aforismo citado há pouco, vimos que para Bacon, a compreensão antecede a ação
e a transformação. Até porque, assevera o Lord, “a natureza supera em muito, em
complexidade, os sentidos e o intelecto...” (I: 10). Voltaremos a esse aforismo (I: 10) mais
adiante.
Passemos ao aforismo (I: 4). Esse apresenta algumas características acerca da natureza
que interessam ao nosso estudo. Bacon, nesse fragmento, argumenta: “No trabalho da
natureza o homem não pode mais que unir e apartar os corpos. O restante realiza-o a própria
natureza, em si mesma”. A primeira característica que podemos extrair é que a natureza
possui capacidade própria de movimentar-se, de auto-realização, portanto, de trabalho. Temse aqui uma concepção da natureza como natura naturans10. Nos termos de Silvia Manzo, “en
la filosofía natural de Bacon el movimiento es una determinación primera y universal de la
materia”. (MANZO, 2008, p. 481). Acrescenta ela nesta mesma referência, “No hay realidad
natural sin movimiento, es por eso que la nueva filosofía debe indagar los principia moventia
rerum”11. A outra característica que, inclusive parece apontar para as discussões de Bacon
com o atomismo, é que a natureza é constituída de corpos. Diante dessa compreensão,
segundo Bacon, o homem, embora capaz de aliar o seu poder à ciência e conhecer a natureza
para dominá-la, possui uma delimitação, a saber, não pode fazer mais que unir e separar os
corpos. “Engendrar e introduzir nova natureza ou novas naturezas em um corpo dado, tal é a
obra e o fito do poder humano” (II: 1), afirma o inglês.
Os males, invenções ou benefícios que poderão ser extraídos da natureza vão decorrer
do conhecimento adequado ou não e da utilização que se faça no tocante a esses processos de
9
Cf. (SANTOS, 2007, p. 28).
Catherine Larrère, no segundo capítulo do seu Do bom uso da Natureza, intitulado Natureza e Humanismo,
apresenta distinção entre os termos „natura naturata‟ e „natura naturans‟. Referindo-se à natura naturata,
Larrère escreve que, “a natureza da experimentação é efetivamente a natura naturata, uma máquina que se pode
decompor em peças distintas. Mas o seu construtor é o homem. (...) é uma natureza feita” (LARRÈRE, 1997, p.
76). Já em relação à natura naturans, Larrère afirma que esta é o próprio objeto da história natural. Amparada
pela definição de Buffon, declara a autora francesa, “Buffon coloca-se pois resolutamente do lado da natura
naturans, de uma natureza activa, produtora, que é possível explicar sem recorrer a causas exteriores: A própria
Natureza é uma obra perpetuamente viva, um operário incessantemente activo, que sabe todas as artes, que
trabalhando a partir de si mesmo, sempre sobre o mesmo fundo, em vez de o esgotar, o torna inesgotável” (Idem,
p. 85). A natura naturata estaria do lado das coisas criadas, dos resultados da técnica, do lado dos objetos. Seria
a natureza criada, tem a ver com a exterioridade das formas visíveis. A natura naturans tem a ver com a
interioridade de um processo, seria a natureza que nos escapa, seria, portanto, a natureza complexa e superior aos
nossos sentidos e intelecto.
11
A nova filosofia deve indagar os princípios das coisas em movimento.
10
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
17
união e de separação dos corpos. Por mais que Bacon tenha como meta retirar o homem da
cômoda “ciência” contemplativa, por mais que ele tenha almejado uma ciência prática, eficaz,
atuante, progressiva e utilitária, contudo, o inglês não subtraiu do seu pensamento a questão
do limite. Para o inglês, explica Menna, “a utilidade está sempre subordinada à verdade (ou à
confiabilidade epistêmica)”. (MENNA, 2011, p. 226). A questão do limite na filosofia
baconiana caminha paralelamente ao tema do avanço da ciência e do domínio da natureza.
Atenhamos-nos ao que afirma o filósofo.
E a obra e o fito da ciência humana é descobrir a forma de uma natureza
dada ou a sua verdadeira diferença ou natureza naturante ou fonte de
emanação (estes são os vocábulos de que dispomos mais adequados para os
fatos que apresentamos). A estas empresas primárias subordinam-se duas
outras secundárias e de cunho inferior. A primeira é a transformação de
corpos concretos de um em outro, nos limites do possível; a segunda, a
descoberta de toda a geração e movimento do processo latente, contínuo, ...
(II: 1).12 Destaque meu.13
Percebe-se que por mais que o inglês tenha proposto intervenção e transformação na
natureza, estas só devem ser realizadas levando em consideração o limite do possível. E esse
limite do possível é dado pelo que se conhece. Há uma espécie de prudência no pensamento
baconiano. Essa prudência está vinculada à questão da compreensão e do conhecimento. Ou
se compreende adequadamente tomando como bússola o que se conhece das coisas com
profundidade, ou não se deve intervir, modificar, transformar e agir. Estes aspectos são
plausíveis conforme a filosofia de Bacon, apesar de serem relegados – ao que tudo indica –
por autores do meio ambiente como, por exemplo, Grün e Jonas.
Retomemos o aforismo (I: 10) que mencionamos há pouco. Neste trecho encontra-se a
seguinte noção de natureza: “A natureza supera em muito, em complexidade, os sentidos e o
intelecto. Todas aquelas belas meditações e especulações humanas, todas as controvérsias são
coisas malsãs. E ninguém disso se apercebe”. A declaração baconiana retoma de certo modo
12
Este aforismo na versão que utilizamos contém algumas notas para explicar determinados termos. Por
exemplo, naturezas (naturas), corpo (corpus), forma (formam), natureza naturante, (naturam naturantem),
processo latente (latentis processus), entre outros. Vamos às explicações. Naturas ou natureza significa ou
equivale à propriedade ou qualidade predicável de um corpo. Corpus quer dizer corpo concreto. Formam é a
condição essencial da existência de qualquer propriedade. Naturam naturantem ou natureza naturante em
oposição à (natura naturata) natureza naturada, é uma distinção de Averróis que passou à tradição escolástica.
Simplificadamente, a natureza naturante é o agente produtor e naturante é o produto. Natureza naturante é
expressão difundida durante a Renascença, indicando o processo ativo e dinâmico da natureza. Segundo os
tradutores, Bacon não usa a expressão oposta, natureza naturada. E latentis processus ou processo latente quer
dizer conjunto de operações internas, que em boa parte escapa aos sentidos, e que faz com que uma substância
passe de um estado a outro. Estas explicações podem ser conferidas em (BACON, 1999, p, 101) – Coleção Os
pensadores.
13
Silvia Manzo desenvolve discussão a respeito desses termos como, fonte de emanação, natureza naturante,
natureza naturada, corpo, etc. (Cf. MANZO, 2008, pp. 480-81).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
18
temas que já foram abordados em aforismos anteriores como, por exemplo, sentidos e
intelecto, mãos e mente, observação dos fatos e trabalho mental, e acrescenta a noção de que a
natureza é complexa e que devido a essa complexidade é superior aos sentidos e ao intelecto
humano. A natureza ultrapassa a capacidade de ação das mãos e da mente. Por isso Bacon
defendia o auxílio dos recursos tanto em relação ao trabalho experimental como os
instrumentos mecânicos, quanto em relação ao trabalho mental, por exemplo, a nova lógica
que ele estava propondo. Tudo isso tendo em vista o processo de interpretação da natureza,
mas considerando a esfera do possível.
Além da noção de que a natureza é complexa e superior aos sentidos e ao intelecto, o
(I: 10) apresenta também outro aspecto da filosofia de Bacon, que é sua crítica às filosofias
que o antecederam. De modo especial, a filosofia de Aristóteles e dos escolásticos. Quais
frutos a filosofia aristotélico-escolástica, segundo Bacon, teria fornecido para a humanidade?
Contribuiu para o conhecimento da natureza e o avanço da ciência? Uma resposta plausível,
de acordo com o inglês, é que a filosofia de Aristóteles cultivada pelos doutores da Igreja
elaborou somente belas meditações, inúmeras controvérsias e especulações, conhecimentos
meramente livrescos, nada além que o cultivo da cultura das palavras.
Sem dúvida alguma, assim como muitas substâncias são por natureza
sólidas, apodrecem e se corrompem em vermes, do mesmo modo o
conhecimento bom e correto tem a propriedade de apodrecer e dissolver-se
em incontáveis questões sutis, ociosas, insanas e... vermiculares... Esse tipo
de saber degenerado prevaleceu sobretudo entre os escolásticos, os quais,
providos de engenho afiado e robusto, e abundância de tempo livre, mas
pequena variedade de leituras, pois estavam encerrados seus entendimentos
nas celas de uns poucos autores (principalmente Aristóteles, seu ditador),
como o estavam suas pessoas nas celas de monastérios e colégios; (BACON,
2007, p. 49).
Para o Lord, a filosofia aristotélica converteu-se em teologia e o que produziu não
passou de “teias de aranha de saber, admiráveis pela finura do fio e da obra, mas sem
substância nem proveito”. (BACON, 2007, p. 49). Acerca da crítica à filosofia de Aristóteles,
no Novum Organum, declara ainda o filósofo:
Aristóteles estabelecia antes as conclusões, não consultava devidamente a
experiência para estabelecimento de suas resoluções e axiomas. E tendo, ao
seu arbítrio, assim decidido, submetia a experiência como a uma escrava
para conformá-la às suas opiniões. Eis por que está a merecer mais censuras
que os seus seguidores modernos, os filósofos escolásticos, que
abandonaram totalmente a experiência. (I: 63).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
19
A proposta de Bacon se dá na perspectiva contrária. Conforme mencionamos
anteriormente, para o autor do Novum Organum, as palavras são apenas imagens das coisas. O
que ele propõe é que se investigue com cautela, cuidado e permanência as coisas na realidade.
Dentro desta conjuntura ou processo a experiência se insere e exerce papel extremamente
relevante.
Debruçando-se sobre a crítica de Bacon à filosofia aristotélica, Paolo Rossi acrescenta:
“a ditadura cultural do aristotelismo condicionou por muito tempo, segundo Bacon, não
apenas o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico, mas também a possibilidade
de compreensão desse desenvolvimento”. (ROSSI, 2006, p. 170). Conforme a interpretação
baconiana, o conhecimento cultivado pela filosofia aristotélica não foi capaz de produzir
resultados úteis à vida cotidiana do homem. Como explicar isto? A lógica de Aristóteles inibe
a ousadia e a habilidade de se descobrir coisas novas, posto que a conclusão já está dada na
premissa geral. Por exemplo, “todo homem é mortal”. Essa é a premissa geral afirmativa.
“Sócrates é homem”. Premissa do meio. Conclusão, “logo, Sócrates é mortal”. Mirando a
lógica de Aristóteles, Bacon declara, “a lógica tal como é hoje usada mais vale para
consolidar e perpetuar erros, fundados em noções vulgares, que para a indagação da verdade,
de sorte que é mais danosa que útil”. (I: 12). Mais adiante, acentua com firmeza Bacon,
O silogismo não é empregado para o descobrimento dos princípios das
ciências; é baldada a sua aplicação a axiomas intermediários, pois se
encontra muito distante das dificuldades da natureza. ... O silogismo consta
de proposições, as proposições de palavras, as palavras são o signo das
noções. Pelo que, se as próprias noções (que constituem a base dos fatos) são
confusas e temerariamente abstraídas das coisas, nada que delas depende
pode pretender solidez. ... (I: 13-14).
Mais uma vez os temas „afastamento das coisas‟ e „dificuldades ou complexidade da
natureza‟ são retomados. Na verdade o objetivo de Bacon ao criticar a lógica aristotélica é
sinalizar para a necessidade de se reformular o conhecimento, sobretudo, o conhecimento da
natureza. Não é possível conhecer bem a natureza restringindo-se apenas às palavras, à
abstração e ao afastamento das coisas. Para Bacon, não é possível conhecer a natureza
somente contemplando-a. Nesse sentido nos ajuda Oliveira. Este escreve que aos olhos de
Bacon,
a função meramente contemplativa da filosofia e a ausência de uma tentativa
de compreensão que representasse um domínio da natureza são as principais
razões da estagnação, dos “destemperos do conhecimento” e de seus
procedimentos dogmáticos. (OLIVEIRA, 2002, p. 64).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
20
É preciso “que se penetre nos estratos mais profundos e distantes da natureza” ...(I:
18). A natureza é algo de difícil compreensão, pois possui segredos. A noção de que a
natureza possui segredos e é sutil pode ser encontrada em outros fragmentos do Novum
Organum, a exemplo do (I: 56) e do (I: 75). Pierre Hadot, ao discutir a questão dos segredos
da natureza em O Véu de Ísis, e posicionar-se afirmando que o objetivo da ciência moderna
seria de desvelar estes segredos, declara o seguinte:
Na época da eclosão da ciência nos séculos XVII e XVIII, ..., a ciência
moderna, herdeira nesse aspecto das ciências ocultas e da magia, dar-se-á
precisamente como fim revelar os segredos da natureza. Objetos da física
filosófica, mas também das pseudociências, na Antiguidade e na Idade
Média, eles se tornarão, de certo modo, o objeto das novas física,
matemática e mecânica. Francis Bacon irá declarar, por exemplo, que a
natureza só desvela seus segredos sob a tortura dos experimentos. (HADOT,
2006, pp. 51-52).
Conforme Hadot, a noção de que a natureza é possuidora de segredos passa pelas
Idades Antiga e Medieval, chega à Modernidade, más há uma questão: com o advento da
ciência moderna acredita-se e se propõe que os segredos da natureza sejam desvelados. Um
dos filósofos que aparece na discussão empreendida por Hadot no que se refere ao
descobrimento dos segredos da natureza é Bacon.
Numa explicação próxima à interpretação de Hadot, para quem o descobrimento dos
segredos da natureza é uma exigência de boa parte do pensamento do século XVII, – e nesse
contexto está inserido Bacon –, explica Menna:
apesar das proibições e reações existentes, um novo modo de pensar se
desenvolveu gradualmente no século XVII. (...) Progressivamente, os
segredos da natureza começaram a ser desvendados. Copérnico, Kepler e
Galileu não hesitaram em olhar os céus; Bacon, Newton e Boyle não
vacilaram em tentar fazer a natureza falar. (MENNA, 2011, p. 63).
Mediante as duas citações mencionadas acima, percebe-se que a ideia da natureza
como detentora de segredos ou de sutilezas é uma característica do pensamento moderno e
nesse contexto ela também se torna presente na filosofia de Bacon. No aforismo (II: 43) do
Novum Organum, por exemplo, embora este aforismo não seja o único no qual o filósofo
aborda o problema da sutileza da natureza, o inglês faz referência a dois tipos de instâncias
(Velicantes e Secantes)14, pois segundo ele, estas instâncias preveniriam o intelecto humano
14
Segundo a explicação de Bacon apresentada no aforismo (II: 43), instâncias “velicantes porque beliscam a
inteligência, e secantes porque dividem a natureza, pelo que também, às vezes, as chamamos de instâncias de
Demócrito”.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
21
da “admirável sutileza da natureza”. Essa questão da sutileza da natureza em Bacon é bastante
discutida por Silvia Manzo.
Segundo Manzo, “Bacon está convencido de que la ciencia debe buscar las entidades y
los movimientos mínimos o “sutiles” escondidos en la naturaleza” (MANZO, 2008, p. 463).
O atomismo, destaca a autora, contribui nesse sentido. Manzo escreve que a complexa ideia
de natureza e de “sutilidad” para Bacon, provavelmente é uma herança de Cardano. Conforme
a autora, para o último,
la “sutilidad” operaba a distintos niveles: en primer lugar, era un proceso
intelectual por el cual las cosas sensibles eran percibidas por los sentidos y
las cosas inteligibles lo eran por el entendimiento, mediante procesos no
exentos de dificultad. Pero la “sutilidad” también existía en las sustancias
mismas, en sus accidentes y representaciones (imágenes, especies, discursos,
escritos). (MANZO, 2008, pp. 463-464).
Com base na citação, percebe-se que para Cardano, a sutilidade pode ser encontrada
pelo menos em dois níveis. A sutilidade está no processo intelectual. Aqui se insere inclusive
a problemática em torno da apreensão das coisas. Sob esta perspectiva, os sentidos, o trabalho
de conceituação e de definição das coisas fazem parte. Não obstante, a sutilidade também está
presente nas coisas mesmas. Essa concepção, por exemplo, leva Bacon a defender que a
ciência tem como tarefa descobrir a sutilidade ou os segredos da natureza. Tendo em vista
essa função da ciência fazem-se preciso: o método, a pesquisa paciente, a observação dos
fatos, a recorrência aos experimentos, o trabalho colaborativo entre os pesquisadores e o uso
de uma linguagem clara, acessível, o mais afastada possível de enigmas e ambiguidades. É
preciso livrar a mente ou o intelecto dos ídolos15.
Caracterizando ainda a sutilidade que foi pensada por Cardano e que depois
comparece na filosofia de Bacon, escreve Manzo:
En las sustancias corpóreas la sutilidad se asociaba com la pequeñez, la
fluidez y la divisibilidad, mientras que en las sustancias incorpóreas se
vinculaba con los secretos de Dios y el orden del universo. (...) La sutilidad
le pertenece tanto al objeto como al sujeto sensible e inteligente. (...) Para
Bacon, al igual que para Cardano, la sutilidad se refiere a la extrema
pequeñez o imperceptibilidad (es decir, invisibilidad e intangibilidad).
(MANZO, 2008, p. 464).
15
Para Bacon existem quatro tipos de ídolos que interferem e dificultam a apreensão das coisas pela mente. No
segundo capítulo trabalhamos essa teoria baconiana dos ídolos. Porém, só para anunciar os quatro tipos de ídolos
elencados pelo inglês, são eles: ídolos da tribo, da caverna, do foro e do teatro. Estes ídolos são discutidos e
caracterizados pelo filósofo nos aforismos (I: 52), (I: 53), (I: 59) e (I: 61) respectivamente.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
22
A autora complementa afirmado que Bacon “Señala que la sutilidad de la naturaleza
supera ampliamente la sutilidad del entendimiento humano”. (Idem, p. 465). Esta concepção
de natureza se vincula, por exemplo, com o aforismo (I: 10) analisado acima. Manzo trabalha
ao lado da ideia de “sutilidad”, a noção de dissecação. Conforme a autora,
Bacon está convencido de que si nuestro entendimiento es guiado por el
método correcto, muchos de los secretos de la naturaleza se abrirán a la
investigación científica. Pero para que esto ocurra, la naturaleza debe ser en
primer lugar separada en sus partes más sutiles a través de un procedimiento
comparable con la disección atomística16 y la anatomía alquímica17.
(MANZO, 2008, p. 465).
Esta acepção de dissecação atomista que aparece em Bacon, segundo Silvia Manzo,
vem, sobretudo de Demócrito. A divisão do todo em partes para que depois se possa ter uma
boa compreensão do todo é extremamente importante para Bacon.
Isto porque, além de complexa e de difícil apreensão, retomando a ideia de que a
natureza é profunda e que não se pode conhecê-la adequadamente somente por argumentos,
palavras, abstrações e teorias, no (I: 24) Bacon escreveu: “a profundidade da natureza supera
de muito o alcance do argumento”. Percebe-se que novamente a ideia que está em voga é não
restringir-se somente ao estudo das palavras e ao discurso retórico – embora eles não devam
ser ignorados. A natureza é profunda e tentar “capturar” ou apreender esta profundidade exige
uma lógica que não despreza a experiência e a prática. Bacon, embora não deixe de
reconhecer a importância das letras, da retórica, da história e da teoria, contudo, chama a
atenção permanentemente para a importância da experiência no processo de interpretação e
conhecimento da natureza. Podemos perguntar, então, mas que tipo de experiência, segundo
Bacon, contribui com a ciência? Nos ajuda nessa compreensão Luciana Zaterca. No capítulo 3
de A filosofia experimental na Inglaterra do século XVII, Zaterca explica que,
A experiência, até a época de Bacon, era entendida como a simples
observação dos fenômenos naturais. Grosso modo ela servia para fornecer
exemplos, descrições e ilustrações dos processos naturais para as diferentes
teorias..., servia para corroborar uma posição científica que já havia sido
16
Ao se falar de disección atomista, Bacon tem em vista principalmente a filosofia de Demócrito, a maneira de
Demócrito investigar os átomos e a natureza particular, concreta das coisas. Nesse sentido, Manzo afirma que,
“Em efecto, Bacon frecuentemente asocia el descubrimiento de la sutilidad de la naturaleza con la estrategia
democritiana de la disección” (MANZO, 2008, p. 466). Tem a ver com a “disección do mundo físico”.
17
Quanto à anatomia alquímica, descreve Silvia Manzo, “La idea de “anatomía” de los alquimistas tiene un
sentido más amplio que la mera disección de seres vivientes, tal como podría ser entendida en el campo de la
medicina. No se la concibe sólo como una separación de las partes físicas de las sustancias químicas, sino
también como un conocimiento teórico de las fuerzas invisibles que actúan como trasfondo. La idea fundamental
de la anatomía alquímica se concentra en la distinción de las partes más generales que revelan las virtudes
invisibles de la naturaleza”. (Idem, p. 466).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
23
tomada. Bacon, ao contrário, irá transformar estas simples experiências em
algo sistematizado, se quisermos, em experimentos. (ZATERKA, 2003, p.
135).
Na tarefa de se interpretar e conhecer a natureza com eficácia, de acordo com a
citação, a experiência que conta tem a ver com algo sistematizado. A experiência seria,
portanto, sinônimo de experimento. Sobre a importância de se levar em conta a experiência
não rasteira nem superficial ou apressada, assenta o filósofo no aforismo (I: 56), “A verdade
não deve, porém, ser buscada na boa fortuna de uma época, que é inconstante, mas à luz da
natureza e da experiência, que é eterna”. A experiência frutífera precisa estar bem orientada e
atrelada à própria natureza. O ataque aqui mais uma vez se direciona à mera abstração.
No encalço de reunir acepções do que venha a ser natureza para o Barão de Verulam,
no (I: 51), a natureza pode ser dividida em partes, e é tida como detentora de segredos. Um
autor que se debruça sobre essa temática dos segredos da natureza conforme já tínhamos dito
é Pierre Hadot. Na sua interpretação em O véu de Ísis, Hadot explica que,
Os segredos da natureza são segredos por diferentes motivos. Quanto a
alguns podemos dizer que correspondem às partes invisíveis da natureza.
Algumas dessas partes são invisíveis porque estão muito longe no tempo ou
no espaço. Outras são inacessíveis por sua pequenez extrema, como os
átomos de Epicuro, (...) ou ainda porque se acham escondidas no interior dos
corpos ou da terra. (HADOT, 2006, pp. 51-52).
O trabalho que Hadot desenvolve em O véu de Ísis parece uma genealogia da noção
acerca da natureza, enquanto detentora de segredos. Hadot demonstra que esta noção já estava
presente nos gregos. Cita, por exemplo, o aforismo 123 de Heráclito que diz: “a Natureza ama
ocultar-se”. Mostra que ela passa pelos estóicos. Cícero teria dito que “coisas foram
escondidas e envelopadas pela própria natureza”. Que aqueles – os estóicos – teriam partido
da ideia de que, “a natureza possui portanto um duplo aspecto: ela se mostra aos nossos
sentidos na rica variedade do espetáculo que nos dão o mundo vivo e o universo e, ao mesmo
tempo, se oculta atrás da aparência, em sua parte mais essencial, a mais profunda, a mais
eficaz”. (HADOT, 2006, pp. 49-54). Segundo Hadot, a noção tal como descrita na citação,
concebida, portanto, no período helenístico, “dominou durante quase dois milênios as
pesquisas sobre a natureza, a física, [e] as ciências naturais”, (HADOT, 2006, p.54), chegando,
inclusive, ao início da época moderna. Ainda conforme a explicação do autor de O véu de Ísis,
Do século XV ao século XVII, essa tradição irá se perpetuar: os títulos das
obras fazendo alusão aos segredos ou às maravilhas da natureza serão
extraordinariamente numerosos. (...) a ciência moderna, herdeira nesse
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
24
aspecto das ciências ocultas e da magia, dar-se-á precisamente como fim
revelar os segredos da natureza. (...) Francis Bacon irá declarar, por
exemplo, que a natureza só desvela seus segredos sob a tortura dos
experimentos. E Pascal dirá: “Os segredos da natureza são ocultos. (...)”.
(HADOT, 2006, p. 55).
A ideia de que a natureza possui segredos, bastante veiculada no contexto da
Renascença e dos séculos XVI e XVII, foi bastante admitida no pensamento baconiano. No
Novum Organum, por exemplo, essa ideia pode ser encontrada no Prefácio, no aforismo (I:
51) que mencionamos há pouco e nos aforismos (I: 89) e (I: 98). Percebe-se por meio das
citações de Hadot que a atmosfera na qual se constituiu o pensamento baconiano “exalava”
bastante a ideia da natureza como portadora de segredos. Que faz Bacon? Sua tentativa é de
construir um pensamento que admita a existência de segredos na natureza e de dificuldades no
processo de cognição da mesma, por um lado. Mas por outro, um pensamento que permita
indagar a natureza, que permita pesquisá-la, portanto, que permita conhecê-la. Nessa
perspectiva, o filósofo acomoda dois pontos extremamente importantes: de um lado
conhecimento e domínio da natureza. Do outro lado, obediência e sujeição à última.
A ideia de que não se domina a natureza se não se submetendo a ela, tal como exposta
por Bacon no (I: 3), é retomada pelo filósofo no penúltimo aforismo do livro I do Novum
Organum, a saber, o aforismo (I: 129). Este é um aforismo longo e nele o inglês discute várias
coisas. Entre elas podem ser pontuadas: a) A valorização dos inventos. Conforme destacamos
logo no início da nossa análise, para Bacon, a relação entre conhecimento da natureza e a
invenção de instrumentos e recursos que melhorem a vida humana é de bastante estreiteza. b)
O filósofo discute a ideia que “o homem é Deus para o homem”. Ou seja, o homem tem a
incumbência, mediante a pesquisa não apressada e permanente a respeito das coisas da
natureza, de descobrir caminhos cujos fins apresentem como consequências, resultados que
tornem mais segura, confortável e feliz a vida do seu semelhante – a humanidade. c) Outro
ponto acentuado pelo inglês neste fragmento são as descobertas da imprensa, da pólvora e da
agulha de marear. Bacon considera que a descoberta destas coisas “mudaram o aspecto e o
estado das coisas em todo o mundo”, sobretudo, nas letras, na arte militar e na navegação – o
que significa, para ele, sinônimos de progresso. d) Integra ainda juntamente com os demais
pontos elencados acima, a menção que o filósofo faz concernente aos três gêneros de ambição
que os homens possuem. (i) Ampliar seu próprio poder em sua pátria. (ii) Estender o poder e
o domínio de sua pátria para todo o gênero humano. E, por último, (iii) instaurar e estender o
domínio do gênero humano sobre o universo.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
25
Dentre as três ambições citadas no parágrafo anterior, referindo-se a ambição (iii),
assevera Bacon, “mas se alguém se dispõe a instaurar e estender o poder e o domínio do
gênero humano sobre o universo, a sua ambição (se assim pode ser chamada) seria, sem
dúvida, a mais sábia e a mais nobre de todas”. (I: 129). Esse é um trecho que se retirado ou
lido isoladamente ignorando a totalidade do aforismo abre janela para que se construa uma
imagem de Bacon que não corresponde à sua filosofia. Parece exagero de Bacon ao defender
um domínio sobre o universo. Mas, analisando o texto, percebe-se que o filósofo está
tentando fazer com essa inferência é arrancar a atividade de pesquisa de situações cômodas.
Não dá para se conformar apenas com a assertiva de que a natureza “ama ocultar-se”, é
envolvida por segredos, que o homem perdeu o conhecimento total da natureza em virtude do
pecado, enfim. Se o homem caiu, uma porta para se levantar-se parece ser a tentativa de
recuperar o conhecimento da natureza. Reformar o conhecimento seria em última instância
recuperar o homem do seu estado de queda, ou pelo menos, de abrir o caminho para tal.
A ideia baconiana de se instaurar e estender o poder humano sobre todo o universo
não é um exagero do filósofo, nem tão pouco, uma defesa cega do progresso técnicocientífico. Basta continuar a leitura do referido fragmento – isto é, do aforismo (I: 129) – para
nos depararmos com a seguinte ponderação do filósofo – ponderação essa que, inclusive
mantém nexo com o (I: 3) analisado anteriormente –: “o império do homem sobre as coisas se
apóia unicamente nas artes e nas ciências. A natureza não se domina, senão obedecendolhe”. (I: 129), itálico meu. Se Bacon considera importante estender o domínio do homem
sobre o universo tendo como mediadoras as artes e as ciências, esse domínio, todavia, se
“exerce” por meio do conhecimento e da reconstrução na perspectiva inclusive da imitação da
natureza. De modo algum seria um domínio coadjuvante à destruição da última.
Segundo argumenta Bernardo de Oliveira ao discutir a relação baconiana entre ciência
e domínio da natureza, Bacon admite a ciência como caça e a natureza como uma floresta
selvagem. Não obstante, acrescenta Oliveira, “seja qual for a imagem que se adote para o
desbravamento da natureza-floresta, vale ressaltar que seu domínio dependerá da submissão
às leis e comportamentos que forem sendo descobertos”. (OLIVEIRA, 2002, p. 158). Oliveira
deixa patente que para o autor do Novum Organum, o caminho para se dominar a natureza é
conhecer e sujeitar-se às suas leis. Outro ponto posto em negrito por Oliveira – e que tem a
ver com a ideia baconiana posta no (I: 129), do homem como sendo “Deus” do próprio
homem‟ –, consiste no seguinte: “ao desenvolverem o conhecimento-domínio, os homens
imitam e se eqüivalem a Deus, pois recriam a natureza (ou uma segunda natureza), num
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
26
processo que é libertador não só dos homens, mas da própria natureza”. (OLIVEIRA, 2002, p.
134). Essa discussão volta a tocar nos dois termos mencionados e já distinguidos, por
exemplo, por Catherine Larrère. Trata-se da natura naturata e natura naturans.
A abordagem de Oliveira nos permite compreender que, para Bacon, o homem ao se
debruçar sobre a natureza “criadora”, coerente, hierárquica e mantenedora de si mesma – a
natura naturans –, finda por meio da técnica e da ciência – num processo de imitação da
primeira – criando uma segunda natureza. Ou seja, uma natureza „objetificada‟, uma natureza
que seria a natura naturata. Esta segunda natureza não seria para a destruição da primeira,
mas uma espécie de auxílio. Aprender com a natureza torna possível criar objetos semelhantes
e, assim, ao invés de ficar o tempo inteiro importunando ou interferindo na natureza, utiliza-se
os objetos inventados a partir dela. A Nova Atlântida ilustra essa concepção do filósofo. A
Casa de Salomão era um instituto de pesquisa cuja finalidade seria pesquisar a natureza,
descobrir seus possíveis modos de funcionamento, inventar objetos, recursos que
melhorassem a vida dos bensalitas18, mas sem entrar em desarmonia nem com os demais
homens – vemos que há em Bensalém um respeito pelo que podemos denominar de
diversidade cultural ou alteridade – nem com o meio natural. A relação entre homem, técnica,
ciência e natureza, conforme a Nova Atlântida, não é de desarmonia. Voltando e fechando
aqui a análise de Oliveira, é possível dizer que, para Bacon, o domínio sobre a natureza, ao
invés de destrutível ou desfavorável a ela, tem como meta atingir duas finalidades: libertar o
homem e dar “descanso” à natureza.
Ainda de acordo com o (I: 10), a natureza é considerada complexa, mas não só. A
natureza também é tida como superior aos sentidos humanos e ao intelecto. Sob esta
perspectiva é plausível afirmar que a natureza não é concebida por Bacon como um “ser”
menor, frágil, fêmea e que por isso deva ser subjugada e torturada pelo homem. Consideramos
fundamental destacar este aspecto porque conforme veremos adiante, os que concebem a
filosofia baconiana um dano ao meio ambiente19 como, por exemplo, Carolyn Merchant,
relegam essa face do pensamento baconiano e sustentam que o inglês concebe a natureza
como sendo frágil em relação ao homem, fêmea que deva ser brutalmente dominada.
18
Bensalitas porque habitantes de Bensalém. O último nome refere-se à ilha descrita por Bacon na Nova
Atlântida, governada por um rei chamado Solamona. Entre as obras desse rei preocupado com o bem e a
felicidade de sua gente, a mais proeminente “Foi a fundação e instituição de uma ordem ou sociedade a que nós
chamamos Casa de Salomão, que consideramos a mais nobre fundação que jamais houve sobre a terra, e é o farol
deste reino”. (BACON, 1999, p. 236). Bensalém é adjetivada como sendo de terra plana, coberta de bosques,
cidade aprazível, pequena, porém, bem construída. (Cf. BACON, 1999, p. 223).
19
O meio ambiente é definido por G. Tyler Miller Jr. como sendo “tudo o que afeta um organismo vivo
(qualquer forma de vida única)”. (MILLER, 2012, p. 3).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
27
Se por um lado Bacon concebe o homem como ministro e intérprete da natureza, por
outro lado, compreende que a última além de possuir ordem e ser complexa, possui também
capacidade de auto-realização, portanto, de movimentar-se. A natureza não é estática. A
natureza contém funcionalidade própria. O que pode fazer o homem frente à complexidade,
ordenação e trabalho ou movimentos da natureza? Conforme Bacon, “no trabalho da natureza
o homem não pode mais que unir e apartar os corpos. O restante realiza-o a própria natureza,
em si mesma”. (I: 4). Ressaltar, portanto, que para Bacon a natureza é complexa, superior aos
sentidos e ao intelecto, que a natureza é processo contínuo, e que o homem não pode interferir
nela sem antes conhecer com profundidade, ou ainda, sem o objetivo de melhorar a vida da
alteridade, constitui objetivo da reflexão que desenvolvemos nesse tópico. Nesse sentido,
consideramos que a filosofia baconiana contribui com o pensar a relação „homem-técnicaciência-natureza‟. Constitui deslealdade intelectual e afastamento dos textos de Bacon,
sustentar que o filósofo defendeu a dominação da natureza numa espécie de balança que
favoreça mais o homem e o desenvolvimento técnico-científico e favoreça menos a natureza.
Não há como o homem deixar de se relacionar e de agir sobre a natureza. Todavia, não se
pode perder de vista os respectivos aforismos: (I: 3) e (I: 129). Em ambos, Bacon não
titubeou. “A natureza não se domina senão obedecendo-lhe”. No tópico a seguir
discutiremos o tema da natureza, tomando como texto de análise, A sabedoria dos antigos.
1.3 A Natureza com base na Sabedoria dos Antigos
Por que abordar o tema da natureza recorrendo a alguns mitos como, por exemplo, Pã,
Celo e Proteu? Destacamos pelo menos duas razões. A primeira, porque não estamos
convencidos de ser verdade o posicionamento que admite Bacon como um autor aistórico20.
Tal posicionamento é sustentado por Mauro Grün. Conforme mostraremos no terceiro
capítulo dessa dissertação, Grün afirma que para Bacon o passado seria uma espécie de
“vazio”, nada dele se aproveita, portanto, deve ser criticado e superado completamente. A
segunda razão não muito distante da primeira, seria mostrar que o inglês escreveu uma obra –
A sabedoria dos antigos – na qual se dedicou primordialmente à interpretação e análise de
mitos. Assim, o filósofo quis mostrar que os mitos, as fábulas dos antigos não são desprovidas
de razão nem de ensinamentos. Por meio desses mitos Bacon discute valores, temas como,
natureza, ciência, ética. Portanto, não resta dúvida de que para o Barão de Verulam, o passado
20
Conceito usado por Mauro Grün, no primeiro capítulo de Em busca da dimensão ética da educação
ambiental,que nas palavras dele, “trata-se do processo de esquecimento da tradição”. (GRUN, 2007, p. 29).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
28
não é um vazio do qual nada se possa retirar. O que não se pode fazer é tomar os autores
antigos, principalmente Aristóteles, como os únicos detentores da verdade ou ainda
autoridades sob as quais devamos ficar submissos. Não há dúvida de que existe uma
sabedoria dos antigos. Mesmo Aristóteles que é fortemente criticado por Bacon não deixa de
ser reconhecido pelo último. Aliás, a moderação e o caminho do meio propostos pela ética
aristotélica também comparecem na filosofia baconiana.
A exposição das fábulas seguirá a seguinte ordem. Primeiro, analisaremos o mito de
Pã. Nessa análise, chamaremos a atenção para o debate que a partir desse mito envolve as
duas tendências que se debruçam sobre a origem da natureza: a teológica e a atomista. Em
seguida será analisado o mito de Celo. Veremos que nesse mito, a natureza parece ser vista
como a totalidade da matéria. Por fim, analisaremos o mito de Proteu. Nele a natureza é
apresentada como o abrigo ou o espaço dos animais, das plantas, dos minerais, etc.. Por meio
desse mito, Bacon discute o tema da matéria e apresenta uma concepção de natureza que é
ignorada em algumas abordagens ligadas ao tema do meio ambiente. Que concepção de
natureza é essa? Que a natureza não é algo inferior, frágil, uma fêmea que o homem deva
dominar como defende, por exemplo, Carolyn Merchant – um dos referenciais teóricos de
Grün. Conforme Bacon, a natureza é complexa, processual e não dada espontaneamente.
Vamos à interpretação baconiana do mito de Pã. Sob as características de Pã, Bacon
considera que os antigos, podemos pôr nesses termos, tiveram uma boa sacada para descrever,
tematizar e “definir” a natureza. Primeiro, porque não se tem certezas a respeito da origem de
Pã: não se sabe ao certo se ele era filho de Mercúrio, ou, de Penélope e seus pretendentes, ou
ainda de Júpiter e Híbris. Segundo, porque Pã é um deus antiquíssimo.
Na exposição do filósofo, entre as várias características que os antigos atribuíam a Pã,
algumas delas se destacaram. Por exemplo, Pã era tido como o deus dos caçadores, dos
pastores e dos camponeses em geral. Pã era o deus que governa as montanhas. Sob esses
traços, a natureza aparece como aquela que reúne animais, solo, plantas, a natureza aparece
como aquela que coordena as atividades a exemplo da caça, do labor no campo, do pastoreio
de animais, etc.
Seguindo Pã como analogia à natureza, Bacon escreve, Pã “como a própria palavra
diz, representa e anuncia a Universalidade das coisas, ou Natureza”. (BACON, 2002, p. 33).
Temos, assim, uma definição para a natureza. Qual seja? A natureza é a universalidade das
coisas. A natureza abarca a universalidade dos fenômenos e propicia a condição, ou as
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
29
condições, para que as coisas possam „vir a ser‟. Japiassu admite um mérito de Bacon, o fato
de o inglês considerar “a Natureza como uma unidade na multiplicidade” (JAPIASSU, 1995,
p. 22). Destaca Japiassu, “para que possamos encontrar as “unidades” verdadeiras, diz Bacon,
devemos seguir dois caminhos: a) o caminho ascendente, que vai da experiência aos axiomas
(princípios ou hipóteses); b) o caminho descendente, que vai dos axiomas às novas
inovações” (JAPIASSU, 1995, p. 22). Conclui Japiassu, é dessa maneira que se conhece a
natureza e não simplesmente imaginando-a. Voltando a parábola de Pã, completa o filósofo:
sobre sua origem há e só pode haver duas opiniões: pois a Natureza é, ou a
progênie de Mercúrio – ou seja, da Palavra Divina, tese que as Escrituras
Sagradas estabeleceram para além de qualquer dúvida e foi perfilhada pelos
filósofos mais sublimes; ou provém das sementes das coisas, misturadas e
confundidas. (JAPIASSU, 1995, p. 33).
Através dessa citação Bacon problematiza duas perspectivas de explicações para o
surgimento ou gênesis da natureza. O desdobramento dessas explicações vão desembocar: ou
na teologia judaico-cristã, ou, no atomismo materialista dos gregos. Se se perguntar, por
exemplo, como os gregos souberam dos mistérios hebraicos? A resposta de Bacon é que,
provavelmente, os egípcios serviram de intermédio.
Do ponto de vista teológico, o fundamento que explica a origem da natureza encontrase nas Escrituras Sagradas. Por meio delas, se extrai que a natureza possui gênese fora de si
mesma. A natureza é a obra do artífice perfeito, Deus. Nessa vereda, a natureza é considerada
como não sendo eterna, pois teve um marco inicial, um instante a partir do qual começou a
existir. Esse marco inicial caracteriza-se pela decisão tomada por Deus, mediante a qual,
utilizando a Palavra no tom imperativo do haja, ajuntem-se, produza, faça-se, Ele “criou os
céus e a terra” (Gn. 1.1), formou os astros e estrelas, os oceanos ou mares, os diversos tipos de
vegetações e animais, exceto o homem num primeiro momento21.
Escrevemos „exceto o homem num primeiro momento‟ porque este fora criado de
modo completamente distinto. Parece que no conjunto da criação Deus pusera sobre o homem
um zoom peculiar, um lugar de destaque, uma posição de privilégio. Conforme as Escrituras,
somente posterior à criação dos astros luminosos, da porção seca chamada terra, do
ajuntamento das águas denominado mares, das ervas, árvores, frutos, aves, peixes, gado,
répteis, etc., foi que se deu a criação do homem. E nesse sentido, nos auxilia Giovani Pico,
“no homem, todavia, quando este estava por desabrochar, o Pai infundiu todo tipo de
21
Confira Gn. Capítulo 1, versículos do 1 ao 25.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
30
sementes, de tal sorte que tivesse toda e qualquer variedade de vida”. (PICO, 1999, p. 54).
Continua Pico, “o homem, na verdade, é reconhecido e consagrado, com plenitude de direitos
por ser efetivamente um portentoso milagre”. (PICO, 1999, p. 55). Sob a ótica judaico-cristã,
o homem, depois de Deus, ocupa posição bastante acentuada.
O aspecto que torna peculiar a criação do homem, segundo a explicação teológica das
Escrituras pode ser verificado no primeiro capítulo do Gênesis, versículo 26. Lá, a Palavra
enunciada por Deus no ato da criação do homem perde o tom imperativo do ajuntem-se, haja,
produza, faça-se e assume um caráter de convite, participação, reciprocidade. Vejamos: “e
disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine
sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre
todo réptil que se move sobre a terra”. (Gn. 1.26). Logo se vê que o homem não só fora criado
de modo distinto, como também assume a posição de imagem e semelhança de Deus. O
homem passa a ser uma “réplica”, um quadro, algo que se remete a Deus.
De acordo com o verso bíblico mencionado acima, compreende-se que o homem não
só fora criado posteriormente às demais coisas, como recebera do próprio Deus a incumbência
de dominá-las. Ao trazer o homem à existência, reforçando mais uma vez o caráter de
superioridade deste sobre as demais criaturas, o Criador lhe deu a seguinte ordem: “frutificai,
e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, e sobre as
aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra”. (Gn. 1.28). Olhando por esta
fresta, escreve Pico:
Já o Supremo Arquiteto e Pai, Deus, tinha construído, com as leis de sua
arcana sabedoria, essa moradia terrestre da divindade, esse augustíssimo
templo que, ora, contemplamos; havia decorado a região supraceleste com os
espíritos, fizera habitar nos orbes etéreos as almas imortais; povoara as zonas
excretórias e feculentas do mundo inferior com toda espécie de animais. Não
obstante tudo isso, ao término do seu labor, desejava o Artífice que existisse
alguém capaz de compreender o sentido de tão grande obra, que amasse sua
beleza e contemplasse a sua grandiosidade. (PICO, 1999, p. 52).
Consoante a citação de Pico, Deus cria as coisas, mas se dá conta de que falta alguém,
falta um “ser” que seja capaz de compreender o sentido de tudo isso. Qual a finalidade de tão
grandiosa obra se não há quem a reconheça como tal? Para que tais feitos se não há quem os
contemplem, se não há que os admirem? Tudo está no seu devido lugar. Os espíritos, os
animais, a localização das coisas. Porém, é preciso que exista um ser distinto, capaz de
compreender o sentido e a grandiosidade de toda essa arquitetura e engenharia de Deus. Que
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
31
faz o Artífice divino? Cria o homem. Nessa trilha, assevera Pico, que ao criar o homem, o
Artífice lhe falou da seguinte maneira:
A ti, ó Adão, ... te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes
inspecionar, daí, de todos os lados, da maneira mais cômoda, tudo que
existe. Não te fizemos nem celeste nem terreno, mortal ou imortal, de modo
que assim, tu, por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria imagem,
segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua glória, possas retratar a
forma que gostarias de ostentar. (PICO, 1999, p. 54).
Eis, portanto, o lugar e a posição peculiar do homem na perspectiva da criação
judaico-cristã. Esse destaque do homem como centro e dominador das coisas conforme a
tendência teológica é trabalhado também por Keith Thomas, no primeiro capítulo do seu O
homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais.
Keith escreve que “na Inglaterra dos períodos Tudor e Stuart, a visão tradicional era
que o mundo fora criado para o bem do homem e as outras espécies deviam se subordinar a
seus desejos e necessidades” (THOMAS, 2010, p. 21). No entanto, ressalta ele, os teólogos
que compunham essa visão explicavam que antes da queda, no Éden, homens e bestas
conviviam pacificamente. “Os homens provavelmente não eram carnívoros e os animais eram
mansos” (THOMAS, 2010, p. 22). O domínio do homem sobre os demais podia ser
considerado fácil e inconteste. A partir da queda essa relação sofreu mudanças radicalmente.
Referindo-se à explicação dos teólogos tradicionais do início da modernidade, continua
Thomas:
Ao rebelar-se contra Deus, o homem perdeu o direito de exercer um domínio
fácil e inconteste sobre as outras espécies. A terra degenerou. Espinhos e
cardos nasceram onde antes existiam apenas frutos e flores (Gênesis, III, 18).
O solo fez-se pedregoso e árido, tornando necessário um trabalho árduo para
o seu cultivo. Apareceram pulgas, mosquitos e outras pestes odiosas. Vários
animais livraram-se da canga, passando a ser ferozes, guerreando uns com os
outros e atacando o homem. Até mesmo os animais domésticos deviam
agora ser forçados à submissão (THOMAS, 2010, p. 22).
Embora a queda do homem tenha provocado uma significativa mudança na relação
entre o homem e o meio, de acordo com o posicionamento dos teólogos mencionados por
Keith Thomas, o homem não perdeu a posição de comando. O comando agora não será mais
de modo fácil, inconteste, mas permanecerá com o homem. Veio o Dilúvio como uma forma
de punição em virtude da desobediência ao Criador. Porém, aponta Thomas, “após o Dilúvio,
Deus renovou a autoridade do homem sobre a criação animal” (THOMAS, 2010, p. 22). Em
seguida ele cita Gênesis, 9.2-3, onde fica claro que Deus re-estabelece a incumbência de
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
32
comando ao homem não só em relação aos demais seres como os animais, aves, peixes e tudo
que se movimenta sobre a terra, como igualmente à própria erva verde. Tudo estava e
permanece à disposição do homem.
Se insere também nessa discussão em torno do homem enquanto aquele que ocupa o
centro e tem poder de comando sobre as demais coisas, a autora francesa Catherine Larrère.
Segundo a francesa, essa posição de destaque ocupada pelo homem deve-se ao cristianismo e
à tradição bíblica cultivada pelo mesmo. Nesse sentido, assevera Larrère,
Com o cristianismo e a tradição bíblica que ele continua, a introdução de um
novo princípio ético parece acompanhada por uma desvalorização da
natureza, susceptível de pôr fim ao naturalismo antigo. A natureza já não é
um cosmos, deixa de ser eterna [tal como aparece na concepção atomista],
nem sequer é engendrada, é criada. (...) A natureza é um ídolo que o
cristianismo derruba, faz dela uma coisa que nas mãos de Deus é perecível e
fonte de corrupção. (...) Feito à imagem de Deus, o homem é separado da
natureza. (LARRÈRE, 1997, p. 67).
Voltando à argumentação de Thomas, este afirma que as explicações teológicas
predominantes no começo da modernidade se fundamentavam tanto nas Escrituras quanto na
filosofia clássica. Por isso Bacon dialogou não só com a tradição filosófica, com os problemas
postulados pela filosofia natural como também com a tradição teológica. Essas duas frentes –
a teológica e a filosófica – explica Maria das Graças de Souza, em seu A filosofia da natureza
de Bacon: a herança democritiana, se constituíram interlocutores do filósofo setecentista.
Apresentamos, portanto, a caracterização e o discurso assumido pela tendência teológica.
A segunda tendência possível de explicação para a origem da natureza a partir de Pã é
a atomista. Na visão dessa corrente, a ideia de que a natureza fora criada pela Providência
Divina, explica de Souza, não é admitida. Para os atomistas, escreve a autora paulistana,
a condição sine qua non da formação do mundo pelas diversas configurações
dos átomos é a existência do vazio. O mundo é, pois, formado de átomos e
de vazio, no qual os átomos se movimentam, e assim, se entrechocam
mutuamente, num movimento perpétuo dos corpúsculos no vazio. (SOUZA,
2008, p. 21).
A inserção da explicação atomista na filosofia de Bacon não se restringe somente ao
mito de Pã, quando Bacon escreve que a natureza provém das sementes das coisas, misturadas
e confundidas. Segundo Souza, essa discussão está presente igualmente nas fábulas de
Cupido, Celo, Caos, dentre outras que são interpretadas por Bacon em A Sabedoria dos
antigos. Não distante do posicionamento de Maria das Graças de Souza, Silvia Manzo
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
33
também destaca que a presença do atomismo é inegável na filosofia baconiana. O atomismo,
sobretudo de Demócrito, serve de modelo para o filósofo inglês, de como voltar-se para a
investigação das coisas mesmas. Para Bacon, declara Manzo, “la filosofía de Demócrito es
celebrada frecuentemente como el mejor acercamiento posible a la naturaleza” (MANZO,
2008, p. 465).
Voltando ao paralelo entre Pã e a natureza, duas noções são destacadas por Bacon.
Uma é a noção de caçada, a ideia de que “toda ação natural, todo movimento e todo processo
da natureza nada mais são que uma caçada” (BACON, 2002, p. 36). Portanto, uma busca, uma
procura. Por isso o filósofo admite razoabilidade dos antigos ao associarem Pã à natureza,
caracterizando-o como deus dos caçadores. A outra, extremamente interessante e capaz,
inclusive de legar ensinamentos, atrelada à ideia de Pã enquanto deus dos camponeses, está a
noção de que os camponeses “vivem mais de acordo com a natureza, enquanto, nas cidades e
cortes, a natureza é corrompida pelo excesso de cultura” (BACON, 2002, p. 36). A equação
aqui parece mostrar uma relação mais estreita e equilibrada entre os camponeses e a natureza
do que em relação ao modo de vida urbano. Apesar do Lord inglês portar a fama de defensor
da tortura à natureza, ainda na primeira metade do século XVII, o inglês chamava a atenção
para a relação problemática e, possivelmente, de desvantagem para a natureza frente o modo
de vida e “o excesso de cultura” em voga nas cidades e nas cortes. Conforme a citação da
página anterior, Bacon parece sinalizar para uma noção que será trabalhada por Rousseau no
século XVIII, a saber, que a civilização corrompe o homem e a natureza. Os excessos são
constantemente alvejados pela crítica baconiana.
Segundo Rossi, é plausível conceber uma relação entre Pã, a prática, a experiência, a
perfeição da natureza, a descoberta e as invenções de coisas úteis à vida. Nas suas palavras,
a habilidade de Pã em localizar Ceres, procurada em vão por todos os
deuses, ensina que a invenção das coisas úteis à vida não deve ser esperada
dos filósofos abstratos, simbolizados pelos deuses maiores, mas apenas de
Pã, isto é, da experiência e do conhecimento das coisas do mundo. (ROSSI,
2006, p. 247).
Nesse sentido, percebe-se que a fonte capaz de fazer jorrar invenções e conhecimentos
úteis à vida é a própria natureza, mediante a experiência, a prática, a caçada. Encontra-se
nesse trecho uma crítica ao saber meramente abstrato, professoral, contemplativo, livresco e
desarraigado da experiência e da vida prática. Essa crítica permeia todo o pensamento de
Bacon. A alternativa e contramão para esse tipo de saber contemplativo e abstrato é voltar-se
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
34
para “as tentativas pacientes de folhear as páginas do livro da natureza” (ROSSI, 1992, p. 65).
Estudar e buscar conhecer com profundidade a natureza constitui-se o foco maior do autor do
Novum Organum.
Ao discutir a natureza valendo-se de alguns mitos, Bacon recorre a mais um. Desta
vez, Celo. Manzo declara que “en la fábula de Cielo, Bacon describe otras características de
los orígenes del mundo. (...) El mito de Cielo habla de los diversos períodos de los Orígenes
del mundo que van desde el Caos hasta el presente”. (MANZO, 2008, p. 473). Conforme o
mito, Celo era pai de Saturno e avô de Júpiter. Era considerado o mais antigo dos deuses e
teve seus genitais cortados pelo filho. Saturno, por sua vez, teve prole numerosa, porém
devorava os filhos logo após o nascimento. Escapou a esse destino apenas Júpiter, pois assim
que ficou adulto, “tomou posse do reino após encerrar o pai no Tártaro, não sem antes
amputar-lhe os órgãos da geração com a mesma harpe que Saturno vibrara contra Celo e
arremessá-los ao mar. Deles nasceu Vênus.” (BACON, 2002, p. 50). O mesmo mal que
Saturno praticou contra Celo seu pai recebera de volta, do filho Júpiter.
Analisando a interpretação desta fábula, Bacon explica que, Celo significa a
concavidade ou circunferência – forçando um pouco os termos, a totalidade e o limite – que
encerra toda a matéria. Nos termos de Manzo, “Cielo representa el espacio cóncavo que
comprende a la materia”. (MANZO, 2008, p. 473). Saturno, por sua vez, nas palavras de
Souza, “é a própria matéria, que pelo fato da matéria permanecer sempre a mesma na mesma
quantidade, por assim dizer privou seu pai de gerar coisas novas”. (SOUZA, 2008, p. 23). Em
relação ao mito de Celo, escreve de Souza,
As agitações e movimentos imperfeitos produziram no início estruturas
imperfeitas, tentativas de mundos (isto é claramente Lucrécio)[acrescenta
ela]. Com o passar do tempo, surgiu um arcabouço, capaz de sustentar sua
forma. A primeira época, marcada por dissoluções, é a de Saturno, que
devorava seus filhos. A segunda época, de Júpiter, pôs um fim às mudanças
contínuas. Com o nascimento de Vênus, vem a época da concórdia.
(SOUZA, 2008, p. 23).
Eis algumas analogias possíveis. A primeira, diz respeito ao paralelo entre Celo e a
natureza, na medida em que, assim como Celo, a natureza é tida como a universalidade das
coisas, ou ainda, a totalidade da matéria. Segunda, o paralelo entre Saturno e os átomos
constituintes da própria matéria, mas em permanentes processos e transformações. Pois,
argumenta Bacon, o reino de Saturno simboliza as “frequentes dissoluções e curta duração das
coisas, [por isso] foi chamado o devorador dos filhos” (BACON, 2002, p.51). Saturno ao que
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
35
tudo indica sinaliza para o momento em que os átomos ainda não se configuraram
completamente. Terceira, Júpiter e o instante em que os átomos se configuram. Segundo
Bacon, Júpiter, por sua vez, simboliza aquele “que pôs termo às mudanças contínuas e
transitórias, arremessando-as para o Tártaro” (BACON, 2002, p. 51). Júpiter parece apontar
para: na corrente teológica, a ação criadora do Supremo Artífice; e na corrente atomista, o
momento ou instante no qual os átomos se configuraram dando forma à matéria.
Referindo-se ao mito de Celo, Bacon escreve que:
A fábula parece um enigma referente à origem das coisas, não muito diverso
da filosofia ensinada mais tarde por Demócrito. Este, mais abertamente que
qualquer outro, postulou a eternidade da matéria e ao mesmo tempo negou a
eternidade do mundo. Nesse ponto, aproximou-se um pouco da verdade
proposta pela narrativa divina, que declara existente antes das obras dos seis
dias a matéria informe. (BACON, 2002, p. 50)
À luz dessa exposição, percebe-se Saturno como representando a matéria eterna, mas
informe. E Júpiter representando a ordem, a forma, a estética das coisas. Por meio dessa
fábula, Bacon novamente abre discussão entre as duas tendências explicativas da natureza
conforme já mencionamos: a criacionista e a atomista. O fio condutor entre o mito de Pã e o
de Celo, pode-se afirmar, é a abordagem dessas duas perspectivas. Ao trabalhar essas
tendências, explica de Souza, o filósofo permite a tese “de Paolo Rossi, que sustenta a opinião
de que, na obra de Bacon, convivem vários elementos a princípio inconciliáveis, entre os
quais o atomismo materialista ao lado da fé cristã”. (SOUZA, 2008, p. 25). Essa problemática
pode ser constatada, por exemplo, na última frase de Bacon ao encerrar o mito de Celo,
quando ele escreve, “verdadeiramente, o mundo, a matéria e a estrutura são obra de Deus”
(BACON, 2002, p. 52).
Um terceiro mito presente em A sabedoria dos antigos e que se relaciona com o tema
da natureza é o de Proteu. Semelhante aos mitos anteriores, o filósofo inicia a abordagem
deste apresentando suas características. Segundo Bacon, Proteu era considerado pastor de
Netuno, era também velho e profeta. Além disso,
exercia o mister de mensageiro e intérprete das coisas e segredos antigos. ...
Se alguém necessitasse da ajuda dele, a única maneira de consegui-la seria
atar-lhe as mãos e acorrentar-lhe o corpo. Então Proteu, forcejando por
libertar-se, transformava-se em toda sorte de formas estranhas – fogo, água,
feras, etc., até finalmente voltar à figura original. (BACON, 2002, p. 52).
A citação traz alguns aspectos que merecem ser sublinhados. Numa primeira instância,
Proteu enquanto „mensageiro e intérprete das coisas e segredos antigos‟, sinaliza para o papel
36
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
do homem e da ciência. Conforme Bacon, já vimos, o homem é ministro e intérprete da
natureza. Sendo assim, tomando a ciência como sua aliada, o homem adquire a incumbência
de descobrir as leis da natureza, aprender com ela e produzir conhecimentos novos e úteis
para a humanidade. Enquanto ministro e intérprete da natureza, o homem adquire condição de
criar uma espécie de segunda natureza. Ou seja, teríamos a chamada natura naturata22.
Numa segunda instância, Proteu enquanto aquele que reage, que luta por libertar-se da
violência, e como aquele que se transforma „em toda sorte de formas estranhas até voltar à sua
forma original‟, aponta para a natureza que sempre nos escapa. Aponta para a natureza que se
produz a si mesma. Sinaliza para a natureza complexa e superior aos sentidos e ao intelecto.
Portanto, teríamos aí a natura naturans23. Essa característica de Proteu enquanto aquele que
ao sofrer violência se transforma em diversas formas até atingir novamente seu estado
original, nos remete a um conceito discutido por Silvia Manzo, a saber, o conceito de
resistência/antitypia.
Esse
conceito
se
define
também,
segundo
Manzo,
como
impenetrabilidade da matéria. Seria uma espécie de autodefesa. Conforme a autora,
Bacon adopta este concepto, pero a su criterio la antitypia es una propiedad
esencialment activa de la materia. ... Bacon la define como un movimientos
inherente a cada porción de la materia, por medio del cual ésta puede luchar
contra toda amenaza de aniquilación. ... En otras palabras, la materia prima
tiende a la autoconservación sin necesitar de outra entidad para satisfacer
este deseo. (MANZO, 2008, pp. 476-477).
Essa primeira matéria, na qual se encontra a resistência, a impenetrabilidade e o
desejo de auto-conservar-se, trata-se dos átomos. Os átomos, escreve Manzo, para Bacon,
“son los principios de las cosas” (Idem, p. 475). É da emanação 24 deles, completa a autora,
que “trae como resultado la constitución de la multiplicidad del mundo tanto en sus
movimientos (actiones, motus naturales) como en sus esencias y propiedades (essentiae,
virtutes)”. (Idem, p. 478). A emanação dos átomos seria o fundamento para tudo que existe na
natureza. Por meio do conceito de antitypia, isto é, a resistência que reside nos átomos e os
torna inclinados para a auto-conservação, nos põe diante de uma concepção de natureza para
Bacon, extremamente distante, por exemplo, do que admite Carolyn Merchant. Encontramos
uma natureza, que não é meramente fêmea, frágil, e por isso facilmente domável, dominável,
22
Larrère define esse termo, conforme discutimos na nota 7, como sendo a natureza máquina, como sendo a
natureza feita. O termo natura naturata (Cf. LARRÈRE, 1997, p. 78) surge como sendo uma natureza criada.
23
A definição da natura naturans como uma natureza que produz a si mesma pode ser conferida na mesma
referência da nota 18.
24
O termo emanação – emanatio – segundo Manzo, Bacon tomou emprestado provavelmente de Telesio. “La
emanación [explica Manzo] describe un aspecto especial de la dinámica atómica, que es su poder para constituir
la multiplicidad heterogénea del mundo”. (Cf. MANZO, 2008, p. 478).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
37
serva, tal como compreende Merchant. No terceiro capítulo trataremos dessa leitura
desconexa que Merchant faz do pensamento de Bacon. Conforme o autor inglês, é preciso,
sim, conhecer a natureza. O atomismo antigo, sobretudo Demócrito, até ensaiou bem. Não
obstante, cabe a crítica. Para o Lord, destaca Manzo, “el error específico de la escuela
atomista reside en su obsesión por las partículas y su casi total desinterés en considerar la
estructura del mundo en sentido más amplio”. (MANZO, 2008, p. 474). Bacon elogiava os
atomistas por se interessarem pela investigação da natureza, especialmente suas partes mais
minúsculas, os átomos. Mas, criticava-os por não se esforçarem tendo em vista a aquisição de
um conhecimento geral e amplo acerca da estrutura do mundo. Percebe-se nessa crítica que o
inglês direciona aos atomistas, a importância que tem em sua filosofia o papel da
compreensão ampla. Portanto, não é verdade que em Bacon encontramos uma racionalidade
que prima pelo transformar o real ao invés de compreender esse real. É exatamente o
contrário.
Uma terceira instância bastante curiosa no mito de Proteu diz respeito à maneira pela
qual se pode obter a ajuda dele. “A única maneira de consegui-la seria atar-lhe as mãos e
acorrentar-lhe o corpo”. Já mostramos que Proteu pode ser entendido num paralelo com o
homem e a ciência. Vimos também que Proteu pode significar a natureza. Não uma natureza
fraca, domável, escrava, meramente passível. Mas, uma natureza ativa, heterogênea,
reacionária e múltipla. Proteu é solicitado e admite-se que dele pode resultar ajuda,
benefícios. O problema, no entanto, é o modo como se consegue essa ajuda. Somente atando
as mãos e acorrentando o corpo de Proteu tal ajuda torna-se viável. Conforme a descrição do
mito, “atar-lhe as mãos e acorrentar-lhe o corpo” ressoa como uma espécie de uso da força e
da violência. A sentença não ecoa bem aos nossos ouvidos. Principalmente se admitirmos o
homem e a natureza como receptores dessa violência. Estaria aí a nascente da ideia que a
natureza precisa ser torturada para se mostrar e tornar-se conhecida? Qual correspondência a
sentença “atar-lhe as mãos e acorrentar-lhe o corpo” pode ter com a filosofia de Bacon no
tocante à problemática que envolve conhecer e desvelar a natureza? Na nossa compreensão,
“atar-lhe as mãos e acorrentar-lhe o corpo” aponta, provavelmente, para a necessidade de se
estabelecer o método. Não se trata do uso da violência, mas de se ter um método. A ajuda
oriunda de Proteu pode significar conhecimentos úteis extraídos da natureza. E, conforme
Bacon, para alcançar tais conhecimentos faz-se necessário o método. O método baconiano,
segundo Marilena Chaui, deveria tornar possível pelo menos três coisas.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
38
1. organizar e controlar os dados recebidos da experiência sensível, graças a
procedimentos adequados de observação e de experimentação;
2. organizar e controlar os resultados observacionais e experimentais para
chegar a conhecimentos novos ou à formulação de teorias verdadeiras;
3. desenvolver procedimentos adequados para a aplicação prática dos
resultados teóricos, pois para ele o homem é “ministro da natureza” e, se
souber conhecê-la (obedecer-lhe, diz Bacon), poderá comandá-la. (CHAUI,
2006, p. 127).
Chauí apresenta os objetivos do método baconiano e destaca. Para Bacon, método,
conhecimento da natureza e obediência à mesma não estão separados.
Acerca da interpretação do mito, vimos que Proteu, ao torna-se aprisionado por aquele
que solicita sua ajuda, imediatamente ele reage. Tomado pelo desejo de recuperar a liberdade,
Proteu assume variadas e estranhas formas. Finda, portanto, recuperando sua condição
original. Aqui tudo indica que estaríamos diante da chamada natura naturans. Ou seja,
estaríamos diante da natureza criadora de si mesma. Estaríamos diante da natureza que escapa
aos sentidos e ao intelecto humano. Podemos então indagar: estamos diante de uma natureza
inesgotável, indestrutível e, por isso, pode ilimitadamente ser explorada? É deste modo que
Bacon concebe a natureza? Para alguns o advérbio de afirmação „sim‟ pode ser admitido.
Todavia, respondemos pela negativa. Ao destacar o aspecto de Proteu assumir variadas
formas e sempre voltar à condição original, Bacon, provavelmente está advertindo – no
Novum Organum25 essa advertência é sublinhada –, que ao se estudar a natureza não se pode
perder de vista que ela é complexa, sutil, não dada espontaneamente. Seus processos só
podem ser apreendidos mediante pesquisa, esforço, trabalho, observação, experiência e
cautela. É nesse sentido que se insere a maneira pela qual se pode extrair os benefícios de
Proteu. “Atar-lhe as mãos e acorrentar-lhe o corpo”.
Sob os traços de Proteu enquanto pastor de Netuno, Bacon escreve: “o rebanho de
Proteu não parece ser outra coisa que as espécies comuns de animais, plantas, minerais, etc.,
nas quais se pode dizer que a natureza se difunde e se esgota” (BACON, 2002, p. 53).
Conforme o texto, a natureza aparece como o abrigo dos animais, das plantas, dos minerais. A
natureza é tida como a condição para o surgimento e ao mesmo tempo para o esgotamento das
coisas. Lembrando o mito de Celo, a natureza seria o lugar que comporta a totalidade da
matéria. O mito de Proteu, não só aborda o tema da matéria como também apresenta uma
concepção de natureza que às vezes é ignorada quando se refere à filosofia de Bacon. A saber,
25
Confira, por exemplo, o aforismo X do livro I.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
39
que a natureza não é nem fraca, fêmea, facilmente domável. Nem também inesgotável. As
coisas nela se difundem e se esgotam.
Ainda sobre Proteu, declara Bacon:
mas se um habilidoso ministro da Natureza tentar violentar a matéria,
molestá-la e levá-la a extremos como se quisesse reduzir a nada, essa matéria
(dado que o aniquilamento ou destruição real só são possíveis pela
onipotência de Deus), vendo-se em apuros, assumiria formas bizarras [assim
como Proteu quando coagido], indo de mudança em mudança até completar
o ciclo; se a violência prosseguisse, retornaria finalmente à forma primitiva.
(BACON, 2002, p. 53).
Essa citação sintetiza bem as discussões que fizemos há pouco. Encontramos a ideia
que concebe o homem como ministro da natureza. Uma ideia, aliás, que reaparece no primeiro
aforismo do livro I do Novum Organum. Encontramos o tema da matéria. Vimos que no
fundamento da matéria, isto é, nos átomos há uma resistência (antitypia). É essa resistência
que garante a liberdade e a autonomia da natureza. Portanto, argumentamos que, com base na
interpretação baconiana do mito de Proteu, é possível se discutir o homem, o método, a
ciência, a matéria, a natureza. Não uma natureza passiva, escrava. Mas uma natureza que é
ativa e reacionária. Uma natureza que é soberana e somente se submetendo a ela há
possibilidade de “comandá-la”. Vimos que, apesar de estar diante de nós, a natureza não é
espontânea, não é dada facilmente aos sentidos nem a apreensão. A natureza é processo, e
como tal é sutil, é caçada, é complexa, é fugaz.
1.4 As três histórias ou estágios da Natureza e a contribuição dos saberes não
acadêmicos com o processo de interpretação e conhecimento da Natureza
Segundo o Barão de Verulam, o processo de interpretação e conhecimento da natureza
passa pela História da mesma. Essa história está dividida. Explica o filósofo que, “La historia
de la naturaleza es de tres clases: de la naturaleza en su curso normal, de la naturaleza en sus
errores o variaciones y de la naturaleza alterada o trabajada; esto es, historia de las creaturas,
historia de las maravillas e historia de las artes.” (BACON, 1988, p. 82). Conforme o Barão,
deveria se estudar, sobretudo, a natureza em seus extravios e a natureza trabalhada ou
mecânica. Declara ele, “es verdad que hallo numerosos libros de experimentos y secretos
fabulosos, y frívolas imposturas para agradar y llamar la atención; pero una colección
sustanciosa y rigurosa de los heteróclitos o irregularidades de la naturaleza, bien examinadas
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
40
y descritas, eso no lo encuentro”. (BACON, 1988, p. 82). Por isso a necessidade da
Restauração.
Somente ampliando o conhecimento sobre a natureza tornar-se-ia possível descobrir e
extrair dela prodígios – alcançar a ajuda de Proteu. Principalmente, focando na história da
natureza em seus extravios e da natureza trabalhada. Ao defender estudos mais profundos da
história da natureza em seus extravios, o Lord aponta duas razões.
Una, la de corregir la parcialidad de los axiomas y opiniones, que por lo
regular se fundan únicamente en ejemplos comunes y familiares; otra,
porque partiendo de los prodigios de la naturaleza es como mejor se
descubren los prodigios del arte y se accede a ellos; pues es siguiendo y, por
así decirlo, acosando a la naturaleza en sus extravíos, como después se la
puede reconducir al mismo sitio. Ni soy de la opinión de que de esta
historia de las maravillas se deban excluir de plano las narraciones
supersticiosas de hechizos, brujerías, sueños, adivinaciones y cosas
semejantes, allí donde hay seguridad y demonstración clara de los hechos.
(BACON, 1988, p. 83). Destaque meu.
Com base nesta citação, destacaremos dois aspectos. Um, provavelmente, abriu
margem para que leituras e interpretações suspensas da filosofia boconiana, como, por
exemplo, às interpretações de Merchant, se propagassem. Trata-se do trecho aonde Bacon
afirma que é preciso acossar a natureza. Somente empreendendo “violência”, “atando as mão
e acorrentando o corpo” se poderá atingir os prodígios de Proteu. O posicionamento
baconiano de que apenas acossando a natureza as artes mecânicas poderiam criar uma espécie
de segunda natureza, provocou e continua alimentando – especialmente nas discussões acerca
do meio ambiente – duras críticas ao filósofo. Acossar a natureza, de acordo com a filosofia
de Bacon, não é, por exemplo, empreender danos ou explorá-la tendo em vista interesses
econômicos, enriquecimento de grupos ou fortalecimento do consumo. Acossar a natureza
aponta para a necessidade do método experimental. Sinaliza para o trabalho de laboratório.
Nesse sentido, escreve Oliveira, “para Bacon, a melhor maneira de se investigar a natureza é
submeter a matéria e seus corpos à maior pressão possível de forma a obrigá-la a revelar seus
limites”. (OLIVEIRA, 2002, p. 136). Não que a natureza seja escrava, domável, desprovida
de valor ou meramente fonte inesgotável de riquezas. Para Bacon, a natureza é o modelo. É
pesquisando os eventos que nela ocorrem e procurando imitá-la que as artes poderão alcançála. Além disso, os benefícios extraídos mediante a técnica e a ciência devem ser
disponibilizados em favor da humanidade.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
41
O outro aspecto diz respeito à consideração por parte de Bacon de elementos que não
são do campo da ciência. Embora o filósofo criticasse duramente a magia e o conhecimento
secreto, contudo faz uma ressalva: “Ni soy de la opinión de que de esta historia de las
maravillas se deban excluir de plano las narraciones supersticiosas de hechizos, brujerías,
sueños, adivinaciones y cosas semejantes”. O problema girava em torno da falta de
demonstração e de publicidade nos procedimentos mágicos. Na versão em português,
completando essa citação que acabamos de elencar, afirma o inglês: “onde haja segurança e
demonstração clara dos fatos”. (BACON, 2007, p. 115). Tal postura permite-nos perceber que
o pensamento acerca da ciência moderna, nesse caso específico o pensamento baconiano, não
é um pensamento que admite apenas o discurso científico como o único válido e portador da
verdade. As experiências individuais devem ser levadas em conta e as diversas esferas do
saber precisam dialogar. Assenta o inglês:
hemos abandonado demasiado a destiempo y nos hemos alejado
excesivamente de los particulares. (...) es deber y virtud de todo
conocimiento el condensar la infinidad de experiencias individuales hasta
donde lo permita la idea de la verdad, (...) lo cual se logra uniendo las ideas
y concepciones de las ciencias. (BACON, 1988, p. 107).
As diversas concepções de ciências, ou seja, as várias áreas do conhecimento precisam
considerar a infinidade de experiências individuais e não acadêmicas. Ao apontar uma das
deficiências da história da natureza mecânica, pondera o Bacon: “en cuanto a la historia de la
naturaleza trabajada o mecánica, encuentro algunas recopilaciones de agricultura, y asimismo
de artes manuales, pero generalmente con desprecio de los experimentos familiares y
vulgares”. (BACON, 1988, p. 83). Nessa perspectiva, cabe o posicionamento de Dussán26
quando admite que os homens comuns não foram deixados de lado pela filosofia e concepção
de ciência baconianas. Levando em consideração a citação de Bacon assentada acima,
podemos indagar: não há ali uma fresta para que pensemos, por exemplo, a importância dos
chamados conhecimentos tradicionais, saberes populares e do senso comum na relação com a
natureza? Segundo o filósofo, não há dúvida de que os experimentos familiares, os
conhecimentos vulgares podem muito contribuir com a ciência e com o conhecimento da
natureza. O cuidado, porém, deve ser com o uso da linguagem que expresse esses saberes.
26
Acerca da reforma do conhecimento concebida por Bacon, Dussán (2009, p. 102) apresenta uma citação do
filósofo que é a seguinte. “Desnudémonos, vosotros y yo, de nuestra condición de varones doctos, si algo de eso
somos; hagámonos como unos del pueblo y, dejando a un lado las cosas mismas, admitamos conjeturas a partir
de signos externos, pues al menos esto tenemos en común con los hombres”. (Bacon, 1985, p. 79). Completa
Dussán na mesma referência mencionada acima, que “El punto de partida es despojarse de la investidura de
docto, esto es, dejar de lado los discursos típicos de los doctos, dejar por un momento la academia y sus
argumentaciones y situarse del lado del común de los hombres”.
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
42
Provavelmente, esta seria uma das principais tarefas e contribuições da ciência. Reunir os
saberes individuais, familiares e vulgares, e comunicá-los por meio de uma linguagem não
ambígua. Vejamos o que declara o Lord nesse sentido.
paréceme que la verdadera y fructífera utilidad (dejando a un lado sutilezas y
especulaciones vanas) de la investigación de la mayoría, la minoría, la
prioridad, la posterioridad, la identidad, la diversidad, la posibilidad, el acto,
la totalidad, las partes, la existencia, la privación, etcétera, está en surtirse de
prudentes cautelas contra las ambigüedades de la expresión verbal.
(BACON, 1988, p. 139).
Através do fragmento sublinhado, Bacon mostra que a relevância e verdadeira
frutificação da investigação científica consistem não só em apresentar um conhecimento
geral, universal, mas em considerar as partes, o mínimo, a existência – enquanto vida
cotidiana e as experiências também dos homens comuns – a diversidade, a totalidade, etc..
Tudo isso pode ser passível de conhecimento. Lembrando que os resultados da ciência têm
como finalidade melhorar as condições de vida da humanidade e, para tanto, precisam ser
comunicados, visíveis, acessíveis e expressos mediante uma linguagem clara.
Concluindo essa análise acerca das três histórias ou estágios da natureza, Oliveira nos
situa a respeito da concepção baconiana de natureza. Segundo Oliveira, “a natureza concebida
pelos antigos inclui a raça humana. Para Bacon, no entanto, ela é mais delimitada uma vez
que não inclui os humanos. No entanto, por outro lado, ela é estendida recobrindo tudo o que
é transformado pelo homem (plasticidade)”. (OLIVEIRA, 2002, pp. 135-136). Eis uma
concepção de natureza que desliga o homem daquela. Larrère reconhece e a admite esse feito
como uma marca da modernidade. No caso da filosofia de Bacon, tem-se uma natureza que é
distinta do homem, mas ecoa a advertência que é preciso obedecê-la. Conforme Oliveira, para
Bacon a natureza existe em três estágios27: livre, errática e atada (artificialmente
transformada). Na sua argumentação, a natureza
é livre (ou espontânea) quando segue seu curso comum, regular como o
movimento das estrelas ou a reprodução dos animais e geração de plantas,
com a variedade geral que há destas regularidades no universo. Ela é
considerada como errática quando, perversamente, por insolência, ou por
violência sobre ela imposta, abandona seu curso normal. Este é o caso das
deformidades e anomalias, (...) No terceiro estágio, ela se apresenta
constrangida. Moldada e feita como se fosse nova pela arte e mãos dos
homens, como nas coisas artificiais. (OLIVEIRA, 2002, p. 136).
27
Segundo Oliveira, esses três modos não são categorias estritas... Essas três naturezas se interpenetram e
influenciam umas às outras. (Cf. OLIVEIRA, 2007, p. 137).
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
43
A análise de Oliveira, não só explica os três estágios nos quais a natureza se manifesta
ou é reinventada, como também incorpora o tema das artes, sendo estas entendidas como o
fazer humano. As artes, aliás, que conforme o aforismo (I: 129), ao lado das ciências,
constituem o segundo fundamento do poder do homem sobre a natureza. Ainda sobre os três
estágios da natureza, afirma Oliveira, “a natureza a ser comandada é a natureza em seu curso
ordinário, a dos fenômenos e efeitos perceptíveis. Tal comando só é verdadeiramente possível
através da obediência à natureza atada, isto é, através da descoberta e respeito das leis e
causas escondidas” (OLIVEIRA, 2002, pp. 137-138). Não obstante, o próprio Bacon chama a
atenção: estudar a natureza em seus extravios – ou nos termos de Oliveira – a natureza
errática seria muito importante para se atingir o progresso, alcançar resultados capazes de
tornar a vida do homem confortável e propiciar-lhe inclusive longevidade. Na Nova Atlântida,
por exemplo, há uma série de fatores e resultados trabalhados pela Casa de Salomão que
atestam conforto e longevidade aos moradores de Bensalém. Excelente medicina, elevado
nível de educação, alimentação saudável, aparelhos que melhoravam a capacidade auditiva
para quem possuía deficiência, enfim.
Nesse primeiro capítulo, portanto, procuramos discutir o conceito baconiano de
natureza. É possível afirmar que não encontramos uma definição precisa do que seria a
natureza para Bacon. O inglês apresenta acepções que, ora parecem está na esteira da teologia
cristã, ora parecem está na esteira do atomismo antigo. A natureza, por um lado, pode ser
considerada como o livro das obras de Deus. Tal definição foi trabalhada, por exemplo, por
Paolo Rossi no terceiro capítulo de A filosofia dos modernos, o texto intitulado: Bacon e a
Bíblia. Como livro, a natureza é passível de interpretação e conhecimento. O homem é seu
intérprete e ministro (I: 1). Possui a liberdade de poder indagá-la, conhecê-la. Mas também a
advertência de obedecê-la e sujeitar-se às suas leis. O homem tem um poder de ação sobre a
natureza. Porém, “a possibilidade de mexer em suas fundações não significa que não haja leis
a serem respeitadas: para se controlar a natureza, adverte Bacon, tem-se antes que obedecê-la”
(OLIVEIRA, 2002, p. 137). Mostramos que na perspectiva teológico-cristã, o homem ocupa
uma posição de centro, portanto, de comando. Provavelmente, a ideia baconina de dominar a
natureza seja um eco dessa perspectiva.
Por outro, tomando como base os mitos de Pã, Celo e Proteu, todos presentes em A
sabedoria dos antigos, encontramos a natureza como sendo a universalidade das coisas, a
totalidade da matéria, a variação de formas e seres. A natureza é apresentada como
reacionária. Sob esta perspectiva, os átomos são o fundamento da natureza. A emanação deles
Capítulo 1: Em torno do conceito baconiano de natureza
44
origina tudo que há nela, e neles próprios há uma resistência que confere liberdade,
autonomia, auto-conservação. A natureza não é passiva, mas atividade. Por isso, complexa,
sutil, superior. Os sentidos e intelecto do homem têm dificuldade de alcançá-la. Dada à
dificuldade, faz-se necessário estabelecer um método, fortalecer a ciência, aprimorar as artes.
Assim, Bacon sugere: afastar-se da sistematicidade rígida, abandonar os pontos fixos dos
quais a natureza humana tanto é apegada, valorizar a experiência e a prática. Pesquisar com
cautela a natureza nos seus extravios e a natureza mecânica ou trabalhada. Aguçar a
criatividade. Por fim, inclusive na contramão da tese de Mauro Grün – quando afirma que
Bacon critica e suprime completamente o papel da tradição –, reconhecer a importância dos
saberes individuais e familiares, dos saberes não acadêmicos residentes nos homens comuns,
– o que poderíamos chamar nos dias hodiernos de saberes tradicionais, popular ou do senso
comum –, lembrando que, faz-se preciso tomar cuidado com o uso da linguagem. Pois, o
conhecimento precisa ser útil, comunicável e de domínio público. Tais posturas baconianas
reverberam o tema do progresso, objeto do próximo capítulo.
45
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a
obediência à natureza
“...É preciso que se faça uma restauração da empresa a partir do âmago de suas fundações, se não se
quiser girar perpetuamente em círculos, com magro e quase desprezível progresso”.
BACON, (I: 31).
“Pois o homem inculto não sabe o que é adentrar-se em si mesmo ou chamar a si mesmo às contas,
nem o prazer dessa (...) [dulcíssima vida daquele que a cada dia sente que vai se fazendo melhor]”
BACON, 2007, p. 91.
O objetivo deste capítulo é apresentar a concepção de progresso de acordo com a
filosofia baconiana, e mostrar que, para o inglês, a noção de progresso está atrelada ao avanço
da ciência, ao melhoramento das condições de vida do homem, mas também à obediência das
leis da natureza. Na nossa interpretação, o avanço da ciência, o melhoramento da vida humana
e a obediência às leis da natureza formam um tripé que sustenta e serve como base para a
noção de progresso baconiana. Conforme chamamos a atenção no capítulo anterior, a natureza
é um tema que atravessa quase todas as obras de Bacon. E próxima ao tema da natureza está
também a noção de progresso. Por isso consideramos pertinente dedicar a segunda parte da
dissertação à reflexão sobre o tema do progresso. Dado o intento de apresentar um trabalho
que seja interdisciplinar, observando o tema geral da nossa dissertação, consideramos que este
segundo capítulo serve de passagem entre o primeiro, no qual discutimos características do
que seria a natureza para o autor do Novum Organum, e o terceiro, no qual pretendemos
mostrar como a filosofia baconiana é recepcionada em algumas discussões em torno do meio
ambiente. Nesse sentido discutiremos com autores como Boaventura, Hans Jonas, Carolyn
Merchant, Mauro Grün, entre outros.
Esse capítulo está estruturado do seguinte modo. No primeiro tópico, tomando como
referencial teórico especificamente o primeiro capítulo de O mito do progresso, de Gilberto
Dupas, mostraremos uma espécie de trajeto que a noção de progresso percorreu. Mediante a
argumentação de Dupas, a noção de progresso pode ser encontrada nos gregos, por exemplo,
em Hesíodo e no mito de Prometeu. Pode ser encontrada no período medieval com Santo
Agostinho. E, por fim, amparado pela análise de Nisbet, Dupas situa a retomada daquela
noção no período renascentista e nesse contexto chega a Bacon. Serve também de referência
para Dupas, especialmente no que se refere a uma provável definição de progresso, a Grande
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
46
enciclopédia Delta Larrouse. Preparar o terreno para adentrar de forma incisiva na temática
do progresso desenvolvida por Bacon é o objetivo do primeiro tópico que intitulamos,
„discussões preliminares‟. No segundo tópico, apresentaremos as discussões que o Lord
empreende a respeito dos teólogos, políticos e acadêmicos. As duas primeiras esferas se
mostravam contrárias ao avanço do saber. O filósofo rebate-as e defende que a ampliação do
conhecimento não será contraditória à religião, à consolidação dos negócios, nem tão pouco à
obediência às leis. No terceiro tópico, trabalharemos aspectos que, de acordo com a filosofia
de Bacon, dão sustentação ao desvendamento e a interpretação cuidadosa da natureza. Ou
seja, dizendo de outro modo, apresentaremos fatores que servem de base à noção de progresso
pensada por Bacon.
2.1 Discussões preliminares acerca da noção de progresso
Segundo Menna (2011), Bacon teve um papel desempenhado na Revolução científica
[do século XVII] e uma grande importância na difusão da ideia de progresso. Dupas, na
introdução do seu O mito do progresso, não hesitou afirmar que “a primeira enunciação de
progresso teria partido de Francis Bacon em Novum Organum”. (DUPAS, 2006, p. 19). No
primeiro capítulo de O mito do progresso, cujo título é „a evolução do conceito de progresso‟,
Dupas assenta que, “em termos gerais, progresso supõe que a civilização se mova para uma
direção entendida como benévola ou que conduza a um maior número de existências felizes”.
(DUPAS, 2006, p. 30). Dupas destaca Robert Nisbet como um radical adepto da ideia de
progresso, para quem o conceito de progresso influenciou civilizações e povos durante toda a
história, dos gregos até a atualidade.
Ante a discussão sobre a “gênese” da ideia de progresso, fundamentado nas
explicações de Nisbet, Dupas mostra que a ideia de progresso pode ser encontrada nos gregos
por meio tanto de Hesíodo, quando este reflete sobre a percepção de avanço ao longo do
tempo, quanto de Prometeu. Conforme o autor de O mito do progresso, o mito principal de
Hesíodo é sobre a formação da terra e as eras de cinco raças de humanos que os deuses
criaram:
A primeira raça é a dourada, criada por Cronos – predecessor de Zeus –,
ignorante das artes, da moralidade, do pacifismo e da felicidade; a segunda
era a prateada, que tinha sede de guerra e foi extinta por Zeus; a terceira, de
bronze, para além do combate marcial também defendia valores, mas se
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
47
destruiu sozinha; a quarta raça dos homens-heroi, viveu as guerras de Tebas
e Tróia... finalmente a quinta, a dos homens de aço, era do próprio Hesíodo e
vivia em meio a tormentas, injustiças e privações. (...) Em meio às
infelicidades momentâneas, tempos melhores viriam com disciplina, trabalho
e honestidade. (DUPAS, 2006, pp. 32-33).
Eis a descrição do mito sobre a formação da terra tal como apresentara Hesíodo. Para
Dupas, Nisbet vê o desenrolar das cinco eras hesiodianas “como crença na evolução, ainda
que com alguns retrocessos”. A raça de aço, por exemplo, embora maligna, não possuiria
sinais de que seria extinta por Zeus, admite Nisbet.
Na esteira interpretativa de Nisbet, expõe Dupas, “outro mito fundador da ideia de
progresso seria o de Prometeu. Observando a condição deplorável da humanidade, ele
[Prometeu] entregou o fogo aos homens e capacitou-os ao desenvolvimento e à criação da
civilização”. (DUPAS, 2006, p. 33). Percebe-se que Prometeu se encarregou de beneficiar a
humanidade. Propiciou aos homens aquecimento, em especial durante as noites frias, forneceu
um relevante instrumento para espantar animais que pudesse devorá-los, permitiu que a
humanidade fizesse passagem de um estado deplorável para uma condição de civilidade.
Prometeu seria a mediação entre o estado de absoluto medo, insegurança e ausência de
recursos para se enfrentar as adversidades e outro um pouco mais tranquilo, menos hostil.
Dupas escreve ainda que Nisbet enxerga fortes evidências da ideia de progresso, inclusive na
obra de Platão, especialmente As leis, “quando ele [Platão] fala do longo período de tempo no
qual a vida social se desenvolve até o surgimento da cidade”. (DUPAS, 2006, p. 33).
Robert Nisbet contribui muito com a análise de Dupas no sentido de apresentar o
percurso ou a „evolução‟ da ideia de progresso, isso fica claro na leitura do seu primeiro
capítulo de O mito do progresso. Após a exposição de que a ideia de progresso poderia ser
encontrada nos gregos, por exemplo, em Hesíodo e Prometeu, ou, ainda nas Leis de Platão, tal
como defende Nisbet, para este mesmo teórico, no período medieval o maior representante da
ideia de progresso foi Santo Agostinho. “Agostinho desenvolve a ideia globalizadora de
unidade na humanidade, uma espécie de ser com infância, adolescência e maturidade. Ele
divide a história em seis etapas, de Adão a Cristo, apontando os níveis de progresso de cada
uma delas”. (DUPAS, 2006, pp. 34-35). O progresso parece ser concebido assim, como uma
trajetória, na qual períodos ou épocas se sucedem e na ordem de sucessão os últimos são
melhores que os anteriores. Na perspectiva de Agostinho, nos permite afirmar Dupas,
anacronicamente, o progresso teria uma relação com a graça, com a palavra e com a ação de
Deus em resgate àqueles que cressem. Enquanto o símbolo de progresso no período antigo
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
48
fora o fogo roubado dos deuses e dado aos homens por Prometeu segundo Nisbet, o progresso
adquirido no medievo podia ser constatado mediante o machado de aço e o arado, além dos
avanços nas artes, arquitetura e astronomia28.
Conforme apresenta o autor do Mito do progresso, para Nisbet, contribuiu também
com a ideia de progresso, “as invenções mecânicas de Roger Bacon no século XIII, assim
como seus trabalhos em ótica e física” (DUPAS, 2006, p. 36). A ideia de progresso, escreve
Nisbet, “retornou pouco a pouco na etapa final do Renascimento... [e] Jean Bodin..., ainda
com vínculos renascentistas, é tido como o primeiro autor do período a tratar do progresso”.
(DUPAS, 2006, p. 37). Bodin compreendia que o presente era melhor que o passado e que o
futuro seria melhor que o presente. Após trazer para a discussão Bodin, finalmente, mas ainda
considerando a análise de Nisbet, Dupas menciona Francis Bacon. Demonstra que as grandes
navegações influenciaram a concepção de progresso do filósofo, e que para este,
a grande renovação do conhecimento foi visar sua utilidade e a melhoria da
vida humana29. Em vez de sonhar com o passado, haveria que se acrescentar
muito mais conhecimento no futuro. A sabedoria seria irmã do Tempo. Era a
época dos primeiros grandes saltos tecnológicos – imprensa, pólvora e
bússola –, mudando o estado geral na literatura, na guerra e na navegação.
Bacon deixou sugerida a proposta do New Atlantis, um colegiado de
cientistas investigadores [da natureza] voltados a novas descobertas que
pudessem alterar as condições de vida do ser humano. (DUPAS, 2006, p.
39), destaque meu.
Ainda sobre esta discussão preliminar a respeito do conceito de progresso, e que nos
ajuda a compreender a atmosfera cultural na qual Bacon estava inserido ao pensar aquele
conceito, Dupas recorre à Grande enciclopédia Delta Larrouse. Afirma que esta “chama de
progresso movimento ou marcha para frente; [progresso é] desenvolvimento; aumento;
adiantamento em sentido favorável ou desfavorável”. (DUPAS, 2006, p. 18). Esta concepção
não é distante da que pensou Bacon. O filósofo foi entusiasta da ideia de progresso, admitindo
o último como sendo um avanço, um caminhar para adiante, sobretudo, no sentido de
melhorar as condições de vida do homem sobre o planeta. Contudo, o Barão de Verulam sabia
que o progresso, enquanto um avanço da ciência, também pode se desdobrar em sentido
contrário.
28
29
Confira esta discussão em (DUPAS, 2006, p. 36).
Essa é uma discussão que pode ser conferida em (GUIMARÃES & SANTOS, 2010, pp. 28-29).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
49
Essas duas facetas que envolvem o progresso e a ciência podem ser visualizadas no
mito da Esfinge, interpretado por Bacon em A Sabedoria dos Antigos. Ali, a Esfinge, descreve
o filósofo,
era um monstro que combinava diversas formas em uma só. Tinha voz e
rosto de donzela, asas de pássaro e unhas de grifo. Postava-se no cume de
uma montanha perto de Tebas e assolava os caminhos, espreitando os
viandantes a quem assaltava e dominava de súbito. E após dominá-los,
propunha-lhes enigmas obscuros e embaraçosos, que teria aprendido das
Musas. Se os míseros cativos não conseguissem solucioná-los e interpretálos sem demora, e hesitassem confusos, ela os despedaçava cruelmente. (...)
Eis uma fábula bela e sábia, inventada aparentemente em alusão à Ciência,
sobretudo quando esta é aplicada à vida prática”. (BACON, 2002, p. 88).
A citação de Bacon mostra com clareza que o filósofo, apesar de entusiasta ferrenho
da ciência e da ideia de progresso, não era ingênuo em relação àquelas. Ao interpretar o mito
ele nos alerta que, enquanto por um lado a Esfinge tinha voz de donzela, asas de pássaro e
unhas de grifo, características que encantavam aqueles que tinham contato com ela, por outro
lado, a Esfinge também era um monstro que amedrontava, subjugava e despedaçava
cruelmente os incapazes de desvendar seus enigmas.
Analisando ainda a passagem citada acima, percebe-se que nela há termos como, por
exemplo, cume, montanha, enigma e embaraço, que para Bacon não são fortuitos. O cume da
montanha habitat da Esfinge aponta para o lugar que a ciência ocupa, e esse lugar é criticado
com veemência pelo inglês. No seu modo de pensar, a ciência precisa ser expressa mediante
uma linguagem clara, não ambígua nem enigmática, aspecto que tornaria a ciência mais
acessível. O conhecimento científico só será útil se descer do cume da montanha e manter
correspondência com a vida cotidiana das pessoas. A face boa do progresso está atrelada a
esta relação.
Ainda sobre a não ingenuidade de Bacon quanto ao progresso científico, corroboram
com o nosso argumento, Guimarães e Santos, quando afirmam:
No desenrolar desse processo de efervescência intelectual, a desconstrução
de paradigmas tidos como sólidos até então, também são submetidos ao
crivo rigoroso e mordaz de filósofos como Bacon, que questionam
veementemente em suas obras e nas incursões que fazem nos experimentos
científicos do seu tempo, o senso de limitação e as características negativas
das teorias e doutrinas difundidas como verdades absolutas, mas que ao
serem submetidas ao olhar criterioso da ciência, suscitam a dúvida, a
incerteza e o sentimento de não permanência das coisas. A ideia de
progresso é, concomitantemente, razão de entusiasmo [por um lado] e
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
50
desconforto [por outro lado] frente às novas descobertas (...). (GUIMARÃES
& SANTOS, 2010, p. 31). Destaque meu.
Segundo os autores citados, o progresso se apresenta como um paradoxo. Por um lado,
amplia o potencial humano propiciando que obstáculos sejam superados. Mas, paralelamente,
afirmam eles, “a ideia de progresso é também motivo de ansiedades, angústias e receios de
catástrofes em devir, diante das transformações profundas que envolvem tanto o mundo
histórico quanto o natural”. (GUIMARÃES & SANTOS, 2010, p. 31). O inglês reconhecia
esta problemática que envolve o progresso. Sua interpretação do mito da Esfinge mostra bem
a compreensão dos dois lados que acompanham a ciência, o avanço da técnica e, portanto, o
progresso. São perguntas que de certo modo se interpenetram no decorrer deste capítulo: o
que seria o progresso para Bacon? Quais elementos deveriam juntar-se ou repelirem-se na
composição da noção de progresso para o filósofo? O progresso defendido por Bacon implica
mesmo em danos e desvantagens à natureza?
O progresso, para Bacon, está fortemente relacionado com duas frentes. De um lado, o
projeto de reforma do conhecimento. Do outro, o avanço nas descobertas dos segredos da
natureza. Contudo, seria um equívoco afirmar que para o Lord o progresso teria como meta
um avanço ilimitado da ciência e da técnica, ou ainda, um avanço ilimitado da dominação
antrópica sobre a natureza. Esclarece-nos Dussán, “Bacon concibe el proyecto de renovación
metodológica de la filosofía natural y su posterior efecto en el bienestar humano a partir de la
transformación de las condiciones materiales, enlazado íntimamente a una reforma moral de
la filosofía y de los filósofos”. (DUSSÁN, 2009, p. 100). Fica claro que, nessa perspectiva, o
progresso baconiano não só está relacionado com a transformação das condições físicas e
materiais, ou ainda, com a transformação da natureza, mas também – e muito importante –
vinculado ao bem estar da humanidade e a uma reforma moral da filosofia [natural] e dos
filósofos [os próprios pesquisadores].
Dussán afirma que, se se prestar atenção nas obras baconianas de juventude, perceberse-á que o projeto de reforma da filosofia natural está vinculado a virtudes morais. Na sua
interpretação, a reforma da filosofia natural tal como pretendia Bacon, deveria não ignorar as
considerações morais, religiosas e teológicas. Para Dussán, o inglês encontra sentido para o
seu projeto epistemológico nas virtudes morais, respectivamente, “la caridad y la humildad”
(cf. DUSSÁN, 2009, p. 100). Essa interpretação se aproxima de Bernardo de Oliveira, quando
este escreve que:
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
51
A correta investigação da natureza é um dever religioso, no qual os homens
refletem e estendem o trabalho divino, honrando o criador. (...) Assim,
Bacon se vale da autoridade da escritura para legitimar seu programa de
reforma do conhecimento e recheia a interpretação heterodoxa que faz do
cristianismo com citações dos profetas e passagens bíblicas que reforçam seu
projeto. (OLIVEIRA, 2002, p. 134).
Não obstante, embora as virtudes morais como a caridade e a humildade – oriundas do
campo teológico – tenham relevante papel na filosofia baconiana no que se refere à condução
da investigação acerca da natureza, não podemos afirmar que para o inglês a religião seja o
fundamento do seu programa de reforma. Pelo contrário. Religião e ciência não se
confundem. São palavras do próprio filósofo, “Dá à fé o que é da fé”. (BACON, 2007, p.
140). Seguindo este raciocínio, Zaterka argumenta que para Bacon, “confundir teologia com
filosofia ou vice-versa é incorrer num grave erro, ou seja, continuar no registro da vã
filosofia”. (ZATERKA, 2004, p. 99). Esse posicionamento do Lord em relação à separação
entre ciência e religião é encontrado também na seguinte passagem:
Não obstante, há que se recordar a propósito deste último ponto [separação
entre teologia e ciência], e em outros lugares se necessário, que na
demonstração da dignidade do conhecimento ou saber separei desde o
começo o testemunho divino [teologia/religião] do humano
[filosofia/ciência], e tal é o método que tenho seguido, tratando os dois
separadamente. (BACON, 2007, p. 96). Destaque meu.
Segundo o Lord, o conhecimento divino é algo inacessível ao homem. Há coisas que
são do campo da fé e com elas a ciência não deve se misturar. Podemos pesquisar a natureza,
mas não os mistérios de Deus. As virtudes morais e a ética são importantes na tecelagem do
programa de reforma do conhecimento baconiano. Porém, o filósofo não admite que a religião
se infiltre na ciência, ou ainda, que as duas se misturem. A utilização que Bacon faz de
passagens das Escrituras, por um lado pode significar um reforço para a importância das
virtudes morais, como defende Dussán. Mas, por outro, um recurso retórico como nos alertam
Oliveira (2002) e também Paulo Rossi em Da magia à ciência. Insistindo ainda no argumento
de que ciência e religião são distintas, na leitura de (MENNA, 2011, p. 70), constatamos o
seguinte: “Bacon separa religião de ciência e entende que a liberdade de pesquisar está
restringida ao reino da natureza e do homem”. De acordo com Bacon, o conhecimento de
Deus é algo inacessível ao intelecto humano. Sendo assim, o que nos resta é concentrar
esforços no sentido de buscar conhecer aquilo que é possível conhecer, ou seja, a natureza e,
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
52
provavelmente, até mesmo o homem. O progresso fora interrompido quando a filosofia
deixou de estudar a natureza e se voltou para a interioridade. Afirma Rossi, para Bacon,
Nas homeomerias de Anaxágoras, nos átomos de Leucipo e Demócrito, no
céu e na terra de Parmênides, na discórdia e amizade de Empédocles, no
fogo de Heráclito, está presente “um sabor da filosofia natural, da natureza
das coisas, da experiência, dos corpos” (Novum Organum, I, 63) que foi se
perdendo quando a filosofia voltou-se ela própria para o mundo interior em
vez da natureza, para problemas de caráter moral e lingüístico, abandonando
a pesquisa severa das coisas naturais. (ROSSI, 2000, pp. 26-27).
Acompanhemos no tópico a seguir as discussões que o filósofo empreendeu. Ante os
teólogos, Bacon argumentou que a causa da Queda não fora o conhecimento da natureza, mas
o orgulho, a vontade de se tornar independente de, ou, semelhante a Deus. Perante os
políticos, o Lord defendeu que o avanço do saber não seria contraditório à consolidação dos
negócios nem à obediência das leis. Em relação à problemática que envolve os doutos e
sábios, Bacon apontou que a falta de investimento por parte dos Estados em pesquisas, a
busca exagerada por lucro e dinheiro, o não reconhecimento por parte dos Estados para com
os seus homens pensantes e pesquisadores bem como os tipos de estudos desenvolvidos pelos
doutores da época, mas completamente desalinhados da realidade das pessoas, constituíam-se
empecilhos que inviabilizavam o avanço da ciência e, por isso, careciam ser reformulados.
2.2 Defesa da excelência e ampliação do conhecimento
O progresso do conhecimento concebido por Bacon visa duas frentes. De um lado a
revelação da natureza. E do outro, a utilidade do desvelamento daquela para a vida humana30.
Segundo o filósofo, um saber que não seja coadjuvante do benefício para a humanidade não é
bem um saber útil. Para o Barão, declara Menna, “podemos pesquisar a natureza, mas usando
o conhecimento alcançado para o bem da humanidade, não para sua destru[i]ção”. (MENNA,
2011, p. 70). O propósito de que o conhecimento pudesse avançar e tornar a vida humana
melhorada levou Bacon a se debruçar sobre o que se denominou reforma do saber. Qual seria
o ponto de partida dessa reforma? Ao analisar a primeira parte de O progresso do
conhecimento, percebe-se que o trabalho desempenhado pelo filósofo teve como objetivo o
seguinte desdobramento: colocar sob análise as opiniões dos três grupos apontados por ele
30
(Cf. BACON, 2007, p. 55)
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
53
como problemáticos em relação ao avanço do conhecimento – os teólogos, políticos e
acadêmicos –. Em seguida, critica e rebate as opiniões dos teólogos, políticos e doutores, ao
passo que, defende com veemência a importância de se ampliar o conhecimento. Vejamos o
que escreveu o filósofo logo nas primeiras páginas da obra citada há pouco:
No portal de entrada da primeira dessas partes31, para desembaraçar o
caminho e, por assim dizer, fazer silêncio para que os testemunhos
verdadeiros referentes à dignidade do conhecimento sejam mais bem
ouvidos, sem a interrupção de objeções tácitas, (...) procedentes todos eles da
ignorância; mas da ignorância severamente disfarçada, mostrando-se ora no
zelo e suspeita dos teólogos, ora na severidade e arrogância dos políticos, ora
nos erros e imperfeições dos próprios sábios. (BACON, 2007, p. 19). Itálico
meu.
Com base na citação, teólogos, políticos e sábios são os interlocutores com os quais
Bacon precisou dialogar haja vista seu projeto e intento de reformular o conhecimento.
Apresentaremos a seguir, a visão dos teólogos a respeito do progresso do conhecimento e a
argumentação de Bacon no sentido contrário.
2.2.1 O posicionamento dos teólogos
A declaração de Bacon assentada nas primeiras páginas de O progresso do
conhecimento mostra que os teólogos sustentavam a opinião de que: “a aspiração a um
conhecimento excessivo foram a tentação e o pecado originais, de onde adveio a queda do
homem; que o conhecimento tem em si algo da serpente e, portanto, ali onde penetra no
homem o faz inflar”; (BACON, 2007, p. 19). Essa era a atmosfera cultural predominante.
Acerca deste contexto, esclarece-nos Menna que, “a cosmovisão pré-moderna se caracterizou
por sustentar uma tríplice proibição: estava vedado desvendar os mistérios da natureza, os
mistérios da política e os mistérios de Deus”. (MENNA, 2011, p. 91). Quebrar essa
cosmovião era o intento de Bacon.
Na análise do Barão, a opinião dos teólogos não passava de um equívoco, ignorância e
entrave ao processo de aumento do conhecimento. Que faz o filósofo? Rebate com veemência
a opinião dos teólogos e a desconstrói. Segundo o Barão, não foi o conhecimento da natureza
a causa da Queda do homem. Aliás, assevera Luciana Zaterka, “Bacon acreditava que antes da
31
Aqui Bacon está se referindo à primeira das duas partes que constituem O progresso do conhecimento.
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
54
Queda o homem havia sido dotado pela bondade divina de uma tal perfeição que lhe permitia
conhecer plenamente a natureza, pois a mente humana tinha a capacidade de refletir o
universo”. (ZATERKA, 2004, p. 97). Graças a essa condição, o homem teve a capacidade,
inclusive, de nomear as coisas. Após a Queda, afirma a autora, nessa mesma referência
mencionada, “tanto o homem quanto a natureza transformam-se profundamente”. Da
categoria de perfeição passaram para a categoria de corrupção. No encalço de desconstruir a
opinião dos teólogos, Bacon argumenta que não foi o intento de conhecer a natureza o que
levou o homem à Queda, “mas sim o conhecimento orgulhoso do bem e do mal, com uma
intenção no homem de dar-se uma lei a si mesmo e não mais depender dos mandamentos de
Deus”32. (BACON, 2007, p. 20). Ao discutir essa questão presente no pensamento baconiano,
Zaterka esclarece que para o inglês,
a origem do pecado humano não se constitui na relação entre homem e
conhecimento no âmbito da ciência natural, mas, como vimos, na pretensão
humana à ciência do bem e do mal. (...) o pecado humano se origina no
âmbito ético, o homem orgulhoso pretendia ter um poder semelhante ao de
Deus. (ZATERKA, 2004, p. 97).
Percebe-se, à luz da citação, que a raiz do problema não estaria em desvendar os
mistérios da natureza, ou, dito de outro modo, no ousar conhecer coisas novas, mas na
arrogância, sobretudo quanto à aplicação ou finalidade do saber. A arrogância, segundo o
filósofo, é característica da natureza humana, mas atinge seu ápice principalmente entre os
acadêmicos e doutos. Por isso a importância de no contexto da reforma da ciência, se pensar
também o papel dos próprios filósofos e pesquisadores. Sem dúvida a crítica tecida por Bacon
a respeito da arrogância na atividade de pesquisa e da produção do conhecimento constitui um
legado do seu pensamento.
Ao apontar e criticar a arrogância na atividade ou processo de construção do
conhecimento, o inglês abre margem para dois aspectos. O primeiro, – fizemos menção no
tópico 2.1 – se refere à interpretação de Dussán, na qual ele sustenta que o projeto de reforma
baconiano se vincula às virtudes morais, especialmente, “la caridad y la humildad”. O próprio
Bacon deixa clara a estreiteza dessa relação apresentada por Dussán, quando argumenta que o
conhecimento, “se se separa da caridade [Amor] e não se aplica ao bem dos homens e da
humanidade, é mais glória ressonante e indigna que virtude meritória e substancial”.
Essa discussão é encontrada também em (MENNA, 2011, p. 92). Lá ele assenta: “Bacon diz que a
verdadeira causa da queda não é a curiosidade intelectual, mas o orgulhoso desejo do homem de
conhecer o bem e o mal e desse modo tentar ser um legislador, independente de Deus”.
32
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
55
(BACON, 2007, p. 22). Entretanto, conforme já tínhamos mencionado anteriormente no
tópico 2.1, embora essas virtudes, oriundas da esfera teológico-cristã, sejam relevantes para o
projeto de reforma baconiano, todavia religião e conhecimento científico são domínios
diferentes. O segundo aspecto consiste em mostrar que, conforme Bacon, o avanço do
conhecimento nem contraria a religião, nem a ela está submisso. Nesse sentido, assevera
Zagorin, para Bacon, “a procura [...] do conhecimento e a ilimitada investigação da natureza
não são nem contrárias nem nocivas à religião”. (ZAGORIN apud MENNA, 2011, p. 92). A
pesquisa e a ampliação do conhecimento devem-se manter independentes da religião e,
portanto, não conflitar com a última, ou, vice-versa. Cada domínio ocupe-se com o que é da
sua competência33.
Em suma, ao contestar a opinião dos teólogos, Bacon deixa claro que a ampliação do
conhecimento não contraria a religião, ou, em última instância, não contraria a Deus. Sustenta
que o conhecimento e a pesquisa precisam se afastar da arrogância e de pretensões vaidosas.
E, por fim, defende que o conhecimento precisa estar direcionado para o bem da humanidade,
tendo como elo dessa conjuntura, a caridade. Na avaliação do filósofo, jamais seria pecado o
esforço e trabalho empreendidos com o objetivo de tornar avançado o conhecimento sobre a
natureza. O conhecimento necessita ser expandido. Segundo o inglês, apenas três coisas
deveriam limitar e circunscrever o conhecimento humano. São elas:
A primeira, que não situemos nossa felicidade no conhecimento a ponto de
esquecer nossa mortalidade. A segunda, que apliquemos nosso
conhecimento de modo que nos dê repouso e contentamento, e não
inquietude ou insatisfação. A terceira, que não tenhamos a presunção de,
pela contemplação da natureza, alcançar os mistérios de Deus. (BACON,
2007, p. 22).
Nada impede que se busque com afinco o avanço e a navegação sobre as águas do
grande „mar‟ desconhecido. Seja ele a natureza, seja ele o próprio homem. Porém, alerta o
filósofo: a) não depositemos toda a nossa felicidade na ciência, ela por si só não dará conta; b)
a aplicação do conhecimento abriga como prioridade o bem estar e contentamento humano,
não o contrário, ou seja, causar danos ou destruição; c) os mistérios divinos são inacessíveis
ao intelecto humano. Para o inglês, o conhecimento passa a ser prejudicial, quando “os
homens sucumbem em formar conclusões a partir de seu conhecimento [individual],
aplicando-o a seu afã particular, e deste modo ministrando a si mesmos temores covardes ou
33
Essa discussão que envolve a autonomia da ciência em relação à religião pode ser conferida em (MENNA,
2011, p. 90).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
56
desejos imoderados...”. (BACON, 2007, p. 23). A questão não está em aumentar o
conhecimento, mas, sim, em não se dar conta de que o conhecimento ao invés de conforto
converta-se em perturbação, ao invés de ser aplicado na perspectiva do benefício geral, seja
aplicado somente na perspectiva do particular. A preocupação com o bem da humanidade é
recorrente na filosofia de Bacon. Eis, portanto, em linhas gerais, a opinião dos teólogos acerca
do avanço do saber, e a argumentação de Bacon em defesa do conhecimento. Tem-se, nessa
esteira, uma forte discussão entre, de um lado, a religião e, do outro, a ciência.
2.2.2 A problemática em torno dos políticos
O segundo grupo apontado por Bacon como problemático no tocante ao avanço do
conhecimento é o dos políticos. Conforme o filósofo, a opinião dos políticos consistia no
seguinte:
o saber amolece o ânimo dos homens e os torna mais ineptos para a honra e
o exercício das armas; [o saber] danifica e perverte os ânimos dos homens
para os assuntos de governo e da política, tornando-os demasiado curiosos e
irresolutos pela variedade de leituras, (...) [o saber] separa os esforços dos
homens da ação e dos negócios e os leva a um amor ao ócio e à privacidade;
e que introduz nos Estados um relaxamento da disciplina, quando todos
estão mais dispostos a discutir de que a obedecer e a executar. (BACON,
2007, p. 25).
A ampliação do conhecimento pareceria uma ameaça ao poder político, de modo que,
aguçar a curiosidade dos homens não seria relevante. Inibir a capacidade de reflexão, sim,
seria boa estratégia, pois tornar-se-ia menos trabalhoso manter a ordem e a obediência. Com
base na citação do filósofo, percebe-se que o saber é acusado de causar três coisas: tornar os
homens preguiçosos, atrapalhar os negócios e tornar os homens desobedientes às leis e
desinteressados pelos assuntos políticos. Encontramos um ranço muito forte do período
anterior a Bacon, no qual prevalecia as explicações da Igreja, o predomínio da ciência
contemplativa e o comodismo conformado pela teologia. O objetivo do inglês era contestar
essa postura e despertar a atividade de pesquisa.
Quanto à primeira acusação, argumenta Bacon, não é verdade que o saber torna os
homens preguiçosos. É preciso examinar os discursos dos políticos, pois são contraditórios.
Primeiro, escreve o filósofo, se é verdade que o saber aguça a curiosidade e põe os homens
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
57
em movimentos e agitações, “seria estranho que aquilo que acostuma a mente a movimento e
agitação perpétuos induzisse à preguiça”. Segundo, assenta o filósofo, “nenhum tipo de
homem ama a atividade por si mesma, a não ser os doutos”34. Movimento e agitação são
contrários à preguiça. Portanto, é inadequado afirmar que o saber torna os homens
preguiçosos.
Em relação à segunda acusação, Bacon não admite que o saber seja visto como algo
que atrapalhe os negócios dos homens e os tornem ociosos. Até porque, mesmo os homens
mais ativos e ocupados possuem momentos vagos. Por exemplo, momentos de lazer,
momentos de espera entre uma atividade e outra, etc. Nada impediria o estudioso deixar de
realizar seus negócios e atividades. O intento e trabalho de adquirir conhecimentos poderiam
muito bem ser desempenhados nos momentos vagos. Se se diz que o saber demanda
demasiado tempo ou ócio, encerra o inglês,
respondo que o homem mais ativo ou ocupado que tenha havido ou possa
haver tem (indiscutivelmente) muitos momentos vagos de lazer, enquanto
espera as ocasiões e os resultados de seus negócios (a não ser que seja lento
para despachar seus assuntos, ou frívola e indignamente se empenhe em
intrometer-se em coisas que outros podem fazer melhor do que ele); e então
a questão está em como devem ser preenchidos e gastos esses intervalos de
tempo livre, se em prazeres ou em estudos. (BACON, 2007, p. 32).
Não é verdade que o conhecimento seja prejudicial aos negócios e afazeres dos
homens. Pelo contrário. É a realização de estudos aprofundados que pode, inclusive, fazer
com que os negócios e atividades sejam consolidados.
Acerca da terceira acusação, declara Bacon,
No que diz respeito a essa outra idéia de que o saber enfraqueça a reverência
devida às leis e ao governo, sem dúvida é mera detração e calúnia sem
sombra de verdade. Pois dizer que o hábito cego de obediência é mais segura
lealdade que o sentido do dever ensinado e entendido, é afirmar que um cego
pode pisar mais seguro guiado por um guia que um homem são de vista
iluminado por uma luz. (BACON, 2007, p. 32).
Segundo o Lord, o que prejudica a obediência às leis e ao governo não é o
conhecimento, mas a ignorância. Sua argumentação deixa claro, que o conhecimento torna os
espíritos mansos, nobres, dúcteis e dóceis ao governo, ao passo que a ignorância os torna
contumazes, refratários e sediciosos. O domínio da política é extremamente problemático e
34
Ambas citações presentes em (BACON, 2007, p. 31).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
58
carece reflexão. A corrupção torna seus atores egoístas, alheios aos interesses coletivos e
negligentes quanto aos seus deveres. Nos termos do filósofo,
a classe mais corrupta de meros políticos, que não têm seus pensamentos
estabelecidos pelo saber no amor e na consideração do dever, nem olham
nunca para a universalidade, mas referem todas as coisas a si mesmos, e se
situam no centro do mundo, como se tudo tivesse que confluir neles e em
suas fortunas. (BACON, 2007, p. 41).
Eis, portanto, a crítica baconiana à classe política e a defesa do filósofo sustentando
que o afastamento da ignorância infunde no homem obediência às leis e consciência acerca
dos deveres. Acompanhemos, a seguir, a dificultosa relação que aglutina os sábios, a natureza
dos estudos desenvolvidos por eles, a aplicação do conhecimento produzido e a negligência
dos Estados no tocante aos investimentos em educação e pesquisas.
2.2.3 A problemática em volta dos doutos e acadêmicos
O terceiro grupo analisado por Bacon no tocante à questão do avanço do saber trata-se
dos próprios doutores, sábios ou acadêmicos. Na análise do Lord, esse grupo deveria
contribuir com o avanço e a boa imagem do conhecimento, mas não era isso que estava
ocorrendo. O saber estava em descrédito. Por quais razões? Conforme o inglês, o descrédito
que circundava o conhecimento devia-se a três fatores e com graus ascendentes de
importância: à fortuna em alguma medida; aos costumes dos doutos em maior quantidade; e,
num grau mais elevado, à natureza ou tipos de estudos que eram realizados. Um dos graves
problemas apontado por Bacon na relação doutores e descrédito do conhecimento era o apreço
à riqueza e a busca exacerbada pelo lucro. Os Estados não se preocupavam em investir em
pesquisas. O exemplo que ele apresenta tomando como referência uma citação de Tito Lívio é
a República romana. Essa última, durante o tempo em que se manteve afastada da avareza e
do afã da ostentação foi um Estado sem paradoxos, uma república virtuosa, de modo que,
“jamais houve república maior, mais religiosa, nem mais rica em bons exemplos” (BACON,
2007, p. 35). A partir do momento que se voltou para a busca de riquezas e de ostentação
degenerou-se. Após o Estado romano ter se degenerado, argumenta Bacon, um conselheiro de
Júlio César, ao orientar o imperador acerca de por onde deveria iniciar a restauração do
Estado, atacou o apego à riqueza e se expressou do seguinte modo: “[Mas estes e todos os
demais males cessarão (diz ele) quando cessar o culto ao dinheiro, quando nem as
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
59
magistraturas nem as demais coisas que o vulgo ambiciona estejam à venda” (BACON, 2007,
p. 36). Tamanha era a corrupção, o apego à riqueza e a procura pelo lucro.
A ambição dos Estados tornava os sábios e pesquisadores invisíveis. Não obstante
Bacon ter criticado com veemência a vaidade, a arrogância e o egoísmo entre os acadêmicos –
por conta disto, salienta Dussán, a reforma do conhecimento deveria incluir também os sábios
– conforme poderemos ver no tópico 2.3, o filósofo igualmente propôs com bastante afinco,
que se valorizassem os bons e comprometidos pesquisadores, que se lhes atribuíssem
reconhecimento e honra como se fazem aos homens das cortes, por fim, que se lhes pagassem
salários dignos. Os Estados, afirma Bacon, costumam ser negligentes quanto à educação e à
escolha de mestres e preceptores. Isto sem dúvida desdobra-se em sérias consequências no
que tange à ampliação do conhecimento. A busca por riquezas e lucro, em parte cultivada
pelos próprios doutos, em parte maior cultivada pelos Estados, constituiu-se grande causa de
obstáculo, descrédito e degeneração do conhecimento da natureza. Portanto, alvo da crítica
baconiana.
Entre os erros que envolvem os acadêmicos, Bacon observa o seguinte. a) Há um
descompasso frequente entre o conhecimento produzido e a aplicação deste na vida das
pessoas. “Comumente incide sobre os doutos, (...) é que às vezes não sabem aplicar-se às
pessoas particulares” (BACON, 2007, p. 41). b) Há também três futilidades que circundam os
estudos e prejudicam a ciência. Primeira, o saber fantástico (fúteis imaginações). Segunda, o
saber contencioso (fúteis altercações). Terceira, o saber delicado (fúteis afetações). Conforme
Bernardo de Oliveira, “estes três destemperos caracterizariam as principais tendências [da
época de Bacon]: neoplatonismo, escolástica aristotélica e retórica humanista”. (OLIVEIRA,
2002, p. 65). Dussán também explica esses três tipos de saber que prejudicam o avanço da
ciência, no seu texto intitulado Crítica moral de Francis Bacon a la filosofía. Segundo ele, “el
saber fantástico es aquel concerniente al engaño o a la falsedad, en muchos casos, por permitir
la mezcla entre filosofía y teología, por lo cual confunde el objeto de estudio” (DUSSÁN,
2009, p. 106). O saber contencioso é o “que prevaleció en los escolásticos, Bacon entiende:
"aquel" que si bien abandona las palabras, no trabaja sobre la naturaleza sino sobre las
mismas construcciones teóricas de los filósofos”. (Idem, p. 106). E por saber delicado, afirma
Dussán, se “entiende aquel que es condenado porque estudia las palabras y no las cosas”.
(DUSSÁN, 2009, p. 106).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
60
Esses saberes reforçariam a cultura das palavras. O inglês estava preocupado na
verdade com o estabelecimento de um novo caminho para a ciência. Caminho esse que
tornasse a ciência capaz de penetrar, desvelar os segredos da natureza, ser prática e útil
efetivamente para os homens indistintamente. Embora o filósofo defendesse com veemência o
avanço da ciência, contudo, não se pode esquecer sua máxima: “pois a natureza não se vence,
se não quando se lhe obedece” (I: 3), destacamos esse „princípio‟ no capítulo anterior. Ao
defender a libertação do conhecimento das amarras dos teólogos, dos políticos e refletir sobre
as circunstâncias que cercavam a academia e os doutos de sua época, o passo seguinte é
propor o que deve ser incorporado ao projeto de reforma do conhecimento e o que deve ser
rejeitado. É o que discutiremos no tópico a seguir.
2.3 Aspectos que integram a noção baconiana de progresso
Nesse tópico, discutiremos à luz da filosofia baconiana, sobretudo tomando como
referência a primeira parte de O progresso do conhecimento, aspectos que são fundamentais à
noção de progresso concebida pelo autor do Novum Organum. Por um lado, o inglês indica
uma série de fatores. Por exemplo, que os Estados invistam em pesquisa, que se busque reunir
em volta das instituições de pesquisas os melhores pesquisadores, que se valorize tais
pesquisadores e os remunerem bem. Por outro, ele propõe que se abandone o saber
professoral desarraigado da prática, a educação meramente repetitiva, a prática de exercícios
que não correspondam à realidade, entre outros. Acompanhemos a seguir os posicionamentos
do inglês, a começar pela crítica ao saber professoral. Por motivo didático, abordaremos esses
aspectos em alíneas.
a) É preciso superar o saber meramente professoral. Afirma o filósofo, “nem há que se
esquecer tão pouco que essa dedicação das instituições e dotações ao saber professoral não só
têm tido um aspecto e influência malignos sobre o crescimento das ciências, como ademais
têm sido prejudicial para os Estados e governos”. (BACON, 2007, p. 105). Destaque meu. Até
os doutos, salienta Dussán, ajustados à proposta de se construir novos e úteis saberes,
deveriam “despojarse de la investidura de docto, esto es, dejar de lado los discursos típicos de
los doctos, dejar por un momento la academia y sus argumentaciones y situarse del lado del
común de los hombres”. (DUSSÁN, 2009, p. 102).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
61
b) É necessário estudar a natureza com profundidade e descer à raiz das coisas. Nas
palavras do Chanceler, “mas, se se quer que uma árvore dê mais frutos do que costuma dar,
não é o que se faça aos ramos, mas o revolver a terra e pôr humo novo em redor das raízes o
que resolverá”. (BACON, 2007, p. 105). A árvore que o autor inglês se refere aqui diz
respeito à ciência e de modo especial à filosofia natural. Se a ciência e a filosofia natural
quiserem dar passos mais firmes na direção de investigar melhor, interpretar e conhecer com
verticalidade a natureza, é necessário afastar-se do saber professoral e livresco. É preciso
buscar uma nova lógica ou um novo método em contraposição ao silogismo de Aristóteles
fortemente cultivado pela teologia escolástica. Pois, assevera Bacon,
há que se recordar a propósito deste último ponto [a conversão da filosofia
de Aristóteles em teologia pelos escolásticos], ... que na demonstração da
dignidade do conhecimento ou saber separei desde o começo o testemunho
divino [fé] do humano [razão], e tal é o método que tenho seguido, tratando
os dois [filosofia e teologia] separadamente. (BACON, 2007, p. 96).
Destaques meus.
c) É preciso que a educação seja capaz de aliar teoria e prática, conteúdos e realidade,
exercícios e correspondência com a vida. Na avaliação de Bacon, as ciências estavam
estagnadas e os príncipes da sua época tinham dificuldades em encontrar pessoas capacitadas
nos assuntos de Estado, “porque não há nos colégios uma educação livre com a qual os que
tiverem esta inclinação possam dedicar-se às histórias, às línguas modernas, aos livros de
política e temas civis, e outras coisas semelhantes...”. (BACON, 2007, p. 105). Em Bensalém,
ilha descrita por Bacon na Nova Atlântida, ao contrário, a educação vigente por lá mostravase bastante dinâmica e frutífera. Por exemplo, um dos tripulantes do navio que se perdeu e
atingiu a ilha, constatou que “o povo [daquela ilha] dominava várias línguas e era tomado de
humanidade...” (BACON, 1999, p. 224). Destaque meu.
Vale destacar que, a crítica que Bacon tece contra o estudo das palavras não significa,
por exemplo – como apresenta Mauro Grün, um Bacon a-histórico e negador da tradição,
discutiremos isto no terceiro capítulo –, uma recusa absoluta ou desvalorização do estudo da
história, dos saberes antigos, das letras ou coisas parecidas. Não restringir-se meramente às
palavras, segundo o inglês, quer dizer voltar-se para a realidade, para a observação dos fatos,
para o estudo cuidadoso das coisas mesmas, portanto, para a tentativa de se aliar teoria e
prática.
A educação, na esteira da proposta baconiana, deve levar em consideração uma coisa,
a saber, a criatividade. Não poderão surgir inventos úteis para a humanidade nem avanços
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
62
para a ciência se a educação basear-se somente em repetições e decorações do mesmo. Numa
crítica bastante veemente à separação entre pensamento e ação, teoria e prática, imagens e
realidade. Numa crítica extremamente vigorosa à educação livresca e repetitiva tal como
faziam os escolástico, escreve Bacon,
é uma falta que encontro nos exercícios empregados nas universidades, que
divorciam demasiadamente invenção e memória; pois seus discursos são, ou
bem premeditados, onde não se deixa nada à invenção, ou bem
extemporâneos, onde se deixa pouco à memória; enquanto na vida e na ação
o que menos se usa é um ou outro, empregando-se, isto sim, combinações de
premeditação e invenção, notas e memória. De modo que neste caso o
exercício não se ajusta à prática, nem a imagem à vida... (BACON, 2007, pp.
108-109).
O trecho aponta aspectos fundamentais do pensamento de Bacon. Primeiro, a
universidade precisa estar atenta à realidade que cerca. Segundo, no tocante à produção do
conhecimento, as coisas não podem correr aleatória e separadamente. As invenções são
relevantes, mas a memória também. Os discursos precisam girar em torno das questões e
problemas pertinentes. Os conteúdos trabalhados nas universidades devem considerar a
prática e a vida na realidade. Se não os saberes produzidos cairão no âmbito da inutilidade. A
realidade e a vida não podem ser perdidos de vista. Neste sentido, a educação, o Estado, as
instituições de ensino, de pesquisa, sobretudo, as universidades têm um papel importante.
Sobre o tema ainda da educação eficiente que pode contribuir para o avanço das
ciências e o estudo da natureza, segundo Bacon, é fundamental que além dos livros se tenham
outros recursos e instrumentos. Afirma o Lord:
Mas é certo que para o estudo profundo, frutífero e operativo de muitas
ciências, e em especial da filosofia natural e da medicina, os livros não são
os únicos instrumentos; (...) pois vemos que com os livros se têm utilizado
esferas, globos, astrolábios, mapas, etc., como aparatos necessários para a
astronomia e a cosmografia; vemos também que alguns lugares destinados
ao estudo da medicina têm anexado a comodidade de jardins com todo tipo
de amostras, e dispõem também de cadáveres para as dissecações. (BACON,
2007, p. 107).
O filósofo adentra por meio desse texto numa questão metodológica. O que é
importante no estudo da natureza? Como fazer para que os conhecimentos produzidos pelas
universidades e homens doutos não incorram em inutilidade e ausência de bons frutos?
Esbarramo-nos na relevância do método experimental. Entram aí, não só a invenção ou
criatividade, mas a utilização de experimentos e de instrumentos que corroborem com o êxito
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
63
da experiência e da pesquisa. Até os jogos de entretenimento podem contribuir com o
processo de uma educação não estática. Declara o filósofo: “quanto aos jogos de
entretenimento, os considero incluídos dentro da vida e educação civis”. (BACON, 2007, p.
178). O que não dá para admitir é conformar-se com o estabelecido. É preciso pensar a ordem
vigente.
O inglês deixa patente que se a meta é adquirir conhecimento aprofundado da
natureza, saber frutífero e útil à vida do homem, os livros sozinhos não são suficientes.
Munir-se de instrumentos e valorizar a experimentação são indispensáveis para que se possa
avançar no processo de interpretação e conhecimento da natureza. Aliás, foi graças ao cultivo
de uma educação que valorizasse, de um lado, o estudo da história e das línguas, e do outro, a
experimentação e a prática, que a Ilha de Bensalém, por intermédio da Casa de Salomão –
esta, uma instituição ou centro de pesquisas – atingiu resultados relevantes para o
melhoramento da vida humana. No entanto, pode-se questionar: mas, Bensalém, a Casa de
Salomão, a Nova Atlântida estão no âmbito da utopia?!
Segundo Oliveira, as narrativas utópicas foram escritas para um público muito mais
amplo do que o que lia os ensaios e tratados filosóficos. Ele afirma que, no imaginário utópico
do século XVII, se sobressai o interesse pelas técnicas e ciências e a aposta no
desenvolvimento da filosofia da natureza como um conhecimento socialmente útil. No seu
artigo intitulado A Ciência Nas Utopias De Campanella, Bacon, Comenius, E Glanvill,
Oliveira afirma que a Utopia de Bacon deve ser vista como uma forma de tentar ensinar os
homens a desejarem, mostrando a eles o que seria possível com sua força. Conforme Oliveira,
em Nova Atlântida se encontra o modelo de uma sociedade unificada, na qual o empenho na
busca do conhecimento-domínio da natureza traria estabilidade civil e prosperidade
econômica. De acordo com a explicação do autor no artigo supracitado, a Casa de Salomão
trata-se de um grande laboratório dedicado ao desenvolvimento da pesquisa tecnológica para
o avanço do conhecimento e bem-estar da população. Ao analisar estes aspectos sinalizados
por Oliveira, torna-se plausível afirmar que, para Bacon, desenvolvimento científico e
tecnológico – ou seja, o progresso – se vincula fortemente ao conhecimento da natureza e ao
beneficiamento da sociedade35. Acerca dessa discussão em torno da utopia baconiana,
completa Japiassu: “a obra de ficção Nova Atlântida é uma utopia técnica, situada numa ilha
Toda a discussão desenvolvida nesse parágrafo pode ser conferida em: (OLIVEIRA, em
KRITERION, Belo Horizonte, nº 106, Dez/2002, pp. 47-49).
35
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
64
de felicidade, abrigando um “Templo de Salomão” ou uma “universidade técnica” onde se
fabricam objetos extraordinariamente úteis à vida humana” (JAPIASSU, 1995, p. 26).
Assim, voltando à questão acerca dos resultados oriundos da educação e da prática
científica em Bensalém, escreve Bacon:
Temos ainda diversas artes mecânicas... bem como produtos obtidos por
meio delas, como o papel, o linho, a seda, tecidos... temos calores que
imitam o calor do sol e dos corpos celestes, ... Temos certos aparelhos que,
aplicados ao ouvido, aumentam a audição, ... Imitamos ainda o vôo dos
pássaros e dispomos de algumas formas de voar pelo ar; navios e barcos que
vão sob a água e que são capazes de suportar a violência dos mares, ...
Imitamos ainda os movimentos das criaturas vivas, como os do homem, dos
animais, dos pássaros, dos peixes e das serpentes. (BACON, 1999, pp. 249251).
A citação ilustra bem o que Bacon entendia por avanços da ciência e progresso.
Provavelmente, estejam aí elementos que fundamentam a tese de Oliveira, para quem, em
Bacon encontra-se fundamentação para a ciência como tecnologia. Ciência e tecnologia
aparecem muito próximas. O filósofo concebe coisas que só serão concretizadas séculos
depois. É o caso do avião, do submarino, dos aparelhos auditivos, da robótica, etc. Todos
esses aspectos podem ser discutidos e foram pensados pelo inglês. Talvez seja por isso que
Japiassu considera o filósofo um profeta da ciência moderna.
Não resta dúvida que o universo de Bacon ainda é bastante pré-científico.
Mas ele contribuiu para lançar o homem na conquista da natureza. Homem
de transição, uma espécie de novo Moisés, mostrou à humanidade a terra
prometida. Mas não conseguiu entrar nela. Foi o profeta da revolução
científica, não seu realizador, seu herói e ser mártir. (JAPIASSU, 1995, p.
22).
Estudando a natureza e imitando o movimento das criaturas vivas como o homem, os
animais, pássaros, peixes e serpentes, tornaria possível criar uma segunda natureza. Teríamos
aí, o que se pode chamar em termos baconianos, a plasticidade. Porém, nada disso seria
efetivado se uma educação eficiente, criativa, ampla e voltada para a prática não fosse
implementada. Esse seria o caminho para que o homem pudesse controlar a natureza. Por isso,
acrescenta Japiassu ao se referir à Nova Atlântida, “as instalações da ilha devem comportar
laboratórios de todos os tipos, onde todos os aparelhos precisam ser estudados e aprimorados
para o melhor bem-estar técnico da humanidade e para sua maior felicidade geral”
(JAPIASSU, 1995, p. 21). O barco deveria navegar tendo em vista este porto: ampliação do
conhecimento da natureza e felicidade para a humanidade. Lembrando que, para Bacon, porto
não significaria acabamento, apreensão total da verdade, nem tão pouco conformar-se ou
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
65
aceitar o estabelecido inquestionavelmente. O porto seria um estágio, uma pausa, um
momento de espera até iniciar a próxima viagem. Pois, a pesquisa deve ser contínua.
Entretanto, vale lembrar igualmente, nessa conjuntura de barco, mar, viagem e porto –
imagens que são trabalhadas por Bacon –, o naufrágio também se insere como possibilidade.
d) É preciso investir na prática de experimentações. Declara Bacon, “dificilmente se
fará avanço importante no desvelamento da natureza se não se designam fundos para gastos
de experimentação...”. (BACON, 2007, p. 107).
e) É fundamental que se requisite os mais preparados professores – investigadores da
natureza – e pague a estes pesquisadores salários que lhes permitam viver dignamente. Pontua
o filósofo inglês,
Pois para o progresso das ciências é necessário que os professores sejam
escolhidos entre os homens mais capazes e eficientes... Isto não será possível
se sua condição e remuneração não são tais que possam persuadir o mais
capacitado a dedicar todo seu esforço e permanecer toda sua vida nessa
função e serviço... (BACON, 2007, pp. 105-106).
f) Além dos investimentos em pesquisas, reconhecimento e valorização do papel dos
pesquisadores inclusive pagando-os bem, indica Bacon, é preciso que haja fiscalização nos
serviços de educação com a seguinte finalidade: o que estiver adequado deve ser mantido,
porém, o que estiver desajustado deve sofrer intervenção e reforma. Declara o filósofo:
Outro defeito que observo é uma negligência e descuido, nas consultorias
dos reitores das universidades, e nas inspeções dos príncipes ou superiores,
para tomar em consideração e examinar se as aulas, exercícios e outras
coisas habitualmente associadas ao saber, iniciadas em tempos antigos
[Bacon não ignora o saber antigo] e desde então mantidas, estão bem
instituídas ou não, e sobre isso fundamentar uma emenda ou reforma daquilo
que pareça inadequado. (BACON, 2007, p. 107). Destaque meu.
Não é bom que se opere a educação com descuidos. O acompanhamento por parte do
Estado e sua responsabilidade no quesito educação e pesquisa é fundamental para que o saber
torne-se eficiente, avance e seja útil para a humanidade. A educação e a pesquisa sobre a
natureza precisam ser levadas a sério.
g) É extremamente relevante – ante a tarefa de procurar conhecer a natureza na sua
complexidade – que haja intercâmbio e permanente diálogo entre as universidades e as
instituições de pesquisas. Trocar experiências é indispensável ao avanço do saber. Esse
posicionamento do inglês está contemplado não só em O Progresso do Conhecimento,
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
66
quando ele escreve que “o progresso do conhecimento..., conheceria ainda maior avanço se
houvesse mais inteligência mútua entre as universidades...” (BACON, 2007, p. 109), como
igualmente em A Nova Atlântida. A ilha de Bensalém na qual foi estabelecida a Casa de
Salomão, tendo em vista a divulgação da ciência produzida por lá, a troca de saberes e de
experiências com outras instituições de pesquisa, estabeleceu o seguinte regulamento:
que cada doze anos seriam enviados para fora do reino dois navios, para
várias viagens; que em cada um deles fosse uma comissão de três dos
membros ou irmãos da Casa de Salomão, cuja missão seria apenas a de nos
dar a conhecer os assuntos e o estado, naqueles países para os quais fossem
enviados, especialmente, das ciências, artes, manufaturas e invenções de
todo o mundo; e também trazer livros, instrumentos e modelos de toda
espécie... (BACON, 1999, p. 237).
A primeira inferência da citação „cada doze anos...‟ aponta para a paciência que deve
ser cultivada no desempenho da pesquisa. A natureza, possuidora de estratos profundos, de
uma enorme complexidade e, portanto, superior aos sentidos e ao intelecto do homem, não
pode ser conhecida adequadamente se as pesquisas forem apressadas e imediatistas. Embora,
Bacon fosse entusiasta do conhecimento voltado para a utilidade, todavia, a construção desse
conhecimento envolve: paciência, humildade e foco no bem-estar da humanidade. Por isso a
importância de não restringir-se somente às palavras. Estas podem nos impor falsas
aparências. “A cautela que se tome contra elas [as palavras] é de suma importância para a reta
direção do juízo humano”. (BACON, 2007, p. 201). Destaque meu.
h) Considerar e avaliar as diversas opiniões que se tem sobre a natureza. Assevera o
filósofo, “convém ver as diversas glosas e opiniões que se tem dado sobre a natureza, nas
quais pode suceder que cada um tenha visto mais claro numa questão que seus colegas”.
(BACON, 2007, p. 161). Essa postura do inglês aponta para a importância de se considerar as
atividades que envolvam outras instituições de pesquisas, outros grupos de pesquisadores,
outros estudos desenvolvidos em períodos diferentes, inclusive o saber dos antigos. Seria
extremamente frutífero ao progresso do conhecimento, reunir a diversidade de opiniões acerca
da natureza. O próprio Bacon planejava desenvolver trabalho nesta perspectiva. Fazia parte do
seu objetivo, recompor a história da natureza. A Instauração era um projeto enciclopédico.
Nos termos de Japiassu, “Bacon revela uma universal curiosidade. E sua sede de maravilhas
já se projeta num programa enciclopédico. A Grande Instauração define um inventário das
possibilidades técnicas e científicas da humanidade” (JAPIASSU, 1995, p. 20). Considerar as
diversas opiniões sobre a natureza pode ainda apontar, dentro da filosofia baconiana, para o
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
67
diálogo que deve haver entre os pesquisadores e outras áreas do saber. Mas não apenas isso.
Aponta também para a importância de considerar os saberes não acadêmicos, as experiências
dos homens comuns. Os exemplos comuns e familiares não podem ser desperdiçados. “Temos
abandonado muito prematuramente e nos afastado excessivamente dos particulares”
(BACON, 2007, p. 149). Conhecer a totalidade de uma determinada realidade é extremamente
relevante. Porém, não se pode esquecer das partes.
i) É preciso afastar-se da fragmentação do saber. O filósofo criticou veementemente a
fragmentação dos conhecimentos. O objetivo da Grande Instauração era recuperar essa
fragmentação. No Progresso do Conhecimento, ele escreve: “e em geral há de seguir-se esta
norma, aceitar todas as partições dos conhecimentos mais como linhas e veias que como
seções e separações, e manter a continuidade e integridade do conhecimento”. (BACON,
2007, p. 163). Destaque meu. Nesse sentido, ouvir o(s) outro(s) contribui em larga medida
para que o conhecimento seja aperfeiçoado, menos quebradiço. Esse aspecto é encontrado
também na Nova Atlântida, mediante a saída periódica de uma embarcação, cuja finalidade é
aprender coisas novas, informar-se a respeito do que está acontecendo no mundo, agregar
novas técnicas e saberes. Ao escrever sobre a divisão e classificação do conhecimento, haja
vista o projeto da Grande Instauração, Menna, amparado em um posicionamento de Zagorin,
expressa: “Bacon considera todas as regiões do conhecimento como partes interligadas e
igualmente importantes do „globo intelectual‟, e portanto evita fazer uma organização
hierárquica das diferentes ciências”. (MENNA, 2011, p. 45). Assim, fica claro que o diálogo
entre pesquisadores, instituições de pesquisas, diferentes áreas do conhecimento e a troca de
experiências eram extremamente bem vistos e admitidos pelo Barão de Verulam.
Encontramos aí uma nuance metodológica. Abre-se até uma janela para formular a seguinte
questão: teríamos aqui sementes da chamada interdisciplinaridade36?
36
Segundo José de Ávila Aguiar Coimbra, a interdisciplinaridade entrou para o vocabulário acadêmico usual,
timidamente e tateando, há cerca de dois decênios. “O vocábulo “interdisciplinaridade” apresenta-se
despretensioso na sua origem, ambíguo na sua acepção corrente e complexo na sua aplicação. Na verdade,
parece que tais características se verificam facilmente. Tome-se como ponto de partida a gênese da palavra, na
sua conceituação etimológica. Sua formação deu-se efetivamente pela união da preposição latina inter ao
substantivo disciplinaridade, resultando num conceito que é gráfica, fonética e semanticamente diferente de
outros afins, como a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a intradisciplinaridade”. (COIMBRA, 2000,
p. 54). Conforme Coimbra, a interdisciplinaridade tem a ver com um tema, um objeto ou abordagem em que
duas ou mais disciplinas intencionalmente estabelecem nexo e vínculo com o objetivo de apresentar como
resultado um conhecimento amplo, mas ao mesmo tempo diversificado e unificado. A imagem que serve para
ilustrar a interdisciplinaridade é a do balé. (Cf. Idem, p. 58). No balé, tem-se uma série de movimentos, porém
essa diversidade de movimento é coordenada, harmônica, ensaiada, discutida, portanto, unificada.
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
68
O conhecimento da natureza é processo e não teria êxito se se desse isoladamente,
portanto, na perspectiva apenas do gênio e do indivíduo. Segundo argumenta Rossi, “Bacon
introduziu um conceito de grande importância que ficará no centro de sua obra de reforma do
saber: na ciência podem-se alcançar resultados efetivos e consistentes apenas mediante uma
sucessão de pesquisadores e um trabalho de colaboração entre os cientistas”. (ROSSI, 2006, p.
121). Nessa mesma referência, Rossi declara que na filosofia de Bacon, a ciência deve
abandonar a genialidade não controlada de um indivíduo, deve abandonar o acaso, a
arbitrariedade, a síntese apressada em detrimento de tomar como base, um experimentalismo
construído e bem fundado no conhecimento da natureza. Um pouco mais adiante, assenta
Rossi, “A luta em favor de uma coletividade organizada de cientistas, financiados pelo Estado
ou por outras instituições de utilidade pública, e a tentativa de criar uma espécie de
internacional da ciência foram levados adiante por Bacon, com extrema coerência, durante
toda a sua vida”. (ROSSI, 2006, p. 122). Em nossa consideração, esse posicionamento de
Bacon ao propor uma ciência dialógica, colaborativa, agregadora e não „individualizadora‟ ou
individualista, pode muito contribuir com o nosso tempo, inclusive com os estudos a respeito
da natureza e do meio ambiente. Nos termos de Rossi,
A partir dessa identificação da atividade científica com uma obra de
colaboração e com uma sucessão de pesquisas que necessita, para viver, de
instrumentos técnicos, de contatos humanos, de trocas contínuas e da
“publicidade” dos resultados, nascia a exigência de um método rigoroso,
formulado em uma linguagem compreensível e intersubjetiva que pudesse
fornecer regras à atividade humana e que tivesse condições de assegurar seu
progresso. (ROSSI, 2006, p. 125)
Conforme a citação de Rossi, o progresso da ciência está relacionado com a
colaboração entre pesquisadores e instituições de pesquisas, com o uso de instrumentos
técnicos, com as trocas contínuas de saberes, com o estabelecimento de um método, com a
divulgação dos resultados oriundos das pesquisas, mas também com o uso de uma linguagem
que permita acesso e compreensão. A Esfinge costumava ocupar o cume das montanhas de
Tebas. Habitava o alto. Certamente, lugares inacessíveis e dificultosos. A ciência, sugere
Bacon, precisa descer do cume da montanha e atender as necessidades gerando soluções para
o mundo dos homens. Dentro da perspectiva de uma linguagem clara, acessível e objetiva que
sirva de canal ou elo entre a ciência e o homem, Bacon formula a teoria dos ídolos, identificaos, critica-os e propõe que nos afastemos deles.
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
69
Bacon, no Novum Organum, destaca quatro tipos de ídolos. São eles: da tribo, da
caverna, do foro e do teatro. No aforismo (I: 52), ele explica o que seriam os ídolos da tribo.
Afirma que eles “têm origem na uniformidade da substância espiritual do homem, ou nos seus
preconceitos, (...) ou ainda na interferência dos sentimentos ou na incompetência dos sentidos
ou no modo de receber impressões”. São ídolos próprios da natureza humana. Alimentam os
preconceitos e são reforçados pela tradição em certa medida. Segundo Menna, “os ídolos da
tribo são aqueles que são próprios do gênero ou da “tribo” humana em geral; provêm das
limitações e debilidades da natureza humana”. (MENNA, 2011, p. 192). Cabe a ideia, por
exemplo, de que os sentidos são limitados.
No aforismo (I: 53), encontramos a explicação para os ídolos da caverna. Segundo
Bacon, eles “têm origem na peculiar constituição da alma e do corpo de cada um; e também
na educação, no hábito ou em eventos fortuitos”. A fronteira entre os ídolos da tribo e os
ídolos da caverna é bastante tênue. Esse tipo de ídolos também se relaciona com as esferas da
tradição. É próprio de cada um, mas pode incorrer em diversas consequências, frente à
educação que se adquire, os hábitos que são ensinados, etc. Acerca dessa classe de ídolos,
escreve Menna, “os ídolos da caverna são em parte inatos (“devidos à natureza própria e
singular de cada um”) e em parte adquiridos (“educação”, “autoridade”). (MENNA, 2011, p.
194). É preciso despojar-se de tais ídolos. No aforismo (I: 58), Bacon justifica porque
devemos nos livrar dos ídolos da caverna. Pois, eles “provêm de alguma disposição
predominante no estudo, ou do excesso de síntese ou de análise, ou do zelo por certas épocas,
ou ainda da magnitude ou pequenez dos objetos considerados”. E alerta em seguida que “todo
estudioso da natureza deve ter por suspeito o que o intelecto capta e retém com predileção”.
Pois, conforme apresentamos no capítulo anterior, não podemos esquecer que a natureza é
complexa e superior ao intelecto.
Os ídolos do foro são descritos por Bacon no aforismo (I: 59). De acordo com o
filósofo, é preciso muito cuidado com essa classe de ídolos. Pois, eles “são de todo os mais
perturbadores: insinuam-se no intelecto graças ao pacto de palavras e nomes”. Têm a ver com
a linguagem. Acerca deles complementa Menna,
Os ídolos do foro estão relacionados a problemas da linguagem (I: 43). Seu
nome – „do foro‟ ou „do „mercado‟ – provém do fato de que os homens,
graças à sua capacidade de discurso, se reúnem em lugares públicos com a
finalidade de falar. Para Bacon, estes ídolos surgem da confusão originada
pelo uso de termos imprecisos, ou mal definidos, ou aplicados a coisas
inexistentes. (MENNA, 2011, p. 194).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
70
Quanto aos ídolos do teatro, de acordo com os aforismos (I: 61), argumenta Bacon,
“não são inatos, nem se insinuaram às ocultas no intelecto, mas foram abertamente incutidos e
recebidos por meio de fábulas dos sistemas e das pervertidas leis de demonstração”. Esse
grupo de ídolos se refere aos sistemas filosóficos predecessores a Bacon. Nos termos de
Menna, “São os dogmas “fixados na mente” que derivam das falsas doutrinas filosóficas e das
falsas demonstrações. O nome destes ídolos – „do teatro‟ – provém do fato de que Bacon
considera os sistemas filosóficos como fábulas ou fantasias representadas no teatro do
mundo”. (MENNA, 2011, p. 195). Marilena Chaui, também desenvolve análise acerca da
teoria baconiana dos ídolos. Segundo ela, para Bacon, esses quatro tipos de ídolos ou de
imagens corroboram para que opiniões e preconceitos sejam difundidos e cristalizados. Eles
atrofiam a verdade. Vejamos o que acrescenta Chaui.
Em relação aos ídolos da caverna, eles têm a ver com “as opiniões que se formam em
nós por erros e defeitos de nossos órgãos dos sentidos”. Já os ídolos do fórum – ou foro –,
“são as opiniões que se formam em nós como conseqüência da linguagem e de nossas
relações com os outros”. Os ídolos do teatro dizem respeito às “opiniões formadas em nós em
decorrência dos poderes das autoridades que nos impõem seus pontos de vista e os
transformam em decretos e leis inquestionáveis”. Chaui distingue o fórum do teatro. Enquanto
o primeiro é lugar das discussões e dos debates públicos, era assim, inclusive na Roma
Antiga. O segundo, por sua vez, “é o lugar em que ficamos passivos, onde somos apenas
espectadores e receptores de mensagens”. Por fim, os ídolos da tribo. De acordo com Chaui, a
tribo se refere a um agrupamento de pessoas em que todas possuem a mesma origem, o
mesmo destino, as mesmas características e os mesmos comportamentos. Eles se caracterizam
pelas “opiniões que se formam em nós em decorrência da natureza humana. A demolição dos
ídolos é, portanto, uma reforma do intelecto, dos conhecimentos e da sociedade” 37, encerra
Chaui.
Após descrever os quatro tipos de ídolos que interferem e perturbam o intelecto,
utilizou-se da pena Bacon, no aforismo (I: 68), e escreveu: “Por decisão solene e
inquebrantável todos [os ídolos] devem ser abandonados e abjurados. O intelecto deve ser
liberado e expurgado de todos eles (...)”. A reforma do saber não poderia tornar-se alheia aos
problemas da linguagem. É preciso, faço aqui uma analogia com o mito da Esfinge
interpretado pelo filósofo em A sabedoria dos antigos, que as pessoas, os homens comuns –
por via da educação que visa o progresso – sejam capazes e adquiram o poder de, igualmente
37
Todas as citações de Chaui, assentadas nesse parágrafo, estão em: (CHAUI, 2006, p. 126).
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
71
a Édipo, desvendarem os enigmas da Esfinge. A falta de clareza na linguagem, sem dúvida,
compromete a colaboração entre os pesquisadores e prejudica o projeto baconiano de ciência,
tal como consta na tese de Da magia à ciência, a ciência deve ser de “caráter público,
democrático, colaborativo; é feita de contribuições individuais que visam um sucesso comum,
patrimônio de todos”. (ROSSI, 2006, p. 128).
Portanto, nesse capítulo percorremos o seguinte caminho. No primeiro momento,
mostramos a trajetória que a ideia de progresso percorreu desde os gregos até o Renascimento
e início da modernidade. Para isso nos serviu de referência a obra de Dupas intitulada O mito
do progresso. No segundo momento, apresentamos os problemas que dificultavam a
ampliação do conhecimento. Vimos que estas dificuldades ao avanço da ciência radicavam
em três grupos distintos: teólogos, políticos e acadêmicos. Ao apontar esses grupos que em
larga medida serviam de ferrolhos ao avanço da ciência, Bacon defendeu a importância de se
avançar no conhecimento da natureza. Criticou a falta de interesse dos Estados em não
investirem em estudos aprofundados nem em seus pesquisadores. Criticou duramente a
arrogância na produção do conhecimento e, paralelamente, propôs que se vincule o
conhecimento ao bem da humanidade e aos valores éticos. Pois, de acordo com o que escreve
Rossi em Da magia à ciência,
a ciência não é, portanto, para Bacon, uma realidade cultural indiferente aos
valores éticos: alguns, ele escreve, dedicam-se à ciência apenas devido a
uma curiosidade superficial, outros, para obter reputação, outros ainda, para
se sobressaírem nas disputas; pouquíssimos buscam-na para seu verdadeiro
fim que é a vantagem do inteiro gênero humano. (ROSSI, 2006, p. 129).
Na terceira parte procuramos apresentar uma série de nuances que dão corpo ao
projeto de reformulação do conhecimento concebido por Bacon. Por exemplo, entre os
diversos aspectos trabalhados, vimos que o saber meramente professoral e repetitivo é
fortemente criticado pelo filósofo. É preciso que se provoque a curiosidade e a capacidade de
se inventar coisas novas. Vimos que o inglês sugere que as universidades alinhem as suas
pesquisas com a realidade concreta da sociedade, que os seus exercícios tenham
correspondência com a vida prática, que se volte para o estudo das coisas mesmas, etc. O
programa de reforma do conhecimento baconiano, segundo escreve Bernardo de Oliveira,
procura transformar as simples e limitadas experiências e observações em
um empreendimento organizado e sistemático para aumento do
conhecimento e do controle sobre a natureza, seja apontando as falhas de
outras práticas experienciais, seja na transposição de práticas investigativas
de outros campos para o terreno da filosofia natural, ou no detalhamento de
Capítulo 2 - O progresso do conhecimento, o bem da humanidade e a obediência à natureza
72
passos que tornassem mais seguro e efetivo seu desenvolvimento.
(OLIVEIRA, 2002, p. 159).
Esta perspectiva de se produzir conhecimento cujo objetivo fosse principalmente a
descoberta de coisas novas, certamente levou Bacon a criticar os ídolos, os preconceitos, a
incapacidade de se refletir acerca dos dados que recebemos da tradição, inclusive os sistemas
filosóficos estabelecidos. Em contra partida, Bacon defendeu o intercâmbio e diálogo
constante entre os pesquisadores. Defendeu o uso de uma linguagem clara, objetiva e
acessível como instrumento de comunicação da ciência e dos seus resultados. Atacou a
genialidade individual – embora reconhecesse as contribuições que pudessem advir dos
indivíduos estudiosos da natureza – em detrimento da valorização da pesquisa colaborativa,
de caráter público, democrático, que considere a esfera do possível e que se preocupe
permanentemente com o bem estar de todos. Estes foram alguns entre outros aspectos que
abordamos na terceira parte deste capítulo. Consideramos, portanto que, provavelmente,
somente um julgamento apressado e distanciado do texto baconiano, nos levaria a afirmar que
a noção de progresso, concebida pelo autor do Novum Organum, caminha apenas numa única
direção, sem deixar de reconhecer a outra face da moeda, ou seja, a decadência, o naufrágio e
a angústia. Que a noção de progresso abarca consigo o germe ou o vírus da destruição da
natureza. Que o progresso defendido por Bacon é a causa dos danos e males que têm assolado
os tempos posteriores. A ciência e a técnica necessitam avançar, mas há limites. Se o homem
negligenciar a responsabilidade de “adentrar-se em si mesmo ou chamar a si mesmo às contas
(BACON, 2007, p. 91)”, as consequências podem ser desastrosas. A Esfinge, ao invés de
Musa, tornar-se-á monstro que mata e destrói. Essa é uma questão que trabalharemos no
próximo capítulo.
73
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
“O homem inculto não sabe o que é adentrar-se em si mesmo ou chamar a si mesmo às contas ...”
(BACON, 2007, p. 91)
“No han faltado, tampoco, críticas al proyecto baconiano, en especial aquellas que lo acusan de
desarrollar una ciencia de ingenieros, esto es, un saber que sólo propende al desarrollo de artefactos
y obras, las que lo acusan de haber subordinado la verdad a la utilidad, o las que desechan su método
inductivo, entre otras acusaciones”.
(DUSSÁN, 2009, p. 100)
Nesse último capítulo, haja vista a interdisciplinaridade, o objetivo é problematizar a
recepção da filosofia baconiana nas discussões ambientais. Em meio a essas discussões,
encontramos autor como é o caso do sociólogo português, Boaventura, no qual há
convergência entre pontos de sua sociologia e aspectos que são encontrados na filosofia de
Bacon. Por exemplo, a adequação entre teoria e prática. A valorização da diversidade de
experiências. A função que deve cumprir o conhecimento científico. No entanto, uma série de
autores, entre eles, Hans Jonas, Mauro Grün, Andrew Brennan, Carolyn Merchant,
empreendem crítica e divergem do pensamento baconiano. Há problema em criticar e
divergir? Claro que não. O problema consiste no modo como se dá ou como se faz tal crítica.
Na verdade, esses autores incorrem num problema de interpretação e forjam uma imagem de
Bacon que não corresponde ao seu pensamento. Tais interpretações findam contribuindo para
preconceitos em torno do pensamento baconiano.
Em Jonas, Bacon é acusado de elaborar uma noção de progresso, cujo desdobramento
e efetivação nos séculos seguintes se tornou uma ameaça. Uma ameaça para o homem. Uma
ameaça para a natureza. Uma ameaça para o meio ambiente, ferindo, assim, o direito de
existir das gerações futuras. O desenvolvimento da técnica moderna, segundo Jonas, está
desenfreado. É preciso uma nova ética, a chamada ética da responsabilidade. Jonas menciona
Bacon, na crítica que faz ao poderio concretizado pela técnica moderna, porém não o cita.
Esse é um problema que identificamos. Brennan, ao prefaciar Em busca da dimensão ética da
educação ambiental, afirma que a imagem símbolo da ciência moderna, sobretudo concebida
por Bacon e Descartes, é a máquina de terraplanagem. A imagem da máquina que devasta a
floresta e arrasta à força tudo que vem pela frente, Segundo Brennan, se equipara aos
pensamentos desenvolvidos pelos dois filósofos setecentistas. Bacon seria uma espécie de
„pregador‟ da destruição da natureza. Merchant sustenta que Bacon pensa a natureza de modo
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
74
machista. A natureza é fêmea, frágil, por isso pode ser torturada e dominada. Grün, por sua
vez, vê em Bacon um autor aistórico, que rejeita em absoluto a tradição e os ensinamentos dos
antigos. O passado em nada contribui. Levando em consideração estas interpretações,
pergunta-se: os danos causados à natureza, os dilemas suscitados pelo avanço da ciência e da
técnica, têm mesmo como matriz originária a filosofia do autor do Novum Organum? Foi
Bacon um defensor da falta de limites para os avanços da ciência e da técnica?
Com o objetivo de discutir essas questões, estruturamos o texto da seguinte maneira.
Num primeiro momento, apresentamos sinais que apontam aspectos da filosofia baconiana em
Boaventura. Alguns requisitos apontados por Boaventura, no que diz respeito à construção de
uma ciência adjetivada nova, podem ser encontrados em Bacon. Boaventura afirma, por
exemplo, que a nossa racionalidade prima pelo fazer e pelo agir em detrimento do
compreender. Para Bacon, a intervenção, modificação, transformação ou, se quisermos um
termo mais na moda, a ação antrópica só deveria acontecer na natureza após uma
compreensão ou interpretação adequada da mesma. Boaventura, em A sociologia das
ausências, critica fortemente o desajuste entre as teorias e as suas aplicações na prática. O
inglês não pensou distante disso. Não só em A sabedoria dos antigos, de modo especial o
mito da Esfinge, como no Novum Organum – ao tratar da importância do trabalho da mente e
trabalho da mão – também em O progresso do conhecimento, em todos esses textos Bacon
claramente propõe que haja harmonia e adequação entre o conhecimento teórico e a realidade
concreta, a realidade da vida. São marcas do pensamento baconiano: crítica ao lucro
exacerbado. Crítica à falta de investimentos por parte dos Estados em pesquisa. Valorização
dos pesquisadores. Crítica à vaidade e à arrogância na academia. Importância do intercâmbio
entre pesquisadores. Proposição de que a ciência seja um encontro entre colaborações
individuais – mas não individualistas –, esforços gigantescos para se conhecer adequada e
amplamente a realidade natural, mas, sobretudo, a solução de problemas tendo em vista o
melhoramento das condições de vida da humanidade.
Num segundo instante, discutiremos as preocupações de Hans Jonas e a crítica
superficial, equivocada e inadequada que ele faz a Bacon. Veremos que o foco de sua análise
se concentra no avanço da técnica moderna. Como ele mesmo afirma, “As novas faculdades
que tenho em mente são, evidentemente, as da técnica moderna” (JONAS, 2006, p. 29).
Segundo Jonas, a técnica moderna avançou de tal maneira que nos encontramos diante de uma
grande possibilidade de catástrofe, o que se faz necessário pensar uma nova ética. Pois, as
éticas tradicionais não dão conta do dilema que envolve, principalmente, os avanços da
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
75
técnica, a possibilidade de catástrofe e a possibilidade de inexistência das gerações futuras.
Nesse contexto de crítica aos avanços da técnica moderna, Jonas insere Bacon. A tese é que o
panorama ou “paradigma” que fundamenta o desenvolvimento da técnica e da ciência, e que
atinge agora índices alarmantes, constituindo-se em ameaças para a natureza, para o homem
do presente e para as gerações futuras, deve-se, em larga medida, a Francis Bacon. Não
obstante a relevância da reflexão de Jonas, sobretudo no que toca às discussões em matéria de
ética ambiental, nos parece exagero admitir que as ameaças que circundam o homem e a
natureza em virtude do avanço tecnológico sejam por conta da filosofia baconiana.
Por fim, na terceira e última parte, trabalharemos as interpretações de Brennan e Grün.
O primeiro concebe a ciência moderna – e nesse contexto insere Bacon e Descartes como
mentores – semelhante a uma máquina de terraplanagem, conforme já havíamos dito. Grün,
afirma que Bacon rejeita completamente a tradição. Que o passado não nos acrescenta nada.
O que mais nos causa estranheza nas críticas de Jonas, Brennan e Grün, é que eles não citam
os textos de Bacon. Grün cita apenas um trecho do Novum Organum, mas se baseia
fundamentalmente nas ideias de Merchant. Portanto, é dentro dessa conjuntura que se dará a
análise e o objeto de reflexão deste terceiro e último capítulo.
3.1 Considerações acerca das epígrafes iniciais, rastros e ecos da filosofia baconina na
sociologia de Boaventura
Iniciamos o capítulo recorrendo a duas epígrafes. A primeira é de Dussán. Nela, ele
afirma que não tem faltado críticas a Bacon. Muitas dessas críticas acusam o filósofo de ter
desenvolvido uma ciência de engenheiros cujo fim está direcionado somente a criar
instrumentos e objetos. Uma ciência que, em última instância, subordina a verdade à utilidade.
A segunda epígrafe, no entanto, é do próprio Bacon, e por si só, contraria em larga medida o
tom das críticas denunciadas por Dussán. De saída, o filósofo nos situa, que tais críticas não
correspondem com o que ele pensou a respeito da natureza e do avanço da ciência e da
técnica. Conforme mostramos no primeiro capítulo, para Bacon, o domínio da natureza está
atrelado a duas esferas. De um lado as ciências. Do outro, as artes. As ciências e as artes são
as duas vias em função das quais o homem se relaciona com a natureza e a pode “controlá-la”.
Assim, aperfeiçoar e fazer avançar o conhecimento são imprescindíveis para que a vida
humana alcance benefícios e longevidade. Entretanto, destaca o inglês, o processo de
ampliação do conhecimento não pode ser desvinculado da reflexão. Por isso a pertinência da
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
76
segunda epígrafe. Os homens cultos – e deste rol fazem parte os filósofos e cientistas –
precisam refletir e avaliar suas responsabilidades e funções. Os operadores da ciência
precisam adentrar-se em si mesmos e chamarem a si mesmos às contas. Uma vez que os
homens incultos, ao contrário, não teriam essa capacidade. O que fica claro, portanto, é que,
para o Lord, reflexão e ação compõem um par.
Acerca das críticas que geralmente são atribuídas a Bacon, Dussán salienta que duas
são as leituras que se sobressaem. A primeira toma como foco de interesses os aspectos
epistemológicos, especialmente, “el método inductivo de la ciencia”. Já a segunda, sobretudo,
num tom mais severo de crítica e até de certo „desprezo‟,
es la acusación que se ha hecho a Bacon de promover un tecnicismo que se
expande desde la producción de artefactos hacia los demás dominios
humanos sin restricción alguna, incluidos los dominios ético y político. De
acuerdo com la interpretación que de él hicieran Horkheimer y Adorno
(1994, p. 60), Bacon aparece como promotor del utilitarismo o como el
germen del dominio de la razón instrumental. (Dussán, 2009, p. 100).
Interpretações desta natureza, pondera Dussán, forjam uma imagem de Bacon, que
apresenta o último como sendo um autor de pouca importância tanto para o pensamento
filosófico quanto para o pensamento científico. O que não é verdade. Segundo Dussán,
“Bacon concibe el proyecto de renovación metodológica de la filosofía natural y su posterior
efecto en el bienestar humano a partir de la transformación de las condiciones materiales,
enlazado íntimamente a una reforma moral de la filosofía y de los filósofos” (DUSSÁN,
2009, p. 100). A proposta de Bacon no sentido de reformular a filosofia natural, abrir novo
caminho que possibilite um conhecimento progressivo e adequado da natureza, não deixa de
considerar os limites que são oriundos das esferas epistemológica e ética. Além disso, é
extremamente importante ressaltar que, o avanço da ciência e da técnica não é para perturbar,
nem prejudicar o homem. Mas, melhorar as condições de vida sobre o planeta. A ciência e a
técnica deveriam proporcionar, o que poderíamos chamar em termos atuais, „qualidade de
vida‟. No Progresso do conhecimento, seu autor declara: “que apliquemos nosso
conhecimento de modo que nos dê repouso e contentamento, e não inquietude ou
insatisfação”. (BACON, 2007, p. 22). Esse traço, pode-se dizer, é uma espécie de fio
condutor na filosofia baconiana. Não há como deixar de reconhecer a dimensão ética que
subjaz ou que acompanha a filosofia do Lord. Acrescenta o filósofo:
mas antes aspirem os homens a um avanço ou progresso ilimitados em
ambas [teologia e filosofia[natural]]; cuidando, isso sim, de aplicá-las à
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
77
caridade, e não ao envaidecimento; ao uso, e não à ostentação; e também de
não misturar ou confundir imprudentemente esses saberes entre si. (BACON,
2007, p. 25).
Analisando as duas citações, encontramos pontos relevantes do pensamento de Bacon,
mas que não são lidos quando se discute natureza, progresso técnico-científico e tantos outros
temas ligados ao meio ambiente. Para o inglês, a aplicação da técnica e da ciência deveria
visar repouso e contentamento. Não o contrário. Uma possibilidade para tornar isso real seria,
de um lado, distinguir os saberes, não misturar teologia e filosofia, portanto, separar religião e
ciência – coisa que Jonas não faz, pois fundamenta sua ética exatamente sobre bases religiosas
–. Aspirar ou desejar o progresso – até mesmo na teologia –, mas agregar a ele caridade, não
vaidade, não ostentação, portanto, uso. O progresso, enquanto resultado dos avanços técnicocientíficos, assume estado de utilidade, na medida em que os conhecimentos são aplicados ao
uso e à prática. No ato de operar essa passagem a caridade não faz mal. O que prejudica a
utilidade do saber, conforme o inglês, seria a vaidade e à ostentação. Delas o pesquisador, o
intérprete da natureza precisa se afastar.
Mais adiante, ao apontar uma das causas que levou Roma à ruína – o apego à riqueza –
, escreve o inglês, “mas estes e todos os demais males cessarão quando cessar o culto ao
dinheiro...” (BACON, 2007, p. 36). Aspectos como o desapego ao dinheiro e ao lucro,
alinhamento entre produção de conhecimento e aplicação à realidade, orientação para que o
saber seja construído e os resultados postos na perspectiva do bem estar coletivo, são marcas
da filosofia baconiana. Marcas essas, que parecem ser ignoradas por autores do meio
ambiente, como é o caso de Jonas, Brennan e Grün, por exemplo. Referindo-se à filosofia
baconiana, Dussán afirma, “su propósito último es hacer que la filosofía llegue al hombre
común y corriente” (DUSSÁN, 2009, p. 103). Dussán completa e cita Bacon, “al que no se
llega si no es por medio de lo útil y de las obras” (BACON, 1985, p. 77). Quando Bacon
pensa que os resultados da ciência só serão frutíferos na medida em que alcancem os homens
comuns, esse é um traço que se vê, por exemplo, em Um discurso sobre as ciências, de
Boaventura. Ali, o sociólogo português propõe que os resultados da ciência se voltem para o
senso comum. Ou seja, o conhecimento será frutífero quando conseguir alcançar as pessoas
comuns em suas realidades.
De acordo com a análise de Dussán, o objetivo da reforma baconiana seria fazer com
que a filosofia se afastasse da esterilidade, se tornasse frutífera e fizesse com que os seus
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
78
frutos alcançassem os homens comuns. Esses, aliás, não foram ignorados pela filosofia do
inglês. Escreve Dussán nesse sentido que,
El hombre común se convierte en parte de la construcción de conocimiento,
y se forma parte desde la posición de quien juzga dicha construcción. Así, el
conocimiento comienza a romper sus fronteras y se abre a actores que antes
no habían sido tenidos en cuenta. Bacon propone un conocimiento que no
está centrado más en las discusiones de las academias ni en el saber de
iluminados (magia y alquimia), sino que se hace público en la medida en que
los hombres comunes lo valoran. (DUSSÁN, 2009, p. 103).
Para nós, a discussão encabeçada por Dussán a respeito do papel que o homem comum
assume na filosofia de Bacon é extremamente relevante. Sobretudo, porque nos debates que
tematizam sociedade, natureza e meio ambiente, o homem comum tem sido convocado a ser
não apenas ator, mas protagonista. Lembramos aqui, por exemplo, de Boaventura. Este, nas
discussões que empreende a respeito de problemas e questões sócio-ambientais, defende
estreita proximidade entre ciência e senso comum, adequação entre teoria e aplicação à
realidade, pois, na sua concepção, “nosso primeiro problema [especialmente] para quem vive
no Sul é que as teorias estão fora de lugar: não se ajustam realmente a nossas realidades
sociais” (SANTOS, 2007, p. 19). O sociólogo português admite amplamente a importância do
homem comum na relação que envolve a natureza, a sociedade e a construção do saber.
Vejamos o que ele declara.
O que estou tentando fazer aqui hoje é uma crítica à razão indolente,
preguiçosa, que se considera única, exclusiva, e que não se exercita o
suficiente para poder ver a riqueza inesgotável do mundo. Penso que o
mundo tem uma diversidade epistemológica inesgotável, e nossas categorias
são muito reducionistas. (SANTOS, 2007, p. 25).
Essa postura de Santos, apresenta duplo aspecto. Por um lado, critica e reforça a visão
que se tem da chamada ciência moderna, ciência essa que opera dicotomicamente: separa
sujeito e objeto, homem e natureza, mente e corpo, ciência e senso comum, etc.. Por outro,
considera em larga medida o papel das pessoas ou, se quisermos, dos atores comuns. Não
perder de vista “a riqueza inesgotável do mundo”, segundo o autor de A sociologia das
ausências, significa não fechar os olhos para o papel que exercem os grupos, as pessoas
comuns. Ainda nessa direção, pontua Santos, “a meu ver, o primeiro desafio é enfrentar esse
desperdício de experiências sociais que é o mundo”. (SANTOS, 2007, p. 24). Na sua
avaliação, é preciso que se considere o particular e o local, uma vez que estes são tornados
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
79
invisíveis, descartáveis, desprezados. É necessário construir uma ciência que considere o
particular, o local e o invisível em contraposição ao global, ao universal e ao hegemônico.
Conforme o autor português, é fundamental que “o saber científico possa dialogar com
o saber laico, com o saber popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações
urbanas marginais, com o saber camponês. (SANTOS, 2007, p. 33). Sem dúvida, à luz do que
tem proposto Santos, as pessoas comuns não podem ser tornadas invisíveis. Elas têm um
papel. Elas desenvolvem ações. Se pensarmos nas comunidades indígenas – esse inclusive é
um exemplo que ele mesmo apresenta – elas são extremamente relevantes no tocante à
conservação da biodiversidade amazônica. Até porque, destaca o português, o modo como
essas comunidades se relacionam com o ambiente foge às nossas categorias hegemônicas e
dicotômicas de ver as coisas muita das vezes. O tempo para nós não é o mesmo que para eles.
Isso conta bastante.
Não queremos incorrer em anacronismo. Sabemos que o foco, as preocupações e
inquietações de Bacon eram extremamente distintas das de Santos. Porém, levando em
consideração as discussões que o sociólogo português empreende a respeito dos temas
„natureza e sociedade‟, recorrermos brevemente à sua sociologia porque, embora ele não seja
um estudioso da filosofia de Bacon, é possível encontrar nas suas proposituras marcas, sinais
e ecos do pensamento baconiano. Ambos defendem alinhamento entre teoria e prática. Ambos
defendem a valorização da diversidade de experiências. Bacon, não obstante as limitações do
seu tempo, defendia que se viajasse e que se desse volta ao mundo. Na Nova Atlântida
encontramos a ideia de se lançar para fora. De períodos em períodos partia de Bensalém
embarcação cujo destino era conhecer outras culturas. Dialogar com o diferente era
fundamental. Santos, claro, em outro tempo, não só defende a diversidade de experiências
como desenvolveu pesquisa em diversas partes do mundo, inclusive países orientais e
africanos. Qual objetivo? Aprender com as diferenças, ampliar o conhecimento e buscar cada
vez mais construir uma ciência que não seja hegemônica, que não seja uma ditadura dos
países mais ricos, mas que seja dialógica, inclusiva e que traga a invisibilidade para a esfera
do visível.
Em A sociologia das ausências, por exemplo, Santos expressa: “nossa racionalidade se
baseia na idéia da transformação do real, mas não na compreensão do real. E este é nosso
problema hoje: a transformação sem compreensão está nos levando a situação de desastre”.
(SANTOS, 2007, p. 28). Sem dúvida, esse texto do português está carregado de uma crítica à
80
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
racionalidade oriunda ou decorrente da ciência moderna. Santos denuncia que a nossa
racionalidade tem priorizado a ação e a transformação em detrimento da compreensão. Ora!
Conforme mostramos no primeiro capítulo dessa dissertação, Bacon, no seu Novum Organum,
alerta: “O homem, ministro e intérprete da natureza, faz e entende tanto quanto constata, pela
observação dos fatos ou pelo trabalho da mente, sobre a ordem da natureza; não sabe nem
pode mais”. (I: 1). Na compreensão do inglês, o agir não deve preceder à compreensão. O
homem é ministro, servidor, intérprete e agente na natureza. Todavia, sua ação deve
considerar os limites: epistemológico e ético. As intervenções na natureza devem ser baseadas
no conhecimento adequado sobre ela, sobre suas leis, e ter como fim beneficiar a humanidade.
Segundo Santos, o conhecimento científico deve manter com o senso comum uma relação de
proximidade. Ciência e senso comum formam uma dicotomia que precisa ser desfeita. Bacon
muito antes propôs estreita relação entre ciência e humanidade, ou, assentando em outros
termos, ciência e beneficiamento da sociedade.
Essa
idéia
–
que
a
ciência
deve
ser
desenvolvida
para
beneficiar
a
humanidade/sociedade – é reforçada na Nova Atlântida por meio da Casa de Salomão e dos
resultados que esta fornece à sociedade de Bensalém. Conforme Bacon, o saber adquirido
deve ser posto a serviço da coletividade e propiciar bem estar para todos, independentemente
da etnia, posição social, econômica ou política. Jonas, Merchant, Grün e Brennan, ao que tudo
indica, não interpretam a Nova Atlântida dessa forma. A Nova Atlântida, embora seja um
texto do âmbito da ficção, todavia, indiscutivelmente é também um texto filosófico.
Provavelmente, por meio desse texto fictício, Bacon tivesse como pretensão atingir um
público maior e distinto do público especializado, acadêmico. Uma vez que, para ele, era
muito importante que as vias do conhecimento fossem acessíveis.
Ainda sobre os “encontros” entre Bacon e Santos, no prefácio de Um discurso sobre
as ciências, Santos afirma: “defendo que todo o conhecimento científico é socialmente
construído, que o seu rigor tem limites inultrapassáveis”. (SANTOS, 2008, p. 9). Para o
português, a construção do conhecimento não é um ato isolado nem individual. Ao
retrocedermos à filosofia de Bacon, vemos que ele criticou severamente a autoridade e a
predominância do gênio/indivíduo na construção do saber. Nesse sentido, reforça Rossi, “os
procedimentos cotidianos dos artesãos, dos engenheiros, dos técnicos, dos navegantes, dos
inventores são elevados à dignidade de fato cultural, sendo que homens como Bacon, Harvey,
Galileu reconhecem explicitamente sua “dívida” para com os artesãos”. (ROSSI, 2006, p. 84).
A citação mostra bem que, para Bacon, o diálogo entre pesquisadores, o intercambio entre
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
81
eles, a colaboração e o compartilhamento de experiências são extremamente proveitosos. E
não somente entre os acadêmicos. Os artesão e homens que dominam determinadas técnicas
podem muito contribuir com a ampliação do conhecimento. No processo de estudo e
interpretação da natureza, destaca Bacon, “conviene ver las diversas glossas y opiniones que
se han dado sobre la naturaleza”, (BACON, 1988, p. 115). Sobretudo, porque na concepção
de Bacon, a ciência, insiste Rossi, é “uma obra de colaboração e com uma sucessão de
pesquisas que necessita, para viver, de instrumentos técnicos, de contatos humanos, de trocas
contínuas e da “publicidade” dos resultados” (ROSSI, 2006, p. 125). A ciência na concepção
baconiana tem “caráter público, democrático, colaborativa, é feita de contribuições
individuais [mas] que visam um sucesso comum, patrimônio de todos”. (ROSSI, 2006, p.
128).
Pode-se afirmar que, para Bacon, a ciência é uma construção social na qual as pessoas
comuns e a valorização da diversidade de experiências são consideradas. Para Santos, a
relação entre ciência e senso comum deve ser estreita. Ou seja, os resultados produzidos pela
primeira precisam está conectados com as necessidades sociais. No final do caminho, ciência
e senso comum precisam se encontrar. Enquanto em Santos ciência e senso comum mantém
estreita relação, em Bacon, deve haver vínculo estreito entre ciência e humanidade. O
conhecimento sobre a natureza, pode-se dizer, é teleológico. Sua finalidade não é o
envaidecimento nem a vanglória acadêmica, mas o melhoramento das condições de vida das
pessoas. Portanto, os pensamentos de ambos são bastante parecidos.
Em virtude, portanto, desses aspectos que foram elencados acima acerca da filosofia
baconiana, cabe o posicionamento de Paolo Rossi:
Os pós-modernos pensam que a modernidade pode caracterizar-se como a
época da autolegitimação do saber científico e da plena e total coincidência
entre verdade e auto-emancipação. Pensam também a modernidade como a
época do tempo linear caracterizada pela “superação”. Pensam ainda que o
moderno é a época de uma razão forte... Pensando essas coisas, pensaram
mal. (...) Não leram os modernos, mas os manuais que falam deles. (ROSSI,
2000, pp. 116-117).
Não são poucas as críticas empreendidas à ciência moderna. Contudo, ainda nos
movimentamos muito sobre os métodos, procedimentos e conceitos que foram fornecidos por
ela. O próprio Boaventura escreve que o campo teórico sobre o qual trabalhamos fora
elaborado por cientistas que viveram entre o século XVIII e início do século XX. É verdade
que precisamos pensar nossos dilemas, precisamos pensar nossa relação com a natureza e o
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
82
modo como construímos nossos ambientes. Assim, conceitos são revistos, modificados,
reinventados. Porém, nos alerta Paolo Rossi, seria prudente pelo menos se estudar com
cuidado os denominados autores modernos. Jonas, Brennan e Grün, provavelmente, puseram
num segundo plano o alerta de Rossi.
3.2 O Foco da análise de Hans Jonas
O principal objeto da análise de Jonas é a técnica moderna. Escreve ele, “as novas
faculdades que tenho em mente são, evidentemente, as da técnica moderna. Portanto, minha
primeira questão é a respeito do modo como essa técnica afeta a natureza do nosso agir”
(JONAS, 2006, p. 29). Segundo Jonas, o homem nunca esteve desprovido de técnica. Assim,
durante todos os períodos da história da humanidade se percebe o homo faber. Da
modernidade para cá, o fazer humano que envolve a ciência e a tecnologia tem alcançado
proporções tão grandiosas de modo que o agir modifica-se ligeira, permanente e
distintamente. Os efeitos da técnica moderna, a preocupação com as ações que decorram ou
estejam ligadas a esse feitio constituem a grande preocupação do autor alemão. Nos seus
termos, “a técnica moderna introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, com tais
novos objetos e consequências que a moldura da ética antiga não consegue mais enquadrálas” (JONAS, 2006, p. 39). O saber técnico avançou de tal maneira que não há como evitar
intervenções diversas e com consequências inúmeras sobre a natureza, sobre o ambiente.
Aliás, assevera o alemão, “a violação da natureza e a civilização do homem caminham de
mãos dadas” (JONAS, 2006, p.32).
Segundo Jonas, a técnica antiga é distinta da técnica moderna. Qual diferença se pode
apontar entre uma e outra? Referindo-se à primeira, declara Jonas. “Àquela época, como
vimos, a técnica era um tributo cobrado pela necessidade, e não o caminho para um fim
escolhido pela humanidade – [a técnica era] um meio com um grau finito de adequação a fins
próximos, claramente definidos” (JONAS, 2006, p. 43). Temos aqui a caracterização da
técnica antiga. A utilização da última estava voltada para as necessidades mais próximas e
pontuais. Percebe-se, portanto, que o alcance dela era limitado, local e curto. Já em relação à
técnica moderna, escreve Jonas: “hoje, na forma da moderna técnica, a techene transformouse em um infinito impulso da espécie para adiante [o progresso], seu empreendimento mais
significativo” (JONAS, 2006, p. 43). O deslocamento entre o suprir a necessidade e tornar-se
um impulso infinito da espécie faz com que a técnica moderna constitua-se objeto de
preocupação e análise. Esse deslocamento de modo irrecusável afeta e afetará sempre o agir.
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
83
O avanço da técnica moderna provocou profunda modificação entre as esferas natural e
artificial. De maneira que, encerra o alemão, “o natural desapareceu, o natural foi tragado pela
esfera do artificial” (JONAS, 2006, p. 44). A segunda natureza tem prevalecido.
O avanço tecnológico atingiu um estágio tal que, provavelmente, se consiga até driblar
a morte. Provavelmente se consiga “o privilégio de não mais ter que morrer”. O exemplo dado
por Jonas é do progresso na biologia celular. Afirma o autor de O princípio responsabilidade
que,
certos progressos na biologia celular nos acenam com a perspectiva de atuar
sobre os processos bioquímicos de envelhecimento, ampliando a duração da
vida humana, talvez indefinidamente. A morte não parece mais ser uma
necessidade pertinente à natureza do vivente, mas uma falha orgânica
evitável; suscetível, pelo menos, de ser em princípio tratável e adiável por
longo tempo. Um desejo da humanidade parece aproximar-se de sua
realização. (JONAS, 2006, p. 58).
Percebemos sem muita dificuldade que boa parte do que está posto nessa citação é
uma realidade. Não se conseguiu ainda evitar a morte totalmente. Mas, adiá-la, sim. Pacientes
com câncer, por exemplo, a depender do poder aquisitivo e do acesso a determinados centros
de tratamento têm conseguido pelo menos adiar a morte. O problema é que um efeito desta
natureza – adiar a morte – desemboca num dilema ético. O próprio Jonas nos incita a
questionar: quem teria acesso a esse tipo de proeza? Seria um resultado barato e disponível
efetivamente para todos? Quem poderá pagar pelo livramento da morte? Quais consequências
seriam causadas à natureza, ou, ao ambiente, se conseguíssemos definitivamente livrarmo-nos
desse mal? As respostas parecem óbvias. Os tratamentos mais sofisticados do câncer, por
exemplo, estão muito distantes de ser um benefício para a humanidade. Caso se descobrisse
uma técnica ou procedimento capaz de evitar a morte, só uma meia dúzia de pessoas
poderiam arcar com tal custo e alcançar o status da imortalidade.
Outro exemplo apontado por Jonas, diz respeito ao controle do comportamento.
Semelhante ao avanço da biologia celular, escreve Jonas:
O mesmo ocorre com todas as outras possibilidades quase utópicas que o
progresso das ciências biomédicas em parte já disponibiliza – traduzido em
poderio técnico – e em parte acena como possibilidade. Entre elas, o controle
de comportamento encontra-se consideravelmente mais próximo do estágio
de aplicação prática do que o caso, por enquanto ainda hipotético, que acabei
de discutir. (JONAS, 2006, p. 59).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
84
Com os exemplos apresentados, Jonas mostra que os avanços da técnica moderna
suscitam novos modos de agir e, por isso, trazem consigo a necessidade de se pensar uma
ética nova, completamente distinta das chamadas éticas tradicionais. A manipulação genética
também é uma marca do avanço da técnica moderna. “O homem quer tomar em suas mãos a
sua própria evolução, a fim não meramente de conservar a espécie em sua integridade, mas de
melhorá-la e modificá-la segundo seu próprio projeto” (JONAS, 2006, p. 61). O controle do
comportamento, o prolongamento da vida e a manipulação genética, de acordo com Jonas, são
exemplos de avanços tecnológicos, possíveis de serem aplicados na realidade, mas com um
agravante: o homem seria o próprio objeto dessas aplicações tecnológicas.
Todavia, não só o homem tornou-se objeto da técnica como também a natureza.
Conforme Jonas, a civilização da técnica alcançou poderes em larga escala de tal modo que
ampliou o potencial de destruição. Para o alemão, seria fundamental que houvesse
solidariedade, ligação e congruência entre os interesses do homem e o mundo orgânico. Em
virtude dos poderes tecnológicos incorporados às ações humanas, o meio ambiente está
degradado “(e em grande parte substituído por artefatos)” (JONAS, 2006, p. 229). A
civilização da técnica está consolidada e nessa conjuntura o homem findou se tornando
perigoso “não só para si, mas para toda a biosfera”. Homem e natureza estão separados. Jonas
declara que, “quando a luta pela existência frequentemente impõe a escolha entre o homem e
a natureza, o homem, de fato, vem em primeiro lugar. Mesmo que se reconheça à natureza a
sua dignidade, ela deve se curvar à nossa dignidade superior”. (JONAS, 2006, pp. 229-230).
A natureza tornara-se fortemente ameaçada em virtude do deslocamento entre a
ciência antiga e a ciência moderna. Em relação à primeira, afirma Jonas, “para Aristóteles, a
razão humana, graças à qual o homem se destacava da natureza, seria incapaz de lesar essa
mesma natureza pela sua contemplação” (JONAS, 2006, p. 231). Sob essa perspectiva, o
homem não significava uma ameaça para a natureza. A ciência antiga era contemplativa e a
técnica estava voltada somente para as necessidades pontuais.
Na modernidade, com efeito, assevera o alemão, “o intelecto prático emancipado, que
produziu a “ciência”, uma herança daquele intelecto teórico [vivo na ciência antiga],
confronta a natureza não só com o seu pensamento, mas com o seu fazer” (JONAS, 2006, p.
231). A problemática modifica-se completamente. O desenvolvimento do poder da técnica
moderna, a busca pelo progresso enquanto um impulso infinito da espécie e a ideia de
emancipação findaram não só potencializando a capacidade de ação do homem, como
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
85
também tornando o último uma ameaça, uma perturbação para a natureza e para si mesmo.
Nos termos de Jonas, “apenas com a superioridade do pensamento e com o poder da
civilização técnica, que ele traz consigo, foi possível que uma forma de vida, “o homem”,
fosse capaz de ameaçar todas as demais formas (e com isso a si mesma também)” (JONAS,
2006, pp. 230-231). Encerra o alemão, “com o homem, a natureza perturbou-se”.
Para Jonas, a técnica moderna torna-se motivo de preocupação porque ela modifica
radicalmente a esfera da ação do homem. Sem dúvida, isto incorre em consequências sérias e
abrangentes para o meio natural. Em virtude da ação do homem potencializada pela
tecnologia, ou da necessidade de se regular estas ações, se estabeleceu a(s) ética(s). Porém,
destaca Jonas, a realidade decorrente da civilização fundada na técnica moderna é
completamente peculiar, nova, portanto, incongruente com as éticas tradicionais. Propor,
portanto, uma ética nova que regule e atenda aos dilemas oriundos dessa realidade peculiar,
pode se dizer, é a segunda grande preocupação do pensador alemão.
Conforme Jonas, as éticas tradicionais elaboradas até o momento primaram pelos
interesses do homem, deixaram num segundo plano a natureza e ignoraram totalmente as
gerações futuras. Foram éticas orientadas pelo presente, focadas no presente, voltadas para o
“aqui e agora”. O foco nos homens do presente e no presente dos homens é o que caracteriza
as chamadas éticas tradicionais, segundo Jonas. É preciso fazer surgir outra ética. Nesse
sentido, pondera o alemão,
a nova ética deve achar a sua teoria, na qual se fundamentam deveres e
proibições, em suma, um sistema do “tu deves” e “tu não deves”. Ou seja,
antes de se perguntar sobre que poderes representariam ou influenciariam o
futuro, devemos nos perguntar sobre qual perspectiva ou qual conhecimento
valorativo deve representar o futuro no presente. (JONAS, 2006, p. 64).
O fator que distingue a nova ética das éticas tradicionais, conforme Jonas, seria a
inserção das preocupações com o futuro. A nova ética, também denominada ética da
responsabilidade38, tem como objetivo inserir entre as preocupações do presente, o cuidado
com o estabelecimento e a propiciação de condições que garantam às gerações futuras o
direito de existirem. É preciso que haja uma ética capaz de controlar os poderes extremos
“que hoje possuímos e que nos vemos obrigados a seguir conquistando e exercendo” (Idem, p.
65). Jonas justifica a necessidade dessa ética escrevendo o seguinte:
38
Eis a definição de responsabilidade para Jonas. “A responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação
em relação a um outro ser, que se torna “preocupação” quando há uma ameaça à sua vulnerabilidade”. (JONAS,
2006, p. 352).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
86
O nosso agir coletivo-cumulativo-tecnológico é de um tipo novo (...) É
somente sob a pressão de hábitos de ação concretos, e de maneira geral do
fato de que os homens agem sem que para tal precisem ser mandados, que a
ética entra em cena como regulação desse agir, indicando-nos como uma
estrela-guia aquilo que é o bem ou o permitido. (JONAS, 2006, p. 66).
Há um vácuo ético frente a essa realidade nova desenhada pela civilização da técnica.
Com a ética da responsabilidade Jonas pretende preencher esse vácuo. Essa ética proposta
pelo alemão deve englobar diversas esferas. Por exemplo, educação, política, família, religião,
etc. O quarto capítulo de O princípio responsabilidade traz essa abordagem acerca dos
elementos que fundamentam a responsabilidade tal como proposta pelo alemão. O
estabelecimento dessa nova ética pensada por Jonas mantém um nexo com o nosso trabalho,
pois, é por intermédio dessa reflexão, que o alemão critica os desdobramentos decorrentes da
técnica moderna, e nesse contexto, o filósofo empreende crítica contra Francis Bacon.
Vejamos o tópico a seguir.
3.3 A crítica de Jonas à filosofia baconiana
De acordo com o que apresentamos no tópico anterior, vimos que Jonas toma como
principal objeto de análise, a técnica moderna, sobretudo, os efeitos que são causados por ela.
Isto porque os efeitos da técnica moderna têm afetado tanto o homem quanto a natureza. O
campo de ação fora ampliado. A relação dos homens entre si e dos homens frente à natureza
modificou-se completamente. Dada essa realidade extremamente distinta, Jonas sustenta que
se faz necessário arquitetar uma nova ética. Ou seja, torna-se fundamental que se estabeleça a
chamada ética da responsabilidade. Para o filósofo alemão,
...toda a ética anterior se orientava pelo presente, como uma ética do
simultâneo, usando diferentes formas éticas no passado. Podemos considerar
os três exemplos seguintes: a condução da vida terrena, a ponto de sacrificar
sua felicidade, em vista da salvação eterna da alma; a preocupação
previdente do legislador e do estadista com o futuro bem comum; e a política
da utopia, com a disposição de utilizar os que agora vivem como simples
meio para um fim que se encontra além deles ou eliminá-los como
obstáculos a esse fim – da qual o marxismo revolucionário é o exemplo
proeminente. (JONAS, 2006, p. 51).
A ética da responsabilidade traz como objetivo arrastar o futuro para o presente. O
avanço da técnica potencializou a capacidade de ação do homem. Isso findou tornando o
homem perigoso não só para si próprio como também para a natureza. O homem em virtude
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
87
do poder tecnológico ameaça os demais homens, seres e perturba o meio orgânico,
profundamente degradado, afirma Jonas. É preciso que se cuide e se preserve os recursos
naturais a fim de que as gerações futuras tenham o direito não só de existirem como de
desfrutar igualmente esses recursos. Nesse sentido, faz-se preciso uma ética que ponha freio
aos poderes ilimitados da técnica. As intervenções técnicas do homem têm levado a natureza a
um estado de vulnerabilidade. O homem, os seres vivos em geral e os recursos naturais estão
sob ameaça, inclusive de extinção. Por isso, afirma Hans Jonas, “torna-se necessário agora, a
menos que seja a própria catástrofe que nos imponha um limite, um poder sobre o poder – a
superação da impotência em relação à compulsão do poder que se nutre de si mesmo na
medida de seu exercício” (JONAS, 2006, p. 236). Esse controle, ou, poder sobre o poder seria
possível mediante a nova ética, ou seja, mediante a ética da responsabilidade. Não obstante,
para não perder de vista o objeto da análise, podemos indagar: aonde se insere a crítica de
Jonas à filosofia de Bacon?
Uma resposta plausível é que a crítica de Jonas à filosofia de Bacon tenha sido
arquitetada, exatamente na conjuntura e calor da sua crítica à técnica moderna, aos avanços
desta e aos efeitos causados por ela. Segundo Jonas, o avanço ilimitado do poderio
tecnológico é consequência e desdobramento da proposta e concepção de progresso esboçados
por Bacon. Para emitir sua crítica ao pensamento baconiano, Jonas, em O princípio
responsabilidade, elege tópico com a seguinte denominação: „a ameaça tenebrosa contida no
ideal baconiano‟. Nesse tópico o alemão expressa:
Tudo o que dissemos aqui é válido sob a pressuposição de que vivemos em
situação apocalíptica, às vésperas de uma catástrofe, caso deixemos que as
coisas sigam o curso atual. É preciso traçar algumas considerações, ainda
que o assunto seja bem conhecido. O perigo decorre da dimensão excessiva
da civilização técnico-industrial, baseada nas ciências naturais. O que
chamamos de programa baconiano – ou seja, colocar o saber a serviço da
dominação da natureza e utilizá-la para melhorar a sorte da humanidade –
não contou desde as origens, na sua execução capitalista, com a
racionalidade e a retidão que lhe seriam adequadas; porém, sua dinâmica de
êxito, que conduz obrigatoriamente aos excessos de produção e consumo,
teria subjugado qualquer sociedade (...). (JONAS, 2006, p. 235).
Segundo Jonas, o programa baconiano traz como fórmula „saber é poder‟. No entanto,
explica o alemão, esse programa, no ápice do seu triunfo, se mostra insuficiente,
contraditório, e “incapaz de proteger o homem de si mesmo, e a natureza, do homem”. Por
conta da magnitude do poder que se conseguiu através do progresso técnico, tanto o homem
quanto a natureza se tornaram vítimas, objetos subjugados e seres ameaçados, complementa o
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
88
alemão. O que Jonas desconhece, no entanto, é que a possibilidade do naufrágio fora
advertida por Bacon. Para o último, na levada do progresso, benefícios ou danos poderiam
acontecer. Daí a importância dos homens cultos, sábios, doutos e pesquisadores adentrarem
em si mesmos, pedirem a si mesmos contas, chamarem a si mesmos à responsabilidade. As
pesquisas, as atividades técnicas não podem se desenvolver divorciadas da reflexão e do
pensamento. A questão é: isso fora levado em consideração? No mito da Esfinge, Bacon
apresenta claramente as duas perspectivas nas quais o progresso científico pode se desdobrar.
Não há como deixar de reconhecer que de fato estamos diante de uma conjuntura real
bastante complexa, paradoxal, marcada por absurdos e dilemas provocados pelos avanços da
tecnologia. As ameaças estão por várias partes. No campo bélico, no âmbito da produção
alimentícia, na área de produção energética, na fabricação de substâncias químicas, etc. O
saber que deveria solucionar problemas, causar conforto e felicidade acaba se mostrando
ineficaz e, ao mesmo tempo, gerador de problemas ainda maiores. A busca para se produzir
cada vez mais, num curto espaço territorial e de tempo, em virtude do aumento do consumo,
por exemplo, tem se desdobrado em problemas sérios de saúde.
Contudo, consideramos, de acordo com o que procuramos mostrar no capítulo
anterior, Bacon, embora defensor da ideia de progresso e entusiasta da ampliação do
conhecimento, todavia sinalizou bem que tal barco poderia naufragar. Uma provável saída
seria contrapor à Esfinge, Édipo. A ciência e a técnica possuem facetas variadas. Procurar
avançar na tarefa de conhecer é fundamental. Porém, é preciso coxear, é preciso reflexão
acerca das nuances resultantes da ciência e da técnica. É extremamente relevante que em lugar
da arrogância, da vaidade e do protagonismo egoísta, se ponha o diálogo, a capacidade de
ouvir o outro, a humildade. Para Bacon, não se pode esquecer da importância que tem a
cautela, o equilíbrio, a humildade, a obediência à natureza e a confluência entre natureza,
conhecimento e sociedade.
Jonas critica a modernidade por conta dos avanços tecnológicos. Afirma que tais
avanços são desdobramentos e concretização das ideias baconianas. Propõe, então, como
instrumento capaz de regular e de pôr freios ao poder da tecnologia, a ética da
responsabilidade. Todavia, encontramos nessa conjuntura jonasiana alguns problemas.
Primeiro, o alemão direciona crítica ao autor do Novum Organum, mas passa ao largo dos
textos do inglês. Jonas não cita Bacon. Tece uma crítica que não pauta pelas obras de Bacon.
Portanto, consideramos uma crítica rasteira, equivocada, desleal intelectualmente falando. É
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
89
uma crítica que toma a parte como se fosse o todo, quando na verdade esqueceu de avaliar e
considerar esse todo. Qual consequência poderá decorrer de uma crítica ou interpretação
como essa, se não o preconceito? Segundo, tem a ver com a fundação da própria ética que ele
sugere. Larrère nos ajuda nessa compreensão e aponta as dificuldades que circundam as bases
da ética da responsabilidade. Para Larrère, e nesse sentido ela evoca também os
posicionamentos de Bernard Sève, a ética de Jonas se fundamenta em um medo que é
provocado. Um medo que deve ser mantido “da mesma forma que se ameaçam os crentes
com os horrores do inferno” (LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, p. 274). Um medo, segundo
Sève, que vem da dimensão religiosa e que pode ser taxado de hiperbólico. Apenas o
conteúdo desse medo é secularizado. Na medida em que, se desloca o inferno enquanto
punição para o pecador e o admite como sendo o mal supremo de “uma natureza destruída, no
homem e fora do homem” (LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, p. 274).
Segundo Larrère & Larrére, o que fundamenta a ética de Jonas é a crença e a
convicção numa catástrofe inevitável. Declara a autora francesa, “Jonas continua prisioneiro
da ilusão de omnipotência da modernidade. Ao agitar uma ameaça hiperbólica, introduz de
fato uma nova ética de convicção (a crença numa catástrofe inevitável). A esperança torna-se
medo, é a ética, negativa, da profecia da desgraça” (LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, p.
275). São bases da ética de Jonas, a crença na catástrofe e o medo. Mas não só. Sève afirma
que, a “ética da responsabilidade é uma ética religiosa: uma ética ascética da abstinência, do
sacrifício, mais do que da moderação” (LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, p. 274). O próprio
Jonas afirma:
Em todo caso, em função de nosso princípio primeiro – que deve nos dizer
por que os homens do futuro importam na medida em que nos mostra que o
“o homem” importa –, não podemos nos poupar da ousada incursão na
ontologia... Já demos a entender que a fé religiosa possui aqui respostas que
a filosofia ainda tem de buscar, com perspectivas incertas de sucesso. (Por
exemplo, pode-se extrair da “ordem da criação” a ideia de que, segundo a
vontade divina, os homens devem estar ali à sua imagem e semelhança, e
toda ordem deve permanecer inviolada.) A fé pode fornecer fundamentos à
ética... (JONAS, 2006, pp. 96-97).
Jonas critica as éticas tradicionais, declara que elas são antropocêntricas, voltam-se
apenas para o presente e ignoram o futuro, critica, sobretudo, a ética heleno-judaico-cristã,
mas fundamenta sua ética da responsabilidade exatamente sobre bases da religião, da fé, ou da
teologia, como queiramos dizer. E o que torna mais grave a fundação da responsabilidade
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
90
sobre o medo, a crença na catástrofe e a convicção religiosa, aponta o casal Larrère, são as
implicações políticas. Nesse sentido, escrevem os autores franceses,
daí a dificuldade de inscrever esta ética da convicção no campo político. Ela
não se presta, como Bernard Sève demonstra, ao debate democrático:
governar sob a ameaça supõe que esta última não possa ser posta em dúvida,
exclui-se o debate público que examinaria os riscos. Jonas não acredita na
capacidade das democracias para se libertarem dos seus interesses presentes,
para preverem a ameaça e imporem a si mesmas a obrigação provinda do
futuro. (LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, p. 275).
Esses foram os problemas que identificamos em relação a Jonas. Paradoxos o cercam.
O alemão discute a modernidade, mas recaindo em elementos que são pré-modernos,
podemos afirmar. Propõe uma ética que deve ser aceita sem se questionar, que deve ser
tomada como acima de qualquer suspeita, uma ética que não precisa dialogar, não precisa
inserir-se no debate público. Para ele, a modernidade se definiu como poderosa, aliou ciência
e tecnologia, amparou-se no princípio de que “saber é poder”. Transformou a técnica num
impulso infinito da espécie. O poderio causado pela tecnologia perdeu o controle de si
mesmo, tornou-se uma ameaça por conta dos estragos apocalípticos que são possíveis, só a
responsabilidade seria capaz de barrar esse descontrole e garantir às gerações futuras
condições para existirem.
Conforme Larrère & Larrère, ao invés de uma ética que rejeita o debate público, devese pensar o princípio da precaução, uma vez que esse se relaciona bem com a prudência39, o
bom uso e o debate público. Escreve o casal Larrère, “tomar em consideração as gerações
futuras exige conceitos mais especificados, que permitam apreender as gerações na sua
sucessão e diferença. A noção de património40 parece cumprir essa função...” (LARRÈRE &
LARRÈRRE, 1997, p. 286). Essa noção, complementa os franceses, é adequada porque
“evoca prioritariamente o universo doméstico, a transmissão de bens entre diferentes gerações
de uma família: O património evoca a ideia de uma herança legada pelas gerações que nos
precederam e que nós devemos transmitir intacto às gerações que nos hão-de suceder”
(LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, pp. 286-287). A noção de patrimônio é bem vista por
Larrère, porque trata-se de um conceito, cuja origem é romana, pré-moderna, portanto, uma
noção que ignora a dualidade sujeito e objeto. Superar essa dualidade ou dicotomia tem sido a
39
A prudência enquanto uma “virtude grega do limite e da medida, atenta à singularidade dos casos, que é capaz
para deliberar e decidir num momento de incerteza, marcada pela contingência”. (LARRÈRE, 1997, p. 280).
40
Em relação ao conceito de patrimônio, afirma Larrère, “o mesmo conceito, de ordem jurídica, foi recuperado
pela sociologia (o património cultural), antes de ser adoptado pelo ambientalismo: fala-se de património natural,
de património comum da humanidade, noção reconhecida em direito internacional”. (Idem, p. 286).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
91
tônica das discussões ambientais. Boaventura critica a racionalidade moderna exatamente por
“operar” tomando como base essa dicotomia. Pensar essas questões passa fundamentalmente
pela necessidade do debate. A convicção, ao contrário, elimina o debate e ignora a
racionalidade argumentativa. De acordo com Larrère & Larrère, “se Jonas se inclina para uma
solução autoritária dos problemas ambientais – o que lhe valeu numerosas críticas – isso
deve-se mais a uma incapacidade para compreender a política do que uma inclinação pela
ditadura” (LARRÈRE & LARRÈRRE, 1997, p. 275).
3.4 As interpretações de Brennan e Grün: Bacon, a máquina de terraplanagem, a
natureza fêmea e a negação da tradição e do passado
No prefácio de Em busca da dimensão ética da educação ambiental, Brennan infere:
“a máquina de terraplanagem é o emblema da modernidade. Com sua enorme pá, ela suprime
a vegetação, os prédios velhos, árvores consideradas verdadeiros tesouros, paisagens para
guardar na memória, deixando aberta uma vastidão para o desenvolvimento”. (BRENNAN,
2007, p. 7). Essa é a visão que predomina a respeito da modernidade e da ciência moderna. O
emblema desse período é a máquina de terraplanagem que com sua pá, força e imponência se
impõe e destrói tudo que vem pela frente. Não fica pedra sobre pedra. Com todas as letras
Brennan declara que, “a filosofia moderna partiu do equivalente intelectual da máquina de
terraplanagem. Francis Bacon achava que não tínhamos nada para aproveitar do passado...”
(BRENNAN, 2007, p. 7). Tal visão predomina em muitas das teorizações acerca do meio
ambiente. A afirmativa de Brennan aponta o caminho que percorrerá Grün, no primeiro
capítulo de Em busca da dimensão ética..., aonde o último sustenta que Bacon é ahistórico,
portanto, negador da tradição. A pergunta que se põe, no entanto, é: será que Bacon ignora
completamente os acontecimentos do passado? Se a resposta for positiva, por que, então, na
proposição do filósofo inglês com o objetivo de reformular a filosofia natural, seria
fundamental recompor a história da natureza? E não só isso. Por que o inglês escreveu uma
obra cujo título versa exatamente sobre a sabedoria dos antigos?
Interpretações dessa natureza incorrem no que Dussán afirma. “Tales críticas han
hecho que en ocasiones se olviden aspectos centrales del proyecto baconiano o que Bacon sea
considerado como un autor de poca importancia para el pensamiento filosófico y científico”.
(DUSSÁN, 2009, p. 100). Provavelmente, Brennan e Grün ignoram A sabedoria dos Antigos,
O progresso do conhecimento e a Nova Atlântida pelo menos. No primeiro texto, Bacon
concentra sua análise em mitos antigos dos gregos. O filósofo interpreta esses mitos e mostra
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
92
que é possível extrair saber por meio deles. Segundo Raul Fiker, “Bacon está firmemente
convencido de que o véu das fábulas é um elo entre a sabedoria antiga e os séculos seguintes”.
(FIKER, 1996, p. 11). Os mitos apresentam significado alegórico e têm função pedagógica. É
possível compreender, por exemplo, que o conhecimento científico – tomando como base o
mito da Esfinge – pode desdobrar-se em duas perspectivas: ou ser útil e beneficiar a
humanidade, ou causar-lhe angústia, naufrágio e amedrontamento. O conhecimento científico
precisa ser buscado tendo em vista o conforto, a tranquilidade e o melhoramento das
condições de vida do homem sobre a terra. Porém, a depender do modo como seja conduzido
e operado, pode se voltar contra o próprio homem, as demais coisas e destruí-los. Por
intermédio dos mitos de Dédalo e de Ícaro alado, o filósofo discute a questão da ética e do
equilíbrio nos processos de pesquisas sobre a natureza. Fiker declara que,
para Bacon os poderes do homem não são infinitos, estando sujeitos às leis
da natureza. No sentido de consolidar seu limitado poder, o homem deve se
adaptar à natureza, submeter-se a seus comandos e assisti-las no
desenvolvimento de suas operações. Só assim ele pode obter a verdadeira
dominação da natureza, porque para dominá-la, ele deve tornar-se seu “servo
e intérprete”. (FIKER, 1996, p. 110).
Uma diferença que se nota claramente entre o texto de Fiker e os textos de Brennan e
Grün, é que o primeiro cita, evoca, vai aos textos mesmos do inglês. Os dois últimos,
sobretudo Brennan, não. Por um lado, pode-se afirmar, Bacon incentiva o avanço sobre as
águas do bravo e desconhecido mar – especialmente, a natureza. Mas, por outro, o filósofo
destaca que é preciso ter cautela na pesquisa, demorar-se nas observações e experimentos,
dialogar, afastar-se da vaidade, considerar a humildade e não perder de vista o meio termo. A
prudência, a moderação integram o pensamento baconiano. Segundo Fiker, “acredita-se na
simplificação da ciência e na importância da “humildade” (que para Bacon, no trato com a
natureza, é arma para dominá-la), tanto na natureza como entre os homens, para promover o
progresso científico”. (FIKER, 1996, p. 96). Fiker escreve que Bacon defende severamente a
pesquisa séria em contraposição à forma de conhecimento que favoreça a verbosidade. Nesse
sentido, sua interpretação se aproxima da interpretação de Rossi. Esse último explica em Da
magia à ciência, que Bacon critica a cultura das palavras, a cultura livresca e meramente
retórica. É preciso voltar-se para o estudo das coisas mesmas. Discutimos essa questão
inclusive no capítulo anterior.
Se analisarmos com cuidado a filosofia baconiana, chegaremos à compreensão de que
o progresso científico não está desvinculado do reconhecimento das limitações que o homem
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
93
possui. É preciso alçar vôo. Porém, esse vôo deve considerar limites. “Ícaro foi instruído pelo
pai a não seguir um curso muito alto nem muito baixo enquanto voasse sobre o oceano”.
(BACON, 2002, pp. 86-87). A ideia que subjaz aí é de moderação, equilíbrio, prudência. Em
A sabedoria dos antigos, explica Fiker, quatro temas filosóficos podem ser discutidos. i)
Distinção entre teologia e filosofia, entre fé e ciência. ii) As vantagens do naturalismo
materialista. iii) Função da pesquisa filosófica e necessidade de estabelecer o método. iv)
Defesa de um realismo político, inspirado por Maquiavel41.
De acordo com Fiker, mediante o mito de Prometeu, Bacon desenvolve o tema da
separação entre teologia e filosofia, separação entre fé e ciência – abordamos essa questão no
capítulo anterior –, toca o terceiro tema, isto é, a função da pesquisa, “além de fazer
observações de caráter moral e psicológico. Este mito, da mesma forma que é central na
exegese baconiana é, em geral, particularmente vigoroso no Renascimento...” (FIKER, 1996,
p. 112). Conforme o mito de Prometeu, diz-se que o homem é dotado de faculdades e poderes.
Que o homem parece ser o centro do mundo. Que as coisas parecem obedecer às necessidade
dele e não às suas próprias. Que o homem é composto por partículas retiradas de diferentes
animais e misturadas com o barro. Que o homem é um pequeno mundo. Na concepção dos
alquimistas, por se encontrar no homem todos os minerais, vegetais, etc., aquele pode ser
definido como um microcosmo.
Não obstante, vemos que o homem se mostra nu e indefeso na primeira fase
de sua existência, tardo em ajudar-se e cheio de necessidades. Por isso
Prometeu apressou-se a inventar o fogo, o grande dispensador de alívio e
amparo em todas as indigências e negócios humanos. (...) o fogo merece ser
corretamente chamado de auxílio dos auxílios ou recurso dos recursos.
(BACON, 2002, p. 79).
Pensando na perspectiva da função da pesquisa, assim como Prometeu melhorou a
condição humana, através da invenção e doação do fogo, é função da pesquisa propiciar o
mesmo. A pesquisa precisa visar: alívio da dor, auxílio nos negócios, resolução e suprimento
das necessidades. Apesar de Prometeu ter beneficiado os homens com o fogo, aqueles não lhe
foram gratos e o denunciaram a Júpiter. De modo que Prometeu findou sendo punido.
Todavia, Prometeu findou se reconciliando com os homens. O ato da denúncia não foi objeto
de punição para os homens. Pelo contrário. A denúncia contra Prometeu, interpreta Bacon, é
vista como uma postura não dogmática. Tal postura é fundamental no exercício da pesquisa.
Ainda sobre a reconciliação de Prometeu com os homens, afirma Bacon:
41
Cf. (FIKER, 1996, p. 112).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
94
a súbita reconciliação dos homens com Prometeu, depois que se frustraram
suas esperanças, contém igualmente uma observação sábia e proveitosa.
Alude à precipitação e leviandade dos homens nos experimentos. Quando
estes não dão o resultado pretendido, eles se apressam a classificar a
tentativa de fracasso... (BACON, 2002, p. 82).
Vejamos quantos aspectos são sublinhados por Bacon, cujo terreno é a sabedoria, os
ensinamentos dos antigos mediante alegorias. Através do mito de Prometeu, Bacon, ao
discutir elementos que precisam integrar o método científico e a atividade da pesquisa,
destaca a necessidade da paciência, a importância da persistência, a insistência nos
experimentos. Adentrando, por assim dizer, na esfera do psicológico, o pesquisador não pode
se sentir fracassado, abandonar sua empreitada, simplesmente porque os resultados
pretendidos não foram alcançados. A pesquisa é uma caçada. Como caçada, tem as suas
dificuldades, desafios, obstáculos. Não perder o ânimo e persistir na pesquisa é via para se
alcançar conhecimentos novos e descobertas. Basta analisar com cuidado A sabedoria dos
antigos, para se perceber a importância dos antigos no pensamento baconiano. Os antigos,
pode-se inferir, enxergaram longe. Ainda conforme a alegoria de Prometeu, escreve o inglês:
quanto ao presente que os homens teriam recebido em recompensa de sua
denúncia, ou seja, o florir eterno da juventude, parece mostrar que métodos e
remédios para o retardamento da idade e o prolongamento da vida eram
considerados, pelos antigos, não como coisa impossível, ou jamais
proporcionada, mas do número daquelas que os homens possuíram outrora e
perderam por negligência. (BACON, 2002, p. 81).
Há uma crítica à negligência. Bons resultados poderão acontecer, a depender do modo
como se conduza as pesquisas. O ânimo, a persistência nos experimentos, o alinhamento entre
trabalho da mente e trabalho das mãos, a continuidade da pesquisa e a paciência são requisitos
discutidos por Bacon, são ensinamentos que podemos encontrar na sabedoria e cultura dos
antigos.
Nos próprios termos de Bacon, após se discutir a condição humana tomando como
base o mito de Prometeu, “a parábola se volta para a Religião”. O uso dos dois bois, um cheio
de gordura e carne, o outro apenas com ossos, que serviram para Prometeu enganar Júpiter,
“isso alude aos ritos exteriores e vazios com que os homens sobrecarregam e atulham o
serviço religioso” (BACON, 2002, pp. 82-83). Agem com hipocrisia.
A parábola se volta [também] para a moral e o estado da vida humana. Em
geral,... entendeu-se Pandora como Volúpia e Libertinagem... Os seguidores
de Epimeteu [esse era irmão de Prometeu e abriu a caixa de Pandora] são os
imprevidentes, que não cuidam do futuro e só pensam nos prazeres do
momentos. (BACON, 2002, p. 83).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
95
Em relação ao crime cometido por Prometeu ao tentar contra a castidade de Minerva,
escreve Bacon, “o crime mencionado não parece ser outro senão aquele em que os homens
freqüentemente incidem quando orgulhosos de suas artes e conhecimentos: tentar curvar a
própria sabedoria divina ao jugo dos sentidos e da razão” (BACON, 2002, p. 85).
Conhecimento divino e conhecimento humano são coisas distintas, portanto, não podem ser
misturadas. Encerra o inglês, “devem, pois, os homens distinguir com sobriedade e modéstia
entre as coisas divinas e humanas, entre os oráculos dos sentidos e da fé” (Idem, mesma
página). De acordo com a análise de Fiker, “A crença cristã vê Deus como o verdadeiro
Prometeu. ... Prometeu representa um herói humano, o herói cultural, o portador da ciência e
da ordem moral e política que reformou os homens lhes dando uma nova essência” (FIKER,
1996, p. 113). Mostramos através do mito de Prometeu, a discussão que Bacon faz a respeito
da função da pesquisa, da possibilidade de se extrair ensinamentos morais e da separação que
deve haver entre fé e ciência.
Além desses pontos, há um evento na parábola de Prometeu, que Bacon interpreta e
aproveita para defender a necessidade de se trabalhar a ciência na perspectiva da colaboração
e da coletividade. Trata-se das corridas com tochas acesas, instituídas em honra a Prometeu.
As corridas com tochas acesas, envolvendo competição e competidores, “alude às artes e
ciências e adverte com prudência que a perfeição do conhecimento não cabe à rapidez ou
habilidade de um só investigador, mas de muitos” (BACON, 2002, p. 85). Destaque meu.
Tudo indica que Brennan, provavelmente desconhece A sabedoria dos antigos e as discussões
que nessa obra Bacon desenvolve.
Quanto ao segundo tema apontado por Fiker em A sabedoria dos antigos, as vantagens
do materialismo naturalista, trabalhamos essa temática nos tópicos 1.3 e 1.4 do primeiro
capítulo. Vimos, por meio dos mitos de Pã, Celo e Proteu, que o atomismo, sobretudo de
Demócrito, comparece em larga medida na filosofia de Bacon. Apesar da crítica que Bacon
fez contra a escola atomista pelo fato de não se preocuparem com a compreensão ampla da
realidade, contudo, o modo como os atomistas lidavam com as partículas e a pesquisa acerca
da natureza era bem visto pelo filósofo. Somente voltando-se para as coisas mesmas poderia
se descobrir conhecimentos novos e úteis.
Em O progresso do conhecimento, o inglês esboça uma série de fatores que deveriam
ser considerados no processo de reformulação da filosofia natural, conhecimento da natureza,
exercício da ciência e progresso da mesma. Entre eles, o Lord destaca: vigência de currículos
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
96
que contenham conteúdos correspondentes à prática, à vida e à realidade42. Vinculação entre
produção do conhecimento e aplicabilidade com vistas ao bem da humanidade. Convergência
entre pesquisador, ciência e humildade. Defesa de uma educação livre que permita formação
em diversas áreas do saber, tendo em vista preparar pessoas para o exercício da pesquisa e
para os serviços do Estado43. Exigência de que a ação não seja desvinculada da reflexão. “Se
alguém pensa que a filosofia e o conhecimento do universal são estudos ociosos, é alguém
que não tem em conta que todas as profissões se servem e suprem deles” (BACON, 2007, p.
105).
Na Nova Atlântida, com efeito, encontramos valorização da experiência e dos
experimentos. Enaltecimento das descobertas e inventos. Respeito e procura por
conhecimento de culturas diversas da de Bensalém. Conjugação entre esforço, dedicação à
pesquisa, conhecimento e produção de inventos que imitam a natureza. Encontra-se resultados
que beneficiam não apenas um grupo de pessoas, mas toda a sociedade da ilha.
A síntese das características ou discussões que se pode fazer das três obras baconianas
mencionadas no segundo parágrafo desse tópico, nos incita a insistir na indagação: uma
filosofia com estes pilares, seria uma filosofia que propõe a destruição da natureza, que se
comporta semelhantemente a uma máquina de terraplanagem – que desmata e reforça os
interesses capitalistas – e que, não obstante a crítica e análise da tradição, nega por completo o
papel da última? Para Brennan, a filosofia de Bacon é interpretada como sendo a máquina de
terraplanagem. A premissa baconiana de que é preciso dominar a natureza tomou proporções
cujos desdobramentos causaram consequências destrutivas à natureza. Brennan afirma ainda –
e depois essa ideia é retomada por Grün – que, para o inglês, não há nada que possamos
aproveitar do passado. Essa é uma interpretação distorcida. Argumentamos e Fiker nos ajuda,
para Bacon, o passado e a antiguidade nos ensinam. O que não se pode é aceitar as coisas de
modo dogmático. Criticar a tradição é não aceitá-la dogmaticamente. Não que ela não possa
em nada contribuir. A crítica, o questionamento, a indagação são imprescindíveis e
extremamente frutíferos no processo de conhecer. Lembrando a parábola de Prometeu, os
homens, ao invés de se tornarem gratos eternamente a Prometeu pelo fato de ganharem o
fogo, findaram o denunciando. Todavia, tal comportamento não fora punido pelo deus. A
denúncia fora entendida como uma postura não dogmática, portanto, bem vista e até
“perdoada” por Prometeu.
42
43
Cf. discussão em (BACON, 2007, p. 109).
(BACON, 2007, p. 105).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
97
Grün, por sua vez, tomando como referencia posicionamentos de Merchant, apresenta
várias acusações contra Bacon. Uma delas, é que “o filósofo inglês Francis Bacon, nos
séculos XVI e XVII, desenhou uma nova ética na qual sanciona a dominação da natureza”
(MERCHANT apud GRÜN, 2007, p. 27). A primeira acusação é que o inglês instaura uma
ética da dominação da natureza. Segundo Merchant, Bacon é mentor de um discurso contra as
mulheres. O inglês desenvolveu uma linguagem que reduz a natureza à condição de fêmea e
de recurso para a produção econômica. O filósofo descreveu a “natureza como se fosse uma
bruxa na Inquisição a ser torturada para que nos contasse seus mais íntimos segredos”
(MERCHANT apud GRÜN, 2007, p. 28). Para Merchant, encontramos em Bacon um filósofo
que representava o homem branco, europeu, empresário de classe média. A historiadora
ecofeminista sustenta que Bacon era apologista da dominação da natureza; defensor da ideia
de que a natureza deveria estar a serviço do homem, portanto, escrava moldada pelas artes
mecânicas. Que na filosofia baconiana, a natureza recebe denotação de gênero feminino, e por
conta desta concepção, se viabilizou a exploração e a degradação do ambiente natural. De
acordo com Merchant, a degradação do meio natural tem como raiz a filosofia de Bacon, de
modo especial, sua concepção de natureza.
Outro teórico que serve de referência a Grün é o filósofo ambiental Max Oelschlaeger.
Na interpretação de Oelschlaeger, Bacon estava ciente dos julgamentos de mulheres acusadas
de bruxarias e isto lhe serviu de inspiração, no que se refere ao tratamento que a natureza
deveria receber dos cientistas. “Ou seja, a natureza deveria ser torturada para nos contar seus
segredos” (GRÜN, 2007, p. 28). Sob esta perspectiva, os cientistas deveriam se comportar
frente à natureza semelhantemente aos inquisidores. A acepção de Bacon enquanto filósofo
que pregou a dominação, a tortura da natureza e o progresso científico, abre margem para
críticas que permeiam teóricos do meio ambiente como é o caso de Jonas, Oelschlaeger,
Merchant e Grün.
Vimos, portanto, que os referenciais teóricos com os quais Grün desenvolve seu
primeiro capítulo de Em busca da dimensão ética da educação ambiental, intitulado: „Francis
Bacon, a modernidade e a educação ambiental‟, tecem uma série de críticas a Bacon, de modo
que caminham todas para um ponto comum. Bacon instaurou uma ética cujo conteúdo interno
é o da dominação da natureza. O desdobramento do pensamento baconiano causou efeitos
extremamente destrutivos, ameaçadores e paradoxais. Essa é a imagem de Bacon que
predomina largamente nas discussões ambientais.
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
98
Não obstante essas críticas, Grün, ao mencionar o objetivo da sua abordagem em
relação à filosofia de Bacon, acrescenta mais uma acusação contra o filósofo. Escreve Grün:
o que eu gostaria de tratar, no entanto, é de um outro aspecto da filosofia de
Bacon que nem sempre é citado por historiadores, ambientalistas e
educadores ambientais. Trata-se do processo de esquecimento da tradição,
ou seja, o caráter aistórico da filosofia de Bacon. (...) ele [Bacon] aborda o
passado como algo de que deveríamos nos libertar, pois este seria
extremamente maléfico ao desenvolvimento científico. (GRÜN, 2007, p.
29).
Compreende-se a preocupação de Grün, sua tentativa de apresentar uma “nova”
dimensão para a educação ambiental, dimensão esta que considera em larga medida o papel
de uma linguagem voltada para a compreensão. Segundo ele, “pode-se argumentar, então, que
as coisas, inclusive o ambiente, emergem, persistem e são alterados na linguagem” (GRÜN,
2007, p. 119). Sob esta perspectiva, é claro que a tradição é evocada a assumir um papel. Na
sua proposta de se buscar uma nova dimensão ética para a educação ambiental, Grün escreve:
o verdadeiro ser da linguagem só pode estar presente na conservação,
unicamente presente no “vir-à-interpretação”. Essa, então, é a forma mais
fundamental de compreender a Natureza em termos não instrumentais, mas
como algo que emerge à superfície na nossa hermenêutica do ouvir.
[Completa ele citando Gadamer], O compreender “é um processo vivo em
que a comunidade da vida existe”. (GRÜN, 2007, pp. 118-119).
Grün defende a ideia de que o mundo e a linguagem exercem uma relação muito
estreita. Baseado nessa concepção, ele declara que “o mesmo pode ser dito sobre a Natureza.
Não devemos buscar sair da Natureza para transformá-la em objeto de compreensão, pois tal
objetificação foi precisamente o que Descartes buscou fazer” (GRÜN, 2007, p. 120).
Consideramos extremamente relevante essa tentativa de novamente ligar ou religar o homem
à natureza, ou ainda, nos chamar para a compreensão de que o homem é também natureza.
No entanto, o que nos causa estranheza diante da análise que Grún desenvolve no seu
primeiro capítulo de Em busca da dimensão ética... é o fato de quase não citar Bacon. Grün se
posiciona sempre baseado em Oelschlaeger, Merchant, Farrington, mas não navega pelos
textos do próprio Bacon. Não resta dúvida que encontramos em Bacon uma forte crítica à
tradição. Vários teóricos admitem este aspecto. Por exemplo, Rossi, Oliveira, Menna, Becker,
Marinoé, Guimarães e Santos, Fiker, Silvia Manzo44. Porém, é preciso se perguntar a quais
tradições o inglês direcionou sua crítica. Essa resposta pode ser encontrada, por exemplo, se
44
Mencionamos esses autores, porém não se trata de uma afirmativa solta. O tema da crítica baconiana à
tradição, trabalhado por cada um deles, pode ser conferido nos seus textos que estão devidamente informados na
parte das referências, no final dessa dissertação.
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
99
analisarmos especialmente o Novum Organum e O progresso do conhecimento. Nesses textos
compreendemos que a crítica baconiana se dirige à tradição hermético-mágica e à tradição
filosófica orientada pela filosofia aristotélica. O que não significa dizer que Bacon fosse
aistórico e negador absoluto do passado. Mesmo criticando a tradição mágica, por exemplo, o
filósofo não deixa de reconhecer a importância dos experimentos utilizados nas pesquisas
alquímicas45. Rossi, e depois Fiker recupera, reconhece certa herança da tradição mágica no
pensamento de Bacon. Assim, entendemos, que na verdade, não só Grün, mas também
Brennan e Merchant interpretam Bacon de maneira não condizente à filosofia do inglês.
Bacon critica a tradição mágico-alquímica, principalmente por conta dos processos
secretos que seus integrantes operavam. Para ele, o saber deve se deslocar da esfera do
secreto, do obscuro, do indivíduo – do gênio – e passar para a esfera da construção
colaborativa, dialógica e de caráter público. O saber deve sair da esfera do secreto e adentrar
na esfera do visível, do „mostrável‟, daquilo que é possível comunicar, ensinar, estabelecer
um caminho capaz de permitir o trânsito e a passagem de outros pesquisadores e intérpretes.
Já a crítica direcionada à tradição escolástico-aristotélica acontece numa rejeição ao cultivo
meramente das palavras, da retórica e da contemplação. Segundo o Barão de Verulam, é
preciso estudar, investigar, examinar as coisas mesmas. Nesse voltar-se para as coisas
mesmas, Bacon insere um princípio que é completamente ignorado por Grün, embora este
também proponha algo sinônimo, a saber, a compreensão. Não é verdade que Bacon defenda
ou proponha uma intervenção cega e impositiva sobre a natureza. Compreendê-la, estudá-la
séria e pacientemente, considerar os seus limites constituem colunas do pensamento
baconiano acerca da natureza. Mesmo porque, na compreensão do Lord, “a natureza supera
em muito, em complexidade, os sentidos e o intelecto” (I: 10). Quanto ao argumento de que
Bacon é aistórico, a tese de Raul Fiker, especificamente o quarto capítulo de O conhecimento
e o saber em Francis Bacon, mostra o contrário.
O objetivo deste terceiro capítulo, portanto, foi analisar de que modo – haja vista a
tentativa de dialogar com outros autores [ainda que no caso de alguns indiretamente] e, assim,
nos aproximarmos da interdisciplinaridade – a filosofia de Bacon é recepcionada nas
discussões que refletem sobre o meio ambiente. Mencionamos pelo menos cinco autores. O
sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Mediante seus textos A sociologia das
ausências e Um discurso sobre as ciências foi possível identificar pontos ou posturas que
sinalizam ecos de preceitos encontrados em Bacon. Jonas, através do seu texto O princípio
45
Confira (FIKER, 1996, p. 110).
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
100
responsabilidade. A recorrência a Brennan e Merchant foi feita de modo indireto, ou seja,
mediante o texto de Grün, Em busca da dimensão ética da educação ambiental. Vimos que
várias foram as críticas disparadas contra Bacon, ao que tudo sinaliza, críticas que não
correspondem efetivamente com os objetivos da filosofia baconiana.
Para Jonas, por exemplo, o antropocentrismo e as preocupações imediatistas nos
fazem “pensar” apenas no presente. É fundamental que se traga para o presente, o cuidado
com a natureza e que se tenha em mente, que as gerações futuras precisam ter assegurado o
direito não só de existir, como igualmente, de desfrutar dos recursos naturais do planeta. Por
isso a importância da ética da responsabilidade, ética essa que envolve a educação, a família,
as crianças, etc. Uma ética, no entanto, conforme mostramos e nesse sentido nos ajudaram
Larrère & Larrère, que é problemática quando se refere à fundação e às implicações políticas.
Segundo Jonas, a técnica tornou-se uma espada de dois gumes e agora se volta muito
desfavoravelmente contra a natureza, o mundo orgânico e o próprio homem. Os riscos, a
ameaça e a possibilidade da catástrofe são resultados do desdobramento do pensamento
baconiano. A visão de que Bacon propôs uma razão instrumental e uma ciência voltada
meramente para a produção de engenheiros predomina nas discussões acerca do meio
ambiente. Seja nos debates acerca da educação ambiental como, por exemplo, o que faz
Mauro Grün. Seja nos debates acerca da ética ambiental, como é o caso de Jonas.
Segundo Brennan, o emblema da modernidade ou imagem que melhor a representa,
principalmente por conta das filosofias de Bacon e de Descartes, é a máquina de
terraplanagem. Ao lado dessa adjetivação à filosofia de Bacon – concebida como combustível
para a máquina de terraplanagem destruir as matas, arrancar as árvores e derrubar os símbolos
culturais e históricos –, vimos que, de acordo com os referenciais evocados por Grün, o inglês
fora acusado de machista, de defensor do homem rico, europeu e branco, de filósofo que
ignora completamente o papel do passado, da tradição e que defende amplamente a
dominação e tortura da natureza. Bastaria uma leitura cuidadosa da primeira parte do Novum
Organum, de O progresso do conhecimento e de alguns mitos interpretados pelo filósofo em
A sabedoria dos antigos, para se perceber que a filosofia da natureza esboçada por Bacon, não
é uma filosofia da destruição da natureza. Também não é uma filosofia que considere apenas
os pontos favoráveis oriundos do progresso científico. Fiker, em uma nota de sua tese sobre
Bacon, escreve:
em sua interpretação do mito de Dédalo (Dedalus sive mechanicus), no
entanto, Bacon refreia um pouco seu entusiasmo pelas artes mecânicas ao
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
101
considerar seu uso na produção de instrumentos de morte e destruição. Ele
vai enfatizar as vantagens da moderação na pesquisa científica. Para Bacon,
aliás, a moderação é sempre recomendável... (FIKER, 1996, p. 141).
O mito da Esfinge também mostra que Bacon não era um entusiasta cego a respeito do
progresso científico. Inventar, criar objetos, recursos, medicamentos, transportes, técnicas que
melhorem a produção de alimento, instrumentos que corrijam deficiência como aparelhos
auditivos, tudo isso é bem vistos por Bacon e foi tematizado por ele na Nova Atlântida.
Porém, não se pode esquecer da formação humanista e da preocupação com o bem da
humanidade. Aliás, é para o bem da humanidade que as pesquisas científicas devem ser
desenvolvidas. Considerando, claro, as leis da natureza e a submissão à última.
Por que encontramos em meio às discussões ambientais, muito mais o jargão „Bacon
pregou a dominação da natureza‟ do que a recomendação mesma do filósofo, quando afirma
que „a natureza não se domina, senão obedecendo-lhe‟? O que há por trás dessas acusações as
vezes soltas atiradas contra o autor do Novum Organum? Provavelmente, o que se esconde
por trás dessas acusações contra Bacon e contra outros filósofos modernos é uma visão
romântica da natureza. Tal visão, explica Antônio Carlos dos Santos, “começou na Alemanha,
nos fins do século XVIII, com Goethe (1749-1832) e Holderlin (1770-1843)” (SANTOS,
2012, p. 42). Santos, nessa discussão a respeito da visão romântica da natureza, destaca o
seguinte. “Desde o surgimento da Ciência, o homem apresentava uma visão dicotômica,
pondo de um lado o homem e de outro a natureza, do mesmo modo o sujeito e o objeto, a
matéria e o espírito, o visível e o mundo oculto...” (SANTOS, 2012, p. 43). Essa postura é
rejeitada pela perspectiva romântica. Segundo Santos, o “movimento romântico” se contrapôs
à racionalidade iluminista. Ao caracterizar o “movimento romântico”, declara Santos,
trata-se, pois, de uma visão de mundo centrada nos indivíduos e em suas
subjetividades, na identificação e exaltação de suas raízes históriconacionais, como também, no drama humano, nos amores trágicos e
impossíveis, nas ideias utópicas, no sentimentalismo exacerbado. Uma das
marcas do movimento romântico é o sonho exagerado, por um lado, e a
busca constante pelo exótico e inóspito por outro, ... com fuga à realidade.
(...) o Romantismo privilegiou a imaginação no lugar da determinação, o
sonho em vez da realidade, a divagação no lugar da análise rigorosa e
objetiva do mundo. (SANTOS, 2012, p. 42).
Essa visão tem alimentado, em larga medida, críticas, sobretudo, contra a ciência
moderna. A visão romântica da natureza, de acordo com o que se vê na análise de dos Santos,
não só tem desdobramentos teórico-intelectual-filosóficos, como também, desdobramentos
políticos. De alguma maneira, sua irradiação toca o debate em torno da ética ambiental. A
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
102
ética ambiental, segundo dos Santos, abriga como conteúdo essencial, a pergunta sobre o
lugar do homem no universo. Nessa conjuntura, três correntes de debate surgem, mostra dos
Santos. Tem-se a corrente antropocêntrica, a qual fora “originada no Humanismo, ou seja, no
Renascimento, remontando à obra “Da dignidade do homem”, de Pico della Mirandola..., a de
que o homem é o centro de toda criação e, por isso mesmo, tem um lugar especial no mundo,
razão pela qual é preciso protegê-lo” (SANTOS, 2012, p. 40). Tem-se a tendência
denominada “zoocentrismo”, para a qual, explica dos Santos, se “concede status moral a seres
não-humanos”. Do ponto de vista dessa segunda tendência o homem deixa de ocupar a
posição de centro e é igualado aos demais animais. Terceira e última, tem-se a vertente
denominada “biocentrismo”. Nos termos de dos Santos, essa terceira vertente “reivindica
tanto os direitos da fauna quanto os da flora, da natureza como tal, incluindo os vegetais e
minerais” (SANTOS, 2012, p. 41).
Analisando as três vertentes, percebe-se que a visão romântica da natureza se
aproxima e, provavelmente fornece elementos às duas últimas vertentes. Conforme tínhamos
dito, essas concepções provocaram consequências em atitudes políticas. Dentro dessa
perspectiva romântica, nos parece, se tem criado, em várias partes do mundo, parques e as
chamadas áreas verdes. A visão biocentrica do mundo, esclarece dos Santos, fez com que, “o
modelo ético adotado, por exemplo, nos Estados Unidos, pioneiros na política de preservação,
foi o de separar, radical e efetivamente, dos homens a flora e a fauna, priorizando a proteção
da natureza selvagem e intocada” (SANTOS, 2012, pp. 43-44). Constitui-se uma política de
preservação que ao invés de unir homem e natureza, separa-os ainda mais, e com um
agravante. Qual é esse agravante? Na visão de dos Santos, “para essa política de proteção, o
homem não passa de um “visitador temporário”, porque ele é uma ameaça constante às
espécies protegidas e ao próprio espaço físico (temor de queimadas, exploração das riquezas
minerais, etc.)” (SANTOS, 2012, p. 44). A criação de áreas verdes ou de parques finda
esbarrando em dilemas e problemas de ordem social. Por exemplo, o que fazer com as
populações que habitam nesses locais?
Portanto, nada está acabado. Como o próprio Bacon chamava a atenção ainda no
século XVII, o que precisamos na verdade constantemente exercitar é procurar se afastar dos
pontos fixos. Criticamos as categorias da ciência moderna como, por exemplo, a categoria de
análise, de separação, de decomposição, etc., porém não conseguimos operar diferentemente.
A visão romantizada da natureza critica a perspectiva humanista, em virtude dessa última
abrir caminho para que se busque conhecer, intervir e transformar a natureza, mas também
Capítulo 3 - A recepção da filosofia de Bacon nas discussões ambientais
103
recai em problemas. Sem falar das interpretações preconceituosas e desconexas que alimenta
no que tange a determinados autores e textos modernos, como acontece com Bacon. Criticase, por exemplo, como faz Jonas, os avanços da tecnologia, os interesses do presente. Propõese um deslocamento do futuro para o presente, uma ética da responsabilidade voltada para as
questões ligadas às gerações futuras, todavia, abandona-se o debate, as discussões
democráticas. Tomando emprestado termos de dos Santos, uma postura plausível e que não
pode se perder de vista consiste no seguinte.
Todas as disciplinas do conhecimento, todos os saberes, todos os humanos
devem fazer parte dessa mesma preocupação [cuidar de si, cuidar da
natureza], independente de ser antropocentrista ou biocentrista. Afinal, se
um dia a natureza desaparecer, ela não irá cobrar o fato de ter pertencido a
uma tendência ou outra, porque todos nós fazemos parte dela. (SANTOS,
2012, p. 44). Destaque meu.
Para lembrar a assertiva baconiana posta na segunda epígrafe do início desse capítulo,
„adentrar em si mesmo e chamar a si mesmo às contas‟ é papel de cada um de nós. Tanto nas
nossas relações com os demais seres humanos quanto nas relações com as coisas da natureza.
104
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O problema central da nossa investigação, conforme mostramos, girou em torno do
modo como a filosofia baconiana comparece em determinadas discussões das ciências
ambientais. Nesse sentido, estruturamos a dissertação em três partes. Na primeira,
trabalhamos o conceito baconiano de natureza. Na segunda, discutimos elementos que
compõem a noção de progresso. Na terceira e última, confrontamos aspectos do pensamento
de Bacon com interpretações elaboradas por autores, entre eles, principalmente Jonas e Grün.
Ouvimos o Prof. Antônio Carlos Diegues, em uma conferência ministrada no auditório
do Ministério Público do Estado de Sergipe, no primeiro semestre de 2012, afirmar mais ou
menos o seguinte: “Bacon disse: é preciso dominar a natureza”. Essa é a visão corrente que
encontramos em muitas das discussões ambientais quando se refere à filosofia do inglês.
Inferir que Bacon mandou acossar, dominar, forçar a natureza e tratá-la como bruxa perante o
tribunal da inquisição tem se tornado jargão. Em determinadas interpretações como as que
fazem Jonas, Brennan, Merchant e Grün, autores com os quais discutimos, a impressão que
nos causa é que a filosofia de Bacon constitui „matriz originária‟ dos danos, descuidos e
exploração da natureza. Ao se falar do autor do Novum Organum, a primeira ideia que se
lembra é que ele propôs dominar a natureza. Tentar desfazer um pouco essa imagem, a nosso
ver distorcida, é finalidade da nossa pesquisa. Sendo assim, se pode perguntar: o que seria a
natureza para Bacon? De que modo devemos acossar e controlá-la? A natureza é mero objeto
que pode receber intervenções livre de se preocupar com limites? Tais indagações permearam
esse trabalho.
Conforme argumentamos, o conceito baconiano de natureza não se prende apenas a
uma única definição. Ao contrário, comporta e agrega várias acepções e características. Se
tomarmos o aforismo (I: 1) do Novum Organum, por exemplo, a natureza aparece como algo
passível de interpretação, como algo que contem ordem. Se tomarmos o (I: 3), a natureza é
tida como algo que pode ser “vencido”. O (I: 4) apresenta a natureza como algo ativo, que
possui capacidade própria de trabalho e de movimento. O aforismo (I: 10) define a natureza
como complexa e superior aos sentidos e ao intelecto. Não há como conhecê-la somente
através da contemplação ou dos livros e especulações. A natureza, segundo Bacon, não pode
ser vista como algo amedrontador, impenetrável. Na verdade, o objetivo do inglês é saltar da
concepção de ciência contemplativa, ancorada na filosofia de Aristóteles e cultivada pela
escolástica, e alcançar a ciência prática cujo fundamento radica no método experimental-
Considerações Finais
105
indutivo. No aforismo (I: 18), está posto que a natureza abarca estratos profundos. O (I: 75)
mostra que há uma sutileza na natureza. Assim, interpretar e conhecê-la é um processo que
como tal exige paciência, disposição para os desafios, continuidade nas pesquisas e esforço
conjunto de muitos pesquisadores. Entre outras definições e características passíveis de se
extrair no Novum Organum, no aforismo (I: 129), Bacon, na verdade, fecha um ciclo cuja
abertura encontra-se no aforismo (I: 3): aparece novamente a ideia de que a natureza é algo
que pode ser vencido, mas, assim como foi posto no (I: 3), no (I: 129) repete-se o mesmo
princípio: “a natureza não se domina, senão obedecendo-lhe”. Eis aí dois aforismos – o (I:
3) e o (I: 129) – que os autores mencionados no parágrafo anterior, ao que tudo indica,
relegam largamente. Para Bacon, controle da natureza e obediência à sua ordem e leis
constituem um par que deve funcionar de maneira harmônica. De acordo com o filósofo, a
maneira adequada de se dominar a natureza é obedecer e se submeter às suas leis. Essas foram
as características e definições que apresentamos no tópico 1.2 do primeiro capítulo.
Mostramos no tópico 1.3, que baseado em alguns mitos de A sabedoria dos antigos,
Bacon também encontrou definições para a natureza e dialogou, sobretudo, com as duas
principais vertentes que explicam a origem da natureza. Baseado no mito de Pã, a natureza é
definida como a universalidade das coisas. Se se toma os mitos de Celo e de Proteu, a
natureza pode ser entendida como a totalidade da matéria, como reacionária no sentido de
movimentar-se em si mesma com o fim de permanecer sendo. As vertentes refletidas por
Bacon acerca da origem da natureza são: de um lado o atomismo, do outro o judaísmo-cristão.
No tópico 1.4, vimos que, para Bacon, a natureza existe no seu curso normal, nos seus erros e
variações e na esfera trabalhada ou alterada. Dizendo em termos de Oliveira, a natureza
possui três estágios: livre, errática e constrangida. Estudá-la com seriedade é a palavra de
ordem.
No segundo capítulo, o foco de análise concentrou-se na ideia de progresso, sobretudo,
cultivada pela filosofia de Bacon. Pois, conforma argumenta Gilberto Dupas, a ideia de
progresso não é exclusivamente da modernidade, pois, pode ser encontrada inclusive nos
gregos antigos. Claro que com outra roupagem. Prometeu seria a alegoria emblemática dessa
ideia. Em virtude de doar à humanidade o recurso do fogo, Prometeu mudou radicalmente a
condição humana. Porém, destaca Dupas, é principalmente com Bacon que a ideia de
progresso ganha corpo. O progresso, consoante o pensamento baconiano, está vinculado à
ampliação do conhecimento da natureza e à capacidade de aprimorar as técnicas provocando,
assim, conforto, tranquilidade, alívio da dor e felicidade para a humanidade. É nessa direção
Considerações Finais
106
que a ciência deveria caminhar. O progresso – inclusive nos dias hodiernos – carrega a
conotação de algo bom. Permeia vários discursos. Uma imagem admitida por Bacon para
ilustrar o progresso é a da embarcação. Navegar mar a dentro, enfrentar os medos, as
tempestades, aprender com as deficiências, dialogar com outros navegadores e retornar
munido de novos conhecimentos sinaliza o progresso. A Nova Atlântida mostra bem essa
noção. As questões, no entanto, são: de que modo deve ser feita essa navegação? O progresso
comporta apenas coisas boas? Quais elementos devem compor o seu conteúdo?
O primeiro detalhe a ser observado na marcha pelo progresso, destaca Bacon, é que a
navegação deve ser feita com moderação. Essa ideia é debatida pelo Lord em várias partes de
sua obra. Fiquemos apenas com alguns mitos interpretados por ele em A sabedoria dos
antigos. O primeiro é o mito de Dédalo. Fiker, em uma nota explicativa do seu: O conhecer e
o saber em Bacon, afirma: “em sua interpretação do mito de Dédalo..., Bacon refreia um
pouco seu entusiasmo pelas artes mecânicas ao considerar seu uso na produção de
instrumentos de morte e destruição. Ele vai enfatizar as vantagens da moderação na pesquisa
científica” (FIKER, 1996, p. 141). E nessa mesma nota, encerra Fiker, “para Bacon, aliás, a
moderação é sempre recomendável...”. O segundo é o mito de Prometeu. O curioso é que ao
lado das discussões sobre a engenhosidade mecânica e as invenções decorrentes dela, Bacon
sempre apresenta o tema da moderação. Prometeu é caracterizado como astuto, sagaz,
inteligente, inventor. Foi ele quem inventou o fogo e doou à humanidade. Todavia, são
igualmente características de Prometeu, o cálculo, a análise, a prudência, a razão, a ética, a
moralidade. Prometeu recusou abrir a caixa de Pandora. Embora astuto e curioso, conteve-se.
Ao contrário do seu irmão Epimeteu. Esse, irrefletidamente, movido apenas pelo impulso da
conjuntura na qual estava inserido, assim que lhe propuseram, abriu a caixa de Pandora.
Dando conta-se dos males que havia liberado e exposto todos aos riscos, rapidamente fechou
a caixa e por pouco não perdeu a esperança. A esperança, aliás, que se encontrava bem no
fundo da caixa de Pandora. A ideia da moderação é discutida também no mito de Ícaro alado.
Tem-se, de um lado Cila e do outro Caribides. De um lado a monstruosidade, a violência das
águas, os medos, as inseguranças, os ídolos que perturbam o intelecto. Do outro, a montanha,
os obstáculos, os empecilhos físicos, as deficiências da técnica. Qual a saída? A saída é
procurar afastar-se desses extremos. A via, portanto, é o caminho do meio. A busca pelo
progresso não pode perder de vista a recomendação da prudência.
O segundo detalhe, nos põe a pensar Bacon, consiste no seguinte: o progresso não é
apenas preenchido de coisas boas. Talvez, a caixa de Pandora sirva de ilustração. É preciso
Considerações Finais
107
tomar cuidado no ato de abri-la. Não se pode destravá-la tomando como base apenas a
vontade, o desejo. No percurso da navegação, as tempestades fazem parte, o naufrágio é real
possibilidade. Argumentam Guimarães e Santos, “a ideia de progresso é, concomitantemente,
razão de entusiasmo e de desconforto frente às novas descobertas: sobre o universo, sobre a
natureza, sobre as relações sociais e políticas...” (GUIMARÃES e SANTOS, 2010, p. 31). No
mito da Esfinge, Bacon discute a faceta destrutiva do progresso. A esfinge – considerada pelo
inglês como sendo a ciência/progresso – é multifacetada. Encanta, amedronta, põe enigmas,
habita nas alturas, mas iguala-se aos homens e finda os matando. Essas são as características
que envolvem a Esfinge/ciência. O que fazer? A dica é seguir o comportamento de Édipo. O
caminho para vencer a Esfinge exige: não ser afoito – mas manter a ousadia da persistência
frente o desconhecido –; encarar com habilidade e sabedoria os enigmas e problemas que por
ela são propostos; abster-se da vaidade e da arrogância em contraposição à consideração da
humildade. Édipo era coxo. Andava com dificuldades. Possuía suas limitações, porém foi o
único capaz de vencer a Esfinge, tornar-se soberano de Tebas e livrar aquela gente dos
tormentos causados pelo monstro. O coxear aponta para essa direção: limites, moderação,
humildade do pesquisador, obediência às leis da natureza.
Resta responder sobre os elementos que deveriam compor o conteúdo ou cerne da
noção baconiana de progresso. Tais elementos foram elencados no tópico 2.3, do segundo
capítulo. Antes, porém, no tópico 2.2, vemos que Bacon faz uma espécie de diagnóstico em
torno dos problemas que estavam aprisionando e impedindo o progresso. Para Bacon, três
esferas encurralavam o progresso. A primeira era a esfera teológica. Nessa vertente, a
natureza é criação de Deus, e como tal, possui segredos que não se pode tentar descobrir.
Penetrar esse limite é incorrer em pecado contra Deus. O conhecimento é luxuria, é vaidade.
A segunda era a esfera da política. De acordo com a explicação de Bacon, para os políticos da
época, propiciar aos homens condições de se adquirir avanços no conhecimento acarretaria
como consequências a preguiça, a inabilidade nos negócios e, por fim, a desobediência civil.
Mutatis mutantes, quanto maior a ignorância, melhor. Essa era a visão política que
predominava na época. A última esfera de obstáculo ao progresso, destaca Bacon, era a dos
homens doutos, portanto, a própria academia. Isso por conta da natureza de suas pesquisas. Os
temas teológicos eram vigentes. Predominava, na verdade, a cultura livresca, da retórica e da
especulação. Ao identificar esses problemas que eram de ordem teológica, política e
acadêmica, Bacon propõe, então, o que deveria compor ou orientar a via do progresso.
Considerações Finais
108
Somente após diagnosticar a conjuntura do seu tempo, Bacon apresenta sua proposta de
reforma tendo em vista o progresso e o bem para a humanidade.
O primeiro artigo dessa reforma, pode-se dizer, seria o afastamento do saber livresco e
professoral. Ao invés de se olhar o céu, o olhar deve ser direcionado para o „chão‟, para a
realidade, para a natureza. O olhar deve se voltar para aquilo que nos ambienta. Na distinção
que faz entre conhecimento divino e conhecimento humano, Bacon chega à conclusão que, só
podemos conhecer o que está no âmbito do humano. A esfera do divino é inalcançável pelo
intelecto. Os demais artigos que regulamentam a reforma baconiana e, concomitantemente,
servem de esteio à noção de progresso são: a) pesquisar com paciência e afinco as coisas da
natureza. b) Operar uma educação que estrangule a repetição do mesmo e a mera decoração.
Estabelecer uma educação que prime pela criatividade, que se desgarre dos pontos fixos tão
apreciados pela natureza humana, que se volte para o mundo da prática e trabalhe conteúdos
que tenham vinculação com a vida e com a realidade. c) Investir em pesquisas, laboratórios,
ambientes que propiciem a prática da experimentação. d) Fiscalizar os recursos. e) Selecionar,
reconhecer, honrar os melhores pesquisadores, até mesmo para que sirva de exemplo e de
despertar outras pessoas para tal atividade, e lhes pagar salários condizentes com a excelência
de tal função. f) Promover intercâmbio e permanente diálogo com outras instituições e centros
de pesquisas. g) Considerar a diversidade de opiniões, inclusive, a dos homens comuns. As
experiências individuais praticadas, as vezes, no âmbito familiar podem contribuir com o
aprimoramento de técnicas e de conhecimento. h) Apresentar um saber que não seja
fragmentado, que valorize as partes, mas não se esqueça do todo. Grosso modo, esses são os
fatores que integram a noção de progresso para Bacon.
Por que recorremos aos conceitos de natureza e progresso? Porque, na nossa avaliação,
por um lado as discussões ambientais viram e voltam se reportam a esses conceitos. Por outro,
estudá-los nos daria substância para analisar determinadas interferências, apropriações e
interpretações a respeito. Mostramos uma gama de desencontros entre o que Bacon pensou a
respeito da natureza, da ciência e do progresso e o que dizem dele, especificamente, Hans
Jonas, Brennan, Merchant, Max Oelschlaeger46. O que queremos afirmar com isso? Que a
verdade é exclusiva de Bacon? Que não se pode discordar dele, pois sua filosofia é a melhor
que existe? Não é isso completamente. O que identificamos, na verdade, é que esses
46
Brennan, Merchant e Oelschlaeger foram inseridos nas discussões desse trabalho de maneira indireta. Ou seja,
a fonte que nos permitiu incluí-los foi o texto de Grün, intitulado Em busca da dimensão ética da educação
ambiental, uma vez que, aqueles autores serviram de referencial teórico para o último.
Considerações Finais
109
desencontros se propagam exatamente pela ausência de cuidado nas interpretações dos textos
do inglês. Quais são os argumentos destes autores? Para Jonas, o homem e a natureza estão
sob ameaça de catástrofe, por conta dos avanços tecnológicos. O poderio da tecnologia
encontrou fundamentação no ideal baconiano de progresso. Segundo Brennan, a filosofia de
Bacon se assemelha a uma máquina de terraplanagem. No seu pensamento estão as bases para
o domínio e exploração da natureza. Merchant, por sua vez, historiadora ecofeminista,
sustenta que Bacon atribui tratamento machista contra a natureza. A natureza não passa de
uma fêmea subjugada aos caprichos do homem. Oelschlaeger afirma que os julgamentos de
mulheres acusadas de bruxarias inspiraram Bacon. Assim, os cientistas deveriam proceder
com a natureza semelhantemente ao modo como os inquisidores agiam com as mulheres
acusadas de bruxarias. Por fim, Grün, para quem Bacon não dar a menor importância à
tradição e ao passado. Levando em consideração as razões que apresentamos nos dois
primeiros capítulos e retomamo-las há pouco, não são plausíveis tais argumentos. Combatêlos é sinalizar para que tenhamos cautela e cuidado com as interpretações, sobretudo, quando
estamos envolvidos com alguma causa. Como é o caso da causa ambiental. A crítica não pode
ser afastada do seu objeto. O que se percebe, provavelmente, e nos ajuda nessa desconfiança
Antônio Carlos dos Santos, é que por trás dessas interpretações subjaz uma certa visão
romântica da natureza. Estes foram os problemas e possíveis resultados que encontramos no
decorrer da pesquisa.
Vincular a filosofia de Bacon às discussões ambientais foi um desafio, mas, ao mesmo
tempo, uma viagem agradável. Nisso consistem a relevância e a contribuição da nossa
pesquisa no que se refere à atualidade do pensamento baconiano. Foi uma pesquisa do tipo
fundamental e bibliográfica. Portanto, a análise de texto constituiu indispensável ferramenta.
O que podemos extrair a título dessa viagem pode ser expresso do seguinte modo. É possível
encontrar na correnteza da filosofia baconiana subsídios para o debate ambiental. Nela,
natureza, homem, ciência e progresso devem compor uma relação de harmonia. O progresso
não está acima das leis da natureza. Acossar a natureza não é o mesmo que explorá-la ao
infinito. Até porque a visão de natureza que Bacon detém não é reducionista. A natureza é a
universalidade das coisas. A natureza é a unidade na multiplicidade. De acordo com o inglês,
a relação do homem com a natureza deve ser pautada na interpretação, na compreensão e no
conhecimento. Assim, homem, ciência, progresso e natureza se encontram. O comportamento
e as ações podem ser espelhados na postura de Prometeu. Portanto, a relação dos homens
entre si e dos homens com a prática científica e as coisas da natureza deve ter como esteio a
prudência, o caminho do meio, a moderação.
110
REFERÊNCIAS
BACON, Francis. (1985) Refutación de la filosofías. Madrid: Consejo superior de
Investigaciones Científicas.
_______. (1988). El avance del saber. Madrid: Alianza.
_______. Novum Organum ou Verdadeiras indicações acerca da interpretação da
natureza: Nova Atlântida. Tradução, José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Nova
Cultural, 1999. (Os Pensadores).
_______. A Sabedoria dos Antigos. Tradução, Gilson César Cardoso de Souza. São Paulo:
Unesp, 2002.
_______. O Progresso do Conhecimento. Tradução, Raul Fiker. São Paulo: Unesp, 2007.
BECKER, Evaldo. Natureza X Sociedade: percursos e percalços de nossa trajetória
científico-civilizacional. In: Entre o Homem e a Natureza: abordagens teóricometodológicas. SANTOS, Antônio Carlos e BECKER, Evaldo (Orgs.). Porto Alegre: Redes
Editora, 2012.
BRENNAN, Andrew. Prefácio. In: Em busca da dimensão ética da educação ambiental.
GRÜN, Mauro. Campinas, SP: Papirus, 2007.
BURSZTYN, Marcel (Org). Ciência, Ética e Sustentabilidade: desafios ao novo século. 2ª
edição. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001.
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2006.
COELHO, Maria Cândida de Pádua. A Pesquisa Científica e o Conhecimento. In:
Entrelaçando saberes: contribuições para a formação de professores e as práticas
escolares. Org: Utsumi, Mirian Cardoso. Florianópolis/SC: Insular, 2002.
COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Considerações sobre a inderdisciplinaridade. In:
Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. Org. Arlindo Philippi Jr. São Paulo: Signus
Editora,
2000.
Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/us000001.pdf. Acesso em: 18 de jan de
2014.
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: NUPAUB –
Universidade de São Paulo, 1994.
DUPAS, Gilberto. O Mito do progresso. São Paulo: Editora UNESP, 2006.
DUSEK, Val. Filosofia da Tecnologia. Tradução, Luis Carlos Borges. São Paulo: Edições
Loyola, 2009.
FIKER, Raul. O Conhecer e o Saber em Francis Bacon. São Paulo: Nova Alexandria:
Fapesp, 1996.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio ambiente. 12ª Ed. São
Paulo: Contexto, 2005.
GRUN, Mauro. Em busca da dimensão ética da educação ambiental. Campinas, SP:
Papirus, 2007.
GUIMARÃES, Rosemeire Maria A. Motta. Natureza, Ciência e Progresso em Bacon. In:
Pensar a (In)sustentabilidade: Desafios à Pesquisa. Organizador, Antônio Carlos dos
Santos. Porto Alegre: Redes Editora, 2010.
111
Referências
HADOT, Pierre. O Véu de Ísis: ensaio sobre a história da idéia de natureza. Tradução,
Mariana Sérvulo. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
JAPIASSU, Hilton. Francis Bacon o profeta da ciência moderna. São Paulo: Editoras Letras
& Letras, 1995.
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização
tecnológica. Tradução Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto,
2006.
LARRÈRE, Catherine & LARRÈRE, Raphael. Do bom uso da natureza. Lisboa: Instituto
Piaget, 1997.
LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. Tradução: Sandra Valenzuela. São Paulo: Cortez,
2001.
MANZO, Silvia. Francis Bacon y el atomismo: una nueva evaluación. Scientiae Studia:
Revista Latino-Americana de Filosofia e História da Ciência. São Paulo, v. 6, n. 4, p. 451690, out. dez. 2008.
MARCONI, Mariana de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 4ª Ed. São
Paulo: Atlas, 1999.
MENNA, Sergio Hugo. Máquinas, gênios e homens na construção do conhecimento: uma
interpretação heurística do método indutivo de Francis Bacon. Campinas, SP: [s. n.], 2011.
(Tese de doutorado pela UNICAMP) Disponível em:
http://pct.capes.gov.br/teses/2011/33003017066P7/TES.PDF. Acesso em 10 de jan de 2013.
MILLER JR, G. Tyler. Ciência Ambiental. Tradução, All Tasks. São Paulo: Cengage
Learning, 2012.
OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Francis Bacon e a fundamentação da ciência como
tecnologia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
_______. Em KRITERION, Belo Horizonte, nº 106, Dez/2002, pp. 47-49).
PICO, Giovani. A Dignidade do homem. Tradução, Luiz Feracine. Campo Grande – MS:
Solivros, Uniderp, 1999.
PRADA DUSSAN, Maximiliano. Crítica moral de Francis
Filosofía. Folios [online]. 2009, n.30, pp. 99-114. ISSN 0123-4870.
Bacon
a
La
ROSSI, Paolo. A ciência e a filosofia dos modernos: aspectos da revolução científica.
Tradução, Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora UNESP, 1992.
_______. Naufrágios sem espectador: a idéia de progresso. Tradução, Álvaro Lorencini. São
Paulo: Editora UNESP, 2000.
_______. O Nascimento da Ciência Moderna na Europa. Tradução: Antonio Angonese.
Bauru, SP: Edusc, 2001.
_______. Francis Bacon: da magia à ciência. Tradução: Aurora Fornoni Bernardini.
Londrina: Eduel, Curitiba: Editora da UFPR, 2006.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond,
2002.
SANTOS FILHO, Agripino Alexandre dos. Crise ambiental e Habermas: um enfoque
sistêmico. São Cristóvão, 2011. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio
Ambiente) – PRODEMA/UFS.
Referências
112
SANTOS, Antonio Carlos (Org). Filosofia & Natureza: debates, embates e conexões. São
Cristóvão: Editora da UFS, 2008.
SANTOS, Antônio Carlos dos. Em torno da ética ambiental. In: Entre o homem e a
natureza: abordagens teórico-metodológicas. Orgs: Antônio Carlos dos Santos, Evaldo
Becker. Porto Alegre: Redes Editora, 2012.
SANTOS, Antônio Carlos e BECKER, Evaldo (Orgs.). Entre o Homem e a Natureza:
abordagens teórico-metodológicas. Porto Alegre: Redes Editora, 2012.
SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social.
São Paulo: Boitempo, 2007.
___________. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2008.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,
2007.
SILVA, Marinoé Gonzaga da. Francis Bacon e a reformulação da ciência. In: Entre o
Homem e a Natureza: abordagens teórico-metodológicas. SANTOS, Antônio Carlos e
BECKER, Evaldo (Orgs.). Porto Alegre: Redes Editora, 2012.
SOUZA, Maria das Graças de. A Filosofia da Natureza em Bacon: a herança Democritiana.
In: Filosofia & Natureza: debates, embates & conexões. Org: Antônio Carlos dos Santos.
São Cristóvão, SE: Editora UFS, 2008.
THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas
e aos animais. Tradução, João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras,
2010.
ZATERKA, Luciana. A filosofia experimental na Inglaterra do século XVII: Francis
Bacon e Robert Boyle. São Paulo: Associação Editorial Humanitas: Fapesp, 2004.