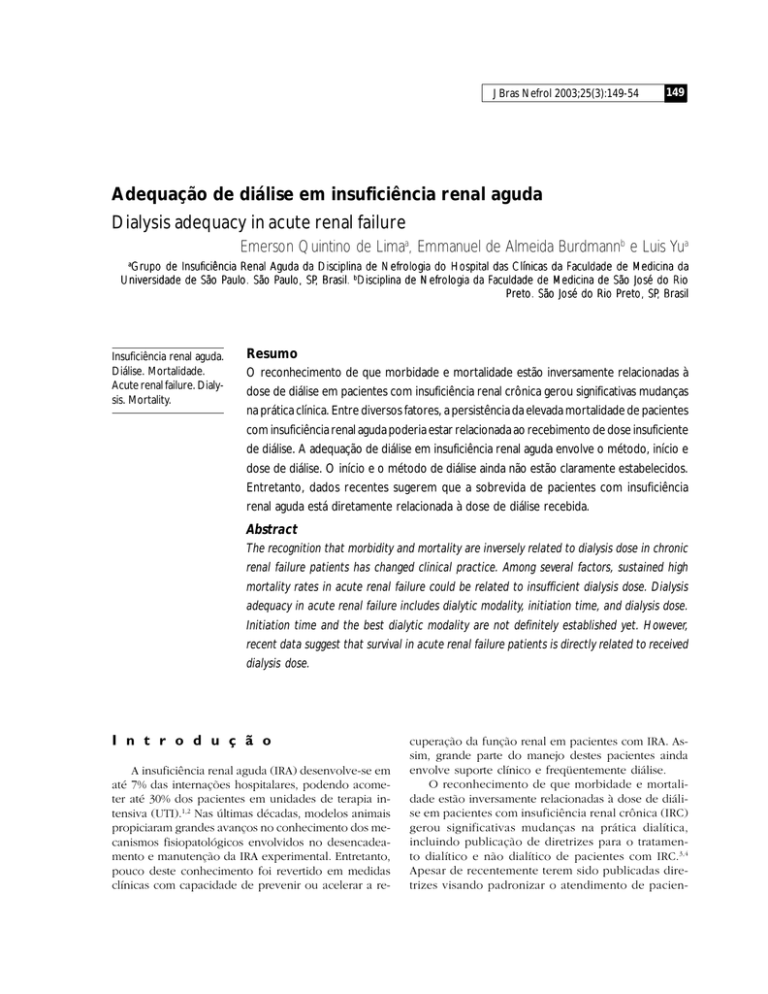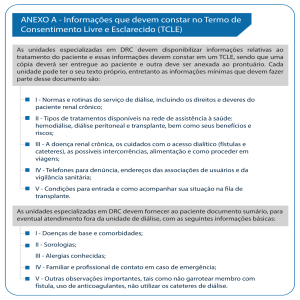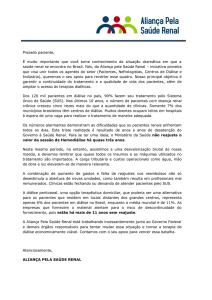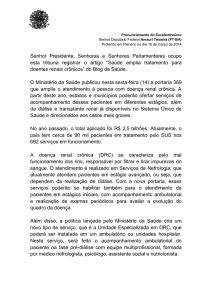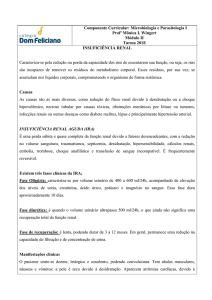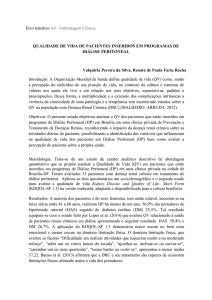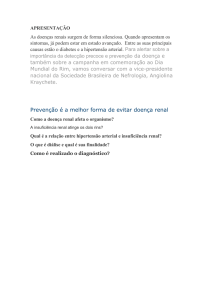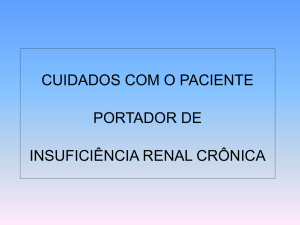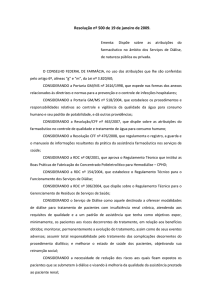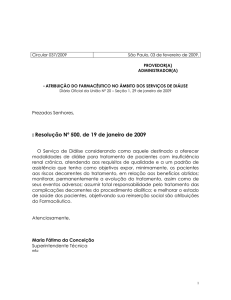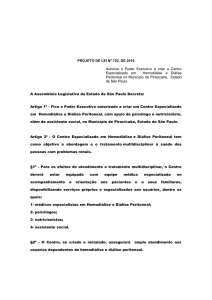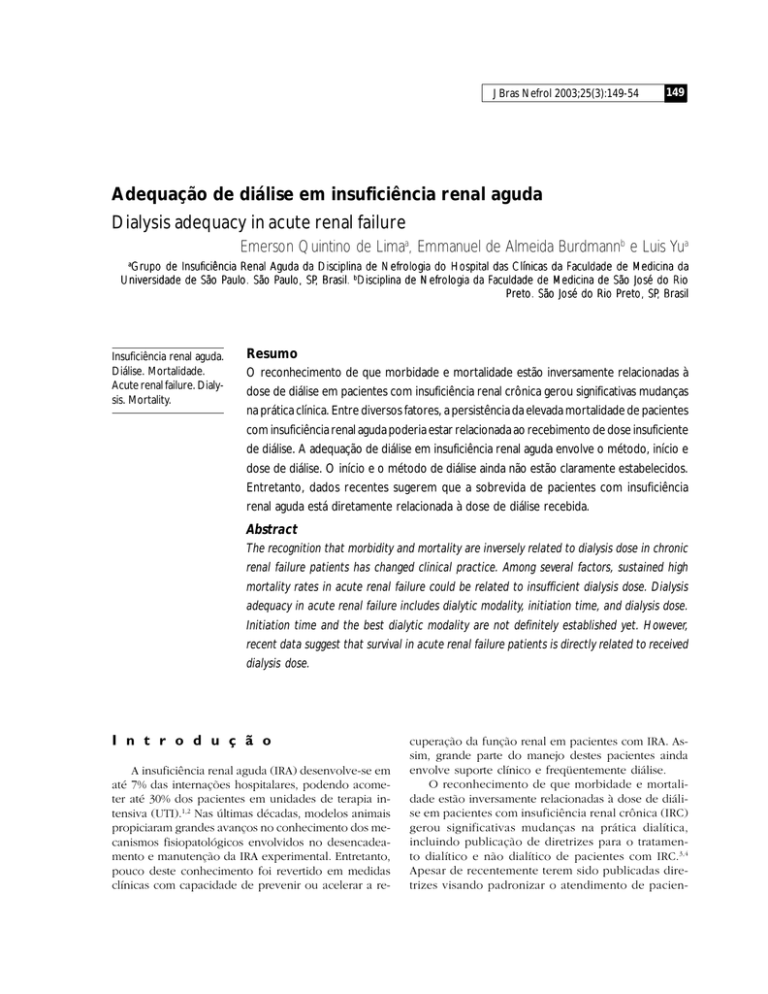
J Bras Nefrol 2003;25(3):149-54
149
Adequação de diálise em insuficiência renal aguda
Dialysis adequacy in acute renal failure
Emerson Quintino de Limaa, Emmanuel de Almeida Burdmannb e Luis Yua
a
Grupo de Insuficiência Renal Aguda da Disciplina de Nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
aculdade de Medicina de São José do Rio
aulo. São PPaulo,
aulo, SP
SP,, Brasil. bDisciplina de Nefrologia da FFaculdade
Universidade de São PPaulo.
Preto. São José do Rio PPreto,
reto, SP
SP,, Brasil
Insuficiência renal aguda.
Diálise. Mortalidade.
Acute renal failure. Dialysis. Mortality.
Resumo
O reconhecimento de que morbidade e mortalidade estão inversamente relacionadas à
dose de diálise em pacientes com insuficiência renal crônica gerou significativas mudanças
na prática clínica. Entre diversos fatores, a persistência da elevada mortalidade de pacientes
com insuficiência renal aguda poderia estar relacionada ao recebimento de dose insuficiente
de diálise. A adequação de diálise em insuficiência renal aguda envolve o método, início e
dose de diálise. O início e o método de diálise ainda não estão claramente estabelecidos.
Entretanto, dados recentes sugerem que a sobrevida de pacientes com insuficiência
renal aguda está diretamente relacionada à dose de diálise recebida.
Abstract
The recognition that morbidity and mortality are inversely related to dialysis dose in chronic
renal failure patients has changed clinical practice. Among several factors, sustained high
mortality rates in acute renal failure could be related to insufficient dialysis dose. Dialysis
adequacy in acute renal failure includes dialytic modality, initiation time, and dialysis dose.
Initiation time and the best dialytic modality are not definitely established yet. However,
recent data suggest that survival in acute renal failure patients is directly related to received
dialysis dose.
I n t r o d u ç ã o
A insuficiência renal aguda (IRA) desenvolve-se em
até 7% das internações hospitalares, podendo acometer até 30% dos pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI).1,2 Nas últimas décadas, modelos animais
propiciaram grandes avanços no conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos no desencadeamento e manutenção da IRA experimental. Entretanto,
pouco deste conhecimento foi revertido em medidas
clínicas com capacidade de prevenir ou acelerar a re-
cuperação da função renal em pacientes com IRA.Assim, grande parte do manejo destes pacientes ainda
envolve suporte clínico e freqüentemente diálise.
O reconhecimento de que morbidade e mortalidade estão inversamente relacionadas à dose de diálise em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC)
gerou significativas mudanças na prática dialítica,
incluindo publicação de diretrizes para o tratamento dialítico e não dialítico de pacientes com IRC.3,4
Apesar de recentemente terem sido publicadas diretrizes visando padronizar o atendimento de pacien-
150 J Bras Nefrol 2003;25(3):149-54
tes com IRA, necessita-se ainda de evidências mais
consistentes sobre a melhor forma de tratar estes
pacientes, principalmente em relação à diálise.5-7
A definição de diálise adequada em IRA é ampla e
engloba diversos aspectos que vão desde o método
de diálise até como quantificar a dose de diálise oferecida.8,9 A IRA que acomete pacientes internados em UTI
tem mortalidade e perfil epidemiológico particulares,
não podendo ser vista da mesma forma que aquela
que ocorre em pacientes internados em enfermarias.
Nesta revisão, discutiremos os principais aspectos do
tratamento dialítico dos pacientes com IRA em UTI.
Método de diálise
A experiência do nefrologista com a técnica e a
disponibilidade das diferentes modalidades de diálise no hospital tem influenciado de forma marcante
a escolha do método dialítico em pacientes com IRA.
Ronco et al10 demonstraram através de questionário
envolvendo 345 centros de nefrologia (75% deles localizados na Europa) que em apenas 21,3% dos hospitais havia disponibilidade de hemodiálise intermitente. Além disso, diálise peritoneal era disponível
em 23,9% dos centros e técnicas contínuas de diálise (venovenosa), em 26,8% dos hospitais. Em análise semelhante realizada em centros norte-americanos, hemodiálise intermitente foi a modalidade de
diálise mais empregada, enquanto diálise peritoneal
foi raramente utilizada no tratamento da IRA.11 No
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, a modalidade de diálise
empregada no tratamento da IRA em UTI tem mudado nos últimos anos. Em 1997, diálise peritoneal,
técnicas contínuas de diálise e hemodiálise intermitente representavam 43%, 43% e 14% das indicações
de diálise, respectivamente. Ao longo dos anos, ocorreu declínio da utilização de diálise peritoneal e aumento nas indicações das técnicas contínuas. Em
2000, diálise peritoneal foi empregada em 23% e as
técnicas contínuas, em 64% dos casos de IRA tratados em UTI.
Não há ainda consenso sobre qual é o melhor método de diálise no tratamento da IRA. As técnicas contínuas de diálise apresentam algumas vantagens em
relação à hemodiálise intermitente, como melhor controle da volemia e das escórias nitrogenadas e menor
instabilidade hemodinâmica durante o procedimento.
Muitos dos trabalhos comparando os métodos contínuos e intermitentes são retrospectivos ou não rando-
Diálise em insuficiência renal aguda - Lima EQ de et al
mizados, impedindo maiores conclusões quanto ao
melhor método de diálise em pacientes com IRA em
UTI.12 Apesar das vantagens potenciais das técnicas
contínuas em relação às intermitentes, Mehta et al13
não evidenciaram maior sobrevida em pacientes dialisados por procedimentos contínuos. Falhas na randomização e ausência de controle de variáveis clinicamente importantes (suporte nutricional, suporte
hemodinâmico, tempo de início e dose de diálise) podem ter influenciado na maior mortalidade evidenciada nos pacientes submetidos à hemodiálise de forma
contínua.13
Apesar do declínio na sua utilização, a diálise peritoneal não deve ser descartada como alternativa terapêutica potencialmente válida em grupos selecionados
de pacientes com IRA. Em pacientes hipercatabólicos
internados em UTI, ela não é o melhor método, pois
dificilmente fornecerá dose adequada de diálise frente
à situação enfrentada. Por outro lado, em pacientes com
IRA acompanhada por catabolismo menos acentuado,
como aqueles portadores de patologias cardiovasculares e em crianças, a diálise peritoneal pode ser uma
alternativa viável.
As técnicas contínuas de diálise são caras e necessitam de equipamentos específicos para a sua realização.
A hemodiálise diária estendida14 e a diálise prolongada
de baixa eficiência15 seriam alternativas interessantes
quando não se dispõe das técnicas contínuas de diálise. Nestes métodos, são utilizadas máquinas de proporção convencionais adaptadas para oferecer fluxo de
dialisato entre 100 ml/min a 300 ml/min. Prescreve-se
um fluxo de sangue entre 150 ml/min e 200 ml/min e o
tempo de diálise varia entre oito e 12 horas. Estes métodos oferecem como vantagens a necessidade de menor
dose de anticoagulação, boa tolerância hemodinâmica,
grande capacidade de remoção de volume, maior tempo livre para mobilização do paciente e, talvez o mais
importante, a possibilidade de utilizar o mesmo equipamento para dialisar pacientes com IRC e IRA, dispensando a necessidade de aparatos especiais que são essenciais para os métodos contínuos de diálise. Existem
evidências de que este método é bem tolerado e oferece dose adequada de diálise.16
Indicação da diálise
Na prática clínica, o nefrologista é quase sempre
chamado tardiamente para avaliação de pacientes com
IRA em UTI, quando não existe outra alternativa a não
ser o tratamento dialítico. No HCFMUSP, os pacientes
Diálise em insuficiência renal aguda - Lima EQ de et al
com IRA em UTI que sobreviveram à internação hospitalar foram atendidos pelo nefrologista, com uréia
menor em relação aos não-sobreviventes (133±59 vs
153±64 mg/dL, p<0,05).17 Embora não tenha havido
diferença estatisticamente significante, os pacientes não
sobreviventes dialisaram com uréia mais elevada do
que os sobreviventes (195±76 vs 174±76 mg/dL, NS).
O tempo médio de atraso no chamado do nefrologista
em relação ao início da IRA foi de quatro dias. O chamado precoce poderia permitir intervenção do nefrologista em causas reversíveis de IRA, além de permitir
uma programação mais adequada da diálise.
As indicações clássicas de diálise em IRA incluem
hipercalemia persistente após tratamento clínico, acidose grave de difícil correção, hipervolemia e uremia. O conceito de diálise precoce é antigo. Na década de 60, foi demonstrado que os pacientes que
dialisavam precocemente (uréia <250 a 300 mg/dL)
apresentavam menor mortalidade do que aqueles dialisados tardiamente (uréia >400 mg/dL).18,19 Kleinknecht et al,20 analisando pacientes que dialisaram no
período de 1966 a 1970, demonstraram menor mortalidade no grupo que dialisou precocemente (uréia
<200 mg/dL) comparado com aqueles que iniciaram
diálise somente quando a uréia era maior que 350
mg/dL. Estes trabalhos não são extrapoláveis para a
realidade atual, devido aos critérios subjetivos de
precocidade de diálise, mudança no perfil dos pacientes, avanços nas práticas médicas e na tecnologia de
diálise. Recentemente, Ronco et al,21 em trabalho prospectivo sobre dose de diálise e hemofiltração em IRA,
demonstraram claramente que os pacientes que sobreviveram dialisaram com níveis de uréia menores
do que os dos pacientes não sobreviventes. Apesar
dos dados existentes sugerirem que devemos iniciar
precocemente a diálise em pacientes com IRA, a definição de precocidade e o benefício advindo do seu
emprego ainda estão por ser estabelecidos.
Dose de diálise e mortalidade
A morbidade e a mortalidade em pacientes com IRC
estão claramente relacionadas à dose de diálise recebida. Portanto, poder-se-ia presumir que parte da elevada mortalidade dos pacientes com IRA estaria relacionada ao recebimento de dose insuficiente de diálise.
Gillum et al22 dialisaram 34 pacientes de forma intensiva (uréia pré-diálise: 130±50 mg/dL) ou não intensiva
(uréia pré-diálise: 216±38 mg/dL). As complicações
hemorrágicas ocorreram com maior freqüência nos
J Bras Nefrol 2003;25(3):149-54
151
pacientes dialisados de forma não intensiva, mas a
mortalidade não diferiu entre os dois grupos (intensivo 58,8% e não intensivo 47,1%). Os autores concluíram que não havia indicação para diálise intensiva em
IRA. Paganini et al23 avaliaram a evolução de 842 pacientes que necessitaram de hemodiálise intermitente ou
terapias contínuas de diálise baseados no escore de
gravidade da Cleveland Clinic Foundation. Os pacientes com baixa ou elevada probabilidade de óbito com
base no escore não tiveram sua evolução influenciada
pela dose de diálise recebida. Entretanto, os pacientes
com escores intermediários foram mais afetados pela
dose de diálise, isto é, aqueles que receberam maior
dose (percentual de redução de uréia >58%) apresentaram menor mortalidade.
A confirmação de que a mortalidade em IRA poderia estar relacionada à dose de diálise ainda necessita
de dados mais consistentes. Ronco et al21 randomizaram 425 pacientes com IRA em UTI para avaliar o impacto de doses crescentes de diálise na mortalidade
em pacientes submetidos a hemofiltração. Como na
hemofiltração a depuração de moléculas pequenas
(como a uréia) é diretamente dependente do volume
ultrafiltrado, este pode ser utilizado para aferir a dose
de diálise. Os pacientes foram alocados para ultrafiltração de 20 ml/kg/h (grupo 1, n=146), 35 ml/kg/h
(grupo 2, n=139) ou 45 ml/kg/h (grupo 3, n=140). A
sobrevida no grupo 1 (41%) foi significantemente menor que nos grupos 2 (57%) e 3 (58%). Assim, o aumento na dose de diálise esteve diretamente relacionado a maior sobrevida em IRA, justificando a utilização
de volumes maiores de ultrafiltração que os habitualmente utilizados.
Schiffl et al24 dialisaram 160 pacientes com IRA em
UTI através de hemodiálise intermitente em dias alternados ou diariamente. Os pacientes eram semelhantes quanto à idade, sexo, gravidade (escore APACHE II) e causa da insuficiência renal. Hemodiálise
diária resultou em melhor controle das escórias nitrogenadas, menos episódios de hipotensão durante
a sessão de diálise (5±2% LI25±5%, p<0,001), maior
dose de hemodiálise (Kt/V semanal 5,8±0,4 LI 3,0±0,6)
e resolução mais rápida da IRA (9±2 LI 16±6 dias,
p<0,001). A mortalidade foi de 28% no grupo dialisado diariamente e 46% no grupo dialisado em dias alternados. Uma das críticas a este trabalho está no
critério de inclusão dos pacientes. Aqueles que tinham
indicação de terapias contínuas de diálise não eram
randomizados. Assim, é provável que os pacientes
152 J Bras Nefrol 2003;25(3):149-54
mais graves tenham sido excluídos. A mortalidade,
mesmo no grupo dialisado em dias alternados, foi
muito baixa se comparada à descrita na literatura para
pacientes com IRA dependente de diálise em UTI.
Mesmo assim, este trabalho corrobora a idéia de que,
semelhante ao que ocorre em pacientes com IRC, a
dose de diálise deve estar diretamente relacionada à
morbidade e à mortalidade na IRA.
Quantificação da dose de diálise
Tão importante quanto oferecer a dose adequada
de diálise é verificar se esta dose oferecida é realmente recebida. Geralmente, a quantificação da dose de
diálise em IRA não é calculada pelas equipes de atendimento. O que se procura é manter os níveis de uréia
e creatinina pré-diálise abaixo de determinado valores. Ronco et al10 verificaram que o Kt/V é medido por
apenas 13% dos nefrologistas no tratamento de pacientes com IRA.
O Kt/V é um índice utilizado para quantificação
da dose de diálise oferecida em pacientes com IRC.
O K representa a depuração de uréia através do dialisador (ml/min), t, o tempo de diálise (min), e V, o
volume de distribuição de uréia no corpo (ml). Considera-se adequado o valor de 1,2 quando se utiliza
o modelo de cinética de uréia de único compartimento. O modelo de cinética de uréia utilizado em
IRC tem sido extrapolado para pacientes com IRA.
Mas seria válida a transposição dos conhecimentos
de adequação de diálise em IRC para IRA? A resposta é provavelmente negativa. Analisando-se as variáveis que influenciam os componentes do Kt/V, verifica-se facilmente os problemas de sua utilização em
IRA. A depuração através do dialisador é afetada pelo
fluxo de sangue e dialisato, pela qualidade e recirculação do acesso vascular e pelas características da
membrana. Em muitas ocasiões, o fluxo de sangue
em hemodiálise intermitente na IRA está aquém daquele rotineiramente utilizado em IRC, devido a episódios de hipotensão durante a sessão de diálise. A
performance do dialisador e a eficiência da diálise
são claramente influenciadas pela anticoagulação que
tem que ser reduzida ou mesmo não utilizada devido a discrasias sanguíneas presentes em pacientes
graves. A recirculação através do cateter de diálise
também é um problema a ser considerado. Os cateteres temporários, quando locados em veia femoral,
podem apresentar recirculação de até 26%, prejudicando a eficiência da diálise.25 Em relação ao tempo
Diálise em insuficiência renal aguda - Lima EQ de et al
de diálise, freqüentemente ocorre interrupção precoce devido à coagulação do dialisador, a episódios de hipotensão grave ou à necessidade de realização de procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos. O
volume de distribuição de uréia é de difícil aferição
no paciente com IRA, devido ao estado hipervolêmico e à provável redistribuição dos compartimentos. Os pacientes com IRA são hipercatabólicos e
apresentam necessidades nutricionais muito elevadas, sendo que o Kt/V foi idealizado para pacientes
estáveis e não-catabólicos. Estas observações sugerem que o Kt/V provavelmente não é o indicador
ideal para inferir eficiência de diálise em IRA. Além
disso, ainda não se determinou o melhor modelo de
cinética de uréia em hemodiálise intermitente, métodos contínuos ou semi-contínuos de diálise em IRA.
Apesar das deficiências da aplicabilidade do Kt/V
em pacientes com IRA, continua-se a utilizá-lo devido
à inexistência de melhor modelo. Em pacientes com
IRC, a dose de diálise recebida é cerca de 10% inferior
à prescrita.26 Evanson et al27 verificaram que a dose de
diálise recebida, aferida pelo Kt/V no modelo de único compartimento, também era menor que a prescrita
em pacientes com IRA submetidos à hemodiálise intermitente. O Kt/V médio prescrito foi de 1,25±0,47 e o
recebido, de 1,04±0,49 (p<0,01). Apenas 30% dos pacientes receberam Kt/V maior que 1,2. Dentre as variáveis que influenciaram na dose de diálise recebida,
destacaram-se o peso do paciente e a falta de anticoagulação. Pacientes que receberam Kt/V<1,2 eram mais
pesados que os demais. Quando se utilizou o modelo
de dois compartimentos de uréia, o Kt/V recebido foi
de 0,84±0,28, indicando que o rebote de uréia deve
ser considerado nestes pacientes, devido à provável
redistribuição dos compartimentos.28
Uma maneira alternativa para quantificar a dose
de diálise recebida é através da utilização do índice de
remoção de solutos (IRS).28,29 O IRS mede a quantidade
de uréia removida durante a sessão de diálise. Para
tanto, é necessária a coleta total ou parcial do dialisato. Algumas máquinas de diálise permitem a coleta
parcial do dialisato de modo contínuo e esta técnica
reflete a coleta total do dialisato para a remoção de
uréia durante a diálise.30 As vantagens do IRS incluem
a ausência de influência da distribuição intercompartimental, do método dialítico ou do modelo de cinética
utilizado (único ou duplo compartimento).29 Assim, o
IRS poderia ser uma maneira mais adequada de aferir
a dose de diálise em IRA, em relação ao Kt/V.
Diálise em insuficiência renal aguda - Lima EQ de et al
C o n c l u s õ e s
As dúvidas em relação ao tratamento dialítico ótimo da IRA continuam. Ainda não se sabe qual o melhor momento para indicar diálise. Provavelmente deve
ser indicada precocemente, mas o que é considerado
precoce? Também não existem evidências de qual o
melhor método de diálise em IRA. O nefrologista deve
escolher o método com o qual tenha maior familiaridade e que seja adequado para o momento do pacien-
J Bras Nefrol 2003;25(3):149-54
153
te. Nada impede que o paciente migre de um método
para outro, dependendo do seu estado hemodinâmico ou da disponibilidade local de equipamento. Seja
qual for o método, deve-se oferecer a maior dose possível de diálise, pois esta parece estar associada à maior
sobrevida do paciente com IRA. Este objetivo pode ser
atingido com maior tempo e/ou número de sessões de
hemodiálise intermitente ou através de maior volume
de dialisato e/ou reposição em pacientes submetidos
aos métodos contínuos de diálise.
R e f e r ê n c i a s
1.
Burdmann EA. Epidemiologia. In: Schor N, Santos O, Boim
M, eds. Insuficiência renal aguda: fisiopatologia, clínica e
tratamento. São Paulo: Editora Sarvier; 1997. p. 1-7.
2.
Nash K, Hafeez A, Hou S. Hospital-acquired renal
insufficiency. Am J Kidney Dis 2002;39:930-936.
3.
NKF-DOQI clinical practice guidelines for hemodialysis
adequacy. National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis
1997;30:S15-S66.
13. Mehta RL, McDonald B, Gabbai FB, Pahl M, Pascual MT,
Farkas A, Kaplan RM. A randomized clinical trial of
continuous versus intermittent dialysis for acute renal
failure. Kidney Int 2001;60:1154-63.
4.
K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney
disease: evaluation, classification, and stratification. Kidney
Disease Outcome Quality Initiative. Am J Kidney Dis
2002;39:S1-246.
14. Kumar VA, Craig M, Depner TA, Yeun JY. Extended daily
dialysis: A new approach to renal replacement for acute
renal failure in the intensive care unit. Am J Kidney Dis
2000;36:294-300.
5.
Ronco C, Kellum JA, Mehta R. Acute dialysis quality initiative
(ADQI). Nephrol Dial Transplant 2001;16:1555-8.
6.
Star R. Design issues for clinical trials in acute renal failure.
Blood Purif 2001;19:233-7.
15. Marshall MR, Golper TA, Shaver MJ, Alam MG, Chatoth
DK. Sustained low-efficiency dialysis for critically ill patients
requiring renal replacement therapy. Kidney Int
2001;60:777-85.
7.
Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes de
insuficiência renal aguda; 2001.
8.
Friedman AN, Jaber BL. Dialysis adequacy in patients with
acute renal failure. Curr Opin Nephrol Hypertens
1999;8:695-700.
9.
Karsou SA, Jaber BL, Pereira BJ. Impact of intermittent
hemodialysis variables on clinical outcomes in acute renal
failure. Am J Kidney Dis 2000;35:980-91.
10. Ronco C, Zanella M, Brendolan A, Milan M, Canato G,
Zamperetti N, Bellomo R. Management of severe acute renal
failure in critically ill patients: an international survey in
345 centres. Nephrol Dial Transplant 2001;16:230-7.
11. Mehta RL, Letteri JM. Current status of renal replacement
therapy for acute renal failure. A survey of US
nephrologists. The National Kidney Foundation Council
on Dialysis. Am J Nephrol 1999;19:377-82.
12. Kellum JA, Angus DC, Johnson JP, Leblanc M, Griffin M,
Ramakrishnan N, Linde-Zwirble WT. Continuous versus
intermittent renal replacement therapy: a meta-analysis.
Intensive Care Med 2002; 28:29-37.
16. Marshall MR, Golper TA, Shaver MJ, Alam MG, Chatoth
DK. Urea kinetics during sustained low-efficiency dialysis
in critically ill patients requiring renal replacement therapy.
Am J Kidney Dis 2002;39:556-70.
17. Lima EQ, Castro I, Zanetta DMT, Yu L. Predicting mortality
in acute renal failure (ARF) by severity scoring systems. J
Am Soc Nephrol 2001;12:174A.
18. Fischer RP, Griffen Jr-WO, Reiser M, Clark DS. Early dialysis
in the treatment of acute renal failure. Surg Gynecol Obstet
1966;123:1019-23.
19. Parson FM, Hobson SM, Blagg CR, McCraken BH. Optimum
time for dialysis in acute reversible renal failure: description
and value of improved dialyzer with large surface area.
Lancet 1961;1:129-34.
20. Kleinknecht D, Jungers P, Chanard J, Barbanel C, Ganeval
D. Uremic and non-uremic complications in acute renal
failure. Evaluation of early and frequent dialysis on
prognosis. Kidney Int 1972;1:190-6.
154 J Bras Nefrol 2003;25(3):149-54
21. Ronco C, Bellomo R, Homel P, Brendolan A, Dan M,
Piccinni P, La Greca G. Effects of different doses in
continuous veno-venous haemofiltration on outcomes of
acute renal failure: a prospective randomised trial. Lancet
2000;356:26-30.
22. Gillum DM, Dixon BS, Yanover MJ, Kelleher SP, Shapiro
MD, Benedetti RG et al. The role of intensive dialysis in
acute renal failure. Clin Nephrol 1986;25:249-55.
23. Paganini EP, Tapolyai M, Goormastic M, Halstenberg W,
Kozlowski L, Leblanc M, et al. Establishing a dialysis
therapy/patient outcome link in intensive care unit acute
dialysis for patients with acute renal failure. Am J Kidney
Dis 1996; 28(Suppl 3):S81-S9.
24. Schiffl H, Lang SM, Fischer R. Daily hemodialysis and
the outcome of acute renal failure. N Engl J Med
2002;346:305-10.
Diálise em insuficiência renal aguda - Lima EQ de et al
28. Evanson JA, Ikizler TA, Wingard R, Knights S, Shyr Y,
Schulman G et al. Measurement of the delivery of dialysis
in acute renal failure. Kidney Int 1999;55:1501-8.
29. Keshaviah P, Star RA. A new approach to dialysis
quantification: an adequacy index based on solute removal.
Semin Dial 1994;7:85-90.
30. Cheng YL, Shek CC, Wong FK, Choi KS, Chau KF, Ing TS,
Li CS. Determination of the solute removal index for urea
by using a partial spent dialysate collection method. Am J
Kidney Dis 1998;31:986-90.
Recebido em 5/12/2002. Aprovado em 9/4/2003.
Fonte de financiamento e conflito de interesses inexistentes.
25. Little MA, Conlon PJ, Walshe JJ. Access recirculation in
temporary hemodialysis catheters as measured by the saline
dilution technique. Am J Kidney Dis 2000;36:1135-9.
26. US Renal Data System (USRDS) 1996 Annual Data Report.
The National Institutes of Health, National Institute of
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 1996.
27. Evanson JA, Himmelfarb J, Wingard R, Knights S, Shyr Y,
Schulman G et al. Prescribed versus delivered dialysis in
acute renal failure patients. Am J Kidney Dis 1998;32:731-8.
Correspondência:
Emerson Quintino de Lima
Disciplina de Nefrologia, Universidade de São Paulo – LIM 12
Av. Dr. Arnaldo 455 3° andar sala 3310
01246-903 São Paulo, SP, Brasil
E-mail: [email protected]