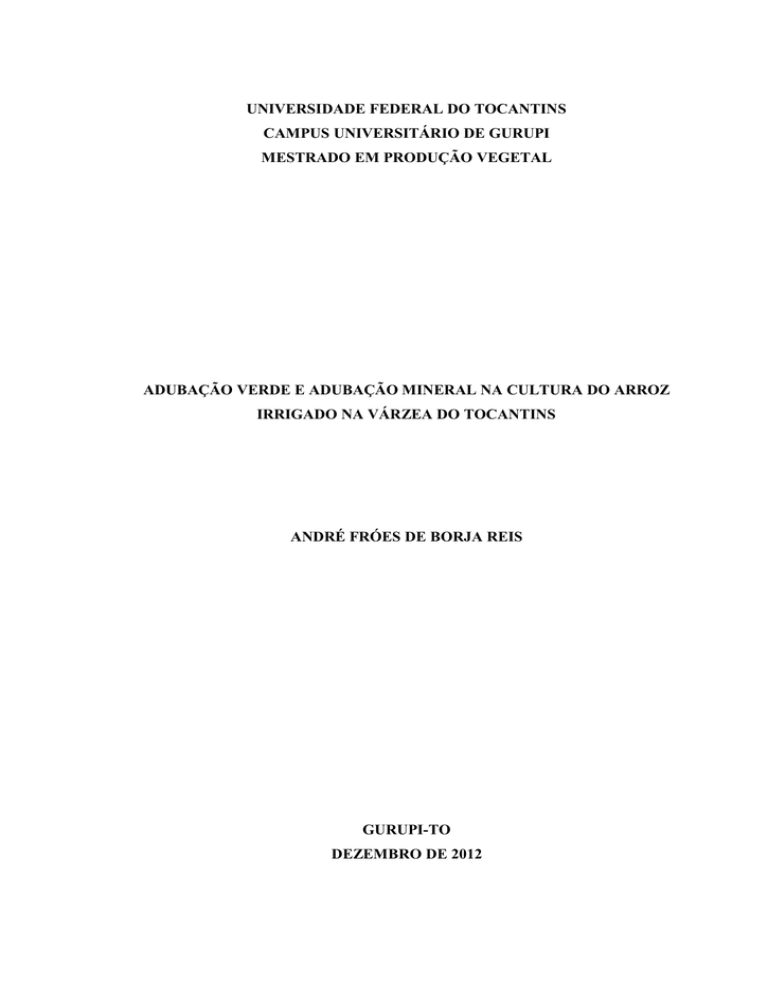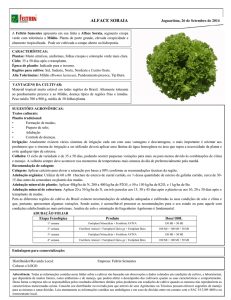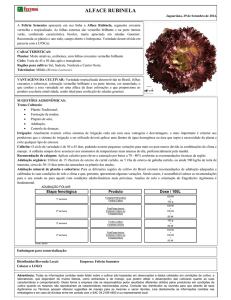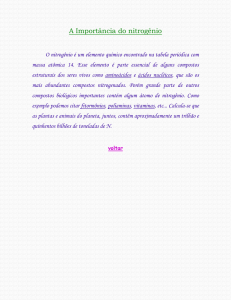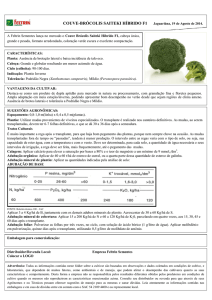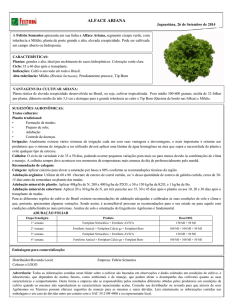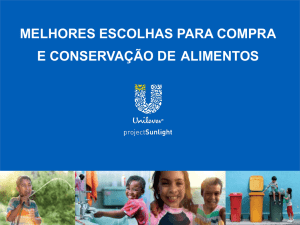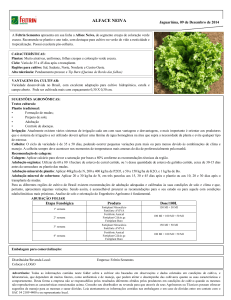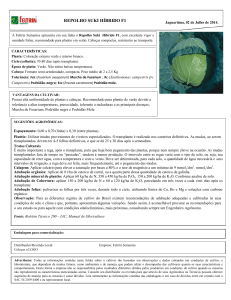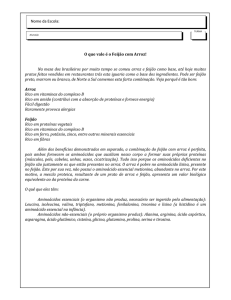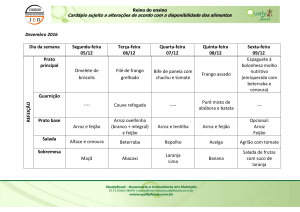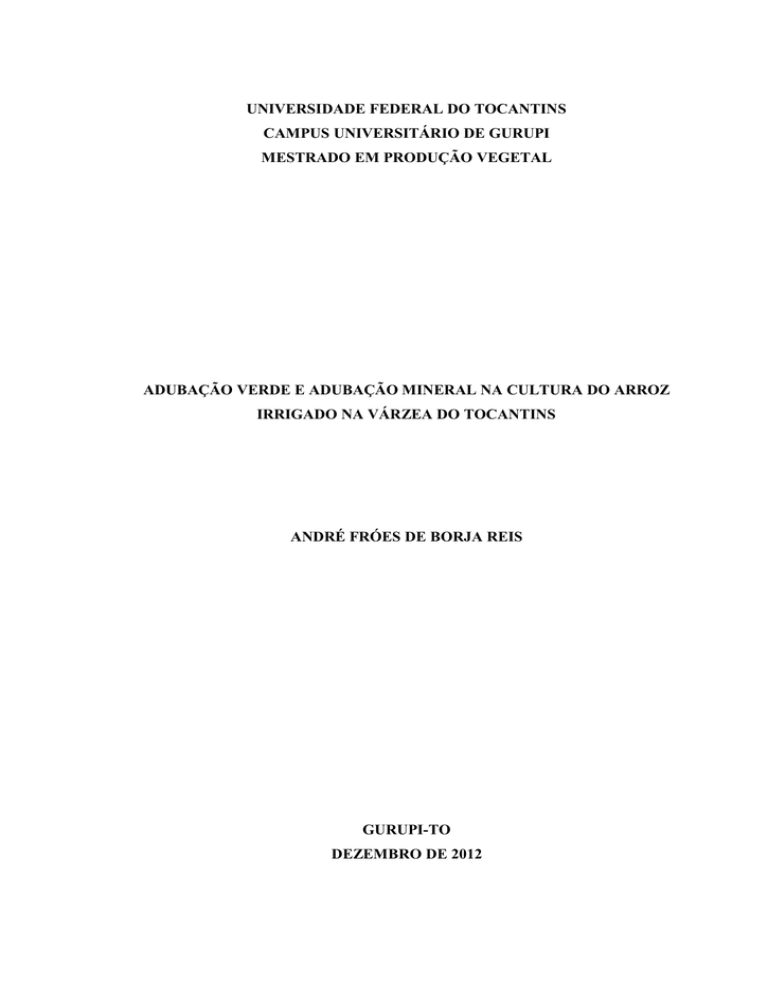
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI
MESTRADO EM PRODUÇÃO VEGETAL
ADUBAÇÃO VERDE E ADUBAÇÃO MINERAL NA CULTURA DO ARROZ
IRRIGADO NA VÁRZEA DO TOCANTINS
ANDRÉ FRÓES DE BORJA REIS
GURUPI-TO
DEZEMBRO DE 2012
ANDRÉ FRÓES DE BORJA REIS
ADUBAÇÃO VERDE E ADUBAÇÃO MINERAL NA CULTURA DO ARROZ
IRRIGADO NA VÁRZEA DO TOCANTINS
Dissertação apresentada ao Programa
de Pós Graduação em Produção Vegetal da
Universidade Federal do Tocantins, como parte
das exigências para a obtenção do título de
Mestre em Fitotecnia.
GURUPI-TO
DEZEMBRO DE 2012
2
Trabalho realizado junto ao curso de Mestrado em Produção Vegetal da Universidade Federal
do Tocantins, sob a orientação do Profº Dr. Aloísio Freitas Chagas Júnior, com o apoio
financeiro do Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq).
Banca examinadora:
________________________________________
Prof. Dr. Aloísio Freitas Chagas Júnior Universidade Federal do Tocantins (Orientador)
_________________________________________
Dr. Nand Kumar Fageria - Embrapa Arroz e
Feijão (Co-orientador)
_________________________________________
Prof. Dr. Gil Rodrigues dos Santos Universidade Federal do Tocantins (Examinador)
_________________________________________
Prof. Dr. Saulo de Oliveira Lima - Universidade
Federal do Tocantins (Examinador)
3
À Luiz Vicente de Souza Queiróz,
e a todos aqueles que sob seu nome construíram o legado,
e que me ensinaram a minha mais importante missão...
OFEREÇO
Aos meus pais Théo de Borja Reis Jr. e Maria Regina Briza Fróes.
A minha irmã Cristina Fróes de Borja Reis e meu sobrinho Alexandre.
Com todo o meu amor e agradecimento por uma vida de realizações.
DEDICO
4
AGRADECIMENTOS:
Ao programa de pós-graduação em produção vegetal da Universidade Federal do
Tocantins pela oportunidade.
Aos meus orientadores: professor Dr. Aloísio Freitas Chagas Júnior pela
autonomia, amizade, confiança e orientação. Ao Dr. Nand Kumar Fageria, da Embrapa
Arroz Feijão, pela co-orientação, ensinamentos e exemplo de pesquisa.
A Impar Consultoria no Agronegócio na pessoa de meu amigo e gestor Raphael
Gregolin Abe pelos ensinamentos e liderança durante os últimos cinco anos de trabalho.
O apoio da Impar foi imprescindível para a realização do curso de mestrado. Agradeço
por terem permitido minha dedicação e ausência das atividades profissionais, mesmo
sabendo que seria um caminho sem volta. E ao final dessa etapa e com olhar adiante,
tenho comigo que a formação de engenheiro agrônomo consultor que adquiri através do
trabalho e convívio com as pessoas dessa empresa, seguirá comigo durante o restante da
minha carreira.
A Fazenda Dois Rios Ltda. nas pessoas de Auke Dijkstra, Josnei Spinardi da
Rosa e Anilton Bardini de Souza. Agradeço pelo suporte e apoio financeiro das
pesquisas desenvolvidas, e mais do que isso, pelo reconhecimento e confiança no meu
trabalho como engenheiro agrônomo. As alterações no sistema de produção de arroz
irrigado em várzea tropical que realizamos com sucesso nos últimos anos são frutos do
dia-a-dia comprometido com as atividades de campo, e mais do que isso, de uma
relação de trabalho e amizade. Obrigado a todos.
A Cristina Fróes de Borja Reis, minha querida irmã, pelo incentivo. Suas
atitudes, realizações acadêmicas e pessoais foram e sempre serão, exemplos a serem
seguidos. Aos meus pais, Théo de Borja Reis Jr. e Maria Regina Briza Fróes, pelo amor
incondicional. Vocês são as pessoas mais importantes e que estão sempre no centro das
minhas decisões.
Aos colegas de trabalho da Impar Tocantins: Solano Colodel e Valdir Pires da
Costa, cujas ajudas foram essenciais na condução dos experimentos, coleta e
processamento das amostras. Obrigado pelo comprometimento e companheirismo.
5
Aos amigos da turma de pós-graduação Aline Torquato Tavares, André
Henrique Gonçalves, Luis Paulo Figueredo Benício e Anielli Souza Pereira. O convívio,
amizade e ajuda acadêmica foram de grande importância.
Aos amigos graduandos em engenharia agronômica da UFT – Gurupi: Renato
Jales e Paulo Henrique Lopes pela ajuda na coleta de dados.
Ao Dr. João Kluthcouski pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão por ter sido o
primeiro o me incentivar a ingressar na vida acadêmica.
Aos professores da ESALQ / USP: Dr. José Laércio Favarin, Dr. Durval
Dourado Neto e Dr. Geraldo Dario, pelo incentivo e ensinamentos durante e após o
período de graduação.
A vida em república, cujas amizades e o intenso convívio contrapõem e
enriquecem a formação acadêmica. Obrigado república Arado da ESALQ / USP e
república Tapera Véia da UFT / Gurupi.
E por fim o agradecimento mais importante é para Aquele que criou na mais
completa perfeição e complexidade, todos os processos químicos, físicos e biológicos
que compõe as relações da natureza e que tanto me encantam. Deus está presente na
germinação de uma semente, na chuva caindo sobre as plantas, e no sol aquecendo o
solo e desprendendo maravilhosas térmicas para um voo a vela. Agradeço a Ele por
permitir que eu viva em conjugação com a natureza e fazer da minha vida uma
constante oração.
Obrigado a todos.
6
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ vi
LISTA DE TABELAS.............................................................................................. viii
HIPÓTESES E OBJETIVOS ................................................................................... 13
RESUMO GERAL ................................................................................................... .15
GENERAL ABSTRACT .......................................................................................... 17
INTRODUÇÃO GERAL .......................................................................................... 19
CAPÍTULO I – Adaptabilidade de diferentes espécies de adubação verde e as
alterações químicas e físicas no solo de várzea tropical no estado do Tocantins.
RESUMO .................................................................................................................. 23
ABSTRACT .............................................................................................................. 24
INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 25
MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 26
RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................31
CONCLUSÕES ......................................................................................................... 45
CAPÍTULO II – Efeitos nos teores foliares e parâmetros produtivos da cultura do
arroz irrigado cultivado em sucessão a diferentes espécies de adubo verde e
manejo.
RESUMO .................................................................................................................. 47
ABSTRACT .............................................................................................................. 48
INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 49
MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 51
RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 53
CONCLUSÕES ......................................................................................................... 65
7
CAPÍTULO III – Resposta à doses de nitrogênio, fósforo e potássio na
produtividade e nos teores foliares de macro e micro nutrientes do arroz irrigado
em várzea tropical
RESUMO .................................................................................................................. 67
ABSTRACT .............................................................................................................. 68
INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 69
MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 70
RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 73
CONCLUSÕES ......................................................................................................... 85
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................... 86
8
LISTA DE FIGURAS
CAPÍTULO I
Figura 1. Temperatura Mínima, Média e Máxima durante os meses de junho a outubro
de 2011, Lagoa da Confusão - TO. .............................................................................. 27
Figura 2: Precipitação e comprimento de dia por decêndio em 2011, Lagoa da
Confusão - TO. ........................................................................................................... 27
Figura 3: Valores médios da resistência a Penetração (Mpa) de plintossolo háplico
cultivado sob diferentes espécies de espécie de adubação verde em sistema de plantio
direto e convencional, Lagoa da Confusão 2011... ....................................................... 44
CAPÍTULO III
Figura 4: Influência da adubação de nitrogênio no estande inicial (plantas m-1),
perfilhamento (perfilho planta-1), altura (cm), material seca da parte aérea (MSPA kg
ha-1), massa de panícula (g) e rendimento de grãos (kg ha -1), Lagoa da Confusão, 2012.
. .................................................................................................................................. 76
Figura 5: Influência da adubação de fósforo e potássio em área de fertilidade corrigida
na altura de plantas (cm), perfilhamento (perfilho planta -1), massa de panícula (g) e
rendimento de grãos (kg ha-1) do arroz irrigado, Lagoa da Confusão, 2012.
........... 80
Figura 6: Influência da adubação de fósforo e potássio em área de baixa fertilidade na
altura de plantas (cm), perfilhamento (perfilho planta -1), massa de panícula (g) e
rendimento de grãos (kg ha-1) do arroz irrigado, Lagoa da Confusão, 2012.
9
........... 84
LISTA DE TABELAS
CAPÍTULO I
Tabela 1. Orientação de plantio das espécies de adubo verdes plantas na época seca na
Lagoa da Confusão, Tocantins 2011. ........................................................................... 27
Tabela 2. Produção de matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz
(MSR), matéria seca total (MST), dias para o florescimento e rendimento de grãos de
espécies de adubo verde, Lagoa da Confusão 2011. ..................................................... 32
Tabela 3. Teores de Nitrogênio Total (N total), Nitrogênio Amoniacal (N NH4 +) e
Nitrogênio Nitrato (N NO3-) no solo em função de espécies de adubo verde e manejo de
solo, Lagoa da Confusão 2011. ................................................................................... 36
Tabela 4. Teores de nutrientes do solo na análise de rotina em função da espécie de
adubo verde utilizada, Lagoa da Confusão 2011. ......................................................... 38
Tabela 5. Densidade (DS), Macroporosidade (MAC), Microporosidade (MIC) e
Porosidade Total (PT) de um plintossolo háplico cultivados com diferentes espécies de
adubação verde e preparo convencional para o cultivo do arroz em sucessão, Lagoa da
Confusão 2011. ........................................................................................................... 39
Tabela 6. Correlação de Pearson entre Densidade (DS), Macroporosidade (MAC),
Microporosidade (MIC) e Porosidade Total (PT). ....................................................... 42
CAPÍTULO II
Tabela 7. Quadro da análise de variância de teor de nutriente foliar de arroz irrigado em
função da espécie de adubação verde cultivada em antecessão, tipo de manejo adotado e
10
nível de adubação nitrogenada dispostos em parcelas sub-subdividada, Lagoa da
confusão 2012. ............................................................................................................ 54
Tabela 8. Teores de macronutrientes foliares de plantas de arroz em função das espécies
de adubação verde cultivadas em antesseção, tipo de manejo e nível de nitrogênio,
Lagoa da Confusão 2012. ............................................................................................ 55
Tabela 9. Correlação entre nitrogênio no solo e teores de nutrientes foliares em função
das espécies de coberturas utilizada em antecessão ao cultivo do arroz.. ...................... 57
Tabela 10. Desdobramento das interações dos teores de macronutrientes foliares do
arroz em função do tipo de manejo e nível de nitrogênio, Lagoa da Confusão 2012.. ... 58
Tabela 11. Contagem de estande inicial aos 15 dias após o plantio do arroz irrigado em
função das espécies de adubos verdes utilizadas em antecessão e tipo de manejo, Lagoa
da Confusão 2012. ...................................................................................................... 59
Tabela 12. Parâmetros morfológicos e rendimento de grão na colheita do arroz irrigado
em função das espécies de adubação de cobertura utilizadas em antesseção, Lagoa da
Confusão 2012. ........................................................................................................... 60
Tabela 13. Correlação entre os componentes da produção e os teores de nutrientes
foliares em função das espécies de coberturas utilizada em antecessão ao cultivo do
arroz.. ......................................................................................................................... 62
Tabela 14. Desdobramento das interações dos parâmetros morfológicos e rendimento
de grão na colheita cultura do arroz em função do tipo de manejo e nível de nitrogênio,
Lagoa da Confusão 2012. ............................................................................................ 63
CAPÍTULO III
11
Tabela 15. Análise de solo das áreas antes da instalação dos ensaios de P x K, Lagoa da
Confusão, 2011, Lagoa da Confusão 2012................................................................... 72
Tabela 16. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg -1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1
) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de N (kg ha -1),
Lagoa da Confusão, 2011, Lagoa da Confusão 2012. .................................................. 74
Tabela 17. Relação entre dose de nitrogênio e concentração de nutrientes foliares na
cultura do arroz (n=6). Lagoa da Confusão 2012. ........................................................ 75
Tabela 18. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg -1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1
) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de P e K (kg ha -
1
), em área de fertilidade corrigida, Lagoa da Confusão 2012. ..................................... 77
Tabela 19. Relação entre doses de fósforo e potássio e concentração de nutrientes
foliares do arroz em área de fertilidade corrigida (n=6). Lagoa da Confusão 2012. ...... 78
Tabela 20. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg -1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1
) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de P e K (kg ha -
1
), em área de baixa fertilidade, Lagoa da Confusão 2012. ........................................... 81
Tabela 21. Relação entre doses de fósforo e potássio e concentração de nutrientes
foliares do arroz em área de baixa fertilidade (n =6). Lagoa da Confusão 2012............ 82
12
HIPÓTESE 1:
A utilização de espécies de adubação verde durante o cultivo da época seca em
várzea tropical, e diferentes forma de manejo do resíduo de cobertura trazem benefícios
agronômicos para o sistema de produção e o cultivo do arroz irrigado em sucessão.
Objetivo geral:
Determinar e mensurar quais são as alterações proporcionadas pelo uso de
espécies de adubo verde, manejadas em plantio direto ou plantio convencional, e seus
benefícios ao solo e na cultura do arroz em sucessão.
Objetivos específicos:
Capítulo: 1
Observar quais espécies de adubação verde são possíveis de serem plantadas na
condição de várzea durante a época seca, medir a alteração química decorrente do uso
destas espécies em relação ao resíduo de nitrogênio deixado no solo, bem como os
demais macro nutrientes e atributos da análise de solo de rotina.
Determinar se existe alteração física nos parâmetros de porosidade total, macro e
micro porosidade, densidade do solo e resistência a penetração.
Capítulo: 2
Avaliar alterações no estado nutricional do arroz cultivado em sucessão, em
função das espécies de adubação verde cultivada em antecessão e do manejo utilizado,
através de análise do tecido das folhas de arroz Estabelecer as alterações morfológicas
da cultura do arroz e definir qual espécie de adubo verde, e sistema de manejo,
propiciam melhor perfilhamento, crescimento, e rendimento de grãos.
13
HIPÓTESE 2:
Existem respostas diferenciadas a aplicação de adubação de nitrogênio, fósforo e
potássio no estado nutricional, parâmetros morfológicos e no rendimento de grão
quando o arroz é cultivada em diferentes níveis de fertilidades em solos de várzea.
Objetivo geral:
Determinar o comportamento de resposta do arroz irrigado em função da
aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio e definir melhores doses de adubação em
diferentes níveis de fertilidade de solo.
Objetivos específicos:
Capítulo: 3
Avaliar as curvas de resposta do arroz irrigado ao nitrogênio, fósforo e potássio, e
suas alterações no estado nutricional através de análise de teores foliares de macro e
micro nutrientes. Observar os aspectos morfológicos dos componentes de produtividade
como altura de plantas, perfilhamento, comprimento de ciclo, peso de panícula e
produtividade.
14
ADUBAÇÃO VERDE E ADUBAÇÃO MINERAL NA CULTURA DO ARROZ
IRRIGADO NA VÁRZEA DO TOCANTINS
RESUMO
A presente dissertação teve como objetivo estudar o uso e manejo da adubação
verde e adubação mineral na cultura do arroz irrigado em solos de várzea no estado do
Tocantins. Foram realizados dois experimentos distintos. O primeiro se referiu na
utilização de adubação verde com as espécies Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis,
mucuna Preta (Mucuna aterrina), feijão de porco (Canavalia ensiformis), feijão guandú
(Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus sativus) e feijão caupí (Vigna unguiculata)
cultivados durante a época seca de junho a setembro de 2011 irrigados na condição de
sub-irrigação. As avaliações de adaptabilidade consistiram na produção de fitomassa
seca de parte aérea, fitomassa seca de raiz, ciclo de florescimento e rendimento de
grãos. Após o encerramento do ciclo foi medido as alterações proporcionadas nos
atributos químicos e físicos do solo em manejo convencional e de plantio direto. Houve
alteração no teor de nitrogênio total, nitrogênio nítrico e nitrogênio amoniacal, bem
como nos teores de cálcio, magnésio, potássio, matéria orgânica e V% na análise de
solo de rotina. Não houve relevantes alterações nos atributos físicos, a não ser na
macroporosidade quando adotado o plantio convencional. O arroz cultivado em
sucessão foi implantado no inicio da estação chuvosa da safra de 2011/2012 em manejo
de plantio direto e plantio convencional e submetido a adubação de cobertura com alto e
baixo nitrogênio. O uso da adubação verde em antecessão bem como o tipo de manejo
também proporcionaram diferenças nos teores foliares de N, P, K, Ca e S, além de
diferenças nos paramentos morfológicos de altura de plantas, perfilhamento, número de
panículas e rendimento de grãos. O segundo experimento consistiu na elaboração de
curva de resposta do arroz irrigado a adubação de N, P e K durante a safra 2011/12. O
ensaio de nitrogênio foi instalado em somente um local e utilizadas as doses de 0, 40,
80, 120, 160 e 200 kg ha -1 de N aplicados em pré plantio incorporado. Para fósforo e
potássio os ensaios foram instalados em dois locais distintos sendo o primeiro em área
de primeiro ano de cultivo em várzea recém sistematizada, e o segundo em área com
histórico de quatro safras e nível de fertilidade considerados adequados. Foram
utilizadas 0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha-1 de P205 e K20 em esquema fatorial 6 x 6.
15
Foram realizadas as análises foliares de macro e micronutrientes bem como avaliação
dos parâmetros morfológicos de altura de plantas, perfilhamento, peso de panículas e
rendimento de grão. Foram observadas alterações nos teores foliares em função das
doses de N, P e K além de respostas quadráticas dos parâmetros produtivos para
aplicação de N. A dose máxima de N foi de 159 kg ha-1 que proporcionou rendimento
de grãos de 8640 kg ha-1. Para fósforo e potássio os parâmetros produtivos se
comportaram diferentemente nas áreas de alta e baixa fertilidade sendo a resposta ao K
mais significante de fertilidade corrigida e com resposta de rendimento de grãos com
comportamento linear e diretamente proporcional a dose de K aplicada. e a resposta ao
P mais significante na área de baixa fertilidade com dose máxima de 160 kg ha-1.
16
GREEN MANURING AND MINERAL FERTILIZATION ON LOWLAND RICE
CROP AT TOCANTINS
ABSTRACT
The objective of this study was to use and management of green and mineral
fertilizer on irrigated rice in soils of floodplain in Tocantins State, Brazil. Two separate
experiments were conducted. In the first experiment the usage of green fertilizer
constituted by the species sunhemp (Crotalaria juncea), Crotalaria spectabilis, velvet
bean (mucuna aterrina), jackbean (Canavalia ensiformis), pigeon bean (Cajanus cajan),
japanese radish (Raphanus sativus) and cowpea bean (Vigna unguiculata) grown during
the dry season in June/September 2011, irrigated sub surface irrigation. The adaptability
of the green manuring cover crop were evaluated, taking into account the production of
dried aboveground phytomass, dried root phytomass, cycle of flowering and grain yield.
At physiological maturity were measured changes in the chemical and physical
attributes of the soil in till and no-tillage systems. The results shows changes in the
contents of total nitrogen, nitrogen oxide and ammonia, as well as in calcium,
magnesium, potassium, organic matter and bases saturations (V%) in routine soil
analysis. There were no relevant changes in physical attributes, except in the
macroporosity adopted in the conventional tillage. The rice grown in succession was
shown at the beginning of the rainy season in 2011/2012 in no-tillage and conventional
planting system. In this experiment low and high rates of nitrogen was used. The use of
green manure in no till e tillage cropping system was observed by differences in foliar
concentrations of N, P, K, Ca, and S, as well as differences in morphological parameters
as plant height, tillering, number of panicles and grain yields. Second experiment was
conducted with objective to determine the irrigated rice's response curve to fertilization
of N, P and K during the 2011/12 season. The nitrogen experiment was conducted at
one local and N rates used were 0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg ha -1 applied in preplanting incorporated. For phosphorus and potassium experiments were conducted of
two different places. One area was the first year of cultivation in newly systematized
lowland, and the second in an area where there were adequate fertility levels for 4
consecutive years. The P rates used were 0, 30, 60, 90, 120 and 150 kg ha -1 of P205 and
K20 in factorial 6 x 6. Plant tissues analyses were done of macro and micronutrients, as
17
well as evaluation of morphological parameters of plants such as heights, tillering,
weight of panicles and grain yield. Changes were observed in plant tissues analyses
depending on treatments of N, P and K as well as quadratic responses of productive
parameters for the application of N. The maximum yield of 8640 kg ha-1 was achieved
with N rate of 159 kg ha-1. For phosphorus and potassium production, parameters
behaved differently in the areas of high and low fertility levels being the response to K
the most significant in the old area with positive linear behavior and the response to P
was more significant in new areas with maximum yield achieved at rate of 160 kg ha-1.
18
INTRODUÇÃO GERAL
O estado do Tocantins possui uma área potencial de irrigação da ordem de 4400
km
2
abrange 30,4% da região norte e 15% do total do Brasil (Christofidis, 2002).
Estudos recentes apontam, somente no vale do Araguaia, mas especificamente à
margem leste do rio Javáes, braço menor do rio Araguaia, a existência de 1 200 000 ha
de várzeas tropicais planas, com alto teor de matéria orgânica e em condições de serem
usadas para a irrigação (Tocantins, 2008). Uma vez sistematizadas, por apresentarem
inverno seco e com baixa umidade relativa do ar, estas áreas podem ser intensivamente
cultivadas durante os doze meses do ano, com a utilização dos distintos métodos de
irrigação.
O principal cultivo da época chuvosa é o arroz irrigado, por apresentar adaptação
a ambientes alagados, e que durante essa estação ocorre a formação de lâmina de água
natural devido ao elevado regime de pluviosidade. E durante o inverno são cultivados
espécies como a soja, feijão, milho, algodão e curcubitáceas através de irrigação por
capilaridade.
Atualmente essa região
possui aproximadamente 80000
ha
de
áreas
sistematizadas, compreendendo os municípios de Cristalândia, Dueré, Formoso do
Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium (IBGE, 2011).
A planície de inundação do rio Araguaia consiste em mais de 90 % por
sedimentos consolidados e inconsolidados, enquanto as áreas de cerrado alto ao redor
são constituídas por rochas pertencentes ao Grupo Tocantins, na forma de quartzos
ferruginosos, muscovita, quartzitos, clorita, xistos, filitos, calcários e mármores. Este
grupo é composto por rochas sedimentares e quanto metamórficas com baixo grau de
metamorfismo, de idade pré cambriana (FARACO, et al., 2004)
Já a área de várzea em si é caracterizada por uma planície fluviolacustre, com
inúmeras lagoas e canais intermitentes que apresentam padrão de drenagem
anastomosado, e sujeitos e inundação na estação chuvosa. Seus sedimentos são mais
antigos e menos sujeitos a retrabalhamentos que os aluviões holocênicos formadores de
planícies aluviais de outros rios da região (ARAÚJO & CARNEIRO, 1977).
A planície do Araguaia é uma unidade geomorfológica que se constitui em uma
ampla faixa disposta em relação ao curso do rio Araguaia e seus afluentes. Os
sedimentos que recobrem esta unidade apresentam uma distribuição espacial em forma
19
afunilada para o norte, com uma porção mais larga voltada para o sul (ARAÚJO &
CARNEIRO, 1977; BRASIL, 1981).
São dois os elementos característicos dessa formação: 1) Planície fluvial –
corresponde a faixa de sedimentos marginais nas principais drenagens da área (rios,
lagos de barragens, lagos de meandros, e diques fluviais); 2) Área de acumulação
inundáveis – correspondem as porções mais rebaixadas do terreno sujeito a inundações
periódicas, que assume o aspecto peculiar de não possuir rede de drenagem e pouca ou
nenhuma declividade.
Os solos predominantes na Planície do Araguaia são os Plintossolos e Gleissolos.
Os Plintossolos: são solos que apresentam horizonte diagnóstico B plíntico, e que tem
como característica terem sido formados em terrenos com lençol freático alto ou que
pelo menos apresente restrição temporária à percolação da água. Regiões de clima
quente e úmido, com relevo plano a suave ondulado, de áreas baixas como depressões,
baixadas, terços inferiores de encostas e áreas de surgente das regiões quente e úmidas
favorecem o desenvolvimento de horizonte plíntico, por permitir que o terreno
permaneça saturado com água, pelo menos, uma parte do ano e sujeito a flutuações do
lençol freático (EMBRAPA, 2005).
O horizonte B plíntico caracteriza-se pela presença de plintita em quantidade igual
ou superior a 15% (por volume) e espessura de pelo menos 15 cm. A plintita são
conglomerados de óxidos de ferro e alumínio de coloração avermelhadas e brunoavermelhadas. São macias e plásticas quando úmidas, porém duras e indeformáveis
quando secas. Destacam-se da matriz do solo e possuem distribuição variegada
(EMBRAPA, 1999).
Compreendem os solos de textura franco arenosa ou mais fina, moderadamente
ácidos e com argila de baixa atividade Ta. Caracterizam por apresentar cores de redução
devido a oscilação do lençol freático (EMBRAPA, 1999).
Apresentam seqüência de horizontes A, E e B, sendo o horizonte A comumente de
cor escura devido ao acúmulo de matéria orgânica. O horizonte E é albico com cromas
inferiores a 3. Apresenta perda de argila, com migração para o horizonte B plintico e
sua textura normalmente consistem em uma proporção de areia e silte (EMBRAPA,
1999).
Gleissolos são caracterizados por redução de ferro e a prevalência do estado
reduzido, no todo ou em parte, devido principalmente à água estagnada, como
evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz do horizonte, com ou
20
sem mosqueados de cores mais vivas. Trata-se de horizonte fortemente influenciado
pelo lençol freático e regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio
dissolvido em razão da saturação por água durante todo o ano, ou pelo menos por um
longo período, associado à demanda de oxigênio pela atividade biológica. EMBRAPA,
2005). Na região da planície do bananal sua ocorrência é nos diques marginais e áreas
adjacentes a corpo d’água, assim como a formação planície aluvial.
No estado do Tocantins o clima está condicionado a ampla extensão latitudinal,
abrangendo no extremo norte latitude de S 5° e ao sul S 13°, sendo influenciado por
movimentos atmosféricos oriundos da região amazônica e também da região sudeste.
Por essas características, essa região é chamada de zona de convergência intertropical, e
confere uma maior variabilidade de pluviometria e temperatura ao longo dos anos. O
estado apresenta predominantemente clima tropical, com duas estações bem definidas,
sendo uma chuvosa de outubro a abril, e outra seca de maio a setembro. A precipitação
pluvial no estado do Tocantins é caracterizada por ser crescente do sul para o norte e de
leste para oeste (SEPLAN, 2005).
Especificamente o Vale do Araguaia apresenta classificação segundo Koppen
Awi – megatérmico (tropical úmido) com temperatura média do mês mais frio acima de
18 °c. Denominado clima de savanas, com inverno seco e chuvas máximas no verão, e
isotérmico – diferença entre temperaturas médias do mês mais quente e mais frio
inferior a 5 °c. O clima nessa região está condicionado fundamentalmente pelas baixas
altitudes (cerca de 200m) e latitude aproximadamente de S 12°. As temperaturas médias
diurnas e noturnas são altas tanto na estação seca quanto na estação úmida, sendo os
meses mais quentes agosto e setembro e os mais amenos junho e julho (SEPLAN,
2005).
21
Capítulo I
Adaptabilidade de diferentes espécies de adubação verde
e as alterações químicas e físicas no solo de várzea tropical no
estado do Tocantins
22
ADAPTABILIDADE DE DIFERENTES ESPÉCIES DE ADUBAÇÃO VERDE E
AS ALTERAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS NO SOLO DE VÁRZEA TROPICAL
NO ESTADO DO TOCANTINS
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a adaptabilidade e utilização de
espécies de adubação verde na rotação de culturas e nas alterações químicas do solo na
condição de várzea tropical. As espécies utilizadas foram Crotalaria juncea, Crotalaria
spectabilis, mucuna preta (mucuna aterrina), feijão de porco (Canavalia ensiformis),
feijão guandú (Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus sativus) e feijão caupí
(Vigna unguiculata) durante a época seca cultivadas na condição de sub-irrigação.
Foram avaliadas a produção de fitomassa seca de parte aérea, fitomassa seca de raiz,
ciclo de florescimento e rendimento de grãos. Após o encerramento do ciclo das
espécies foi procedido a incorporação dos resíduos ou dessecação, e avaliadas as
alterações proporcionadas nos atributos químicos e físicos do solo em manejo
convencional e de plantio direto. Dentre as espécies de adubação verde a maioria
apresentou redução de ciclo e nem todas terminaram o ciclo de desenvolvimento. Houve
alteração no teor de nitrogênio total, nitrogênio nítrico e nitrogênio amoniacal no solo,
bem como nos teores de cálcio, magnésio, potássio, matéria orgânica e V% na análise
de solo de rotina. As alterações nos atributos físicos ocorreram na macroporosidade
quando adotado o plantio convencional e em diferentes resistências a penetração.
Palavras Chaves: Nitrogênio no solo, Análise de rotina, Macroporosidade, Resistência
a penetração.
23
ADAPTABILITY OF DIFFERENT SPECIES OF GREEN MANURING AND
CHEMICAL AND PHYSICAL CHANGES ON LOWLAND TROPICAL SOIL
IN TOCANTINS STATE.
ABSTRACT
This paper has as an objective to assess the adaptability and usage of some green
fertilizer in in crop rotation in tropical lowland conditions. Species tested were sunhemp
(Crotalaria juncea), Crotalaria spectabilis, velvet bean (Mucuna aterrina), jackbean
(Canavalia ensiformis), pigeon bean (Cajanus cajan), japanese radish (Raphanus
sativus) and cowpea bean (Vigna unguiculata) during the dry season in June/September
2011, grown in sub-irrigation conditions. It were assessed the production of dried
aboveground phytomass, dried root phytomass, cycle of flowering and grain yield.
After the closure of the cycle of the species, residues or desiccation were processed.
There was an evaluation of the changes in chemical and physical attributes of the soil in
conventional tillage and no-till. Among the species of green manure, most had a
decrease in its cycle and not all completed the cycle its development. There was change
in the contents of total nitrogen, nitric nitrogen and ammonia in the soil, as well as in
the levels of calcium, magnesium, potassium, and organic matter V% in soil analysis
routine. Changes in physical attributes occurred in the macroporosity when
conventional planting was adopted and in different resistances to penetration.
Keywords: Nitrogen in soil, Chemical analysis, Macroporosity, Penetration resistance.
24
INTRODUÇÃO
A várzea tropical do Rio Araguaia possui 500.000 hectares de extensão e é
considerada a maior área contínua passível de irrigação por inundação do mundo
(COELHO et al., 2006). Nesse ambiente predominam solos hidromórficos, com
horizonte subsuperfical raso ou com elevação temporária do lençol freático, que
restringem a percolação da água e estão sujeitos ao excesso de umidade (EMBRAPA
1999). Em decorrência da maior instabilidade do ecossistema várzea, o uso de
tecnologias inadequadas pode acarretar maiores riscos para os produtores. Informações
disponíveis em alguns projetos de arroz irrigado, como o antigo Jari – PA, e Rio
Formoso – TO, mostram que com o tempo de cultivo a produtividade de arroz cai
significativamente. Um dos principais fatores que contribui para este fato é a
degradação física e química do solo, principalmente a qualidade da matéria orgânica.
Portanto, é fundamental o conhecimento sobre a classificação destes solos e suas
propriedades físicas e químicas para que se imprima um manejo apropriado da
fertilidade (FAGERIA, AIDAR & BARBOSA FILHO, 2002).
A adubação verde é definida como prática conservacionista pelas quais certas
espécies de plantas são cultivadas, e posteriormente incorporadas ou mantidas na
superfície do terreno, em determinado estádio fenológico, com a finalidade de assegurar
ou aumentar a capacidade produtiva do solo (CALEGARI et al., 1993). Quando essas
plantas são incorporadas ao sistema de produção, elas atuam como condicionadores
físicos, químicos e biológicos. A adubação verde também é consonante com o Sistema
de Plantio Direto, já que a produção de palhada e a sua manutenção na superfície do
solo são prerrogativas para a proteção e conservação contra erosão e degradação física.
Espécies de adubação verde podem ser do tipo leguminosas, cereais, gramíneas e
brassicas, entretanto elas devem apresentar algumas características desejáveis como
efeitos benéficos a cultura de sucessão e que se reverta em viabilidade econômica
(FAGERIA et al., 2005) O uso de leguminosas é uma prática para o desenvolvimento de
uma agricultura sustentável. O uso dessas espécies na rotação de cultura tem como
beneficio principal a adição de nitrogênio ao sistema de produção, além de colaborarem
no manejo integrado de pragas, doenças e ervas daninhas (FAGERIA et al, 2005).
Leguminosas também podem influenciar a capacidade de armazenamento de água no
solo e diminuir as perdas de carbono e nitrogênio de sistemas intensificados
(DRINKWATER, et al. 1998). As principais características desejáveis a espécie de
25
adubação verde são: baixo custo de implantação, facilidade de manejo, ciclo de
crescimento curto com elevada produção de fitomassa, eficiência ao uso da água,
supressão de ervas daninhas entre outros (BALIGAR & FAGERIA, 2007).
No entanto os benefícios da utilização da adubação verde podem variar conforme
o tipo de manejo que se é empregado. Em várias outras condições edafoclimáticas a
adubação verde tem sido relatado associada a incorporação dos resíduos em preparo
convencional (HERRERA et al., 1996; SODRÉ FILHO et al., 2004; FAGERIA &
SOUZA, 1995; CARVALHO et al., 2004). No entanto o não revolvimento do solo é
descrito como prática conservacionista e que associado a rotação de culturas e
manutenção da palha na superfície do solo se estabelece o sistema de plantio direto com
inúmeros benefícios para o desenvolvimento dos cultivos. (FANCELLI & FAVARIN,
1989)
O objetivo desse trabalho foi avaliar quais espécies de adubação verde são
adaptáveis ao cultivo na condição de várzea tropical, e quais são os benefícios químicos
e físicos proporcionados ao solo quando utilizado o preparo convencional ou plantio
direto.
MATERIAL E MÉTODOS:
A instalação das espécies de adubo verde:
O trabalho foi realizado na Fazenda Dois Rios, no município da Lagoa da
Confusão – TO, sob as coordenadas geográficas 10°49'34.78"S e 49°54'0.33"O e 180 m
de altitude. O clima na região é classificado de acordo com Koppen (1948) como Awi,
tropical úmido de savana com as médias da temperatura dos meses mais frios acima de
18°C e a diferença de temperatura entre o mês mais frio e o mês mais quente inferior a
5°C, sendo a precipitação máxima no verão e inverno seco.
As espécies de adubo verde foram instaladas em 10 de julho de 2011 em
PLINTOSSOLO HAPLICO de 5 anos de cultivo de sucessão arroz irrigado / soja em
plantio convencional. As espécies de adubos verdes escolhidas foram a Crotalaria
juncea, Crotalaria spectabilis, mucuna Preta (Mucuna aterrina), feijão de porco
(Canavalia ensiformis), feijão guandú (Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus
sativus) e feijão caupí (Vigna unguiculata). Os materiais foram plantados de acordo
com as populações da Tabela 1. Cada espécie de cobertura consistiu em um tratamento,
além da testemunha que foi mantida em pousio. O experimento foi instalado através do
26
delineamento de blocos ao acaso com 8 tratamentos e 3 repetições. Cada parcela era
composta por uma área total de 400 m2.
Antes do plantio, devido a desuniformidade da superfície do solo decorrente da
colheita do arroz, o terreno foi preparado convencionalmente com 2 operações de grade
niveladora de 22” e rolo compactador com intuito de deixar a superfície do solo
nivelada. O plantio foi realizado mecanicamente através de semeadora, depositando as
sementes das espécies em uma profundidade média de dois a quatro centímetros e as
cobrindo com uma camada homogenia de solo. Após o plantio e antes da emergência
das plântulas foi realizado dessecação química com herbicida glifosato na dose de 720 g
ha-1 para garantir uma menor competição inicial com ervas daninhas.
Tabela 1. Orientação de plantio das espécies de adubo verdes plantas na época seca na
Lagoa da Confusão, Tocantins 2011.
Espécies
Nome Comum
Nome Científico
Densidade de Plantio
Estande
Sementes ha-1 Espaçamento Semente m-1
kg ha -1
C. juncea
Crotalaria juncea
500000
45 cm
23
25
C. spectabilis
Crotalaria spectabilis
650000
45 cm
29
12
feijão de porco
Canavalia ensiformis
100000
45 cm
5
100
feijão guandú
Cajanus cajan
390000
45 cm
18
30
mucuna Preta
mucuna aterrina
80000
45 cm
4
60
1000000
17 cm
17
12
24000
45 cm
12
40
nabo forrageiro Raphanus sativus
feijão caupí
vigna unguiculata
Durante o ciclo de desenvolvimento das espécies de adubo verde, a demanda
hídrica das culturas foi suprida através de irrigação por elevação de lençol freático, já
que durante essa época do ano, não há precipitação pluviométrica suficiente para
garantir o desenvolvimento das plantas. O inverno seco da região propicia temperaturas
adequadas para o desenvolvimento de espécies tropicais conforme Figuras 1 e 2. A
irrigação foi conduzida através de controle de cota do canal controlada por régua de
27
nível, onde manteve-se o solo saturado do horizonte B plintico até 15 cm de
profundidade, e na capacidade de campo na camada de 0 – 15 cm.
Figura 1. Temperatura Mínima, Média e Máxima durante os meses de junho a outubro
de 2011, Lagoa da Confusão - TO.
Figura 2. Precipitação e comprimento de dia por decêndio em 2011, Lagoa da
Confusão - TO.
Foram realizadas aplicações de inseticida cipermetrina 3 g i.a. ha-1 aos 30 e 50
dias após a emergência das espécies, sempre que constatado ataque de Cerotoma sp
28
apresentando dano de desfolha acima de 10%. Nenhum outro trato cultural foi realizado
em pós-emergência nas espécies de adubação verde durante seu desenvolvimento.
Analises dos Componentes da Produção:
Aos 60 dias após o plantio foram determinadas fitomassa seca da parte aérea e
matéria seca da raiz e matéria seca total das espécies. Foram colhidos material fresco
correspondente a 2 m2 por parcela, e secados em estufa de circulação forçada de ar com
temperatura de 65 °C durante 72 horas até atingirem massa constante. Nessa ocasião
também foram definidos o número de dias para o florescimento, cujo parâmetro
considerado foi 50 % das gemas reprodutivas com flores abertas. A matéria seca da raiz
foi determinada através da coleta de 10 plantas inteiras em duas linhas de dois metros
com auxilio do enxadão. As raízes foram lavadas para retirada do solo e secadas até
atingirem massa constante.
Para determinação de rendimento de grãos das espécies de adubação verde, as
parcelas foram conduzidas com irrigação suficiente até os 110 dias após o plantio
quando tiveram suas estruturas reprodutivas colhidas. A amostragem aconteceu com
duas subamostras para cada repetição, as quais foram consideradas as médias para
compor o valor de um tratamento. Cada parcela foi composta de dois pontos de
amostragem de 1 m de largura x 2 m de comprimento, perfazendo um total de 2 m2. As
estruturas foram secas em estufa de circulação de ar forçada com temperatura de 65°C
por 50 horas até estarem estáveis para o armazenamento. Os materiais foram trilhados e
a massa medida com balança de amostra e a umidade corrigida para 13%.
Após o encerramento do ciclo da maioria das espécies de cobertura, foram
realizadas operação de manejo visando o plantio da cultura do arroz irrigado em
sucessão. As parcelas de cada uma das espécies que correspondiam a um tratamento
foram divididas em outras duas subparcelas, cada qual recebeu uma segunda fonte de
variação. A primeira, que corresponderia ao plantio convencional., recebeu duas
operações de grade média de 28’’ com o objetivo de incorporar a palhada produzida
pelas espécies de cobertura, e a segunda, que corresponderia ao plantio direto,
procedeu-se a dessecação com 960 g ia ha -1 de glifosato e posterior tombamento da
palhada e sua manutenção na superfície do solo.
Análises Físicas:
29
As avaliações das alterações dos atributos físicos do solo foram realizadas 25 dias
após o manejo da palhada com o intuito de medir a macroporosidade, microporosidade,
porosidade total e resistência do solo a penetração. O delineamento experimental foi o
de parcelas subdivididas, em duas profundidades (0-10 e 10-20 cm) com cinco
repetições. Os tratamentos das parcelas foram as espécies de adubo verde em plantio
direto e o tratamento plantio convencional., e as subparcelas as duas profundidades,
totalizando 90 unidades experimentais.
Para a avaliação da densidade utilizou-se amostragem através de anéis
volumétricos de 50 cm³ e de peso conhecido, onde foram obtidas amostras
indeformadas do solo. As amostras foram pesadas no momento da coleta para que não
ocorresse perda da umidade, e em seguida telas de nylon foram presas ao fundo de cada
anel. Os anéis foram colocados em uma bandeja contendo 1 cm de lâmina d’agua, até
que atingissem a saturação. O solo saturado foi submetido à uma mesa de tensão com
pressão correspondente a 60 cm de lâmina de água (6 Kpa), seguindo metodologia
descrita por Embrapa (2007). Depois da mesa de tensão, os anéis foram encaminhados
para estufa de circulação de ar forçada em temperatura de 105 °C durante 24h, onde foi
determinada a umidade por diferença de peso seco e úmido, e a densidade através da
relação massa/volume. Para a determinação da resistência a penetração foi utilizado um
Penetrômetro de impacto modelo IAA / Planalsucar-Stolf. Foram realizadas 5 repetições
por unidade experimental até a profundidade de 30 cm, seguindo metodologia descrita
por Stolf (1991).
Análises Químicas:
As amostras de solo para análise de Nitrogênio foram coletadas dia 15 de
novembro de 2011, vinte dias após o preparo do solo nos tratamentos de plantio
convencional ou dessecação para os tratamentos de plantio direto. As coletas foram
realizadas na profundidade de 0-10 cm, e mantidas em temperaturas abaixo de 0°C e
enviadas ao laboratório de análise de solo do Departamento de Ciência do Solo da
ESalQ / USP. O Nitrogênio total foi determinado a partir de digestão com ácido
sulfúrico e água oxigenada, seguida de destilação de Kjeldahl, conforme método
descrito por Tedesco et al. (1995), sendo o N-NO3- quantificado por colorimetria, de
acordo com Yang et al. (1998). O N-NH4+ foi quantificado por colorimetria, pelo
método descrito por Kempers & Zweers (1986).
30
Também foram coletadas e encaminhadas amostras para análises dos atributos
químicos de rotina. As análises foram realizadas no laboratório de solos do campus
universitário de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins – UFT. Os métodos de
extração e determinação foram: pH em H2O na relação 1:2,5 (solo:água) e os teores de
Al trocável (extraído com KCl 1 mol L -1 e analisado por titulometria com NaOH 0,025
mol L-1), Ca e Mg trocáveis (extraídos com KCl 1 mol L -1 e determinados por
titulometria com EDTA 0,0125 mol L -1) conforme metodologia descrita em EMBRAPA
(1997)
Todos os resultados foram submetidos a analise de variância pelo teste F, através
do software ASSISTAT, versão 7.6 beta (SILVA & AZEVEDO, 2002), e as médias
submetidas ao teste de Scott-Knot a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observadas diferenças significativas na análise de variância entre produção
de fitomassa seca da parte aérea, fitomassa seca de raiz, fitomassa seca total, rendimento
de grãos e dias para o florescimento das espécies avaliadas, o que significa diferentes
potencialidades de uso dessas espécies quando implantados na condição de várzea
tropical, (Tabela 1).
A maior fitomassa da parte aérea produzida foi no tratamento Crotalaria
spectabilis com 3814 kg ha-1, seguida de Crotalaria juncea 2861 kg ha-1, que significa
rendimento 25% inferior. feijão de porco, feijão caupi e feijão guandú tiveram
rendimentos equivalentes entre si de acordo com o teste de Scott-knott, mas com
desempenho inferior a Crotalaria juncea. A mucuna preta e nabo forrageiro tiveram a
menor produção de fitomassa seca da parte aérea, com produção equivalente a 45% e
34% da Crotalaria spectabilis, respectivamente (Tabela 2).
Outros trabalhos trazem informações a respeito da produção de fitomassa em
função das espécies de adubo verde, e os resultados variam de acordo com as condições
ambientais de cada experimento. Amabile et al., (2000) demonstraram que C. juncea,
guandú e mucuna preta apresentaram fitomassas diferentes entre si inclusive quando
plantadas em épocas de semeadura e espaçamentos diferentes, sendo a C. juncea mais
produtiva do que a mucuna preta em todas as épocas avaliadas. Alvarenga et al., (1995)
concluíram que o feijão guandú, C. juncea, mucuna preta, feijão de porco e feijão caupi
produziram 17, 16, 9, 5 e 4 t ha -1 respectivamente, de fitomassa seca da parte aérea
31
quando plantados em novembro em Viçosa, MG. No entanto, as espécies de adubação
verde quando plantadas fora do inicio da safra tradicional (outubro a dezembro)
apresentam produção de fitomassa seca mais próximas dessas observadas no presente
trabalho. Sodré Filho et al., (2004) observaram 2,5; 2,28; 1,8 t ha -1 de mucuna, C.
juncea, e feijão guandú quando as espécies foram instaladas em safrinha no mês de
abril. Para o nabo forrageiro, é descrito na literatura produtividades médias de 2,9 t ha -1
(CRUSCIOL et al., 2005), podendo variar de 2,0 t ha-1 a 6 t ha-1 (DERPSCH &
CALEGARI, 1992; CALEGARI, 1998).
A C. spectabilis e C. juncea foram aquelas que apresentaram maior fitomassa seca
de raiz com 751 e 706 kg ha -1, respectivamente. O feijão guandú e o nabo forrageiro
foram inferiores as espécies de crotalária, porém superiores aos demais tratamentos,
apresentando respectivamente 613 e 582 kg ha-1 . A mucuna preta e feijão de porco
foram os que apresentaram menor desenvolvimento radicular sendo que ambos não
ultrapassaram 220 kg ha -1 de matéria seca de raiz (Tabela 2).
Maiores índices de desenvolvimento radicular podem ser encontrados em outros
trabalhos quando as espécies são cultivas em condição de solo profundo. A C. juncea
pode apresentar de 1800 kg ha -1 a 3750 kg ha-1 de matéria seca de raiz em um Latossolo
argiloso (GARCIA & ROSOLEM, 2011). No caso de solo de várzea desse estudo,
nenhuma espécie seguiu o padrão normal de crescimento, tendo a raiz pivotante
limitada aos primeiros 10 cm de solo. Tal comportamento corrobora com observação de
Alvarenga (1995) que observou desvios de crescimento na raiz principal e excesso de
produção de raízes laterais quando mucuna Preta, Crotalária, feijão de porco e feijão
caupí foram cultivados em solos com horizonte B textural argiloso.
A saturação do solo com água é relatado como estresse fisiológico e condição de
restrição de crescimento radicular para espécies não adaptadas. A diminuição no teor de
O2 provoca desordens metabólicas na planta pela diminuição, ou até parada total da
atividade respiratória das raízes. Menores taxas metabólicas diminuem a eficiência de
utilização de carbono, aumentando a produção de etanol e lactato (MARSCHNER,
1995). A deficiência de O2 também prejudica a síntese de fito-hormônios como
giberelinas e citocininas (SMIT et al., 1990). E além desse efeito direto, pode ser
observado a produção compostos tóxicos por bactérias e outros micro-organismos do
solo em condição anaerobiose (JACKSON, 1985).
A fitomassa seca das raízes representaram em média 17,5% da matéria seca total
das plantas. No caso do nabo forrageiro, foi o tratamento que maior apresentou
32
participação da fitomassa seca da raiz, correspondendo 30% da fitomassa seca total.,
Em condições sem impedimento físico e químico, o nabo forrageiro a participação da
raiz representa no máximo 20 % da fitomassa seca total (MULLER et al.,2001).
Considerando a fitomassa seca total das espécies a C. spectabilis foi superior as
demais espécies com 4565 kg ha -1. E o nabo forrageiro, feijão de porco e mucuna Preta
apresentaram-se equivalentes entre si e inferiores aos demais tratamentos (Tabela 2).
Tabela 2. Produção de matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da raiz
(MSR), matéria seca total (MST), dias para o florescimento e rendimento de grãos de
espécies de adubo verde, Lagoa da Confusão 2011.
Espécie
MS Parte Aérea
MS Raiz
MS Total
--------------------- Kg ha-1----------------
Florescimento Rendimento
--- nº dias ---
Kg ha-1
C. juncea
2861 b
706 a
3567 b
66 c
793,2 a
C. spectabilis
3814 a
751 a
4565 a
67 c
719,0 a
Mucuna preta
1728 d
119 d
1848 d
104 a
0,000 c
Feijão de porco
2080 c
218 d
2298 d
91 b
441,7 b
Feijão guandú
2330 c
613 b
2944 c
68 c
552,1 b
Nabo forrageiro
1314 d
582 b
1897 d
38 d
510,1 b
Feijão Caupí
1867 c
454 c
2322 d
64 c
740,0 a
Testemunha
-
-
-
-
-
C.V. (%)
13.95
17,49
11,74
21,00
3,64
F
27.152 **
31,570 **
37,127 **
23,071 **
268,17 **
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott (P<0,05). *,** e
ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.
O ciclo de desenvolvimento das espécies até o florescimento também apresentou
diferenças significativas de acordo com o teste F. O nabo forrageiro apresentou
comportamento de maior precocidade atingindo 50% do florescimento aos 38 dias de
emergido. O feijão guandú, feijão caupí, C. juncea e C. spectabilis floresceram todos
próximo aos 65 dias. O feijão de porco floresceu aos 91 dias, e a mucuna preta
apresentou o ciclo mais tardio do experimento, florescendo aos 104 dias (Tabela 2).
33
Durante o período do experimento, o comprimento do dia não foi superior a 11,8
horas de luz por dia (Figura 2). A C. juncea é sensível ao fotoperíodo e comporta-se
como planta de dias curtos (PURSEGLOVE, 1968). O feijão guandú possui acessos
sensíveis ou não ao fotoperíodo, e quando sensíveis também são estimulados ao
florescimento com o fotoperíodo do ambiente inferior ao seu fotoperíodo crítico
(SUMMERFILED & ROBERTS, 1985). A mucuna Preta é relatada como espécie
insensível ao comprimento do dia (SABADIN, 1984). O nabo forrageiro tem sido
relatado com desenvolvimento em ambas as condições de dias longos e dias curtos
(ERWIN et al., 2002; NEIL & BIBLE, 2006) e também observado seu florescimento
quando cultivado em safrinha no cerrado (SAMINÊZ, 2007; SPEHAR & TRECENTI,
2011).
As espécies sensíveis ao fotoperiodo foram aquelas que tiveram maio redução de
ciclo em comparação a resultados de trabalhos plantados no período tradicional de safra
(de outubro a maio). Amabile et al., (2000) relataram a diminuição do ciclo e
consequentemente da produtividade quando as espécies C. juncea e feijão guandú foram
plantados em novembro, janeiro e março, sendo que em março a C. juncea teve um
ciclo de 67 dias até o florescimento e de 118 quando plantada em novembro. A
produção de fitomassa seca da parte aérea também está correlacionada, tendo o plantio
de novembro produção 3 vezes superior que o plantio de março. Saminez (2007)
observou aproximadamente 120 dias para o florescimento de mucuna Preta e 38 dias
para o nabo forrageiro quando plantados no inverno e em condição de irrigação por
aspersão no Distrito Federal, ciclos esses parecidos com os observados nesse
experimento.
Para o rendimento de grãos ao final do ciclo das espécies de adubo verde a C.
juncea, feijão caupí e C. spectabilis foram as que atingiram maior produtividade com
793, 740 e 719 kg ha-1 de massa de grãos. Feijão de porco, feijão guandú e nabo
forrageiro foram equivalentes entre si, porém com médias abaixo das crotalárias e do
feijão caupí. A mucuna preta não completou o ciclo até a data da coleta das
produtividades, demonstrando ciclo acima de 140 dias conforme descrito na literatura.
(PEREIRA, 1982; PEREIRA, 1988).
Os rendimentos de grãos observados demonstram diferentes viabilidades de
utilização dessas espécies em produção de semente na condição de várzea tropical., e
que o fator de maior influencia na adaptação desses materiais é principalmente a reação
ao fotoperíodo de cada espécie / acesso. Aquelas que demonstraram redução de
34
produção de fitomassa e redução de ciclo em decorrência do plantio nessa época do ano,
a exemplo das crotalárias, também demonstraram redução na produtividade de grãos,
quando comparadas a resultados obtidos em outras regiões e plantadas no período
tradicional de safra (de outubro a maio) (PEREIRA, et al., 2005; AMABILE et al.,
2000; SAMINEZ, 2007; ALVARENGA et al., 1995 ; SODRÉ FILHO et al., 2004). No
entanto o rendimento de grãos obtidos para todas espécies, com exceção da mucuna
preta, seriam suficientes para atingir a viabilidade de produção, caso os grãos sejam
comercializados como sementes (Tabela 2).
Alterações Químicas
Os tratamentos nas parcelas (espécies de adubos verdes) tiveram diferença
estatística nos teores de nitrogênio total., nitrogênio amoniacal e nitrogênio nítrico de
acordo com a análise de variância e diferiram nas subparcelas (manejo da palhada) para
nitrogênio total e nitrogênio amoniacal (Tabela 3). O nitrogênio total foi superior em
todas as espécies de leguminosas e inferior e equivalente entre si para os tratamentos
testemunha e nabo forrageiro. A fixação biológica do nitrogênio proporcionada pela
relação simbiótica das leguminosas com bactérias proporciona o incremento de
nitrogênio ao solo assim como descrito por Miyasaka et al., (1983); Suhet et al., (1985);
Boodey et al., (2007) e Fageria & Santos (2007). A disponibilização do N no solo é
realizada, principalmente através da mineralização da matéria orgânica através da
atividade microbiana do solo, que converte N orgânico em íon amônio (NH 4+) com
posterior oxidação para nitrato (NO3-) (MARY et al., 1996; GIL & FICK, 2001).
Portanto o incremento dos teores de Nitrogênio do solo apresentado pelas espécies de
leguminosas na condição de várzea tropical corrobora com resultados obtidos em outras
condições edáficas.
Quando separamos o nitrogênio total das formas minerais (amoniacal e nítrica) é
possível observar participações diferenciadas em cada uma das formas. Primeiramente é
notável que os teores de nitrogênio total do solo são muito superiores do que as formas
minerais. Tal fato foi descrito por Mclaren & Cameron (1996) que estimaram que mais
de 94% do nitrogênio do solo está nas formas orgânicas em restos vegetais, massa
microbiana e húmus do solo.
O teor de nitrogênio amoniacal foi superior em ambas as crotalárias, mucuna preta
e feijão caupi, e inferiores no feijão de porco, feijão guandú, nabo forrageiro e
testemunha. Para nitrogênio nítrico o comportamento foi semelhante ao teor de
35
nitrogênio total, sendo as leguminosas superiores nos teores, e o nabo forrageiro e a
testemunha apresentando os valores mais baixos (Tabela 3). Em todos os tratamentos os
níveis de amônio foram superiores ao nível de nitrato no solo. Tal observação pode ser
explicada pelo fato que as bactérias do gênero Nitrossomas e Nitrobacter, que são as
responsáveis pelo processo de oxidação de amônia em nitrito e posteriormente em
nitrato, são favorecidas pela correção do pH do solo e aeração (POUDEL et al., 2002;
THONISSEN et al., 2000). Solos com pH abaixo de 5,0 apresentam o processo de
transformação de amônio em nitrato em níveis reduzidos (SILVA et al., 2004).
No tratamento atribuído nas subparcelas, o manejo de plantio direto ou plantio
convencional influenciaram estatisticamente os teores de nitrogênio total e nitrogênio
amoniacal, porém não foram significativos para o teor de nitrato, Tabela 3. Em ambos
os casos de nitrogênio total e nitrogênio amoniacal o tratamento de plantio direto
apresentou valor superior ao tratamento plantio convencional. O preparo convencional
com a incorporação dos resíduos acelera substancialmente a decomposição da matéria
orgânica (BRODER & WAGNER; 1988; VARCO et al., 1989; THONNISSEN et al.,
2000). Como resultado, a maior parte do N é liberada durante o início da decomposição,
o que pode coincidir com a baixa demanda em N pela cultura em desenvolvimento. Se o
N mineral estiver disponível precocemente, poderão ocorrer perdas do nutriente por
lixiviação de NO3- (ROSECRANCE et al., 2000).
Tabela 3. Teores de Nitrogênio Total (N total), Nitrogênio Amoniacal (N NH 4+) e
Nitrogênio Nitrato (N NO3-) no solo em função de espécies de adubo verde e manejo de
solo, Lagoa da Confusão 2011.
Espécie
N NH4+
N total
N NO3-
----------------------------- mg / kg ----------------------------Crotalária juncea
4535 a
32,5 a
16,0 a
Crotalária spectabilis
4446 a
30,8 a
15,6 a
Mucuna preta
4522 a
31,2 a
15,3 a
Feijão de porco
3927 a
27,2 b
13,5 a
Feijão guandú
3820 a
26,0 b
13,0 a
Testemunha
2983 b
20,5 b
9,6 b
Nabo forrageiro
2944 b
23,2 b
10,6 b
Feijão caupí
4156 a
29,8 a
14,8 a
C.V. (%)
15,89
16,93
19,36
F
6,445 **
4,887 **
4,833 **
36
----------------------------- mg / kg ----------------------------Plantio Direto
4123 a
29,29 a
14,12
Plantio Convencional
3710 b
26,00 b
13,01
9,37
12,77
13,27
15,220 **
10,4365 **
4,333 ns
2,386 ns
1,228 ns
1,271 ns
C.V. (%)
F
F int (esp)x(manejo)
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott (P<0,05). *,** e
ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.
A análise química de rotina demonstrou que houve alteração significativa para os
níveis de Cálcio, Potássio, Soma de Bases, CTC, Matéria Orgânica e saturação de bases
em função do tratamento espécies de adubo verde, e alteração significativa somente
para saturação de bases no tratamento de subparcela tipo de manejo. A interação espécie
de cobertura e tipo de manejo não foi significativa para nenhuma combinação (Tabela,
4).
Os teores de cálcio e potássio foram superiores quando cultivados com nabo
forrageiro em relação a todos os outros tratamentos, e que foram equivalentes entre si.
De acordo com Crusciol, (2005), o nabo é capaz de acumular na parte aérea 57,2, 15,3,
85,7, 37,4, 12,5 e 14,0 kg ha-1, respectivamente, de N, P, K, Ca, Mg e S. E aos 30 dias
após o manejo da fitomassa o Ca já liberou 80% e K do acumulado na palhada
(CRUSCIOL, 2005). O nabo possui baixa relação C/N e portanto uma palhada de rápida
decomposição. É descrito na literatura relação C/N de 11,0 quando cultivado em
condições de cerrado (CARNEIRO et al., 2008) As demais espécies dos tratamentos,
possuí relações C/N de 20,2; 23,0; 28; 25,9, 21; 13,9 , respectivamente para C. juncea,
C. spectabilis, mucuna Preta, feijão de porco, feijão guandú, feijão caupí (CLEMENT et
al., 2008; CARNEIRO, et Al, 2008). Como o nabo forrageiro foi dentre as espécies de
cobertura aquela que teve o ciclo mais precoce (Tabela 4) é possível concluir que
mesmo antes do manejo, as plantas já estavam em senescência e, portanto com grande
parte de sua fitomassa já em processo de decomposição. Assim, os nutrientes
absorvidos pela fitomassa retornaram ao solo antes dos demais tratamentos.
No entanto a CTC do solo no tratamento nabo foi significativamente superior aos
demais tratamentos, apresentando em média CTC 32 % acima dos demais.
37
Tabela 4. Teores de nutrientes do solo na análise de rotina em função da espécie de adubo
verde utilizada, Lagoa da Confusão 2011.
Espécie
Ca
Mg
Al
K
CTC
P
MO
-----------------------cmolc dm3--------------- ----- mg / kg ----
V%
pH
-- % - CaCl2
C. juncea
3,61 b
1,1
0
0,12 b
8,4 b
90,0
6,48 a
55 a
4,72
C. spectabilis
3,16 b
1,6
0
0,09 b
8,5 b
40,2
7,06 a
57 a
4,76
Mucuna preta
2,93 b
1,61
0
0,10 b
8,7 b
76,1
6,78 a
52 a
4,63
Feijão de porco
2,63 b
1,22
0
0,09 b
8,1 b
65,5
6,81 a
53 a
4,89
Feijão guandú
4,01 b
1,75
0
0,14 b
9,5 b
21,1
6,40 a
61 a
4,88
Testemunha
3,74 b
1,51
0
0,13 b
9,1 b
23,7
5,46 b
59 a
4,94
Nabo forrageiro
6,14 a
1,55
0
0,22 a
11,5 a
30,5
7,20 a
68 a
4,71
Feijão caupí
3,3 b
1,48
0
0,13 b
8,8 b
26,8
6,73 a
55 a
4,88
C.V. (%)
28,32
28,14
303,17
41,12
9,97
80,89
9.97
12,82
3,89
7,471
0,832 ns
1,202
*
1,840 ns
4,55 ** 3,129 *
2,196
ns
3,767 *
11,901
**
Plantio Direto
3,95
1,623
0
0,14
9,1
68,6
6,49
61 a
4,76
Plantio Conv.
3,45
1,442
0
0,12
9,0
41,03
6,78
55 b
4,86
C.V. (%)
24,79
33,55
303,17
39,26
17,2
81,06
17,51
13,78
3,34
3,034
1,303 ns
4,569
3,071ns
0,070 ns
4,033 ns
0,685
5,631
*
4,440
F
F
ns
ns
ns
ns
ns
F int (esp x
2,029
1,202
0,344
1,376
1,257 ns
1,099 ns 0,687 ns 0,723 ns
2,644ns
ns
ns
ns
ns
man)
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott
(P<0,05). *,** e ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.
O teor de matéria orgânica do solo foi alterado igualmente por todas as espécies
de cobertura utilizadas e que foram superiores à testemunha. A melhoria desse atributo
na analise de rotina normalmente é difícil de observar em curto prazo, como o período
de um ciclo de desenvolvimento, e que outros indicadores são mais facilmente sensíveis
para inferir sobre alteração na matéria orgânica (CARTER, 2002; RASMUSSEN &
COLLINS; 1991). Kitamura et al., (2008) não observaram diferença estatística na
matéria orgânica quando utilizou de feijão de porco em LATOSSOLO VERMELHO
DISTRÓFICO no cerrado. No referido trabalho a produção de fitomassa do feijão de
porco foi inferior aquela observada na condição de várzea. Assim como Nascimento et
al. (2003), em um Luvissolo na região do semi-árido utilizando as espécies feijão
guandú, mucuna preta, C. juncea, feijão de porco, entre outras. No entanto, Mandal et
al. (2003) em solo mal drenado na Índia, cultivado no sistema arroz-trigo por longo
38
período, observaram alteração no nível de matéria orgânica quando inseridos resíduos
de leguminosas Sesbania rostrata e Sesbania aculeata, principalmente no período
inicial de desenvolvimento do arroz cultivado em sucessão.
A provável resposta do incremento de matéria orgânica observado nesse trabalho
é que a metodologia de determinação de matéria orgânica das amostras consiste na
oxidação total da matéria orgânica do solo, seja ela material macro-orgânico de baixa
densidade derivada de tecidos vegetais, biomassa microbiana, (CARTER, 2002) ou
elementos estabilizados como ácidos húmicos ou fúlvicos. A porcentagem de matéria
orgânica é calculada multiplicando-se o resultado do carbono orgânico por 1,724. Este
fator é utilizado em virtude de se admitir que, na composição média do húmus, o
carbono participa com 58% (EMBRAPA, 1997).
Nos tratamentos submetidos as subparcelas, o saturação de bases foi 10,5%
superior no plantio direto do que no plantio convencional, Apesar de não haver
diferença estatística nos teores de Ca, Mg e K, os resultados numéricos para esses
parâmetros foram maiores no plantio direto, e por serem os componentes de formação
do V% (EMBRAPA, 1997), quando somados produziram diferenças suficientes para
validar o teste F. De acordo com Tomé Júnior (1997) este parâmetro fornece
informações sobre o total de cargas negativas existentes no solo e também apresenta
uma referência da proporção ocupada pelos cátions Ca++, Mg++ e K+, servindo como
base para a avaliação da fertilidade do solo. Vários são os trabalhos que descrevem os
benefícios químicos ao solo da adoção do sistema de plantio direto em relação ao
plantio convencional (TESTA et al., 1992; CALEGARI et al., 1993; RIBEIRO, 1996;
NASCIMENTO et al., 2003). De acordo com Alcantara (2000), a manutenção da
palhada de adubação verde sobre o solo, ao invés da incorporação, proporciona aumento
de CTC efetiva, V% e teores de Mg, Ca e K até 120 dias depois do manejo, na camada
de 0-10 cm do solo, resultando na mesma observação realizada no presente trabalho em
condição de várzea.
Alterações Físicas
Na Tabela 5 encontram-se os atributos físicos do solo DS, MAC, MIC e PT após
o cultivo das plantas de cobertura em duas profundidades. Para a densidade do solo a
espécie que proporcionou menor densidade do solo após seu cultivo foi a mucuna preta,
porém esta não diferiu das demais espécies cultivadas. Estes resultados mostram que o
cultivo de destas espécies tendem a reduzir a DS, deixando-o em boas condições para o
39
cultivo. Reichert et al., (2003) propuseram densidade do solo crítica para algumas
classes texturais: 1,30 a 1,40 Mg m-3 para solos argilosos, 1,40 a 1,50 Mg m-3 para os
franco-argilosos e de 1,70 a 1,80 Mg m-3 para os franco-arenosos. Já Argenton et al.,
(2005) e Klein (2006) propuseram e que os limites de densidade são aceitáveis até a
faixa de 1,30 Mg m-³. Os valores obtidos estão bem abaixo dos limites encontrados na
literatura, o que reforça a teoria que a utilização destas espécies podem trazer melhorias
em atributos físicos do solo. Já para as profundidades a DS apresentou efeito
significativo (P<0,01), onde a camada 0-15 cm apresentou uma menor DS o que era
esperado. Tal observação ocorre pelo fato da zona radicular dos cultivos explorar a
camada mais superficial e dessa forma diminuir a densidade do solo pelos canais
deixados no desenvolvimento do sistema radicular (REINERT et al., 2008).
Para a MAC os tratamentos apresentaram efeito significativo (P<0,01) onde o
cultivo de feijão caupí proporcionou a maior macroporosidade, seguido pelo nabo
forrageiro, mucuna preta e pelo plantio convencional., Os demais tratamentos
apresentaram um volume de macroporos bem inferior aos tratamentos superiores. Esses
resultados são diferentes dos encontrados por Borges & Souza (2011), onde o cultivo de
feijão caupí foi o que proporcionou uma maior redução na quantidade de MAC. Ainda
segundo os mesmos autores os valores aceitáveis de MAC para que não haja limitação
no desenvolvimento das plantas estão acima de 10%. Diante disto somente o feijão
caupí apresentaram resultados satisfatórios. Quanto as profundidades avaliadas, não
houve diferenças entre elas.
40
Tabela 5. Densidade (DS), Macroporosidade (MAC), Microporosidade (MIC) e
Porosidade Total (PT) de um PLINTOSSOLO HÁPLICO cultivados com diferentes
espécies de adubação verde e preparo convencional para o cultivo do arroz em sucessão,
Lagoa da Confusão 2011.
DS
Mg cm -3
MAC
MIC
PT
---------------------cm3 cm-3 --------------------
Crotalária juncea
1,017
6,12 b
44,094
50,21
Crotalária spectabilis
0,939
6,49 b
46,365
52,85
Mucuna preta
0,923
7,67 a
45,605
53,27
Feijão de porco
1,071
5,49 b
42,811
48,31
Feijão guandú
1,037
4,78 b
44,615
49,39
Testemunha
0,995
4,21 b
44,414
48,63
Nabo forrageiro
0,978
8,36 a
41,025
49,38
Feijão caupí
0,997
13,19 a
41,06
54,25
Plantio convencional
0,965
7,63 b
42,231
49,86
CV (%)
10,11
55,6
13,29
9,85
2,166 ns
4,55 **
1,0871 ns
1,9197 ns
Camada 0-15 cm
0,96 b
6,6
44,06
50,67 a
Camada de 15-30 cm
1,02 a
7,6
43,09
50,70 a
8,61
67,83
12,56
10,53
F
12,21 **
0,967 ns
0,7060 ns
0,0007 *
F int (espécie x camada)
2,032 ns
1,448 ns
1,53 ns
0,6387 ns
F
CV (%)
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si para o teste Scott-Knott (P<0,05). *,** e
ns: significativo (P<0,05);(P<0,01) e não significativo para o teste F.
Para a MIC e PT, os tratamentos não apresentaram diferenças significativas entre
si, indicando que para estes atributos o tipo de espécie de adubação verde utilizada não
interfere nos parâmetros. Nestes dois atributos também não houve diferenças entre as
profundidades avaliadas.
A correlação de Pearson apresentada na Tabela 6, mostra que todos os atributos
físicos avaliados tem uma correlação significativa entre si. A DS tem correlação
negativa (P<0,05) com a MAC e (P<0,01) com MIC e PT, comprovando o que já é
esperado, onde o aumento da DS reduz o espaço poroso do solo, o que dependendo do
tamanho dessa redução do espaço poroso, ocorre uma limitação no desenvolvimento das
plantas cultivadas nesta área. A pressão mecânica exercida sobre os agregados pela
41
compactação provoca a sua ruptura, facilitando a aproximação das partículas, cuja
conseqüência imediata é redução da porosidade total., pela diminuição dos poros
maiores (STONE et al., 2002). Trabalhos têm mostrado que, quando a macroporosidade
do solo é reduzida o crescimento das raízes é prejudicado (Meredith & Patrick Jr., 1961;
Cintra et al., 1983).
Tabela 6. Correlação de Pearson entre Densidade (DS), Macroporosidade (MAC),
Microporosidade (MIC) e Porosidade Total (PT).
DENSIDADE
MAC
MIC
PT
DENSIDADE
---
---
---
---
MAC
-0,225*
---
---
---
MIC
-0,351**
-0,536**
---
---
PT
-0,602**
0,370**
0,585**
---
*Significativo a 5% pelo teste t ** Significativo a 1% pelo teste t
A MAC apresentou correlação negativa (P<0,01) com a MIC, e positiva (P<0,01)
com a porosidade total. Mais uma vez estes resultados apresentados são os esperados, o
aumento da MAC ocasiona a redução da MIC, e o aumento dos poros maiores
proporciona um aumento na porosidade total dos solo. Esses resultados em parte estão
de acordo com os encontrados por Lima et al., (2011) em diferentes sistemas de manejo.
Segundo Dias Jr. & Pierce (1996), a macroporosidade é o atributo que sofre maiores
alterações em função do manejo ou cultura utilizadas.
A PT apresentou correlação com todos os outros atributos, sendo elas negativa
para a DS e positivas para MIC e MAC, ambos os três (P<0,01). Isso é um
comportamento esperado, já que como citado anteriormente o aumento da DS ocorre em
função da diminuição do espaço poroso do solo. E o aumento da porosidade reflete
diretamente no aumento dos poros maiores e menores.
Na Figura 3, encontram se os resultados dos testes de resistência a penetração
(RP). Nele pode-se observar que os tratamentos com feijão caupi, nabo forrageiro e a
testemunha foram às áreas que apresentaram maiores RP até aproximadamente 20 cm,
onde a partir desta profundidade reduziram sua RP aproximando-se dos demais
tratamentos. A camada adensada encontrada nestes tratamentos pode ser gerada por
42
diferentes causas, o adensamento pode ser causado pelo tráfego de maquinas, ou este
aumento na densidade pode ser uma característica pedogenética. Tormena et al., (1998),
encontraram um aumento de 10% em média na microporosidade do solo em áreas com
tráfego e sem trafego de máquinas, mostrando que o adensamento natural foi
equivalente. A densidade do solo diminui com o revolvimento do solo, ou operação de
escarificação, porém esta propriedade tende a voltar a situação original com o passar do
tempo, em razão do adensamento natural das partículas (Marcolan et al., 2007).
Em todos os tratamentos exceto mucuna nota-se que ha presença de uma camada
adensada na faixa de 10 a 20 cm de profundidade. A provável causa do tratamento com
mucuna ter apresentado uma menor resistência a penetração nesta faixa pode estar
relacionada com seu sistema radicular. Reinert et al., (2008), cultivando mucuna,
crotalária, feijão guandú e feijão de porco, verificaram que a mucuna foi a cobertura que
proporcionou uma menor RP na faixa de 25 a 40 cm de profundidade. De acordo com
os autores o crescimento do sistema radicular exerce uma pressão sobre os poros do
solo, aumentando assim sua RP. Os mesmos autores ainda relatam que mucuna possui
um crescimento radicular superficial., assim os poros na camada mais profunda estariam
com menor efeito da resistência oferecida pelas raízes.
O tratamento plantio convencional na faixa de 15 a 30 cm sofre um grande
aumento em sua RP. A presença desta camada adensada em áreas de plantio
convencional são comuns em virtude do efeito causado pelo arado de disco. Segundo
Bauder et al., (1981) e Tormena & Roloff (1996), os efeitos do constante trabalho do
solo no sistema convencional provocaram o aparecimento de camadas mais
compactadas (“pé de grade”) em torno de 0,20 m de profundidade.
Segundo Reinert et al., (2008) valores de RP acima de 1,75 Mpa em solos
arenosos são considerados críticos para o desenvolvimento radicular das plantas. Neste
trabalho pode-se observar que apenas nas áreas cultivadas com feijão caupi, nabo
forrageiro e na testemunha estes valores foram excedidos na camada superficial.,
provavelmente pelo grande volume radicular dessas plantas nessa camada, o que pode
aumentar a RP como citado anteriormente.
43
RESITÊNCIA (MPa)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
2
4
PROFUNDIDADE (cm)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
PLANTIO CONVENCIONAL
FEIJÃO CAUPI
NABO FORRAGEIRO
TESTEMUNHA
FEIJÃO DE PORCO
CROTALÁRIA SPECTABILIS
FEIJÃO GUANDU
CROTALÁRIA JUNCEA
MUCUNA
Figura 3. Valores médios da resistência a Penetração (Mpa) de plintossolo háplico
cultivado sob diferentes espécies de espécie de adubação verde em sistema de plantio
direto e convencional, Lagoa da Confusão 2011.
44
CONCLUSÕES
Todas as espécies de adubos verdes avaliadas, com exceção da mucuna preta,
apresentam adaptabilidade e potencial de produção de grãos na condição de várzea do
Tocantins. A Crotalaria. Juncea, Crotalaria spectabilis e o feijão caupí são as espécies
que mais se destacam quando considerado os desempenhos de produção de matéria,
ciclo e rendimento de grãos.
O uso das espécies de adubos verde proporciona positivas alterações químicas no
solo. O nitrogênio total é superior em todas as leguminosas e não sofre alteração com o
nabo forrageiro e testemunha. O nitrogênio amoniacal aumentou pelas espécies de
leguminosas a C. Juncea, C. spectabilis e mucuna preta e feijão caupí, e o nitrogênio
nítrico aumentou por todas as espécies, com exceção do nabo forrageiro. O plantio
direto proporciona maiores índices de nitrogênio total e nitrogênio amoniacal do que o
plantio convencional.
A análise de rotina demonstra que a utilização de adubos verdes não altera os
níveis no solo de Mg2+, Al3+, Fósforo e pH. Porém Ca2+, K+ e CTC são influenciados
positivamente pelo nabo forrageiro. A matéria Orgânica é superior em todos os
tratamentos em relação à testemunha. O plantio direto proporciona maior V% do que o
plantio convencional.
Não há alterações físicas significativas pela adoção da adubação verde, e somente
a macroporosidade foi alterada em plantio convencional. A densidade do solo é superior
na camada de 15-30 cm. A resistência penetração é maior nos tratamentos feijão caupi,
nabo forrageiro e a testemunha.
45
Capítulo II
Efeitos nos teores foliares e parâmetros produtivos da
cultura do arroz irrigado cultivado em sucessão a
diferentes espécies de adubo verde e manejo.
46
EFEITOS NOS TEORES FOLIARES E PARAMETROS PRODUTIVOS DA
CULTURA DO ARROZ IRRIGADO CULTIVADO EM SUCESSÃO A
DIFERENTES ESPECIES DE ADUBO VERDE E MANEJO.
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar as alterações nutricionais,
parâmetros morfológicos e componentes de produtividade do arroz irrigado em várzea
tropical cultivado em sucessão as espécies Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis,
mucuna preta (Mucuna aterrina), feijão de porco (Canavalia ensiformis), feijão guandú
(Cajanus cajan), nabo forrageiro (Raphanus sativus) e feijão caupí (Vigna unguiculata),
associados ao preparo convencional ou plantio direto e dose diferenciada de nitrogênio
em cobertura. As espécies de cobertura foram cultivadas na época seca irrigadas por
sub-superfície e o arroz irrigado durante a estação chuvosa e irrigado por inundação.
Foram avaliados os teores foliares de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e
enxofre, bem como altura das plantas de arroz, perfilhamento, massa de panícula e
rendimento de grãos. O uso da adubação verde em antecessão bem como o manejo
diferenciado entre plantio direto e convencional, e dose de nitrogênio mineral
proporcionaram diferenças nos teores foliares de N,P,K,Ca e S, além de diferenças nos
paramentos morfológicos de altura de plantas, perfilhamento, número de panículas e
rendimento de grãos.
Palavras Chaves: Nitrogênio, plantio direto, várzea tropical.
47
EFFECTS IN FOLIAR LEVELS AND YIELD PARAMETERS OF LOWLAND
RICE CROPPED AFTER DIFFERENT SPECIES OF GREEN MANURING
AND MANAGEMENT.
ABSTRACT
This study was to assess the nutritional variations, morphological parameters and
productivity indexes in irrigated rice in tropical lowland. The following species were
cultivated in sucession: sunhemp (Crotalaria juncea), Crotalaria spectabilis, velvet
bean (Mucuna aterrina), jackbean (Canavalia ensiformis), pigeon bean (Cajanus
cajan), japanese radish (Raphanus sativus) and cowpea bean (Vigna unguiculata),
associated with conventional tillage or no till and different covering nitrogen rates. The
species of green manuring were grown in irrigated dry season by sub-surface and
irrigated rice during the rainy season and irrigated by flooding. It were evaluated foliar
levels of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur, as well as
the height of rice plants, tilling, panicle and grain yield. The use of green manure in
before rice crop as well as the differentiated management of no-till and till, and rate of
mineral covering nitrogen changed foliar content of us differences were N, P, K, Ca,
and S, as well as differences in morphological plant height vestments, tillering, number
of panicles and grain yield
Keywords: Nitrogen, No till, tropical lowland.
48
INTRODUÇÃO
O arroz no Brasil é cultivado em dois ambientes distintos: em condição de várzea
e na condição de sequeiro em terras altas, e que pelas particularidades edáfoclimática de
cada
um
dos
ambientes
possuem
sistemas
de
produção
diferentes.
São
aproximadamente 15 milhões de hectares aptos para produção agrícola em ambiente de
várzea (SANTOS, 1999). A várzea tropical do Rio Araguaia possui 500.000 hectares de
extensão e é considerada a maior área contínua passível de irrigação por inundação do
mundo (COELHO et al., 2006). Nesse ambiente predominam solos hidromórficos, com
horizonte subsuperfical raso ou com elevação temporária do lençol freático, que
restringem a percolação da água e estão sujeitos ao excesso de umidade (EMBRAPA
1999). Dessa forma, essa região apresenta potencial para o cultivo do arroz irrigado por
inundação na estação chuvosa, e vem sendo explorada através dessa atividade desde
meados da década de 1970.
A adubação verde é uma prática antiga de manejo de solo assim como aplicação
de compostos orgânicos, rotação de culturas e cultivo intercalar, técnicas essas que eram
largamente usadas no período que antecedeu a revolução verde. Porém nos últimos 30
anos, com o avanço de tecnologias de irrigação, fertilizantes, mecanização e
intensificação de cultivos, entre outras, a adubação verde foi cada vez menos utilizadas
em detrimento de outras tecnologias (FAGERIA, 2002). Porém nos últimos anos, esse
cenário tem demonstrado sinais de mudança em função dos altos custos energéticos
necessários para a utilização de fertilizantes químicos e também pela preocupação dos
impactos ecológicos e ambientais da população que procura consumir alimentos
produzidos de forma mais racional (AYOUB, 1999; FAGERIA, 2002 ; RAIJ, 1991).
Vários são os benefícios relatados com o uso da adubação verde. A incorporação
de adubo verde promove, ao longo dos anos, aumento no conteúdo de matéria orgânica
do solo (VENTURA & WATANABE, 1993). Também tem benefícios na conservação
do solo e da água, promovendo, principalmente, a melhoria da estrutura que favorece a
aeração e a infiltração de água no solo, permitindo uma maior penetração das raízes
(LAL, 1986). Além disso, propicia melhor aproveitamento de adubos químicos e
redução nos custos com adubação mineral, uma vez que promove aumento da atividade
biológica do solo (HERNANI et al., 1995).
No entanto um dos benefícios mais relevantes é o incremento de nitrogênio no
sistema de produção através do uso de espécies de leguminosas. A fixação simbiótica de
49
nitrogênio em leguminosas é decorrente da formação de nódulos eficientes nas raízes
das plantas. A fixação biológica do nitrogênio varia da capacidade da planta de
estimular e manter a relação simbiótica, das condições ambientais, práticas de manejo e
das espécies em questão (STUTE & POSNER, 1993; FAGERIA & BALIGAR, 2005).
O nitrogênio é componente de compostos estruturais e funcionais em diversos
processos metabólicos nas plantas e sua disponibilidade está correlacionada com o
aumento da área foliar da planta, a qual aumenta a eficiência na interceptação da
radiação solar e a taxa fotossintética e, consequentemente, a produtividade de grãos
(FAGERIA & STONE, 2003). O nitrogênio é relatado como o principal fator limitante à
produtividade, e o custo do fertilizante nitrogenado constitui relevante fração do custo
total de produção (DE DATTA et al., 1991). Desta forma, o uso racional da adubação
nitrogenada é fundamental, não só para aumentar a produtividade da cultura e diminuir
o custo de produção, mas também minimizar os riscos de poluição ambiental
(FAGERIA & STONE, 2003).
O uso da ferramenta análise foliar como critério de diagnóstico e baseia-se no
princípio de existir relação entre o suprimento de nutrientes pelo solo e os seus teores na
planta e que aumentos ou decréscimos nas concentrações dos nutrientes se relacionam
com produções mais altas ou mais baixas, respectivamente (EVENHUIS & WAARD,
1980). Na análise do material vegetal são quantificados os teores totais dos nutrientes
absorvidos pelas plantas, os quais dependem de vários fatores como teor no solo,
umidade do solo, acidez do solo, desenvolvimento do sistema radicular, antagonismo
entre nutrientes, variedade cultivada, condições climáticas, tipo de fertilizante
empregado, atividade microbiana, mineralização da matéria orgânica, tratos culturais,
incidência de pragas e doenças (OLIVEIRA, 2004).
O objetivo do trabalho foi mensurar as alterações nutricionais, através da análise
foliar, e as alterações nos parâmetros morfológicos e componentes da produtividade na
cultura do arroz irrigado em função da utilização de espécies de adubos verdes em
antecessão.
50
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado na Fazenda Dois Rios, no município da Lagoa da
Confusão – TO, sob as coordenadas geográficas 10°49'34.78"S e 49°54'0.33"O e 180 m
de altitude. O clima na região é classificado de acordo com Koppen como Awi, tropical
úmido de savana com as médias da temperatura dos meses mais frios acima de 18°C e a
diferença de temperatura entre o mês mais frio e o mês mais quente inferior a 5°C,
sendo a precipitação máxima no verão e inverno seco. O regime pluviométrico e médias
de temperatura do local estão ilustradas nas Figuras 1 e 2 do capítulo 1.
A instalação da cultura do arroz aconteceu em 02/11/2011 através de plantio
mecanizado com semeadora de plantio direto com espaçamento entre linhas de 17 cm.
Foi utilizado material genético Irga 424 de ciclo estimando de 117 dias. A quantidade
de sementes usada foi de 85 kg / ha o que significou a distribuição de 45 sementes por
metro. As sementes foram tratadas com fungicida carboxina na dose de 40 g de i.a. 100
kg de semente-1 e thiram 40 g de i.a.100 kg de semente -1.
A área foi dessecada 15 dias antes da semeadura do arroz com herbicidas glifosato
960 g de i.a. ha-1 e 2,4-D amina 640 g de i.a. ha-1 Após a semeadura foi realizada a
operação de rolo compactador para conferir germinação e emergência uniforme das
sementes de arroz, além de proporcionar um micro relevo plano para facilitar o manejo
da irrigação. Após dois dias da semeadura foram aplicados herbicidas pré-emergentes
clomazone 250 g de i.a. ha -1 e Oxifluorfem 240 g de i.a. ha -1 com objetivo de permitir
uma emergência e estabelecimento inicial da cultura sem competição com ervas
daninhas.
O delineamento experimental consistiu em blocos casualizados em esquema de
parcelas sub-subdividas com 4 repetições. A fonte de variação atribuída as parcelas foi a
espécie de adubação verde cultivada durante o período da época seca, em antecessão ao
estabelecimento da cultura do arroz. As espécies utilizadas foram Crotalaria juncea,
Crotalaria spectabilis, Mucuna preta (Mucuna aterrina), Feijão de porco (Canavalia
ensiformis), Feijão guandú (Cajanus cajan), Nabo forrageiro (Raphanus sativus), Feijão
Caupi (Vigna unguiculata) e testemunha. Os tratamentos de subparcela foram o tipo de
manejo para a implantação da cultura do arroz, sendo eles em modalidade de plantio
direto e plantio convencional, sendo cada subparcela constituída de 160 m2. E
finalmente, os tratamentos de sub-subparcela constituíram-se na aplicação de duas doses
51
de nitrogênio na cultura do arroz, alto N com 40 kg ha-1 e baixo N com 10 kg ha-1,
sendo as sub-subparcelas de tamanho der 80 m2.
A adubação de plantio seguiu a recomendação de Embrapa, (2006) com aplicação
de 90 kg ha-1 de P2O5 na linha de plantio e 70 kg ha-1 de K2O sendo um terço na linha de
plantio e o restante em cobertura aos 40 dias após a emergência. Também foram
realizados manejo químico de ervas na pós-emergência com aplicação de fenoxapropeP-etílico 70 g de i.a. ha-1, bentazon 650 g de i.a. ha -1 e bispiribaque-sódico 42 g de i.a.
ha-1 aos 25 após a emergência. Além da aplicação para o controle de Pyricularia grisea
e Bipolaris oryzae através de triciclazol 190 g de i.a. ha -1 e Tebuconazole 160 g de i.a.
ha-1, aos 70 e 85 dias respectivamente.
A instalação das espécies de adubação verde cultivados em antecessão ocorreu no
dia 10 de julho de 2011, e os parâmetros de instalação e condução estão descritos na
Tabela 1 do capítulo 1. Para subparcelas o tratamento plantio convencional foi realizado
dia 22/11/2011, 11 dias antes da instalação da cultura. Foi utilizada grade niveladora
com discos de 22’’ que incorporou os resíduos orgânicos até 10 cm de profundidade no
perfil do solo. Para o tratamento plantio direto não foi realizado nenhum revolvimento
do solo até o momento da semeadura. Após o plantio ambos tratamentos receberam o
rolo compactador. O cultivo das espécies da adubação verde resultaram em alterações
químicas no solo de nitrogênio (N-total, N-amoniacal e N-nítrico) cálcio, potássio,
CTC, matéria orgânica e V% conforme descritos nas Tabelas 3 e 4 do capítulo 1.
Para as sub-subparcelas os tratamentos alto e baixo nitrogênio consistiram em
doses diferenciadas de nitrogênio na cobertura. O plantio para ambos tratamentos
conteve 10 kg ha-1, sendo essa a dose total do tratamento baixo nitrogênio. O tratamento
alto nitrogênio recebeu cobertura de 30 kg ha-1, através de ureia, aos 40 dias após a
emergência da cultura na fase de diferenciação do primórdio floral.
Aos 15 dias após a emergência foi realizada contagem de estande inicial levando
em consideração 3 metros em 5 linhas de plantio para cada sub-parcelas.
Aos 80 dias após a emergência foi coletado as amostras para realização das
analises de teor de nutrientes foliares. A amostragem consistiu na coleta de 50 folhasbandeira (última folha expandida adjacente a panícula) de cada repetição. O material fo i
seco em estufa de circulação de ar forçada a 75°C até atingir massa constante, e após
processados em moinho de wiley. A material foi submetido a digestão nitroperclórica
(SARRUGE & HAAG, 1974) e o fósforo determinado por colorimetria, cálcio e
52
magnésio por espectrofotometria de absorção atômica, potássio fotometria de emissão
de chama e enxofre por turbidimetria.
Aos 115 dias na ocasião da maturação fisiológica foi medida a altura de plantas do
solo até o ultimo nó da panícula e o número de perfilho por planta (IRRI, 1996). Foram
determinadas também a densidade de panículas m2 através de contagem. A colheita
consistiu no corte de 3m2 centrais de cada sub-subparcela e as plantas trilhadas em caixa
de trilha manual e abanadas para retirada de impurezas. O material recolhido foi pesado
em balança eletrônica e amostras retiradas para medir o teor de umidade, sendo a massa
corrigida para 13%. Os dados dos parâmetros morfológicos e rendimento de grãos
foram submetidos a análise de variância pelo teste F, através do software ASSISTAT,
versão 7,6 beta (SILVA & AZEVEDO, 2002), e as médias submetidas ao teste de ScottKnot a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A análise de teor de nutriente foliar demonstrou significância nos tratamentos das
parcelas, cuja a fonte de variação tratava-se das espécies de adubação verde cultivadas
em antecessão, para os nutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, e enxofre, sendo
somente não significativo para o magnésio. O tratamento de subparcelas “tipo de
manejo” influenciou significativamente os teores foliares de nitrogênio, fósforo,
potássio. Na avaliação das sub-subparcela referente ao “nível de nitrogênio”
demonstrou-se significância somente para o teor de nitrogênio, fósforo, e enxofre
(Tabela 7). Também foram observadas algumas interações significativas entre os
tratamentos, sendo que para interação entre espécie de cobertura vs. tipo de manejo
(AxB) foi observado significância somente para o teor de nitrogênio. Entre espécies de
cobertura vs. nível de nitrogênio (AxC) houve diferença para nitrogênio e fósforo. A
interação manejo vs. nível de nitrogênio (BxC) apresentou significância para os teores
de nitrogênio, fósforo, cálcio e enxofre. E finalmente houve a interação de todos os
tratamentos (AxBxC) nitrogênio e fósforo, conforme descrito no quadro da análise de
variância na Tabela 7.
53
Tabela 7. Quadro da análise de variância de teor de nutriente foliar de arroz irrigado em
função da espécie de adubação verde cultivada em antecessão, tipo de manejo adotado e
nível de adubação nitrogenada dispostos em parcelas sub-subdividada, Lagoa da
confusão 2012.
Fonte de
Variação
Espécie (A)
Resíduo A
Nitrogênio
G.L. QM
F
Fósforo
QM
F
Potássio
QM
F
Calcio
QM
F
Magnésio
QM
F
Enxofre
QM
F
*
**
**
**
ns
**
7 42,47 18,86 0,084 6,035 4,551 3,535 1,200 6,020 0,057 2,020 0,062 6,115
16 2,251
0,014
1,287
0,199
0,028
0,010
Preparo (B)
**
1 110,2 50,19 ** 0,191 10,15 ** 21,22 15,41 0,036 0,050 ns 0,167 3,764 ns 0,025 2,211 ns
Inter. A x B
7 8,055 3,669 * 0,039 2,094 ns 1,932 1,242 ns 1,328 1,831 ns 0,057 1,290 ns 0,005 0,409 ns
Resíduo B
16 2,195
0,019
1,377
0,725
0,044
0,012
Nitrogênio (C) 1 14,53 4,510 * 0,284 17,80 ** 3,683 2,606 ns 0,089 0,192 ns 0,027 0,961 ns 0,080 8,603 **
Inter. A x C
**
**
ns
ns
ns
ns
7 34,43 10,68 0,063 3,952 0,709 0,502 0,640 1,380 0,380 1,937 0,019 2,042
Inter. B x C
1 29,80 9,253 ** 0,075 4,711 * 0,114 0,081 ns 4,739 10,21 ** 0,000 0,019 ns 0,042 4,543 *
*
*
ns
ns
ns
ns
Inter. A x B x C 7 9,205 2,858 0,038 2,361 0,547 0,387 0,838 1,806 0,446 2,275 0,010 1,080
Resíduo C
32 3,220
0,016
1,413
0,464
0,028
0,009
* significativo a 1%, ** significativo a 5% e ns não significativo;
No que se refere à parcela, o nível de nitrogênio nas folhas foi influenciado pelas
espécies de adubação verde cultivadas em antecessão. Os maiores teores foliares desse
nutriente foi encontrado nas parcelas cuja as espécies de cobertura foram C. spectabilis,
mucuna preta e feijão guandú com teores de 20,41, 19,61, 18,86 g kg-1 respectivamente.
C. Juncea, feijão caupí e nabo foram equivalentes entre si, porém com menor teor foliar
do que a C. spectabilis, mucuna preta e feijão guandú. A testemunha foi inferior a todos
os tratamentos apresentando nível aproximadamente 25% inferior a C. spectabilis
(Tabela 8).
54
Tabela 8. Teores de macronutrientes foliares na cultura do arroz em função das espécies
de adubação verde cultivadas em antesseção, tipo de manejo e nível de nitrogênio,
Lagoa da Confusão 2012.
Nitrogênio
Fósforo
Potássio
Cálcio
Magnésio
Enxofre
-------------------------------------- g kg-1-----------------------------------------------C. Juncea
17,58 b
1,01 b
8,16 a
5,69 b
1,16
0,61 a
C. spectabilis
20,41 a
1,15 a
9,03 a
5,97 b
1,21
0,68 a
Mucuna preta
19,61 a
1,12 a
8,28 a
5,82 b
1,05
0,53 b
Feijão de porco
17,31 b
0,96 b
8,05 a
6,29 a
1,22
0,52 b
Feijão guandú
18,86 a
1,09 a
7,79 a
6,46 a
1,18
0,54 b
Testemunha
14,79 c
0,92 b
8,22 a
6,18 a
1,29
0,45 b
Nabo Forrageiro
16,43 b
0,97 b
7,65 a
6,63 a
1,12
0,6 a
Feijão Caupi
16,23 b
0,99 b
6,87 a
6,23 a
1,16
0,64 a
P. Convencional
16,58 b
0,98 b
7,49 b
6,18
1,13
0,55
P. Direto
18,72 a
1,07 a
8,42 a
6,14
1,21
0,59
Baixo N
17,26 b
0,97 b
7,81 a
6,19
1,19
0,54 b
Alto N
18,04 a
1,086 a
8,11 a
6,13
1,16
0,6 a
Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de ScottKnott a 0,01 ≤ p < 0,05.
O fósforo, potássio, cálcio e enxofre também apresentaram significância na
parcela. O teor de fósforo nas folhas foi de 1,15, 1,12 e 1,09 g kg-1 nas parcelas
cultivadas com C. spectabilis, mucuna preta e feijão guandú, respectivamente, sendo
esses resultados equivalentes entre si e superiores aos demais tratamentos. C. juncea,
feijão caupí, nabo, feijão de porco e testemunha apresentaram teor de fósforo inferior,
sendo a aquela com menor valor de fósforo com aproximadamente 15 % a menos que a
C. spectabilis.
O teor de potássio apesar de apresentar significância pelo teste F as médias foram
classificados como sendo todas de mesmo nível de acordo com o teste de Scott-Knott,
não divergindo entre si. O maior valor numérico foi encontrado na C. spectabilis com
9,06 g kg-1 de potássio no tecido e o menor valor no Feijão Caupi com 6,23 g kg -1
(Tabela 8).
O teor de cálcio no tecido do arroz foi maior nos tratamentos nabo forrageiro 6,63
g kg-1, feijão guandu 6,46 g kg-1, feijão de porco 6,29 g kg-1, feijão caupi 6,23 g kg-1 e
55
testemunha 6,18 g kg -1. Os demais tratamentos apresentaram teores inferiores variando
entre C. spectabilis 5,97 g kg-1, mucuna preta 5,82 g kg-1, e C. juncea 5,69 g kg-1.
De acordo com Oliveira, (2004) citando Malavolta, et al., (1997); Malavolta
(1992); Raij et al., (1996) os níveis críticos de macronutrientes para a cultura do arroz
estão na faixa entre 27-35 g kg-1 para N, 1,8-30 g kg-1 para P, 13-30 g kg-1 para K, 2,510 g kg-1 para Ca, 1,0-5,0 g kg-1 para Mg e 1,5 a 3,0 g kg -1 para S em folhas coletadas
na fase de emborrachamento ou pré-exerção da panícula, valores que corroborão com
Zanão Junior (2009). No caso específico de arroz irrigado de várzea através de análise
do Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS) que leva e consideração o
balanço proporcional entre os teores na planta, o ponto de equilíbrio do nutriente na
folha é de 26 g kg-1 para N, 2,0 g kg -1 para P, 12,5 g kg-1 para K, 2,9 g kg-1 para Ca, 1,5
para Mg e 1,8 g kg-1 para S (Guindani et al., 2009), e portanto que corroboram, no
presente trabalho, somente para os teores de Ca e Mg. O nitrogênio, fósforo, potássio e
enxofre são nutrientes móveis na planta (Malavolta, 1980) e os compostos
fotossintéticos são translocados para os grãos de arroz entre a floração e maturação
fisiológica (Fageria & Stone, 2003). O Ca e Mg são menos móveis e portanto tendem a
apresentar valores menos dinâmicos durante coletas de tecidos em diferentes fase
desenvolvimento da cultura.
A ordem decrescente de teor foliar observada na analise de tecido foi N > K > Ca
> Mg > S g kg-1 diferindo de Fageria & Baligar (1996) e Fageria & Santos (2007)
somente na posição do potássio, que para esses autores o potássio é o nutriente que se
apresenta em maior concentração na parte aérea da cultura do arroz.
Outro aspecto a se destacar é que o nabo forrageiro mesmo não sendo uma espécie
de leguminosa teve o teor de nitrogênio no arroz cultivado superior do que na
testemunha. Na Tabela 3 do capitulo 1, o teor de nitrogênio no solo não foi alterado
pelo cultivo de nabo forrageiro apresentando teores equivalente a testemunha e inferior
as todas demais espécies. Entretanto espécies de adubos verdes como as crucíferas,
embora não tragam contribuição adicional de N no solo atuam na ciclagem do N
mineral do solo, reduzindo os riscos de lixiviação (AMADO et al., 2002; AITA et al.,
2004).
De acordo com a Tabela 3 do capitulo 1, houve incremento significativo do
nitrogênio total no solo em função das espécies de adubos verdes utilizadas, e
comparado com a correlação entre os teores de nutrientes foliares da Tabela 8 pode-se
afirmar que o aumento de nitrogênio total do solo foi o responsável pelo aumento do
56
teor de nitrogênio na folha, bem como incremento do teor de fósforo, e enxofre. Os
teores de cálcio e magnésio também tiveram correlação, porém com incremento
inversamente proporcional ao incremento de nitrogênio no solo (Tabela 9).
Tabela 9. Correlação entre nitrogênio no solo e teores de nutrientes foliares em função
das espécies de coberturas utilizada em antecessão ao cultivo do arroz.
1
1 - N Total (Solo)
-
2 - N foliar
2
0,4909** 0,3578**
-
3 - P foliar
3
4
ns
0,7514** 0,3492**
-
4 - K foliar
5 - Ca foliar
6 - Mg foliar
5
6
7
- 0,2775* - 0,1559* 0,2784 *
ns
ns
0,4792**
0,4389 **
ns
ns
0,4538**
-
ns
0,5373**
Ns
-
0,3997**
Ns
-
Ns
7 - S foliar
-
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste t.
É interessante notar que na análise de nitrogênio total no solo (Tabela 3, capítulo
1) o nabo forrageiro foi aquele que apresentou menor teor de nitrogenio, sendo
equivalente somente a testemunha. E na análise de rotina (Tabela 4 capítulo 1) a parcela
cultivada com nabo foi o tratamento que apresentou maior teor de cálcio no solo,
diferenciando-se dos demais tratamentos. Portanto a correlação negativa apresentada
entre Ca vs. N total na Tabela 9 está coerente com ambos os resultados. Para o
macronutriente enxofre os maiores teores foram encontrados nas parcelas de C.
spectabilis (0,68 g kg-1), feijão caupi (0,6 g kg-1), C. Juncea (0,61 g kg-1) e nabo
forrageiro (0,60 g kg-1). Os demais tratamentos apresentaram teores abaixo sendo feijão
guandú (0,54 g kg-1), mucuna preta 0,53 g kg-1, feijão de porco (0,52 g kg-1) e
testemunha (0,45 g kg-1).
Para fonte variação da subparcela o tipo de manejo influenciou significativamente
o teor foliar de todos os macronutrientes primários, apresentando em plantio direto teor
12,9 % superior para nitrogênio, 9,1 % para fósforo e 12,4 % para potássio (Tabela 8).
Os macronutrientes secundários cálcio, magnésio e enxofre não tiveram diferença
significativa.
Para a fonte de variação da sub-subparcela o nível de adubação
nitrogenada em cobertura também demonstrou alteração nos macronutrientes primários
e enxofre, sendo todos os valores superiores quando aplicado maior dose de nitrogênio.
57
O teor de nitrogênio foliar foi 4,5 %, fósforo 11,9 %, potássio 3,8 % e enxofre 11%
superiores nos tratamentos de Alto N.
Os tratamentos de subparcela e sub-subparcela demonstraram interação
significativa nos nutrientes nitrogênio, fósforo, cálcio e enxofre nos diferentes
combinações entre manejo e aplicação de nitrogênio (Tabela 7). O teor de nitrogênio
foliar foi significativamente inferior as demais combinações no arranjo plantio
convencional e baixo N. Porém o aporte de N proporcionado pelo plantio direto não
permitiu que houvesse diferença significativa nas sub-subparcelas alto N e baixo N, e
dessa forma conclui-se que o aporte de N proporcionado pelo tratamento plantio direto
foi suficiente para suprimir a resposta a adubação mineral no experimento. A interação
também suprimiu os efeitos da sub-subparcela Alto N no plantio direto para o fósforo e
enxofre, comportamento semelhante ao nitrogênio, sendo assim diferindo os teores
somente em plantio convencional. O teor foliar de cálcio apresentou comportamento
singular, não apresentando resposta em plantio convencional no tratamento de subsubparcela alto e baixo N e tendo efeito de diminuição de teor da cálcio na folha no
plantio direto e alto N (Tabela 10).
Tabela 10. Desdobramento das interações dos teores de macronutrientes foliares na
cultura do arroz em função do tipo de manejo e nível de nitrogênio, Lagoa da Confusão
2012.
Nitrogênio
Fósforo
Cálcio
Enxofre
Baixo N Alto N Baixo N Alto N Baixo N Alto N Baixo N Alto N
------------------------------------------- g kg-1----------------------------------------P. Convencional
15,6 bB 17,5 aA
0,9 bB
1,1 aA
6,0 bA
6,4 aA
0,5 bB
0,6 aA
P. Direto
18,8 aA 18,5 aA
1,1 aA
1,1 aA
6,4 aA
5,9 bB
0,6 aA
0,6 aA
Médias maiúsculas na linha e minúsculas na coluna seguidas da mesma letra não
diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott a 0,01 ≤ p < 0,05.
No estabelecimento inicial da cultura do arroz, o estande avaliado aos 15 DAE,
também foi demonstrado diferença estatística em função das espécies de adubação
verdes usadas em antecessão, o tipo de manejo de plantio e a interação entre eles.
Quando se tratou da sub-parcela plantio convencional os tratamentos feijão de porco, C.
juncea, C. spectabilis e mucuna preta apresentaram 35,0 ; 34,1 ; 32,7 ; e 30,1 sementes
metro-1, respectivamente, sendo equivalente entre si e inferiores a feijão guandú,
testemunha, nabo forrageiro e feijão caupí que apresentaram respectivamente 43,2;
58
41,2; 40,8; 39,5 sementes metro -1. Na subparcela plantio direto a testemunha e o nabo
forrageiro proporcionaram os maiores estandes com 45,7 e 45,5 sementes metro -1,
respectivamente, sendo superiores aos demais tratamentos, e seguido de feijão guandú
40 sementes metro -1. O feijão de porco apresentou estande com 25,1 sementes metro -1
sendo inferior aos demais tratamentos. Em relação as parcelas o plantio direto foi
superior ao plantio convencional nos tratamentos de C. juncea, feijão de porco e feijão
caupí e equivalentes nos tratamentos C. spectabilis, mucuna preta, feijão guandú, e
testemunha. O plantio direto só foi superior ao plantio convencional no tratamento com
nabo forrageiro, Tabela 11.
TABELA 11. Contagem de estande inicial aos 15 dias após o plantio da cultura do
arroz irrigado em função das espécies de adubos verdes utilizadas em antecessão e tipo
de manejo, Lagoa da Confusão 2012.
Espécie
Plantio Convencional
Plantio Direto
--------- sementes metro -1 --------Crotalária juncea
34,1 bA
25,0 dB
Crotalária spectabilis
32,7 bA
33,6 cA
Mucuna preta
30,1 bA
33,6 cA
Feijão de porco
35,0 bA
25,1 dB
Feijão guandú
43,2 aA
40,0 bA
Testemunha
41,2 aA
45,7 aA
Nabo forrageiro
39,5 aB
45,5 aA
Feijão caupí
40,8 aA
34,4 cB
C.V. espécie (%)
10,9
F espécie
14,04**
C.V. Manejo (%)
7,41
F manejo
4,80 *
Int. esp x man
8,25 **
Médias maiúsculas na linha e minúsculas na coluna seguidas da mesma letra não
diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott a 0,01 ≤ p < 0,05.
Com os resultados do estande inicial, pode-se concluir que a diferença entre os
tratamentos de espécie em antecessão é menor em plantio convencional e maior em
plantio direto, já que o teste de média classificou os valores em somente 2 níveis no
plantio convencional e 4 níveis no plantio direto, além de demonstrar uma tendência dos
melhores estandes em plantio convencional serem aqueles que a adubação verde
59
acumulou menor volume de massa seca, Tabela 3 cap1. Wu et al., (1998) colocam que
cada genótipo tem determinada capacidade de perfilhamento sendo esta associada à
plasticidade de resposta ao espaçamento entre linhas e à densidade de semeadura
interferindo na relação entre população de plantas e rendimento de grãos. Outro fator
capaz de alterar o perfilhamento das plantas e conseqüentemente a produtividade da
cultura é a disponibilidade de nutrientes, principalmente o nitrogênio (GHOBRIAL,
1983). De acordo com Borja Reis, et al., (2011) o arroz de variedade Irga 424 na
condição de várzea do Tocantins apresenta caráter compensatório e estabilidade de
produtividade em ampla faixa de densidade de semeadura entre 30 a 150 kg de semente
ha-1, sendo assim a diferença de estande inicial não influenciará o resultado final de
rendimento de grão.
Os parâmetros morfológicos e os componentes da produtividade estão
apresentados na Tabela 12. Na análise de variância constataram-se diferenças
significativas para os tratamentos em altura de plantas, perfilhamento, massa de
panícula e rendimento de grãos, e interação significativa somente para os tratamentos de
subparcela manejo vs Adubação nitrogenada na variável altura de plantas.
Tabela 12. Parâmetros morfológicos e rendimento de grão na colheita da cultura do
arroz irrigado em função das espécies de adubação de cobertura utilizadas em
antesseção, Lagoa da Confusão 2012.
Espécie
C. juncea
C. spectabilis
Mucuna preta
Feijão de porco
Feijão guandú
Testemunha
Nabo
forrageiro
Feijão Caupi
Altura de Plantas Perfilhamento
Massa de
Panícula
Rendimento de
Grãos
----- cm ----64,25 a
65,37 a
63,00 a
61,00 b
64,81 a
60,87 b
nº de perfilhos
4,9 a
5,2 a
4,2 c
3,9 c
4,2 c
3,3 d
----- g ----190 a
190 a
184 a
183 a
177 a
145 b
- kg ha -1 7397 a
7381 a
7167 a
6898 a
7137 a
6559 b
62,56 b
4,6 b
169 a
5654 b
63,37 a
5,0 a
192 a
7476 a
C.V. (%)
5.94
10,79
13,14
16,09
F
3,1072 *
28,6753**
7,05 **
4,699**
Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de ScottKnott a 0,01 ≤ p < 0,05.
60
Entre os parâmetros morfológicos, a altura de plantas foi influenciada
significativamente pela espécie de adubação verde cultivada em antecessão. C.
spectabilis apresentou altura do arroz aproximadamente 7% superior do que a
testemunha, e foi equivalente aos tratamentos feijão guandu, C. juncea, feijão caupí e
mucuna preta. O feijão de porco e nabo forrageiro apresentaram altura 4,5 % e 6%
inferior a c. spectabilis, respectivamente, e foram equivalentes a testemunha. Cazetta et
al., (2008) relata aumento na estatura do arroz em função do plantio das espécies adubos
verdes em antecessão quando utilizado mucuna preta, c. juncea, e feijão guandu. O
aumento da disponibilidade de nitrogênio a planta influencia positivamente a altura de
plantas (ARF,1993; LOPES, 1996).
O maior perfilhamento foi observado quando o arroz foi antecedido pelas espécies
de C. juncea, feijão caupi, e C. spectabilis com 5,2, 5,0 e 4,9 perfilhos, respectivamente.
A testemunha foi o tratamento com menor perfilhamento com número médio de 3,3
perfilhos por planta. O perfilhamento é um dos principais componentes da
produtividade quando não há estresse ambiental (MILLER et al,. 1996; ZENG &
SHANON, 2000) e o nitrogênio é relatado com o principal nutriente capaz de
influencia-lo, apresentando correlação com a produtividade (FAGERIA & BALIGAR,
2001). Entretanto Borja Reis, et al. (2012) observaram resposta do perfilhamento do
arroz em função do incremento da disponibilidade de fósforo, porém em menor nível
daquelas observadas ao nitrogênio. O componente da produtividade massa de panícula
também foi influenciado pelos adubos verdes sendo o feijão caupi o que o obteve a
maior média, com 192g, seguido pelas C. juncea 190g, C. spectabilis 190g, mucuna
preta 184g, feijão de porco 183g, feijão guandú 177g e nabo forrageiro 169g. Apesar da
diferença entre feijão cupi e do nabo ser da ordem 12 % todos eles são equivalentes
entre si. Somente a testemunha teve a média diferida dos demais tratamentos.
O rendimento de grãos também foi influenciado pelas espécies de adubação verde.
O tratamento com feijão caupi alcançou 7476 kg ha-1, seguido de C. juncea 7397 kg ha1
, C. spectabilis 7381 kg ha-1, mucuna preta 7167 kg ha-1, feijão guandú 7137 kg ha -1,
feijão de porco 6898 kg ha-1, todos eles equivalentes entre si. A testemunha 6559 kg ha -1
e o nabo forrageiro com 5654 kg ha-1 foram inferiores aos demais tratamentos.
Observações de melhoria no rendimento de espécies de gramíneas em função da
adubação verde também são observadas por outros autores na cultura do trigo
(MIRANDA, 1994; ARF et al., 1999) e na cultura do milho (CERETTA, 1994;
CARVALHO et al., 2004a), porém não significativas para a cultura do algodão e soja
61
(CARVALHO et al., 2004b CARVALHO et al., 2004c). Para a cultura do arroz irrigado
na mesma condição de várzea. Fageria & Santos (2007) observaram que a adubação
verde associada a adubação química proporcionam incrementos nos componentes da
produção quando utilizada mucuna cinza.
De acordo com analise de correlação o rendimento de grãos e a massa de
panículas tem relação direta com o teor de N, P e S foliar. O perfilhamento responde
positivamente somente ao incremento de nitrogênio, e negativamente ao cálcio. O
rendimento de grãos está diretamente associado ao perfilhamento e a massa de panícula
asssim com descrito por Fageria & Baligar (1996); Fageria et al., (2003), (Tabela 13).
Tabela 13. Correlação entre os componentes da produção e os teores de nutrientes
foliares em função das espécies de coberturas utilizada em antecessão ao cultivo do
arroz.
1
1-Rendimento
2-Perfilhamento
3-Massa de pan.
4-N folha
-
2
3
4
5
0,259* 0,281* 0,332** 0,447**
-
ns
-
0,409**
ns
0,303** 0,358**
-
6
7
8
9
ns
ns
ns
0,355**
ns
-0,046*
ns
ns
ns
ns
ns
0,367**
ns
ns
0,479**
0,439 **
ns
ns
0,453**
-
ns
0,537**
ns
-
0,399**
ns
-
ns
0,751** 0,349**
5-P folha
-
6-K folha
7-Ca folha
8-Mg folha
9-S folha
-
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste t.
O tipo de manejo e aplicação de nitrogênio também influenciaram os parâmetros
morfológicos e o rendimento de grãos, sendo que apresentaram interação significativa
somente para a altura de plantas. O plantio direto proporcionou altura de plantas 6,6 %
superior do que o plantio convencional na condição de baixo N e não apresentou
diferença estatística na condição de alto N apesar de numericamente o plantio
convencional ser 1 cm superior. O tratamento de sub-subparcela alto N apresentou
altura 8,6 % superior do que o baixo N na condição de plantio convencional e alturas
estatisticamente iguais na condição de plantio direto (Tabela 14).
62
Os demais componentes também sofreram influência em função do tipo de
manejo e/ou dose de N, porém sem interação significativa. O perfilhamento não
apresentou significância em função do tipo de manejo, porém observaram-se na média
1,0 perfilho a mais por planta no tratamento alto N em relação ao baixo N. A massa de
panículas foi 40 e 20 gramas superior no plantio direto do que no convencional na
condição de baixo N e alto N, respectivamente, e 30 e 10 gramas superior em alto N do
que em baixo N na condição de plantio convencional e direto, respectivamente (Tabela
14).
Tabela 14. Desdobramento das interações dos parâmetros morfológicos e rendimento
de grão na colheita cultura do arroz em função do tipo de manejo e nível de nitrogênio,
Lagoa da Confusão 2012.
Altura de
Plantas
-- (cm)--
Perfilhamento
nº de perfilhos
Massa de
Panícula
----- g -----
Rendimento de
Grãos
------ kg ha -1 -------
Baixo
N
Alto
N
Baixo
N
Alto
N
Baixo
N
Alto
N
Baixo
N
Alto
N
Plantio
Convenc.
59,5 bB
65,1 aA
4,0 B
4,9 A
150 bB
180 bA
5940 bB
6981 bA
Plantio Direto
63,7 aA
64,1 aA
3,8 B
4,8 A
190 aB
200 aA
7298 aB
7617 aA
C.V. manejo (%)
5,34
17,06
15,19
15,86
F manejo
7,706
1,9636 ns
28,42**
26,066 **
C.V. dose N(%)
4,96
20,38
15,26
17,35
F dose N
29,351 **
36,72 **
13,14**
10,151 **
Int. man x nitro
21,939 **
0,3439 ns
ns
2,866 ns
Médias maiúsculas na linha e minúsculas na coluna seguidas da mesma letra não
diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott a 0,01 ≤ p < 0,05.
O rendimento de grãos também foi influenciado pelo tipo de manejo e dose de N e
sem interação significância. A maior produtividade foi alcançada na combinação plantio
direto e alto N com 7617 kg ha -1 estatisticamente superior as demais combinações. O
plantio direto em baixo N atingiu 7298 kg ha -1, ou 4,3 % superior do que o plantio
convencional com alto N. O plantio convencional e baixo N apresentou média de 5940
7617 kg ha-1 e foi a menor média dentre as combinações. O melhor desempenho dos
parâmetros morfológicos e da produtividade em plantio direto do que em plantio
convencional não corrobora com Kluthcouski et al. (2000); Carvalho et al.,( 2004a),
63
Carvalho et al, (2004c) que observaram menor produtividade do milho e feijão, milho, e
soja, respectivamente, em plantio direto do que convencional. O arroz é reportado como
uma cultura altamente sensível às condições de porosidade do solo (SEGUY et al.,
1989; SEGUY & BOUZINAC, 1992) e Kluthcouski e al (2000) na condição de terras
altas definiu o arroz como uma cultura pouco adaptada ao plantio direto. No entanto a
condição de alagamento conferido ao arroz na condição de várzea pode mudar a
resposta a adaptação ao plantio direto já que a lâmina de água e a condição anaeróbica
alteram a estrutura e permeabilidade do solo (FAGERIA & SANTOS, 2003).
64
CONCLUSÕES
A utilização de adubação verde no sistema de produção de arroz irrigado na
condição de várzea tropical do estado do Tocantins traz alterações nos teores foliares de
nutrientes no arroz cultivado em sucessão bem como nas características morfológicas e
componentes da produtividade.
As espécies C. spectabilis, mucuna preta e feijão guandú são aquelas que
proporcionam maiores teores foliares de nitrogênio e fósforo ao arroz, e o sistema de
plantio direto proporciona melhores teores de nitrogênio, fósforo e potássio. O maior
teor de N-total no solo propiciado pelas espécies de adubação verde é diretamente
proporcional aos teores de nitrogênio, fósforo, e enxofre na analise de tecido do arroz, e
inversamente proporcional aos teores de cálcio e magnésio.
O manejo plantio direto é superior ao manejo plantio convencional em conferir ao
arroz maiores teores de nitrogênio, fósforo e enxofre e igualmente eficiente a adubação
de cobertura de nitrogênio mineral.
O estabelecimento da cultura do arroz, através de semeadora mecanizada,
apresenta em plantio convencional estandes superiores ou equivalentes daqueles
observados em plantio direto, porém dentro de uma faixa de compensação da cultura do
arroz.
As plantas de arroz apresentam maior altura, perfilhamento, massa de panícula e
rendimento de grãos quando cultivadas em sucessão a feijão caupí, C. juncea e C.
spectabilis apresentando produtividade, em média, 859 kg ha -1 superior do que a
testemunha. O rendimento de grãos é superior em plantio direto do que em plantio
convencional, bem como a adubação com alto nitrogênio em relação a baixo nitrogênio
mineral.
65
Capítulo III
Resposta à doses de nitrogênio, fósforo e potássio na
produtividade e nos teores foliares de macro e micro
nutrientes em arroz irrigado em várzea tropical
66
RESPOSTA À DOSES DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO NA
PRODUTIVIDADE E NOS TEORES FOLIARES DE MACRO E MICRO
NUTRIENTES EM ARROZ IRRIGADO EM VÁRZEA TROPICAL
RESUMO
Foram conduzidos três experimentos distintos para ajuste de curva de resposta a
adubação de N, P e K, na cultura do arroz irrigado em condição de várzea tropical no
Tocantins. O nitrogênio foi conduzido em somente um local, enquanto que o P e K
foram estabelecidas em dois locais distintos de fertilidade considerada alta e baixa. As
doses utilizados foram de 0, 40, 80 120,160 e 200 kg ha-1 de nitrogênio em esquema de
blocos casualizados e 4 repetições e 0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha -1 de K2O, e 0, 30, 60,
90, 120 e 150 kg ha-1 de P205, em esquema fatorial 6 x 6 em blocos casualizados de 3
repetições. Foram avaliados os teores foliares na análise de tecido, além de estande
inicial, altura de plantas, perfilhamento, fitomassa seca da parte aérea, massa de
panícula e rendimento de grãos. Foram observadas alterações nos teores foliares em
função das doses de N, P e K além de respostas quadráticas dos parâmetros produtivos
para aplicação de N. A dose máxima de N foi de 159 kg ha -1 que proporcionou
rendimento de grãos de 8640 kg ha -1. Para fósforo e potássio os parâmetros produtivos
se comportaram diferentemente nas áreas de alta e baixa fertilidade sendo a resposta ao
K mais significante de fertilidade corrigida e com resposta de rendimento de grãos com
comportamento linear e diretamente proporcional a dose de K aplicada. e a resposta ao
P mais significante na área de baixa fertilidade com dose máxima de 160 kg ha-1.
Palavras-Chave: Rendimento de grãos; Fertilidade; Adubação.
67
RESPONSE OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM RATES IN
YIELD AND FOLIAR MACRO AND MICRO NUTRIENT LEVELS ON
TROPICAL LOWLAND RICE CROP
ABSTRACT
Three separate experiments were conducted to adjust the response curve of
fertilizer N, P and K, in irrigated rice cultivation in tropical lowland condition in
Tocantins. The nitrogen test was installed in only one place and used doses of 0, 40, 80,
120, 160 and 200 kg ha-1 of N applied in pre-planting incorporated. For phosphorus and
potassium rehearsals were installed in two different places. One area was the first year
of cultivation in newly systematized lowland, and the second in an area where there
were adequate fertility levels for 4 consecutive years. It were used 0, 30, 60, 90, 120 and
150 kg ha-1 of P205 and k20 in factorial 6 x 6. Foliar analyses were undertaken of macro
and micronutrients, as well as evaluation of morphological parameters of plants’
heights, tillering, weight of panicles and grain yield. Changes were observed in plant
tissues analyses depending on treatments of N, P and K as well as quadratic responses
of productive parameters for the application of N. The maximum yield of 8640 kg ha-1
was achieved with N rate of 159 kg ha-1. For phosphorus and potassium production,
parameters behaved differently in the areas of high and low fertility levels being the
response to K the most significant in the old area with positive linear behavior and the
response to P was more significant in new areas with maximum yield achieved at rate of
160 kg ha-1.
Keywords: Grain yield; Fertility; Fertilization.
68
INTRODUÇÃO
A adubação mineral é um dos insumos mais utilizados, e com grande participação
no custo da produção, em sistemas agrícolas desenvolvidos na região dos cerrados
brasileiros. Tal fato é ocasionado pela baixa fertilidade natural dos solos da região que
necessitam de adequada correção química e aportes anuais de N, P e K para atingirem
patamares de produtividade economicamente viáveis (SILVA et al. 2001.; SOUZA et
al. 2006; VILELA et al. 2006; . No entanto a utilização da adubação mineral dever ser
feita de forma criteriosa, com doses, épocas de aplicação ajustadas, afim de
proporcionar menores riscos ambientais de contaminação de solo e água e inviabilidade
do sistema produtivo (BERTON, 1992).
O cultivo de arroz irrigado em várzea tropical na região da bacia do Araguaia
abrange aproximadamente 70 000 ha na safra 2011 (IBGE, 2011) e está inserida num
ecossistema complexo que apresenta solos hidromórficos com restrição temporária a
percolação de água, intensa pluviosidade na estação chuvosa, formação natural de
lamina de água e drenagem superficial em abundância (EMBRAPA, 2006). E que,
devido as particularidades desse ambiente de produção necessita de profundo
entendimento para o estabelecimento de uma agricultura de baixo impacto ambiental.
O arroz inundado apresenta eficiência de recuperação de N em torno de 40%, em
solo de várzea (FAGERIA & BALIGAR, 2001). Sendo assim, o comportamento da
adubação nitrogenada tona-se um fator de necessário entendimento, não somente para
aumentar a eficiência de recuperação, mas também para aumentar a produtividade da
cultura, e minimizar os riscos de poluição ambiental, bem como ajustar o custo de
produção. A eficiência de utilização de N pode ser melhorada com o uso de dose
adequada, tipo de fonte e época de aplicação apropriada (FAGERIA et al., 2003).
Para a utilização de fósforo, resultados apresentados por Fageria et al. (1997)
demonstram que a dose depende do teor do nutriente no solo, e a recomendação varia de
150 kg ha-1 para solos com níveis baixos (até 2,6 mg dm-3 de P) até 50 kg ha-1 de P205
em solos com níveis considerados altos (acima de 150 mg dm-3 de P). Para o potássio,
dados experimentais de Fageria et al. (1990) em experimento conduzido em Gleissolo
pouco húmico, os autores determinaram uma relação quadrática, em que a dose
adequada para produção máxima foi, em média, 110 kg ha-1 de K2O em 4 anos de
ensaio numa mesma condição. Porém para Borja Reis et al. (2011) não foram
observadas respostas significativas a aplicação de potássio na condição de várzea. A
69
eficiência agronômica do uso de fósforo e potássio varia entre as diferentes cultivares de
arroz, devido ao potencial produtivo de cada cultivar (Fageria, 2000) e também ao nível
de fertilidade do solo.
Dobermann et al. (1998) realizaram estudos sobre utilização de P e K em 10
locais diferentes na Ásia, entre eles Filipinas, China, Índia, Vietnã e observaram que
em apenas 7 locais houveram respostas superiores a 5 % de produtividade para
aplicação de fósforo e em 3 locais resposta superior a 5% à aplicação de potássio.
Ainda, neste estudo o intervalo de resposta ficou entre 5 a 35 kg ha-1 de P205 e entre 30
a 250 kg ha-1 de K2O.
Com a elevação da produtividade de arroz e a necessidade de sua manutenção,
resultado do nível de tecnologia adotado pelos produtores e o elevado custo dos
fertilizantes, demandas sobre o conhecimento da nutrição mineral dessa cultura
passaram a ser evidenciadas. Assim, técnicas de avaliação do estado nutricional das
mesmas passaram a constituir ferramentas potenciais para o monitoramento da oferta e
do equilíbrio entre nutrientes (GUINDANI, 2008). O uso da análise foliar como critério
de diagnóstico baseia-se na premissa de existir relação entre o suprimento de nutrientes
pelo solo e os seus níveis na planta e que aumentos ou decréscimos nas concentrações
dos nutrientes se relacionam com produções mais altas ou mais baixas, respectivamente
(EVENHUIS & WAARD, 1980).
Considerando que os resultados obtidos são diversos, deve-se assumir a premissa
que a orientação técnica sobre o manejo de adubação no arroz, nas condições
edafoclimáticas regionais, demanda conhecimentos em relação ao potencial produtivo
material genético, bem como a capacidade de resposta em função do nível de fertilidade
do solo. Portanto presente estudo teve como objetivo determinar a curva de resposta
para a dose de nitrogênio, e as curvas de fósforo e potássio em solos em condições de
alta e baixa fertilidade, além de verificar o comportamento de macro e micronutrientes
na análise foliar na cultura do arroz irrigado em várzea tropical do Tocantins.
MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram realizados na Fazenda Dois Rios, no município da Lagoa
da Confusão – TO sob as coordenadas geográficas 10°49'34.78"S e 49°54'0.33"O e 180
m de altitude durante a safra de 2011-2012. O clima na região é classificado de acordo
70
com Koppen como Awi, tropical úmido de savana com as médias da temperatura dos
meses mais frios acima de 18°C e a diferença de temperatura entre o mês mais frio e o
mês mais quente inferior a 5°C, sendo a precipitação máxima no verão e inverno seco.
O regime pluviométrico e as médias de temperatura do local estão ilustras nas Figuras 1
e 2 do capítulo 1. O solo é classificado como PLINTOSSOLO HÁPLICO (EMBRAPA
1999) com históricos de utilização distintos.
Experimento Nitrogênio:
O ensaio consistiu na utilização de 6 doses de nitrogênio 0, 40, 80, 120, 160 e 200
kg ha-1 aplicados via uréia e incorporada com grade niveladora na profundidade de 5 cm
na véspera de plantio. O experimento foi instalado em blocos inteiramente casualizados
e quatro repetições, totalizando 24 unidades experimentais de 68 m2 cada uma.
O cultivar de arroz BRS.SCS Piracema foi plantado no dia 09/12/2011 através de
semeadora mecanizada com espaçamento entre linhas de 17 cm, e consumo de semente
de 80 kg ha-1. As sementes foram tratadas com fungicida carboxina na dose de 40 g de
i.a. 100 kg de semente-1 e thiram 40 g de i.a.100 kg de semente -1. Na adubação de base
foram utilizados 90 e 80 kg ha -1, de P205 e K2O, respectivamente, conforme
recomendação Embrapa (2006). Aos 45 dias após o plantio foi estabelecida a lâmina de
água e o solo mantido saturado até a colheita. As aplicações para manejo de ervas
daninhas e doenças seguiram recomendação conforme descrito no capítulo 2.
As avaliações consistiram ma contagem de estande inicial aos 15 dias após a
emergência em 4 linhas e 4 metros em cada parcela. Aos 60 dias após a emergência fo i
realizada coleta de matéria seca da parte aérea através da coleta plantas em 1 m 2. O
material fresco colhido foi encaminhado para e secagem em estufa de circulação forçada
de ar com temperatura de 65 °C durante 72 horas até atingirem massa constante.
Aos 80 dias após a emergência foram coletadas as amostras para realização das
análises de teor de nutrientes foliares. A amostragem consistiu na coleta de 50 folhasbandeira (última folha expandida adjacente a panícula) de cada parcela. O material foi
seco em estufa de circulação de ar forçada a 75°C até atingir massa constante, e após
processados em moinho de wiley. A metodologia de análise está descrita no capitulo 2.
Aos 115 dias na ocasião da maturação fisiológica foi medida a altura de plantas do
solo até o ultimo nó da panícula e número de perfilho por planta (IRRI, 1996). Foram
determinadas também a densidade de panículas m2 . A colheita consistiu no corte de 3m2
71
centrais de cada sub-subparcela e as plantas trilhadas em caixa de trilha manual e
abanadas para retirada de impurezas. O material recolhido foi pesado em balança
eletrônica e amostras retiradas para medir o teor de umidade, sendo a massa corrigida
para 13%.
Experimento Fósforo e Potássio:
Foram considerados dois locais distintos para a instalação dos experimentos. A
primeira área consistiu-se de uma parcela de quatro anos de cultivo com 2 safras anuais
em sucessão arroz / soja irrigada e com nível de fertilidade corrigido (SOUZA, 2004). A
segunda área tratava-se uma área recém convertida de pastagem natural para tabuleiro
sistematizado, e que após a aplicações de 4 Mg ha -1 de calcário dolomítico, 3 meses
antes do plantio, apresentava os seguintes teores de nutrientes: (Tabela 15).
Tabela 15. Análise de solo das áreas antes da instalação dos ensaios de P x K, Lagoa da
Confusão 2011.
Ca
Mg
Al
K
CTC
------------------cmolc dm3-------------
P
MO
V%
pH
----- mg / kg ---- -- % -- CaCl2
Fertilidade corrigida
4,49
3,36
0,1
0,22
11,77
13
6,2
68,6
6,1
Fertilidade baixa
0,88
0,45
0,48
0,01
5,14
3,1
6,1
5,14
5
Os experimentos foram instalados em cada uma das áreas com aplicação de seis
doses de K2O (0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha -1) e seis doses de P2O5 (0, 30 60, 90, 120 e
150 kg ha-1) utilizando-se delineamento experimental em blocos ao acaso em esquema
fatorial 6x6 e três repetições, totalizando 108 unidades experimentais de 4m2. Para o
suprimento de P e K foram utilizadas as fontes de superfosfato triplo e cloreto de
potássio, respectivamente. O potássio foi aplicado incorporado um dia antes da
semeadura e o fósforo aplicado no sulco de plantio na ocasião da semeadura
transversalmente a aplicação do potássio.
O cultivar de arroz Irga 424 foi plantado nos dias 06 e 12/12/2011, na área de
fertilidade corrigida e de fertilidade baixa respectivamente, através de semeadora
72
mecanizada com espaçamento entre linhas de 17 cm, e consumo de semente de 80 kg
ha-1. As sementes foram tratadas com fungicida carboxina na dose de 40 g de i.a. 100 kg
de semente-1 e thiram 40 g de i.a.100 kg de semente -1. A adubação nitrogenada de
cobertura consistiu na aplicação de 90 kg ha -1 de N parcelado aos 20 e 35 dias após a
emergência para todos os tratamentos. Aos 45 dias após o plantio foi estabelecida a
lâmina de água a mantido o solo saturado até a colheita. As aplicações para manejo de
ervas daninhas e doenças seguiram recomendação conforme descrição no capítulo 2.
Aos 80 dias após a emergência foi coletado as amostras para realização das
analises de teor de nutrientes foliares. A amostragem consistiu na coleta de 50 folhasbandeira (última folha expandida adjacente a panícula) de cada parcela. O material foi
seco em estufa de circulação de ar forçada a 75°C até atingir massa constante, e após
processados em moinho de wiley. A metodologia de análise está descrita no cápitulo 2.
Aos 115 dias na ocasião da maturação fisiológica foi medida a altura de plantas do
solo até o ultimo nó da panícula e número de perfilho por planta (IRRI, 1996). Foram
determinadas também a densidade de panículas m2 . A colheita consistiu no corte de 3m2
centrais de cada parcela e as plantas trilhadas em caixa de trilha manual e abanadas para
retirada de impurezas. O material recolhido foi pesado em balança eletrônica e amostras
retiradas para medir o teor de umidade, sendo a massa corrigida para 13%.
Os dados referentes a todos os ensaios foram submetidos à análise de variância a
pelo teste F p < 0,1 e a determinadas as equações de regressão, através do software
ASSISTAT, versão 7,6 beta (SILVA & AZEVEDO, 2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise de concentração de nutrientes no tecido demonstrou que as doses de
nitrogênio aplicadas ao solo influenciaram significativamente, pelo teste f, os níveis de
nitrogênio e fósforo e magnésio nas folhas (Tabela 16).
73
Tabela 16. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg-1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1
) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de N (kg ha -1),
Lagoa da Confusão, 2012.
N (kg ha-1)
N
P
K
Ca
Mg
S
B
Cu
Fe
Mn
Zn
0
10,1
0,77
8,80
6,34
1,08
0,52
13,9
1,63
65,3
609
58,4
40
11,3
0,82
9,18
6,01
1,00
0,55
12,8
1,38
56,6
433
42,7
80
11,4
0,89
10,4
6,29
1,13
0,63
14,0
1,95
72,0
428
83,6
120
11,6
0,82
8,80
6,25
1,15
0,58
12,2
1,73
63,8
453
64,8
160
12,1
0,81
8,80
6,84
1,63
0,63
14,5
1,80
64,8
445
68,9
200
10,1
0,72
8,61
6,34
1,53
0,53
16,5
1,93
70,9
473
66,0
F teste
(linear)
6.48
*
3,20
*
0,56
0,57
0,80
0,82
1,70
2.24
2.04
ns
6,3
**
2,1
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste f.
No entanto as equações de regressão foram mais ajustadas e demonstraram
significância no modelo linear para o Mg e Mn, e no modelo quadrático para nitrogênio
fósforo e enxofre. As concentrações de magnésio foliar aumentaram conforme
aumentou-se a dose de nitrogênio sem atingir ponto de inflexão nas doses testadas, e a
relação do Mn foi de concentração inversamente proporcional, sendo menor quanto
maior a dose de N aplicada. Os teores de N, P e S, que tiveram comportamento
quadrático, apresentaram teores máximos nas folhas de N (11,32), P (0,87); S (0,60) g
kg-1 nas doses de 85, 89 e 82 kg ha -1 de N, respectivamente. Os nutrientes K, Ca, B, Cu,
Fe e Zn não sofreram alterações (TABELA 17).
74
Tabela 17. Relação entre dose de nitrogênio e concentração de nutrientes foliares na
cultura do arroz (n=6). Lagoa da Confusão, 2012.
Variável
Equação de Regressão
R2
Dose de N vs teor de N
Y = 10,02 + 0,034X - 0,0002X2
77,6 **
Dose de N vs teor de P
Y = 0,7662 + 0,0021X -0,00001X2
89,5 **
Dose de N vs teor de. K
Y = 8,9 + 0,0125X - 0,00007X2
44,3 ns
Dose de N vs teor de Ca
Y = 6,192 + 0,0009X + 0,000004X2
23,7 ns
Dose de N vs teor de Mg
Y = 0,9661 + 0,00283X
69,1 *
Dose de N vs teor de S
Y = 0,5101 + 0,0018X - 0,000008X2
68,1 *
Dose de N vs teor de B
Y = 14,024 - 0,0328X + 0,0002X2
76,1 ns
Dose de N vs teor de Cu
Y = 1,5438 + 0,0021X -0,0000016X2
40,8 ns
Dose de N vs teor de Fe
Y = 63,376 - 0,0047X + 0,0002X2
20,1 ns
Dose de N vs teor de Mn
Y = 586,27 - 0,8037X
47,3 *
Dose de N vs teor de Zn
Y = 52,117 + 0,2561X - 0,0009X2
24,4 ns
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste f.
Os parâmetros morfológicos de perfilhamento, altura de plantas, matéria seca da
parte aérea e rendimento de grãos sofreram influencia significante em função das doses
de nitrogênio aplicadas sendo de comportamento linear para perfilhamento e matéria
seca da parte aérea e de comportamento quadrático para alturas de plantas e
rendimentos de grãos. Estande inicial e massa de panículas não sofreram alterações
significantes (FIGURA 4). A altura de plantas máxima determinada através da equação
foi de 69 cm, e rendimento de grãos máximo de 8640 kg ha -1 quando utilizadas a dose
de 159 kg ha-1 de nitrogênio.
75
DOSE DE N (Kg ha-1)
Figura 4. Influência da adubação de nitrogênio no estande inicial (plantas m-1),
perfilhamento (perfilho planta-1), altura (cm), fitomassa seca da parte aérea (MSPA kg
ha-1), massa de panícula (g) e rendimento de grãos (kg ha-1), Lagoa da Confusão, 2012.
Vários são os trabalhos que relatam resposta da cultura do arroz a adubação de N
(FAGERIA et al., 2007; FAGERIA & BALIGAR, 2001; DE DATTA et al., 1988;
SINGH et al., 1998; KINIRY et al., 2001; FAGERIA et al., 2003; FAGERIA &
BALIGAR, 2005). Os resultados aqui apresentados corroboram com outros resultados
estabelecidos na condição de várzea como Fageria et al., (2007) que encontraram
comportamento quadrático na dose máxima de 151 kg ha-1 e produtividade de 5077 kg
ha-1 na média de 12 cultivares diferentes. Fageria e Baligar, 2001 determinaram faixa de
resposta com comportamento quadrático entre 0 a 210 kg ha -1, em três anos de
76
experimento, e Dobermann et al. (2000) conduzindo ensaios no IRRI (Filipinas)
relataram incremento de produtividade em com doses de até 150 kg ha -1 de N.
Em relação aos ensaios de P x K na área de fertilidade corrigida houve resposta
significativa a somente ao teor P foliar em função dos 36 tratamentos de acordo com o
teste F (TABELA 18), porém as curvas de regressão demonstraram significância de
resposta as doses crescentes de P nos teores de P, Ca, Mg, Fe e Mn. Os teores de P, Ca e
Mg tiverem a equação de regressão melhor ajustadas no comportamento linear sendo
diretamente proporcionais ao acréscimo das doses de P. E o teor de Mn demonstraram
comportamento quadrático apresentando as maiores concentrações no tecido de 468 mg
kg-1 na dose de fósforo de 101 kg ha-1. Já em função das doses de potássio, os teores
foliares de N, P e Zn demonstraram significância na regressão e assumindo modelo
linear sendo diretamente proporcionais para N e P e inversamente proporcionais no caso
do Zn. (TABELA 19).
Tabela 18. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg-1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1
) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de P e K (kg ha -1)
em área de fertilidade corrigida, Lagoa da Confusão, 2012.
P (kg ha-1)
N
P
K
Ca Mg
S
B
Cu
Fe
Mn Zn
0
19
1,1
7,4
5,8
0,9
0,6
9,1
4,8
51
357
23
30
18
1,0
8,0
5,9
0,9
0,5
8,8
4,7
42
417
26
60
19
1,0
6,8
5,5
0,9
0,5
8,5
4,8
47
489
25
90
18
1,1
7,4
6,0
1,0
0,6
8,8
4,8
43
461
24
120
20
1,2
6,7
6,1
1,0
0,6
8,9
4,8
46
479
26
20
1,1
7,2
6,1
1,1
0,6
8,5
4,8
55
466
25
0
17,8
1,0
7,4
5,9
0,9
0,5
8,7
4,7
47,3
430
27,4
30
18,6
1,1
7,5
6,2
1,0
0,5
9,1
5,1
51,0
458
25,6
60
19,1
1,1
6,9
5,8
0,9
0,6
8,5
4,9
53,3
461
25,5
90
19,2
1,1
6,9
5,8
1,0
0,6
9,2
4,4
42,3
460
26,0
120
20,2
1,1
7,3
5,8
1,0
0,6
8,6
4,7
43,5
445
25,3
150
-1
K (kg ha )
150
20,7 1,2
7,4 5,9 1,0 0,6 8,4 4,9 48,7 415 22,8
n
*
F teste
1.17 2.87 0.88n 1,21n 0.94n 1.29n 0,75n 1,20n 1.18n 1.53n 1.10n
s
*
s
s
s
s
s
s
s
s
s
(linear)
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste f.
77
Tabela 19. Relação entre doses de fósforo e potássio e concentração de nutrientes
foliares na cultura do arroz em área de fertilidade corrigida (n=6). Lagoa da Confusão,
2012.
Variável
Equação de Regressão
R2
Dose de P vs teor de N
Y = 18,733 + 0,0015X + 0,00005X2
51,5 ns
Dose de P vs teor de P
Y = 1,0258 + 0,0008X
31,0 *
Dose de P vs teor de. K
Y = 7,6326 - 0,0081X + 0,00003X2
26,8 ns
Dose de P vs teor de Ca
Y = 5,6901 + 0,0027X
37, 8 **
Dose de P vs teor de Mg
Y = 0,9183 + 0,0008X
75,8 *
Dose de P vs teor de S
Y = 0,5351 + 0,0003X + 0,0000003X2
21,0 ns
Dose de P vs teor de B
Y = 9,0469 - 0,0075X + 0,00003X2
45,6 ns
Dose de P vs teor de Cu
Y = 4,7936 - 0,0011X + 0,000008X2
17,3 ns
Dose de P vs teor de Fe
Y = 45,4476 - 0,0295X
11,3 ns
Dose de P vs teor de Mn
Y = 360,7 + 2,3956X - 0,0115X2
90,0 **
Dose de P vs teor de Zn
Y = 24,548 + 0,0265X - 0,0001X2
22,3 ns
Dose de K vs teor de N
Y = 17,89 + 0,0184X
96,3 **
Dose de K vs teor de P
Y = 1,0118 + 0,001X
84,5 **
Dose de K vs teor de. K
Y = 7,4936 - 0,0124X + 0,00008X2
61,2 ns
Dose de K vs teor de Ca
Y = 6,0202 - 0,0034X + 0,00002X2
17,1 ns
Dose de K vs teor de Mg
Y = 0,9657 - 0,0006X + 0,000006X2
29,3 ns
Dose de K vs teor de S
Y = 0,522 + 0,0007X - 0,000002X2
72,8 ns
Dose de K vs teor de B
Y = 8,7538 + 0,0065X - 0.00006X2
33,7 ns
Dose de K vs teor de Cu
Y = 4,8974 - 0,0048X + 0,00003X2
11,9 ns
Dose de K vs teor de Fe
Y = 49,78 - 0,0353X + 0,00006X2
11,6 ns
Dose de K vs teor de Mn
Y = 432,57 + 0,9474X -0,0071X2
98,4 ns
Dose de K vs teor de Zn
Y = 27,114 - 0,022X
70,3 *
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste f.
Os parâmetros morfológicos de perfilhamento, altura de plantas, massa de
panícula e rendimento de grãos não sofreram influencia significante em função das
doses de fósforo utilizadas. Entretanto as aplicações de potássio demonstrarão equações
de regressão ajustadas linearmente e sendo diretamente proporcionais as doses de
potássio
aplicadas.
No
entanto
o
perfilhamento
78
apresentou
comportamento
inversamente proporcional, sendo menor quanto maior foi a dose de potássio aplicada
(FIGURA 5).
Fageria (2000), trabalhando com arroz de terras altas em Latossolo no cerrado,
observou que a reposta a aplicação de potássio foi significativa em alguns cultivares e
não significativa em outros. Ele observou influencia do potássio no rendimento de
grãos, altura da planta e número de panículas, e que a eficiência de utilização depende
do material genético. A reposta da adubação ao potássio não é tão significante quanto
aquelas obtidas a outros nutrientes, e não existe resposta da cultura do arroz a adubação
em situações com teores a partir de 50 mg dm-3 de potássio na análise de solo
(FAGERIA 2006). Entretanto o teor de potássio do solo correspondente a área de alta
fertilidade é superior a 50 mg dm-3 e foram observadas respostas nesse trabalho, e da
mesma forma que Zaratin et al,. (2004) observaram influência da adubação potássica
nos componentes da produtividade e rendimento de grãos em solo de cerrado com teor
de K no solo de 0,21 cmolc dm-3.
79
DOSE DE P2O5 (Kg ha-1)
DOSE DE K2O (Kg ha-1)
Figura 5. Influência da adubação de fósforo e potássio em área de fertilidade corrigida
na altura de plantas (cm), perfilhamento (perfilho planta -1), massa de panícula (g) e
rendimento de grãos (kg ha-1) na cultura do arroz irrigado, Lagoa da Confusão, 2012.
Em relação às de P x K na área de baixa fertilidade em área recém sistematizada
houve resposta significativa aos teores de N, P, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn foliar em
função dos 36 tratamentos de acordo com o teste F (TABELA 20).
80
Tabela 20. Concentração de N, P, K, Ca, Mg e S (g kg-1) e B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg kg 1
) em folhas de arroz irrigado influenciados pelas doses de adubação de P e K (kg ha -1)
em área de baixa fertilidade, Lagoa da Confusão, 2012.
P (kg ha-1) N
P
K
Ca
Mg
S
B
Cu
Fe
Mn Zn
0
21
0,9
8,9
2,8
0,7
0,7
19,0
6,6
45
110
20
30
22
1,2
9,6
4,2
1,0
0,7
23,5
7,4
51
270
19
60
24
1,4
9,7
4,5
1,4
0,8
24,8
7,9
50
397
22
90
24
1,4
7,9
4,7
1,3
0,7
20,2
7,6
59
400
19
120
25
1,6
8,1
4,9
1,5
0,7
24,1
7,3
57
496
21
150
K (kg
ha-1)
0
30
25
1,7
7,8
5,4
1,5
0,7
22,2
7,3
59
501
21
24
24
1,3
1,3
9,0
8,8
4,4
4,3
1,3
1,2
0,7
0,7
23,2
22,6
7,4
7,4
54
54
316
366
20
20
60
23
1,3
7,9
4,5
1,3
0,7
23,5
7,5
53
376
21
90
24
1,4
8,6
4,5
1,2
0,7
21,0
7,3
56
384
20
120
24
1,3
8,8
4,3
1,2
0,7
21,5
7,2
51
382
20
150
23
1,4
8,1
4,5
1,3
0,7 22,0 7,4
54
350
21
F teste 2,99* 13,5*
13,7* 8.62* 2.20*
2.38* 1.51
2.33
1,47ns
0.90ns
7.47**
ns
*
*
*
*
*
*
**
(linear)
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste f.
As equações de regressão somente demonstraram significância para as doses de
fósforo, demonstrando comportamento linear e diretamente proporcional pra os teores
foliares de nitrogênio e comportamento quadrático positivo para P, Ca, Mg, Cu, Fe e
Mn. Os teores de nenhum nutriente demonstram resposta para as doses de potássio. A
concentração máxima de P, Ca, Mg, Cu, Fe, e Mn foram de 1,84, 5,31, 1,58 g kg -1 8,3,
58,8 e 498 mg kg-1 respectivamente, quando aplicadas as doses de 215, 152, 146, 125,
166, 146 kg ha-1 de fósforo (TABELA 21).
81
Tabela 21. Relação entre doses de fósforo e potássio e concentração de nutrientes
foliares na cultura do arroz em área de baixa fertilidade (n=6). Lagoa da Confusão,
2012.
R2
Variável
Equação de Regressão
Dose de P vs teor de N
Y = 21,596 + 0,0246X
92,1**
Dose de P vs teor de P
Y = 0,9194 + 0,0086X - 0,00002X2
95,7**
Dose de P vs teor de. K
Y = 9,2537 + 0,002X - 0,00009X2
59,5ns
Dose de P vs teor de Ca
Y = 2,9865 + 0,0305X - 0,0001X2
92,7**
Dose de P vs teor de Mg
Y = 0,7275 + 0,0117X - 0,00004X2
92,2**
Dose de P vs teor de S
Y = 0,6702 + 0,0009X - 0,000004X2
21,2ns
Dose de P vs teor de B
Y = 20,117 + 0,0752X - 0,0004X2
29,8ns
Dose de P vs teor de Cu
Y = 6,6851 + 0,0252X - 0,0001X2
80,9**
Dose de P vs teor de Fe
Y = 45,093 + 0,1659X - 0,0005X2
88,1**
Dose de P vs teor de Mn
Y = 120,95 + 5,1719X - 0,0177X2
97,3**
Dose de P vs teor de Zn
Y = 19,226 + 0,0174X - 0,00005X2
16,7 ns
Dose de K vs teor de N
Y = 23,531 + 0,001X - 0,00002X2
19,2ns
Dose de K vs teor de P
Y = 1,3251 - 0,0001X + 0,000005X2
72,8ns
Dose de K vs teor de. K
Y = 8,8778 - 0,0089X + 0,00004X2
24,8ns
Dose de K vs teor de Ca
Y = 4,3375 + 0,0016X – 0,000007X2
13,8ns
Dose de K vs teor de Mg
Y = 1,2932 - 0,0012X + 0,000006X2
60,1ns
Dose de K vs teor de S
Y = 0,7412 - 0,0008X + 0,000004X2
73,8ns
Dose de K vs teor de B
Y = 23,349 - 0,0228X + 0,00008X2
43,7ns
Dose de K vs teor de Cu
Y = 7,3915 - 0,001X + 0,000004X2
6,32ns
Dose de K vs teor de Fe
Y = 54,03 - 0,0013X - 0,00005X2
10,3ns
Dose de K vs teor de Mn
Y = 318,81 + 1,5942X - 0,0092X2
Dose de K vs teor de Zn
Y = 19,997 + 0,0014X + 0,0000004X
96,2*
2
*,** e ns. Significativo a 1%, 5% de probabilidade e não significativo pelo teste f.
82
2,95ns
Os parâmetros morfológicos de perfilhamento, altura de plantas, massa de
panícula e rendimento de grão sofreram influencia significativa em função das doses de
fósforo utilizadas, entretanto não demonstraram nenhuma relação significante em
função das doses de potássio. Para todos os parâmetros avaliados as regressões se
ajustaram com maior adequação nos modelos quadráticos. A altura de plantas atingiu
altura máxima de 64 cm quando na dose de 146 kg ha -1, o perfilhamento foi máximo
2,12 perfilhos planta-1 na dose de 172 kg ha-1 de fósforo, a massa de panícula 2 g na
dose de 121 kg ha-1 e o rendimento de grãos máximo foi de 6757 kg ha -1 na dose de 162
kg ha-1 de fósforo.
A resposta do arroz a adubação de fósforo em condição de várzea é amplamente
descrita na literatura. (PATELLA, 1976; FAGERIA (1980; 1989; 1999); FAGERIA &
BALIGAR, 1996; FAGERIA & ZIMMERMANN, 1996, FAGERIA et al., 2000,
BORJA REIS et. al, 2011). A produtividade relativa do arroz é de 90% do potencial
produtivo quando o nível crítico de fósforo no solo é de 15 mg dm-3 e não há resposta a
aplicação de adubação de fosfatada (BEEGLE et al, 1998). Para Fagera & Baligar 1997,
na condição de várzea o arroz não apresenta incremento de produtividade quando o
nível de P no solo é superior a 13 15 mg dm-3. Ambos os trabalhos corroboram com os
resultados aqui apresentados já que a resposta a aplicação adubação fosfatada não foi
significativa em solo com nível de P de 13 mg dm-3 e foi significativa em solo com P de
6 mg dm-3.
83
DOSE DE P2O5 (Kg ha-1)
DOSE DE K2O (Kg ha-1)
FIGURA 6. Influência da adubação de fósforo e potássio em área de baixa fertilidade
na altura de plantas (cm), perfilhamento (perfilho planta -1), massa de panícula (g) e
rendimento de grãos (kg ha-1) na cultura do arroz irrigado, Lagoa da Confusão, 2012.
84
CONCLUSÕES
O fornecimento de nitrogênio em pré-plantio proporciona incremento nos
parâmetros morfológicos de perfilhamento, matéria seca da parte aérea, altura de plantas
e rendimentos de grãos. A melhor dose de N ajustada na equação de regressão é de 159
kg ha-1 que proporcionou rendimento máximo de 8640 kg ha-1. A adubação nitrogenada
interfere nos teores foliares de nitrogênio, fósforo, magnésio, enxofre, e manganês.
A adubação de fósforo obtém respostas significativas somente em área de
fertilidade baixa, havendo resposta nos teores foliares de N, P. Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, e
incremento na altura de plantas, perfilhamento, e rendimento de grãos. A melhor dose
de P ajustada na regressão é de 160 kg ha-1 que proporcionou rendimento máximo 6757
kg ha-1. Não há resposta significativa a adubação de fósforo na área de fertilidade
corrigida.
A adubação de potássio proporciona respostas somente nas áreas de fertilidade
corrigida, com influência nos teores foliares de N, P e Zn. Há incremento na massa de
panícula e rendimento de grãos em comportamento linear e diretamente proporcional a
dose aplicada.
85
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
AITA, C.; GIACOMINI, S. J.; HÜBNER, A. P.; CHIAPINOTTO, I. C.; FRIES M. R.
Consorciação de plantas de cobertura antecedendo o milho em plantio direto i dinâmica do nitrogênio no solo. R. Bras. Ci. Solo, 28:739-749, 2004.
ALCÂNTARA, F. A.; FURTINI NETO, A. E.; PAULA, M. B.; MESQUITA, H. A.
MUNIZ, J. A. Adubação verde na recuperação da fertilidade de um Latossolo
Vermelho-Escuro degradado. Pesq. Agropec. Bras, 35:277-288, 2000.
ALVARENGA, R.C.; COSTA, L.M.; MOURA FILHO, W.; REGAZZI, A.J.
Características de alguns adubos verdes de interesse para a conservação e recuperação
de solos. Pesq. Agropec. Bras., 30:175-185, 1995.
AMABILE, R. F., FANCELLI, A. L., CARVALHO, A. M. Comportamento de espécies
de adubos verdes em diferentes épocas de semeadura e espaçamentos na região dos
Cerrados. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.35, n.1, p.47-54, jan. 2000
AMADO, T. J. C.; MIELNICZUK, J.; AITA, C. Recomendação de adubação
nitrogenada para o milho no RS e SC adaptada ao uso de culturas de cobertura do solo,
sob sistema sob de plantio direto. R. Bras. Ci. Solo, 26:241-248, 2002.
ARAÚJO, J.B.; CARNEIRO, R.G. Planicie do Araguaia, reconhecimento geológicogeofísico. Belem: Petrobrás/RENOR, 1977. 11p. (reconhecimento técnico)
ARF, O. Efeitos de densidade populacional e adubação nitrogenada sobre o
comportamento de cultivares de arroz irrigado por aspersão. 1993. 63p. Tese (Livre
Docência) - Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira.
ARF, O.; SILVA, L. S.; BUZETTI, S.; ALVES, M. C.; SÁ, M.E; RODRIGUES, R. A.
F.; HERNANDEZ, F. B. T. Efeitos na cultura do trigo da rotação com milho e adubos
verdes, na presença e na ausência de adubação nitrogenada. Bragantia, Campinas,
58(2):323-334, 1999.
86
ARGENTON J.;
ALBUQUERQUE,
J.
A.;
BAYER,
C.;
WILDNER,
L.P.
Comportamento de atributos relacionados com a forma da estrutura de Latossolo
Vermelho sob sistemas de preparo e plantas de cobertura. R. Bras. Ci. Solo, 29:425-435,
2005.
AYOUB, A. T. Fertilizer and the environment. Nutrient Cycling and Agroecosystems
55: 117-121, 1999.
BALIGAR, V. C.; Fageria, N. K. Agronomy and Physiology of Tropical Cover Crops.
Journal of Plant Nutrition, 30: 1287-1339, 2007
BAUDER, J. W.; RANDAL, G. W.; SWAN, J. B. Effect of four continuous tillage
system on mechanical impedance of a clay loam soil. Soi Sci. Soc. Am. J., 45:802-806,
1981.
BEEGLE, D.; SHARPLEY, A.; GRAETZ, D. Interpreting soil test phosphorus for
environmental purposes. In: THOMAS, J. (Ed.). Soil testing for phosphorus:
environmental uses and implications. Newark: University of Delaware, 1998. P. 31-40
BERTON, R. S. Fertilizantes e poluição. In: Reunião brasileira de fertilidade do solo e
nutrição de plantas. 20., 1992, Piracicaba. Anais...Piracicaba: SBCS, 1992. P. 299-313.
BODDEY, R. M.; SÁ, J. C. D. M.; ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S. The contribution
of biological nitrogen fixation for sustainable agricultural systems in the tropics. Soil
Biology and Biochemistry, v.29, p.787-799, 1997.
BORGES, A. L.; SOUZA, L. S. Atributos físicos de um argissolo de tabuleiro costeiro
sob Manejo com coberturas vivas. In: Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 33.
Uberlandia-MG, 2011. CD ROM.
BORJA REIS, F. A.; CHAGAS JUNIOR, A. F.; COSTA, V. P.; OLIVEIRA, A. G.
Doses de fósforo e potássio na produtividade do arroz irrigado no Tocantins. In:
Congresso Brasileiro de ciência do solo, 33. Uberlândia 2011, Anais... Uberlândia:
CBCS, 2011. (CD-ROM).
87
BORJA REIS, F. A.; CONGIO, G. F. S.; CHAGAS JUNIOR, A. F.; BENÍCIO, L. P. F.
Efeito da densidade de semeadura em parâmetros produtivos de arroz irrigado no
Tocantins. In: Congresso brasileiro de arroz irrigado, 7. Balneário Comburiú 2011,
Anais...SOSBAI, EPAGRI, 2011. p.279-282
BORJA REIS, F. A.; FAGERIA, K. N.; TAVARES, T. N.; CHAGAS JUNIOR, F. A.
Lowland rice response to phosphate fertilization in tropical acid soil. In: International
Symposium of plant-soil interaction on low pH, 8. Bangalore - India 2012,
Anais…India Society of Soil Science, 2012.
BRASIL,
Ministério
de
Minas
e
Energia.
Secretaria
Geral.
PROJETO
RADAMBRASIL. Folha SC.22. Tocantins: Geologia, geomorfologia, pedologia,
vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro: 1981. 524p.
BRODER, M. W.; WAGNER, G. H. Microbial colonization and decomposition of corn,
wheat and soybean residue. Soil Science Society of America Journal 52: 112-117. 1988
CALEGARI, A. Espécies para cobertura de solo. In: DAROLT, M.R. (Coord.). Plantio
direto: pequena propriedade sustentável. Londrina: Iapar, 1998. p.65-94. (Circular, 101).
CALEGARI, A.; MONDARDO, A.; BULISANI, E. A.; WILDNER, L. P.; COSTA, M.
B. B. da; ALCÂNTARA, P. B.; MIYASAKA, S.; AMADO, J.T. Aspectos gerais da
adubação verde. In: COSTA, M. B. B. da. (Coord.). Adubação verde no sul do Brasil.
2.ed. Rio de Janeiro : AS-PTA, 1993. 346p
CARNEIRO, M. A. C.; CORDEIRO, M. A. S.; ASSIS, P. C. R.; MORAES. E. S.;
PEREIRA, H. S.; PAULINO, H. B.; SOUZA, E, D. Produção de fitomassa e atividade
microbiana de solo de cerrado. Bragantia, Campinas, v.67, n.2, p.455-462, 2008
CARTER, M. R. Soil quality for sustainable land management: Organic matter and
aggregation interactions that maintain soil functions. Agronomy Journal 94:38-47.
2002.
88
CARVALHO, M. A. C.; SORATTO, R. P.; ATHAYDE, M. L. F.; ARF, O.; SÁ, M. E.
Produtividade do milho em sucessão a adubos verdes no sistema de plantio direto e
convencional Pesq. agropec. bras., Brasília, v.39, n.1, p.47-53, jan. 2004a.
CARVALHO, M. A. C; ATHAYDE, M. L. F.; SORATTO, R. P.; ALVES, M. C.; ARF,
O. Soja em sucessão a adubos verdes no sistema de plantio direto e convencional em
solo de Cerrado. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.39, n.11, p.1141-1148, nov. 2004c.
CARVALHO, M. A. C; ATHAYDE, M. L. F.; SORATTO, R. P.; ALVES, M. C.; SÁ,
M. E. Adubação verde e sistemas de manejo do solo na produtividade do algodoeiro.
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.39, n.12, p.1205-1211, dez. 2004b.
CAZETTA, D. A.; ARF, O.; BUZETTI, S.; SÁ, M.E; RODRIGUES, R. A. F.
Desempenho do arroz de terras altas com a aplicação de doses de nitrogênio e em
sucessão às culturas de cobertura do solo em sistema de plantio direto. Bragantia,
Campinas, v.67, n.2, p.471-479, 2008
CERETTA, C. A.; AITA, C.; BRAIDA, J. A.; PAVINATO, A.; SALET, R. L.
Fornecimento de nitrogênio por leguminosas para o milho em sucessão nos sistema de
cultivo mínimo e convencional. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.18, p.215-220,
1994.
CHRISTOFIDIS, D. Irrigação, a fronteira hídrica na produção de alimentos. Irrigação &
tecnologia moderna, Brasília, n.54, p. 46-55, 2002
CINTRA, F .L. D.; MIELNICZUK, J.; SCOPEL, I. Caracterização do impedimento
mecânico em um Latossolo Roxo do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Ciência
do Solo, Campinas, v.7, p.323-327, 1983.
CLEMENT, A.; LADHA, J. K.; CHALIFOUR, F. P. Nitrogen dynamics of various
green manure species and the relationship to lowland rice production. Agronomy
Journal 90: 149-154. 1998.
89
COELHO, M. R.; SANTOS, H. G.; OLIVEIRA, R. P.; MORAES, J. F. V. Solos. In:
SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIERA, N. R. A. A Cultura do Arroz no Brasil. Santo
Antônio de Goiás, Embrapa. 2006. p. 161-208.
CRUSCIOL, C. A. C.; COTTICA, R. L; LIMA, E. V.; ANDREOTTI, M.; MORO, E.;
MARCON E. Persistência de palhada e liberação de nutrientes do nabo forrageiro no
plantio direto. Pesq. agropec. bras., Brasília, v.40, n.2, p.161-168, fev. 2005
DE DATTA, S. K.; BURESH, R. J.; SAMSON, M. I.; KAI-RONG, W. Nitrogen use
efficiency and nitrogen-15 balance in broadcastseeded flooded and transplanted rice.
Soil Science Society of America Journal, v.52, p.849-855, 1988.
DE DATTA, S. K.; BURESH, R. J.; SAMSON, M. I.; OBCEMEA, W. N.; REAL, J. G.
Direct measurement of ammonia and denitrification fluxes from urea applied to rice.
Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 55, n. 2, p. 543-548, 1991.
DERPSCH, R.; CALEGARI, A. Plantas para adubação verde de inverno. Londrina:
Iapar, 1992. 80p. (Circular, 73).
DIAS Jr.; M. S.; PIERCE, F. J. O processo de compactação do solo e sua modelagem.
Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.20, p.175-182, 1996
DOBERMANN, A.; CASSMAN, K. G.; MAMARIL, C. P.; SHEEHY, J. E.
Management of phosphorus, potassium and sulfur in intensive, irrigated lowland rice.
Field Crop Res., 56:113-138, 1998.
DOBERMANN, A.; DAWE, D.; ROETTER, R. P.; CASSMAN, K. G. Reversal of rice
yield decline in a long-term continuous cropping experiment. Agronomy Journal, v.92,
p.633-643, 2000.
DRINKWATER, L. E.; WAGONER P.; SARRANTONIO, M.; Legume based cropping
systems have reduced carbon and nitrogen losses. Nature 396:262- 265. 1998.
90
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Centro
Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de análises de solo. Rio de Janeiro,
1997. 212p. (EMBRAPA-CNPS, 1)
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Centro
Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Brasília,
Serviço de Produção de Informação, 1999. 412p.
ERWIN, J. E.; WARNER, R. M.; SMITH, A. G. Vernalization, photoperiod and GA3
interact to affect flowering of Japanese radish (Raphanus sativus). Physiologia
Plantarum Volume 115, Issue 2, pages 298-302, June 2002
EVENHUIS, B.; WAARD, P. W. F. Principles and practices in plant analysis. In: FAO.
Soils. Rome, 1980. p.152-163. (FAO Bulletin, 38/1)
FAGERIA, N .K.; STONE, L. F. Manejo do nitrogênio. In: FAGERIA, N.K.; STONE,
L.F.; SANTOS, A.B. dos. Manejo da fertilidade do solo para o arroz irrigado. Santo
Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. p.51-94.
FAGERIA, N. K. Adubação e Calagem. In: SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIERA,
N. R. A. A Cultura do Arroz no Brasil. Santo Antônio de Goiás, Embrapa. 2006. p.425450.
FAGERIA, N. K. Eficiência do uso de potássio pelos genótipos de arroz de terras altas.
Pesq. Agropec. Bras., 35:2115-2120, 2000.
FAGERIA, N. K. Influência da aplicação de fósforo no crescimento, produção e
absorção de nutrientes do arroz irrigado. Revista Brasileira de Ciência do Solo,
Campinas, v. 4, n. 1, p. 22-31, jan./abr. 1980.
FAGERIA, N. K. Soil quality versus environmentally based agricultural management
practices. Communications in Soil Science and Plant Analysis 33:2301-2329, 2002.
91
FAGERIA, N. K. Solos tropicais e aspectos fisiológicos das culturas. Brasília:
Embrapa-DPU, 1989. 425 p. (Embrapa-CNPAF. Documentos 18)
FAGERIA, N. K.; AIDAR, H.; BARBOSA FILHO, M. P. Solos de várzea. In: AIDAR,
H.; KLUTHCOUSKI, J.; STONE, L. F. Produção do feijoeiro comum em várzeas
tropicais. Santo Antônio de Goais : Embrapa Arroz e Feijão, 2002. 305p
FAGERIA, N. K.; BALIGAR, V. C. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants.
Advances in Agronomy, v.88, p.97-185, 2005.
FAGERIA, N. K.; BALIGAR, V. C. Lowland rice response to nitrogen fertilization.
Communications in Soil Science and Plant Analysis, v.32, p.1405-1429, 2001.
FAGERIA, N. K.; BALIGAR, V. C. Response of lowland rice and common bean grown
in rotation to soil fertility levels on an area soil. Fertilizer Research, Dordrecht, v.45,
p.13-20, 1996.
FAGERIA, N. K.; BALIGAR, V. C. Role of cover crops in improving soil and row crop
productivity. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36: 2733-2757, 2005.
FAGERIA, N. K.; BALIGAR, V. C.; BAILEY, B. A. Role of cover crops in improving
soil and row crop productivity. Communications in Soil Science and Plant Analysis
36:2733-2757. 2005
FAGERIA, N. K.; BALIGAR, V. C.; WRIGHT, R. J.; CARVALHO, J. R. P. Lowland
rice response to potassium fertilization and its effects on N an P uptake. Fertil. Res.,
21:157-162, 1990.
FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B. Classificação e atributos físicos e químicos dos
solos de várzea. In: FAGERIA, N. K.; STONE, F. L.; SANTOS, B. A. Manejo da
fertilidade do solo para arroz irrigado. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e
Feijão, 2003. 250p.
92
FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B. Resposta do arroz irrigado à adubação verde e
química no Estado de Tocantins R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.11, n.4, p.387-392,
2007.
FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B.; BALIGAR, V. C. Phosphorus soil test calibration
for lowland Rice on an Inceptisol. Agronomy Journal, Madison, v. 89, n. 5, p. 737-742,
sept./oct. 1997.
FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B.; CUTRIM, V. A. Produtividade de arroz irrigado e
eficiência de uso do nitrogênio influenciadas pela fertilização nitrogenada. Pesq.
agropec. bras., Brasília, v.42, n.7, p.1029-1034, jul. 2007
FAGERIA, N. K.; SANTOS, A. B.; ZIMMERMANN, F. J. P. Resposta do arroz
irrigado à adubação residuale os níveis de adubação em solo de várzea. Revista
Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, v. 4, n. 2, p.177-182,
maio/ago. 2000.
FAGERIA, N. K.; SLATON, N. A.; BALIGAR, V. C. Nutrient management for
improving lowland rice productivity and sustainability. Advances in Agronomy, v.80,
p.63-152, 2003.
FAGERIA, N. K.; SOUZA, N. P. Resposta das culturas de arroz e feijão em sucessão a
adubação em solo de cerrado. Pesq. Agropec. Brás., Brasília, v.30, n.3, p.359-368, mar.
1995
FAGERIA, N. K.; STONE, L. F.; SANTOS, A. B. Manejo da fertilidade do solo para o
arroz irrigado. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2003. 250p.
FAGERIA, N. K.; ZIMMERMANN, F. J. P. Reposta de arroz irrigado à adubação em
solos de várzea. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 31, n. 6, p. 463-466, jun
1996.
93
FANCELLI, A. L.; FAVARIN, J. L. Realidade e perspectivas para o sistema de plantio
direto no Estado de São Paulo. In: FANCELLI, A. L. (Coord.) Plantio direto no Estado
de São Paulo. Piracicaba : FEALQ/ESALQ, 1989a. p.15-34.
FARACO, M. T. L., MARINHO, P. A. C., VALE, A. G., COSTA, J. S., FERREIRA,
A. L., VALENTE, C. R., LACERDA FILHO, J. V., MORETON, L. C., CAMARGO,
L. C., CAMARGO, M. A., FRASCA, A. A., RIBEIRO, P. S. E., VASCONCELOS, A.
M., OLIVEIRA, M., OLIVEIRA, I. W. B., ABREU FILHO, W., GOMES, I. P. Folha
SC.22-Tocantins. In: SCHOBBENHAUS, C., GONÇALVES, J. H., SANTOS, J. O. S.,
ABRAM, M. B., LEÃO NETO, R. MATOS,.G.M. M., VIDOTTI, R. M., RAMOS, M.
A. B., JESUS, J. D. A. (eds.). Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de
Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil. CPRM, 2004. Brasília. CDRom.
GARCIA, R. A.; ROSOLEM, C. A. crescimento radicular de plantas de cobertura e da
soja em sucessão no sistema de semeadura direta. In: Resumos da XXXII Reunião de
Pesquisa de Soja da Região Central do Brasil - São Pedro, SP, agosto de 2011.
GHOBRIAL, G. I. Response of irrigated dry seeded rice to nitrogen level, interrow
spacing, and seeding rate in a semiarid environment. International Rice Research
Newsletter, Manila, v. 8, n. 4, p. 27-28, 1983.
GIL, J. L.; FICK, W. H. Soil nitrogen mineralization in mixtures of eastern gamagrass
with alfalfa and red clover. Agronomy Journal 93: 902- 910. 2001.
GUINDANI, R. H. P.; ANGHINONI, I.; NACHTIGALL, G. R. DRIS na avaliação do
estado nutricional do arroz irrigado por inundação. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa , v.
33, n. 1, Feb. 2009.
HERNANI, L. C.; ENDRES, V. C.; PITOL, C.; SANTON, J. C. Adubos verdes de
outono/inverno no Mato Grosso do Sul. Dourados: Embrapa-CPAO, 1995. 93p.
94
HERRERA, W. T.; GARRITY, D. P.; VEJPAS, C. Management of Sesbania rostrata
green manure crops grown prior to rainfed lowland rice on sandy soils Field Crops
Research 49 (1997) 259-268
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção agrícola municipal:
culturas temporárias e permanentes. 1. ed. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de
Geografia e estatística, 2011. v. 38, p.1-97.
IRRI - INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE. Standard evaluation
system for rice. Genetic Resources Center. Manilla, 1996. 56p.
JACKSON, M. B. Ethylene and responses of plants to soil water logging and
submergence. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, Palo
Alto, v. 36, p. 145-174, 1985.
KEMPERS, A.J.; ZWEERS, A. Ammonium determination in soil extracts by salicylate
method. Comm. Soil Sci. Plant Anal., 17:715-723, 1986.
KINIRY, J. R.; McCAULEY, G.; XIE, Y.; ARNOLD, J. G. Rice parameters describing
crop performance of four U.S. cultivars. Agronomy Journal, v.93, p.1354-1361, 2001.
KITAMURA, A. E.; ALVES, M. C.; SUZUKI, L. G. A. S.; GONZALEZ, A. P.
Recuperação de um solo degradado com a aplicação de adubos verdes e lodo de esgoto.
R. Bras. Ci. Solo, 32:405-416, 2008
KLEIN, V. A. Densidade relativa - Um indicador da qualidade física de um Latossolo
Vermelho. R. Ci. Agron., 5:26-32, 2006.
KLUTHCOUSKI, J.; FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D.; RIBEIRO, C. M.;
FERRARO, L. A. Manejo do solo e o rendimento de soja, milho, feijão e arroz em
plantio direto. Sci. agric. vol.57 n.1 Piracicaba Jan./Mar. 2000.
KOPPEN, W. Climatologia. Buenos Aires: Fondo de Cultura, P. 152-192, 1948.
95
LAL, R. Soil surface management in the tropics for intensive land use and high and
sustained production. Advances in Soil Sciences, v.5, p.1-109, 1986.
LIMA, S. O.; BENÍCIO, L. P. F.; BORJA REIS, A. F.; OLIVEIRA, A. G. Change in
physical properties of cerrado oxisol under croplivestock Integration in the state of
Tocantins, Brazil. Gl. Sci. Technol., v. 04, n. 03, p.01 - 10, set/dez. 2011.
LOPES, S. I. G.; LOPES, M. S.; MACEDO, V. R. M. Curva de resposta à aplicação de
nitrogênio para quatro genótipos de arroz irrigado. Lavoura Arrozeira, v.49, p.3-6, 1996.
MALAVOLTA, E. ABC da análise de solos e folhas. São Paulo: Ed. Agronômica
Ceres, 1992. 124 p.
MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição mineral de plantas. São Paulo : Agronômica
Ceres, 1980. 251p
MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional
das plantas: princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 319p.
MANDAL, U. K.; SINGH, G.; VICTOR, U.S.; SHARMA K.L. Green manuring: its
effect on soil properties and crop growth under rice-wheat cropping system. European
Journal of Agronomy, Volume 19, Issue 2, May 2003, Pages 225-237
MARCOLAN, A. L.; ANGHINONI, I.; FRAGA, T. I.; LEITE, J. G. D. B. Recuperação
de atributos físicos de um argissolo em função do seu revolvimento e do tempo de
semeadura direta. R. Bras. Ci. Solo, 31:571-579, 2007.
MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. San Diego: Academic, 1995. 889
p.
MARY, B. Interactions between decomposition of plant residues and nitrogen cycling
in soil. Plant and Soil, The Hague, v. 181, n.1, p. 71-82, 1996.
96
MCLAREN, R. G.; CAMERON, K. C. Soil science: sustainable production and
environmental protection. 2. ed. Auckland: Oxford University Press, 1996. 304 p.
MEREDITH, H. L.; PATRICK Jr., W. H. Effects of soil compaction on subsoil root
penetration and physical properties of three soils in Louisiana. Agronomy Journal,
Madison, v.53, p.163- 167, 1961.
MILLER, B. C.; HILL, J. E.; ROBERTS, S.R. Plant populations effects on growth and
yield in water-seeded rice. Agronony journal, Madison, v. 83, n.2, p.243-252, Aug.
1996.
MIRANDA, G.M. Trigo nacional: do protecionismo ao Mercosul. Londrina, IAPAR,
1994. 24p. (IAPAR. Documento,v17).
MIYASAKA. S.; CAMARGO, O. A.; CAVALEN, P. A; GODOY, I. J.; WERNER, J.
C.; CURI, S. M. Adubação orgânica. adubação verde e rotação de culturas no Estado de
São Paulo. Campinas. Brazil. Fundação Cargill. 138 pp. (1983)
MÜLLER, M. M. L.; CECCON, G.; ROSOLEM C. A.; influência da compactação do
solo em subsuperfície sobre o crescimento aéreo e radicular de plantas de adubação
verde de inverno R. Bras. Ci. Solo, 25:531-538, 2001
NASCIMENTO, J. T. Efeito de leguminosas nas características químicas e matéria
orgânica de um solo degradado. Rev. bras. eng. agríc. ambient., Campina Grande, v. 7,
n. 3, Dec. 2003
NEIL, L. J., BIBLE, B. Effect of soil type and daylength on the levels of
isothiocyanates in the hypocotyl-root region of Raphanus sativus.
Journal of the
Science of Food and Agriculture. Volume 24, Issue 10, pages 1251-1254
OLIVEIRA, S. A. Análise foliar. In: SOUSA, D. M. G. de; LOBATO, E. (Ed.).
Cerrado: Correção do solo e adubação. 2.ed. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica, 2004. p.245-256.
97
PATELLA, J. F. Arroz em solos inundados: uso adequado de fertilizantes. São Paulo:
Nobel, 1976. 96 p.
PEREIRA, J. A.; GUERRA, J. G. M.; MOREIRA, V. F.; TEIXEIRA, M. G.;
URQUIAGA, S.; POLIDORO, J. C.; ESPÍNDOLA, J. A. A. Desempenho Agronômico
de Crotalária juncea em diferentes Arranjos Populacionais e Épocas do Ano.
Comunicado Técnico 82 (ISSN 1517-8862). Ed. Embrapa Agrobiologia, Seropédica-RJ,
2005. 4p.
PEREIRA, J. Adubação com mucuna-preta em solos de cerrados. Planaltina : EmbrapaCPAC, 1982. 3p. (Embrapa-CPAC. Comunicado técnico, 15).
PEREIRA, J. Avaliação de características agronômicas de leguminosas adubos verdes
no Cerrado. Planaltina : Embrapa-CPAC, 1988. 12p. Projeto de pesquisa.
POUDEL, D. D.; HORWATH, W. R.; LANINI, W. T. Comparison of soil N
availability and leaching potential, crop yields and weeds in organic, low-input and
conventional farming systems in northern California. Agriculture Ecosystems and
Environment, Amsterdam, v. 90, p. 125-137, 2002.
PURSEGLOVE, J.W. Crotalaria juncea L. In: PURSEGLOVE, J . W. Tropical crops:
dicotyledons. London : Longman, 1968. v.1, p.250-254.
RAIJ, B. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres, 1991. 343p.
RAIJ, B.; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J. A.; FURLANI, A. M. C. Recomendações
de adubação e calagem para o estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agronômico,
1996. 285 p. (IAC. Boletim Técnico,100).
RASMUSSEN, P .E.; COLLINS, H. P. Long-term impacts of tillage, fertilizer and crop
residue on soil organic matter in temperate semiarid regions. Adv. Agron., 45:93-134,
1991.
98
REICHERT, J. M.; REINERT, D. J.; BRAIDA, J. A. Qualidade dos solos e
sustentabilidade de sistemas agrícolas. Ci. Amb., 27:29-48, 2003.
REINERT, D. J.; ALBUQUERQUE, J. A.; REICHERT, J. M.; AITA, C.; ANDRADA,
M. M. C. Limites críticos de densidade do solo para O crescimento de raízes de plantas
de Cobertura em argissolo vermelho. R. Bras. Ci. Solo, 32:1805-1816, 2008.
RIBEIRO, G. A. Efeito de períodos de incubação de adubos verdes (mucuna e puerária)
na liberação de nitrogênio (15N) e enxofre (35S) para o arroz. Piracicaba : ESALQ,
1996. 82p. Dissertação de Mestrado
ROSECRANCE, R. C. Denitrification and N mineralization from hairy vetch (Vicia
villosa Roth) and rye (Secale cereale L.) cover crop monocultures and bicultures. Plant
and Soil, The Hague, v. 227, p. 283-290, 2000.
SABADIN, H. C. Adubação verde. Lavoura Arrozeira, v.37, n.354, p.19-26, 1984.
SAMINÊZ, T. C. O.; VIDAL, M. C..; RESENDE, F. V. Comportamento de espécies de
adubos verdes sob sistema orgânico de produção no período de inverno do distrito
federal. Rev. Bras. Agroecologia, v.2, n.1, fev. 2007
SANTOS, A. B. Aproveitamento da soca. In VIEIRA, N. R. de A.; SANTOS, A. B.
dos; SANT'ANA, E. P. (Ed.) A cultura do arroz no Brasil. Santo Antônio de Goiás:
Embrapa Arroz e Feijão, 1999. P. 463-492
SARRUGE, J. R.; HAAG, H.P. Analises Químicas em Plantas. Piracicaba,
USP/ESALQ, 1974. 57 p.
SEGUY, L.; BOUZINAC, S. Arroz de sequeiro na fazenda Progresso: 4550 kg/ha.
Piracicaba : Potafós, 1992. 3p. (Informações Agronômicas, 58).
SEGUY, L.; BOUZINAC, S. R. P.; PACHECO, A. Perspectiva de fixação da
agricultura na região Centro-Norte do Mato Grosso. Mato Grosso: EMPAMT/EMBRAPA, CNPAF/CIRAD-IRAT, 1989. 52p.
99
SILVA, C. A.; VALE, F. R.; GUILHERME, L. R. G. Nitrificação em latossolos da
região sul de Minas Gerais: efeito da acidez do solo. Ciência e Prática, Lavras, v. 18, p.
388-394, 1994.
SILVA, D. B.; SILVA, J. A.; JUNQUEIRA, N. L. V.; ANDRADE, L. R. M. Frutas do
Cerrado. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. 178 p.
SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Versão do programa computacional Assistat
para o sistema operacional Windows. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais,
Campina Grande, v.4, n.1, p71-78, 2002.
SILVA, F. A. S.; AZEVEDO, C. A. V. Versão do programa computacional Assistat
para o sistema operacional Windows. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais,
Campina Grande, v.4, n.1, p71-78,2002.
SINGH, U.; LADHA, J. K.; CASTILLO, E. G.; PUNZALAN, G.; TIROL-PADRE, A.;
DUQUEZA, M. Genotypic variation in nitrogen use efficiency in medium- and longduration rice. Field Crops Research, v.58, p.35-53, 1998.
SMIT, B. A.; NEUMANN, D. S.; STACHOWIAK, M. L. Root hypoxia reduces leaf
growth: role of factors in the transpiration stream. Plant Physiology, Rockville, v. 92, p.
1021-1028, 1990.
SODRÉ FILHO, J.; CARDOSO, A. N.; CARMONA, R.; CARVALHO, A. M.
Fitomassa e cobertura do solo de culturas de sucessão ao milho na Região do Cerrado.
Pesq. agropec. bras., Brasília, v.39, n.4, p.327-334, abr. 2004.
SPEHAR, C. R.; TRECENTI, R.; Desempenho agronômico de espécies tradicionais e
inovadoras da agricultura em semeadura de sucessão e entressafra no cerrado do
planalto central brasileiro. Bioscience Journal., Uberlândia, v. 27, n. 1, p. 102-111,
Jan./Feb. 2011.
100
STOLF, R. Teoria e teste experimental de fórmulas de transformação dos dados de
penetrômetro de impacto em resistência do solo. R. Bras. Ci. Solo, v.15, n.2, p.229-35,
1991.
STONE, L. F.; GUIMARÃES, C. M.; MOREIRA, J. A. A. Compactação do solo na
cultura do feijoeiro: efeito nas propriedades físicas. R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental,
Campina Grande, v.6, n.2, p.207-212, 2002.
STUTE, J. K.; J. L. POSNER.. Legume cover option for grain rotations in Wisconsin.
Agronomy Journal 85: 1128-1132. 1993.
SUHET, A. R., PERES. J. R.; VARGAS. M. A. Nitrogenio. In: GOEDERT, W. J. Solos
dos Cerrados: tecnologias e estratégias de manejo. Sac Paulo, Brazil, Livraria Nobel,
pp. 167-202(1985)
SUMMERFILED, R. J.; ROBERTS, E. H. Cajanus cajan. In: HALEVY, A.H. (Ed.).
CRC Handbook of flowering. Boca Raton : CRC, 1985. v.1, p.61-73.
TEDESCO, M. J.; GIANELLO, G.; BISSANI, C. A.; BOHNEN, H.; VOLKWEIS, S. I.
Análise de solo, plantas e outros materiais. 2.ed. Porto alegre, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, 1995. 174p.
TESTA, V. M.; TEIXEIRA, L. A. J.; MIELNICZUK, J. Características químicas de um
Podzólico Vermelho-Escuro afetadas por sistemas de culturas. Revista Brasileira de
Ciência do Solo, Campinas, v.1, n.16, p.107-114, jan./abr. 1992
THONNISSEN, C. D. J.; MIDMORE, J. K.; LADHA, D. C.; OLK,
U.;
SCHMIDHALTER. Legume decomposition and nitrogen release when applied as green
manures to tropical vegetable production systems. Agronomy Journal 92: 253-260.
2000
TOCANTINS. Sistema Estadual de Planejamento e Meio Ambiente. Tocantins em
dados. Palmas, 2008. 41p.
101
TOMÉ JÚNIOR, B. Manual para interpretação de análise de solo. Guaíba:
Agropecuária, 1997. 247p.
TORMENA, C. A.; ROLOFF, G.; SÁ, J. C. M. Propriedades físicas do solo sob plantio
direto influenciadas por calagem, preparo inicial e tráfego. R. Bras. Ci. Solo, 22:301309, 1998.
TORMENA, D. A.; ROLOFF, G. Dinâmica da resistência à penetração de um solo sob
plantio direto. R. Bras. Ci. Solo, 20:333-339, 1996.
VARCO, J. J.; FRYE W.W.; SMITH, M. S.; MACKOWN, C. T. Tillage effects on
nitrogen recovery by corn from a nitrogen-15 labeled legume cover crop. Soil Science
Society of America Journal 53: 822-827. 1989.
VENTURA, W.; WATANABE, I. Green manure production of Azolla microphylla and
Sesbania rostrata and their long-term effects on rice yields and soil fertility. Biology and
Fertility of Soils, New York, 15(4):241-248, 1993.
VILELA, S. A.; SOUSA, D. M. G.; SILVA, J. E. Adubação Potássica. In: SOUSA, D.
M. G.; LOBATO, E. (Ed.). Cerrado: Correção do solo e adubação. 2.ed. Brasília:
Embrapa Informação Tecnológica, 2004. p.245-256.
WU, G.; WILSON, L.; McCLUNG, A.M. Contribution of rice tillers to dry matter
accumulation and yield. Crop Science, Madison, v.90, n.3, p.317-323, 1998.
YANG, E.J.; SKOGLEY, E.O.; SCHAFF, B.E.; KIM, J.J. A simple spectrophotometric
determination of nitrate in water, resin and soil extracts. Soil Sci. Soc. Am. J., 62:11081115, 1998.T
ZANÃO JÚNIOR, L., FONTES, R., ÁVILA, V. Teores foliares de nutrientes e de
silício em plantas de arroz infectadas por bipolaris oryzae. Scientia Agraria, 11, nov.
2009
102
ZARATIN, C.; SOUZA, S. A.; PANTANO, A. C.; SÁ, M. E.; ARF, O.; BUZETTI, S.
Efeitos de quatro doses de potássio em seis cultivares de arroz de sequeiro irrigados por
aspersão. I. Componentes de produção e produtividade. Científica, Jaboticabal, v.32,
n.2, p.115-120, 2004
ZENG, L.; HANON, M. C. Effects of salinity on grains yield and yield components of
rice at different seeding densities. Agronomy Journal, Madison, v. 92, n, 3, p. 418-423,
2000.
103