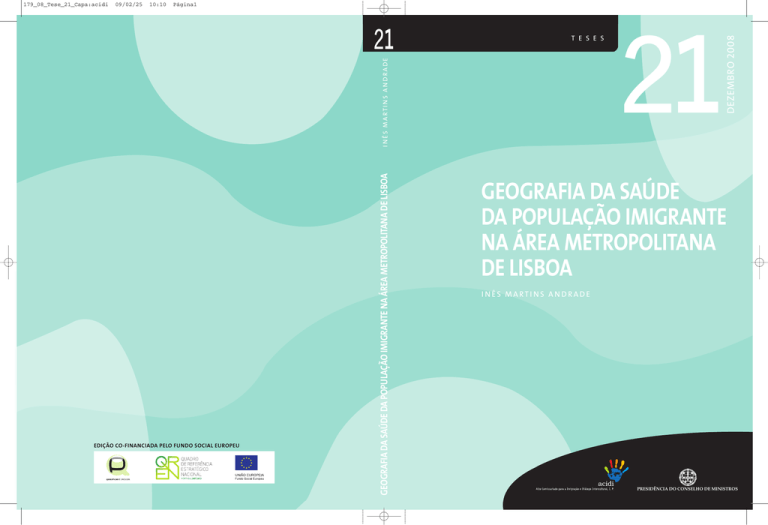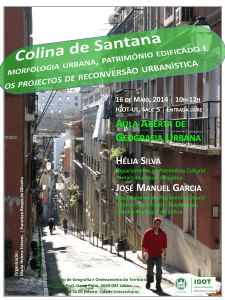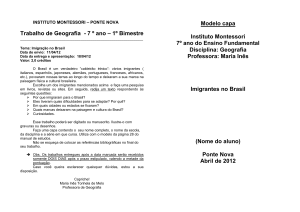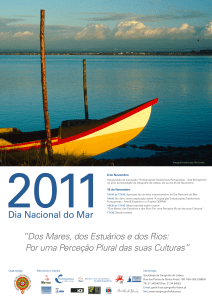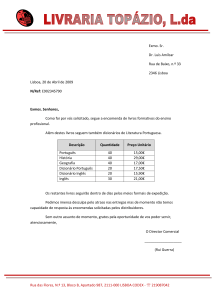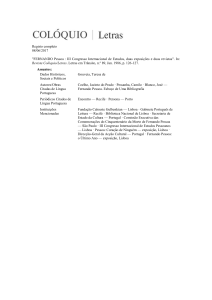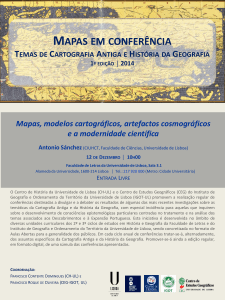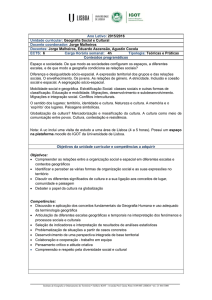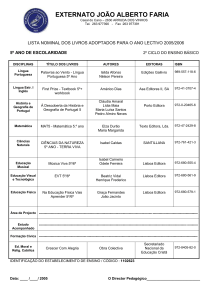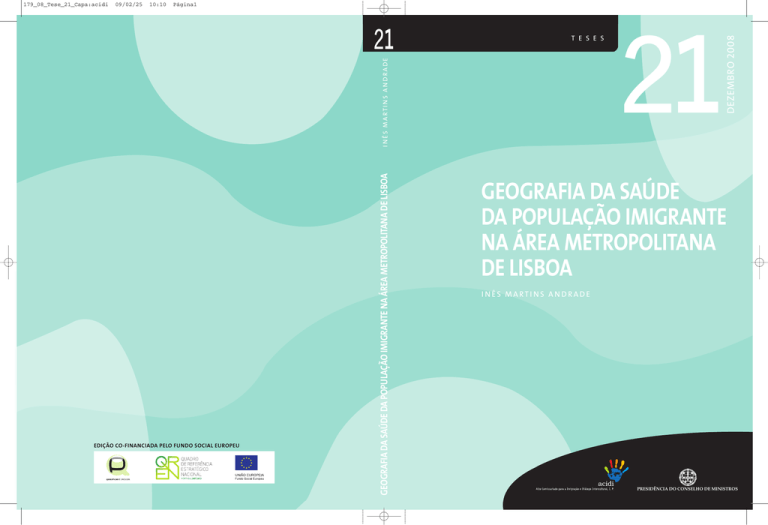
09/02/25
10:10
Página1
T E S E S
EDIÇÃO CO-FINANCIADA PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
I NÊS MARTI NS AN DRADE
21
21
DEZEMBRO 2008
179_08_Tese_21_Capa:acidi
GEOGRAFIA DA SAÚDE
DA POPULAÇÃO IMIGRANTE
NA ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA
I NÊS MARTI NS AN DRADE
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
GEOGRAFIA DA SAÚDE
DA POPULAÇÃO IMIGRANTE
NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Inês Martins Andrade
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Biblioteca Nacional de Portugal – Catalogação na Publicação
ANDRADE, Inês de Jesus Martins
Geografia da saúde da população imigrante na Área Metropolitana
de Lisboa. – (Teses; 21)
ISBN 978-989-8000-55-2
CDU 614
314
316
PROMOTOR
ALTO-COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO
E DIÁLOGO INTERCULTURAL (ACIDI, I.P.)
www.acidi.gov.pt
AUTORA
INÊS MARTINS ANDRADE
[email protected]
EDIÇÃO
ALTO-COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO
E DIÁLOGO INTERCULTURAL (ACIDI, I.P.)
RUA ÁLVARO COUTINHO, 14, 1150-025 LISBOA
TELEFONE: (00351) 21 810 61 00 FAX: (00351) 21 810 61 17
E-MAIL: [email protected]
EXECUÇÃO GRÁFICA
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRA EDIÇÃO
250 EXEMPLARES
ISBN
978-989-8000-55-2
DEPÓSITO LEGAL
280 869/08
LISBOA, DEZEMBRO 2008
Inês Martins Andrade
2
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Dissertação de Mestrado em Geografia,
especialização em Urbanização e Ordenamento do Território
Autora: Inês de Jesus Martins Andrade
Orientador: Professor Doutor José Manuel Simões
Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras
2006
Inês Martins Andrade
3
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Os imigrantes são reconhecidos como um grupo particularmente
vulnerável na área de saúde, devido a factores diversos (…) A informação
sobre as necessidades de saúde dos imigrantes em Portugal
e a sua utilização de serviços de saúde é escassa. Os poucos dados
publicados sugerem que a população de imigrantes africanos
têm um estado de saúde pior que a população nacional
e estão sub-representados entre os utentes dos serviços de saúde.
Saúde em Números, 1999
Inês Martins Andrade
4
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Índice
PREFÁCIO
17
NOTA PRÉVIA
19
RESUMO
25
SUMMARY
27
PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL
29
CAPÍTULO I – A AFIRMAÇÃO ESPACIO-TEMPORAL
DA GEOGRAFIA DA SAÚDE
29
1. AS ORIGENS DA GEOGRAFIA MÉDICA
2. TENDÊNCIAS RECENTES EM GEOGRAFIA DA SAÚDE
2.1. A Diversidade de Expressões
2.2. A Relevância do Fenómeno de Urbanização
em Geografia da Saúde
2.2.1. Factores Urbanos de Desvalorização do Capital Saúde
2.2.2. Factores Urbanos de Valorização do Capital Saúde
2.2.3. Factores Diferenciadores do Capital Saúde
CAPÍTULO II – REFLEXÃO EM TORNO DOS CONCEITOS
DE SUSTENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
29
33
33
34
35
41
43
46
1. EQUIDADE, UM CONCEITO CENTRAL EM SAÚDE
1.1. A Afirmação do Conceito
1.2. Dificuldades Teóricas e Operacionais
2. ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
2.1. Análise Conceptual
2.2. Condicionantes ao Acesso/Utilização
dos Cuidados de Saúde
2.3. Uma Condicionante Particular: a Distância
2.4. Modelos Analíticos de Acesso aos Cuidados de Saúde
3. DETERMINANTES DE SAÚDE
52
53
55
60
PARTE II – SAÚDE E IMIGRAÇÃO: UMA RELAÇÃO BIUNÍVOCA
65
CAPÍTULO I – O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE E A IMIGRAÇÃO
65
1. A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE EM PORTUGAL
1.1. O Serviço Nacional de Saúde
65
65
Inês Martins Andrade
5
46
47
48
51
51
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
1.2. As Redes de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde
1.2.1. A Rede de Cuidados de Saúde Primários
1.2.2. A Rede de Cuidados de Saúde Diferenciados
1.2.3. A Rede de Cuidados Continuados de Saúde
2. O ACESSO E A UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS
DE SAÚDE PELOS IMIGRANTES
2.1. Revisão do Debate Actual
2.1.1. Saúde da População Imigrante: a perspectiva
de um custo e não de benefício
2.1.2. Imigrantes Indocumentados: um grupo
particularmente mais vulnerável
2.1.3. Países com Longa Tradição em Imigração
versus Países de Imigração Recente:
perspectivas distintas de uma mesma realidade
2.1.4. Abordagens Distintas nas Políticas de Saúde:
Assimilacionista e Multiculturalista
2.2. Direitos e Restrições no Quadro
do Serviço Nacional de Saúde
2.2.1. O Acesso e a Utilização dos Imigrantes aos Cuidados
de Saúde à Luz da Legislação
2.2.2. Barreiras ao Acesso e Utilização dos Cuidados
de Saúde pelos Imigrantes
2.2.3. Portugal: a Inoperância Política
face às Atitudes Pró-activas da Sociedade Civil
CAPÍTULO II – RESPOSTAS DE SAÚDE E IMIGRAÇÃO
NO ÚLTIMO QUARTEL DO SÉCULO XX
1. AS CIDADES ENQUANTO PÓLOS DE CONCENTRAÇÃO
DE IMIGRANTES E RESPOSTAS DE SAÚDE
1.1. Do Contexto Internacional à Escala Europeia
1.2. Distribuição Territorial de Imigrantes e Equipamentos
de Saúde no Sistema Urbano Nacional: a Preponderância
da Área Metropolitana de Lisboa
1.2.1. A Distribuição Territorial da População Imigrante
1.2.2. A Disposição Territorial dos Equipamentos de Saúde
2. ÁREAS DE RESIDÊNCIA DOS IMIGRANTES NA AML:
TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO
2.1. Crescimento Urbano da AML e Suburbanização
da Imigração: o Papel da Política Nacional de Habitação
2.2. Segregação Residencial Sócio-Étnica dos Imigrantes
versus Centralidade dos Equipamentos Colectivos de Saúde
Inês Martins Andrade
6
66
66
69
71
74
75
75
77
77
79
80
81
84
85
88
88
88
97
97
103
111
111
120
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
PARTE III – GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE:
A REALIDADE DA AML
129
CAPÍTULO I – METODOLOGIA DE SUPORTE À INVESTIGAÇÃO
129
1. OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
2. METODOLOGIA ADOPTADA
3. CASOS DE ESTUDO NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
3.1. Quinta da Serra
3.2. Santa Filomena
3.3. Bairro Amarelo
3.4. Quinta da Princesa
3.5. Alta de Lisboa
129
130
135
137
141
145
149
153
CAPÍTULO II – ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS IMIGRANTES
DOS PALOP AOS CUIDADOS DE SAÚDE NA AML
158
1. ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
1.1. Procura dos Cuidados de Saúde Primários
1.2. Procura dos Cuidados de Saúde Diferenciados
2. CONDICIONANTES NO ACESSO E UTILIZAÇÃO
DOS CUIDADOS DE SAÚDE
2.1. Condicionantes da Oferta: Barreiras Estruturais Potenciais
2.2. Condicionantes da Procura de Cuidados de Saúde
2.2.1. Características Imutáveis dos Utentes
2.2.1.1. Género
2.2.1.2. Idade
2.2.1.3. Nacionalidade
2.2.2. Características Mutáveis dos Utentes
2.2.2.1. Nível de Instrução
2.2.2.2. Actividade Profissional
2.3. Principais Barreiras ao Acesso e Utilização Percepcionadas
pela População Imigrante
158
158
164
170
170
176
176
176
179
183
186
186
189
195
CAPÍTULO III – O ESTADO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE
DOS PALOP NA AML
199
1. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
1.1. Análise do Estado da Saúde à Chegada a Portugal
1.2. Diagnóstico Epidemiológico Actual
199
199
202
Inês Martins Andrade
7
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
1.3. Percepção da Evolução do Estado de Saúde
e Factores Explicativos
1.3.1. Avaliação da Percepção da Evolução
do Estado de Saúde
1.3.2. Factores Explicativos da Avaliação Efectuada
2. DETERMINANTES DE SAÚDE
2.1. Características Pessoais do Indivíduo:
Factores Comportamentais
2.1.1. Nutrição
2.1.2. Consumo de Álcool, Estupefacientes e Tabagismo
2.1.3. Utilização do Preservativo
2.2. Características da Sociedade de Acolhimento:
Factores Ambientais
2.2.1. Ambiente Físico
2.2.2. Ambiente Social
219
219
224
CAPÍTULO IV – SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE
228
209
209
211
214
214
215
217
218
1. A (IN)SATISFAÇÃO COM OS CUIDADOS DE SAÚDE DO SNS
2. FACTORES EXPLICATIVOS DA PERCEPÇÃO DE (IN)SATISFAÇÃO
2.1. Factores Positivos dos Cuidados de Saúde do SNS
2.2. Factores Negativos dos Cuidados de Saúde do SNS
2.3. Assimetrias na Prestação de Cuidados de Saúde
entre Portugal e os PALOP
228
232
233
234
CONSIDERAÇÕES FINAIS
239
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
247
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
257
LINKS DE REFERÊNCIA
258
SIGLAS FREQUENTEMENTE UTILIZADAS
259
QUESTIONÁRIO
261
Inês Martins Andrade
8
236
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Índice de Figuras
Figura 01 – Análise Diacrónica dos Momentos de Evolução
Primordiais da Geografia Médica
Figura 02 – Análise sistémica dos factores urbanos
de desvalorização do capital de saúde
Figura 03 – Análise sistémica dos factores urbanos
de valorização do capital de saúde
Figura 04 – Factores diferenciadores do capital
de saúde em espaços urbanos
Figura 05 – Modelo de Acesso aos Cuidados de Saúde
de Aday e Anderson, 1974
Figura 06 – Modelo de Acesso aos Cuidados de Saúde
de Wan e Soifer, 1974
Figura 07 – Modelo de Acesso aos Cuidados de Saúde de Stock, 1987
Figura 08 – Modelo de Utilização dos Serviços de Saúde
em Portugal, de Santana, 1995
Figura 09 – Distribuição dos Centros de Saúde, por NUT III,
em Portugal Continental, em 2002
Figura 10 – Distribuição dos Hospitais Gerais em Portugal
Continental, em 2005
Figura 11 – Distribuição dos Hospitais Especializados
em Portugal Continental, em 2005
Figura 12 – Rede de Cuidados Continuados, de acordo
com o Ministério da Saúde
Figura 13 – População Estrangeira Residente em Portugal
Continental, por Concelhos, em 2001
Figura 14 – População Estrangeira de Origem Africana Residente
em Portugal Continental, por Concelhos, em 2001
Figura 15 – População dos PALOP Residente em Portugal
Continental, por Concelhos, em 2001
Figura 16 – Hospitais Oficiais e Particulares em Portugal
Continental, em 2001
Figura 17 – Pessoal ao Serviço em Hospitais em Portugal
Continental, em 2001
Figura 18 – Centros de Saúde Com ou Sem Internamento
em Portugal Continental, em 2002
Figura 19 – Extensões de Centros de Saúde em Portugal
Continental, em 2002
Figura 20 – Quocientes de Localização dos Cidadãos
dos PALOP na AML, em 2001
Figura 21 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica
da Quinta da Serra
Inês Martins Andrade
9
33
40
43
44
56
58
59
60
68
70
71
74
99
101
103
105
107
109
110
124
138
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 22 – Vista de um dos Principais Caminhos do Bairro
da Quinta da Serra, alvo de melhoramentos
Figura 23 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
na Quinta da Serra (%), 2006
Figura 24 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica
do Bairro de Santa Filomena
Figura 25 – Estado de Degradação das Habitações e Construção
em Altura no Bairro de Santa Filomena
Figura 26 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
em Santa Filomena (%), 2006
Figura 27 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica
do Bairro Amarelo
Figura 28 – Elevada Presença de Actividades Comerciais
no Bairro Amarelo
Figura 29 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
no Bairro Amarelo (%), 2006
Figura 30 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica
da Quinta da Princesa
Figura 31 – Vista sobre dois Edifícios em avançado Estado
de Degradação, na Quinta da Princesa
Figura 32 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
na Quinta da Princesa (%), 2006
Figura 33 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica
da Alta de Lisboa, 2006
Figura 34 – Vista sobre alguns dos Edifícios PER, na Alta de Lisboa
Figura 35 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
na Alta de Lisboa (%)
Figura 36 – População Inscrita nos Centro de Saúde ou Extensão
do SNS, por Bairros (%), 2006
Figura 37 – Frequência de Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários (%), 2006
Figura 38 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários (%), 2006
Figura 39 – Utilização dos Cuidados de Saúde Diferenciados,
por Bairro (%), 2006
Figura 40 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Diferenciados (%), 2006
Figura 41 – Principais Serviços Clínicos Utilizados nos Cuidados
de Saúde Diferenciados (%), 2006
Figura 42 – Hospitais de Referência/Utilizados
da População Inquirida, 2006
Figura 43 – Locais a que Recorre Habitualmente para a Obtenção
de Cuidados de Saúde, por Sexo, 2006
Inês Martins Andrade
10
139
141
142
143
145
146
147
149
150
151
153
154
155
157
159
162
163
165
167
169
174
177
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 44 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários, por Sexo, 2006
Figura 45 – Indivíduos Com/Sem Boletim de Vacinas,
por Grupos Etários (%), 2006
Figura 46 – Indivíduos Com/Sem Vacinas em Dia,
por Grupos Etários (%), 2006
Figura 47 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo a Nacionalidade (%), 2006
Figura 48 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários, segundo a Nacionalidade (%), 2006
Figura 49 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários
para Obtenção de Consulta de Especialidade,
por Nível de Instrução (%), 2006
Figura 50 – Procura dos Cuidados de Saúde Primários
para Realização de Consulta de Rotina,
segundo a Actividade Profissional (%), 2006
Figura 51 – Procura dos Cuidados de Saúde Primários para
a Realização de Meios Complementares de Diagnóstico,
segundo a Actividade Profissional (%), 2006
Figura 52 – Factores que Condicionam o Acesso/Utilização
da População Inquirida aos Cuidados
de Saúde do SNS (%), 2006
Figura 53 – Motivos de Imigração para Portugal da População
dos PALOP (%), 2006
Figura 54 – Existência/Inexistência de Doença entre a População
Inquirida à Chegada a Portugal, por Bairro
de Residência (%), 2006
Figura 55 – Existência/Inexistência de Doença entre a População
de Origem Africana na actualidade (%), 2006
Figura 56 – Existência/Inexistência de Doença nos Familiares
Próximos dos Imigrantes de Origem Africana
Não Residentes na Mesma Habitação (%), 2006
Figura 57 – Avaliação da Evolução Estado de Saúde
Desde a Chegada a Portugal (%), 2006
Figura 58 – Média de Refeições Diárias que a População Imigrante
Consome, por Bairro (%), 2006
Figura 59 – Tipo de Comida que a População Inquirida Consome
mais Frequentemente (N.o), 2006
Figura 60 – Familiares Directos e Próximos com Patologias
Identificadas que Residem na mesma Habitação
da População Inquirida, por Bairro (%), 2006
Figura 61 – Frequência de Utilização do Preservativo
pela População Imigrante, por Bairro (%), 2006
Inês Martins Andrade
11
178
182
182
185
186
188
194
195
198
200
201
203
208
211
215
216
223
226
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 62 – Satisfação da População Inquirida com os Serviços
de Saúde em Geral, por Sexo (%), 2006
Figura 63 – Satisfação da População Inquirida
com os Serviços de Saúde em Geral,
por Grandes Grupos Etários (%), 2006
Figura 64 – Maiores Diferenças na Prestação dos Cuidados
de Saúde entre Portugal e o País de Origem Sentidas
pela População Inquirida (%), 2006
Inês Martins Andrade
12
229
231
237
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Índice de Tabelas
Tabela 01 – População Residente e Cidadãos de Países Terceiros,
nas Cidades da União Europeia, 2001
Tabela 02 – Ranking das Cidades de cada Estado-Membro
melhor posicionadas em termos de Camas de Hospital
por cada 1000 Habitantes, em 2001
Tabela 03 – Situação do Programa Especial de Realojamento (PER),
em Dezembro de 1997 (N.o)
Tabela 04 – Evolução de Barracas nas Áreas Metropolitanas
de Lisboa e Porto e no Continente (%)
Tabela 05 – Índices de Segregação para as Principais
Nacionalidades Residentes na AML,
por Freguesia, em 1991 e 2001
Tabela 06 – Entidades e Instituições Entrevistadas
Tabela 07 – População Inquirida segundo o Género
e os Grupos Etários, na Quinta da Serra (%), 2006
Tabela 08 – População Inquirida segundo a Nacionalidade
e a Naturalidade, na Quinta da Serra (%), 2006
Tabela 09 – População Inquirida segundo o Género
e os Grupos Etários, em Santa Filomena (%), 2006
Tabela 10 – População Inquirida segundo a Nacionalidade
e Naturalidade, em Santa Filomena (%), 2006
Tabela 11 – População Inquirida segundo o Género
e os Grupos Etários, no Bairro Amarelo (%), 2006
Tabela 12 – População Inquirida segundo a Nacionalidade
e Naturalidade, no Bairro Amarelo (%), 2006
Tabela 13 – População Inquirida segundo o Género
e os Grupos Etários, na Quinta da Princesa (%), 2006
Tabela 14 – População Inquirida segundo a Nacionalidade
e Naturalidade, na Quinta da Princesa (%), 2006
Tabela 15 – População Inquirida segundo o Género
e os Grupos Etários, na Alta de Lisboa (%), 2006
Tabela 16 – População Inquirida segundo a Nacionalidade
e Naturalidade, na Alta de Lisboa (%), 2006
Tabela 17 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo o Ano de Chegada a Portugal
e por Bairros (%), 2006
Tabela 18 – População Inquirida sobre o Médico
de Família, por Bairro (%), 2006
Tabela 19 – As Duas Principais Razões para a Utilização
dos Cuidados de Saúde Primários, segundo o Período
de Chegada a Portugal (%), 2006
Inês Martins Andrade
13
90
96
118
120
125
134
139
140
143
144
147
148
152
152
156
156
160
163
164
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 20 – População que já Utilizou os Cuidados de Saúde
Diferenciados, por Período de Chegada
a Portugal (%), 2006
Tabela 21 – Frequência de Utilização dos Cuidados de Saúde
Diferenciados, por Bairro (%), 2006
Tabela 22 – Caracterização Geral dos Centros de Saúde
de Referência (N.o), 2006
Tabela 23 – Modo de Deslocação para o Acesso e Utilização
dos Cuidados de Saúde Primários, por Bairro (%), 2006
Tabela 24 – Modo de Deslocação para o Acesso e Utilização
dos Cuidados de Saúde Diferenciados,
por Bairro (%), 2006
Tabela 25 – Relação entre a Variável Sexo e a Utilização
dos Cuidados de Saúde, 2006
Tabela 26 – Frequência de Utilização dos Cuidados de Saúde,
por Grupos Etários (%), 2006
Tabela 27 – Locais a que Recorre Habitualmente para a Obtenção
de Cuidados de Saúde, por Nacionalidade (%), 2006
Tabela 28 – Nível de Instrução da População Proveniente
dos PALOP, por Bairro (%), 2006
Tabela 29 – Indivíduos Com e Sem Vacinas em Dia,
por Nível de Instrução (%), 2006
Tabela 30 – Situação dos Imigrantes dos PALOP
perante o Trabalho, por Bairro (%), 2006
Tabela 31 – Actividade Profissional da População Imigrante
dos PALOP, por Bairro (%), 2006
Tabela 32 – Local de Trabalho da População Imigrante
dos PALOP, por Bairro (%), 2006
Tabela 33 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo a Actividade Profissional (%), 2006
Tabela 34 – Intervalo de Tempo desde a Chegada a Portugal
da População Imigrante dos PALOP
e a Primeira Utilização dos Cuidados de Saúde,
por Bairro (%), 2006
Tabela 35 – Tipologia de Patologias Identificadas,
por Grupos Etários (%), 2006
Tabela 36 – Avaliação do Estado de Saúde à Chegada
a Portugal (%), 2006
Tabela 37 – Factores Explicativos segundo a Evolução do Estado
da Saúde da População Imigrante (%), 2006
Tabela 38 – Relação entre a Evolução do Estado de Saúde
da População Imigrante e a Utilização
dos Cuidados de Saúde (%), 2006
Inês Martins Andrade
14
166
169
171
172
175
177
180
184
187
189
190
191
192
193
202
206
210
212
213
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 39 – Frequência Habitual de Consumo de Alimentos
pela População Imigrante (%), 2006
Tabela 40 – Práticas Comportamentais entre a População
Inquirida (%), 2006
Tabela 41 – Condições de Habitação da População Inquirida,
segundo os Bairros de Residência (%), 2006
Tabela 42 – Número de Assoalhadas da Habitação da População
Inquirida, por Bairros de Residência (%), 2006
Tabela 43 – Número de Elementos do Agregado Familiar
e Dimensão Média dos Agregados da População
Inquirida, por Bairro de Residência (%), 2006
Tabela 44 – Aspectos Positivos do SNS em Geral segundo
a População Inquirida, por Bairro de Residência (%)
Tabela 45 – Aspectos Negativos do SNS em Geral da População
Inquirida, por Bairro de Residência (%), 2006
Inês Martins Andrade
15
216
218
220
221
222
234
236
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
PREFÁCIO
A construção de sociedades e de cidades multiculturais, saudáveis e
inclusas encontra-se entre os grandes desafios da actualidade e tende,
por isso, a constituir-se como uma das prioridades centrais das agendas
políticas da generalidade dos países da União Europeia.
Como já foi apontado por diversos investigadores, dada a sua condição,
os imigrantes são um grupo particularmente vulnerável e por isso, nas
sociedades de acolhimento, o seu estado de saúde é comparativamente
pior que o da restante população. Apesar disso, a informação sobre as
necessidades e especificidades dos estados de saúde e dos processos de
utilização de cuidados de saúde inerentes à população imigrante continua a ser relativamente escassa.
Neste contexto, o estudo elaborado por Inês de Jesus Martins Andrade
com vista à obtenção do grau de Mestre em Geografia, constitui um
oportuno e valioso contributo para o aprofundamento de uma temática
crescentemente valorizada no meio académico, e que também tem focalizado a atenção de muitos decisores políticos e técnicos. Um estudo
pleno de actualidade e feito com seriedade e rigor científico, e que por
isso, estamos em crer interessará a uma vasta gama de públicos, da
academia e comunidade científica, à administração política e técnica e,
às associações de desenvolvimento local e social.
No presente trabalho, a autora propôs-se compreender as determinantes
da evolução do estado de saúde dos imigrantes africanos em Portugal,
e em particular na Área Metropolitana de Lisboa, relevando constrangimentos e tipologias de acesso aos cuidados de saúde.
O estudo conclui que, à chegada a Portugal, os imigrantes apresentam-se em geral saudáveis, não constituindo por isso pontes para a introdução nos locais de acolhimento de patologias típicas dos contextos territoriais de origem. No entanto, as deficientes condições de alojamento e
de emprego a que a generalidade é sujeita, conduz rapidamente a uma
grande fragilização social e física, com tradução natural no estado de
saúde individual e colectivo.
Contudo, apesar do risco acrescido de doença e de algumas especificidades que a população imigrante africana e seus descendentes denotam,
o acesso e utilização dos cuidados de saúde apresenta muitas similaridades com os padrões que caracterizam a restante população portuguesa, sobretudo no que respeita à ausência de uma cultura preventiva
Inês Martins Andrade
17
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
da doença, e assim sendo, o recurso a serviços de assistência médica
coloca-se maioritariamente perante sintomas objectivos e urgentes de
doença, atitude frequentemente potenciada em situação de doença de
filhos.
Num estado de bem-estar, justo e equitativo, a melhoria do estado de
saúde das comunidades imigrantes deve ser um desígnio inquestionável, pelas externalidades positivas que pode comportar quer do ponto de
vista social quer económico. Mas tal requer intervenções de largo espectro, concertadas e multidireccionais, desde logo ao nível do incremento
das condições de sanidade dos locais de residência e de trabalho e da
segurança no emprego, mas também ao nível da educação para a saúde,
de modo a fazer prevalecer uma cultura de prevenção da doença, e ao
nível da universalidade e eficiência dos serviços de saúde. São também
estes caminhos reflexivos e estratégicos que o trabalho de Inês Andrade
nos aponta.
José Manuel Simões
(Professor e investigador da Universidade de Lisboa)
Inês Martins Andrade
18
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
NOTA PRÉVIA
É com alguma frequência que, nos anos mais recentes, somos confrontados com notícias que alertam para a ideia de que os imigrantes são
grupos de risco na saúde, de que têm maior incidência de doenças
infecto-contagiosas, de que efectuam uma diminuta utilização dos cuidados de saúde, de que constituem um encargo para o Serviço Nacional
de Saúde, de que fogem de vacinar as crianças ou que abandonam os
processos terapêuticos a meio. Desprovidas de informação estatística
credível, tratam-se muitas vezes de notíciais meramente alarmistas que
conseguem reforçar ideias pré-concebidas negativas que se tem sobre
a população imigrante, acentuando a sua segregação sócio-étnica e
marginalização económica e social.
A integração de Portugal no sistema internacional das migrações,
enquanto lugar de destino para imigrantes provenientes de diferentes
partes do mundo, fez dele e em particular da Área Metropolitana de
Lisboa, um território multi-étnico. Aí gentes tão diferentes fazem hoje
parte do seu quotidiano: pensemos nos trabalhadores da construção civil
santomenses e brasileiros que contribuem para a edificação dos equipamentos colectivos de saúde, ou nas senhoras cabo-verdianas que asseguram a limpeza dos hospitais e centros de saúde e até nos médicos
ucranianos que tratam da nossa saúde, embora nos esqueçamos muitas
vezes de contribuir para a sua integração e bem-estar.
Apesar da constatação de que a moldura humana das nossas cidades e
áreas rurais mudou, apesar da crescente visibilidade pública que o tema
da imigração tem vindo a assumir, em Portugal continua-se a conferir
uma diminuta relevância às políticas de integração de imigrantes. Um
dos traços mais evidentes desta realidade ocorre no sector da saúde, no
qual a vontade de controlar a despesa pública, a falta de sensibilidade
para o tema ou a indiferença perante esta realidade, em muito têm favorecido o carácter passivo das políticas adoptadas. Embora se tenha vindo
a produzir um conjunto de diplomas legais, que visam explicitar o direito
dos imigrantes no acesso e utilização dos cuidados de saúde, a ausência
de políticas culturalmente sensíveis com vista a uma efectiva integração
social, traduz-se muitas vezes na prática numa não utilização de cuidados de saúde e subsequentemente no agravamento de estados de saúde.
Para aqueles que têm a sorte de ultrapassar as condicionantes legais
no acesso e utilização dos cuidados de saúde, o infortúnio das barreiras
linguísticas ou da incompreensão das suas especificidades culturais,
associadas às longas listas de espera e a um sistema tão burocrático,
Inês Martins Andrade
19
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
limitam-lhe o acesso e a utilização à assistência médica, contribuem
para a fragilização dos seus estados de saúde e naturalmente para o
reforço da exclusão, que para além de económica, social, residencial,
passa também a ser derivada de estados de saúde mais vulneráveis.
Foi a compreensão da Geografia da Saúde desta população imigrante
que orientou todo este trabalho, o qual jamais teria sido concretizado,
sem os inúmeros contributos que o apoiaram, desde que se iniciou à
menos de um ano atrás.
Em primeiro lugar, um profundo agradecimento ao meu orientador e
amigo Professor José Manuel Simões, pelas constantes sugestões, indicações e contributos na estruturação deste trabalho, mas também pelo
estímulo e confiança dada desde o início e, em especial, nos momentos
de maior incerteza. A ele agradeço também o contributo para a minha
formação científica e profissional em Geografia e no mundo do planeamento e gestão, assim como para o despertar de novos interesses, como
a Geografia da Saúde, ensinando-me a conciliar temáticas que se desenrolam na grande plataforma que é a Geografia.
Ao Professor Jorge Gaspar quero expressar o meu profundo agradecimento pela ajuda na definição do tema desta investigação, como todos os
contributos dados, ao longo deste ano, através de conversas e reflexões
sobre muitos dos assuntos que aqui se entrecruzam, e que em muito
têm contribuído para a minha mais ampla compreensão do mundo que
é a Geografia. De igual modo, à Professora Eduarda Marques da Costa,
pela amizade e dedicação que tem expressado na minha formação em
Geografia, quer ao longo da licenciatura quer do mestrado, mas também
por todas as ajudas constantes.
À Professora Alina Esteves agradeço os auxílios e palavras de estímulo
para a concretização deste projecto, mas também o contributo para a
minha maior sensibilidade para o tema da imigração. Um grande obrigada à Professora Cristina Santinho, do Centro de Estudos de Antropologia Social, do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa,
não só pelo apoio tão diversificado, como pelo enorme esforço no despertar e aprofundar da investigação sobre a saúde dos imigrantes em
Portugal.
Naturalmente a minha gratidão vai também para a Equipa CEDRU. Em
primeiro lugar ao Sérgio Barroso, pelos constantes incentivos dados à
minha formação contínua, pela compreensão e total disponibilidade que
me proporcionou para desenvolver este trabalho, sem a qual não teria
Inês Martins Andrade
20
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
sido possível a sua concretização, mas também pelos seus contributos
para a minha formação profissional, que naturalmente se repercutiram
ao longo de todo este trabalho. À Sónia Vieira agradeço a enorme contribuição na realização de toda a cartografia que consta ao longo deste trabalho, assim como de muitos dos esquemas aqui presentes. Agradeço-lhe o facto de ter arranjado tempo não só para a sua elaboração, como
também pelas ideias e sugestões cartográficas e ainda para as muitas
alterações que lhe fui pedindo. À Margarida Cunha, à Carla Figueiredo,
ao Heitor Gomes e à Marta Carvalho agradeço o estímulo dado e as ajudas constantes. A todos os outros agradeço as pequenas e tão valiosas
ajudas.
No âmbito da saúde agradeço o apoio, esclarecimentos e indicações
dadas pelo Doutor António Tavares, em particular, numa fase mais inicial, enquanto médico de saúde pública no Centro de Saúde da Venda
Nova, mas também posteriormente pela sua disponibilidade já na Direcção-Geral de Saúde. Do mesmo modo, agradeço a todos os médicos de
saúde pública dos cuidados de saúde primários que servem os cinco
casos de estudo por terem conseguido arranjar um pouco de tempo para
me falarem das suas experiências enquanto profissionais de saúde que
trabalham no terreno junto destas populações imigrantes, pelas informações sobre os seus quadros epidemiológicos e sobre o seu respectivo
acesso a este nível de cuidados de saúde. São eles a Dr.a Elvira Pinto, do
Centro de Saúde de São João da Talha, Enfermeira Maria Jorge, da Unidade de Saúde do Monte da Caparica, a Enfermeira Aida, do Centro de
Saúde do Lumiar, a Enfermeira Maria Ana, do Centro de Saúde da Amora
e ao Doutor António Carlos, do Centro de Saúde da Damaia.
Ainda na saúde, agradeço à Cláudia Freitas, psicóloga e investigadora na
área da saúde das populações dos imigrantes, no European Research
Centre on Migration and Ethnic Relations da Universidade de Utrecht, na
Holanda, pela troca de informação sobre estudos e investigações desenvolvidas no âmbito da saúde dos imigrantes, mas também pelos conhecimentos e esclarecimentos dados sobre saúde mental dos imigrantes
e políticas de integração multiculturais.
Para terminar o grande domínio da saúde, agradeço também à Enfermeira Rosário Horta da Sub-Região de Saúde de Lisboa, à Doutora Inês
Silva Dias, da Consulta de Psiquiatria Transcultural no Hospital Miguel
Bombarda, à Doutora Arlete, coordenadora do projecto dos Médicos
do Mundo em curso na Quinta da Serra e ao Doutor Luís Távora Tavira
do Núcleo de Estudos Epidemiológicos de Doenças Transmissíveis em
Populações Migrantes, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, pelos
Inês Martins Andrade
21
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ensinamentos em matérias tão específicas da saúde e da medicina, pelo
despertar de sensibilidades multiculturais que só uma longa experiência
de trabalho junto de imigrantes torna possível.
No âmbito da imigração, ao ACIDI, personalizado mais concretamente
no Doutor Rui Marques e na Dr.a Catarina Oliveira, não podia deixar de
agradecer os contactos que me permitiram estabelecer a nível nacional e internacional com investigadores nesta matéria, assim como pela
oferta de muita bibliografia, e envio constante de informações que vão
marcando a agenda da Imigração em Portugal. À coordenação do Programa Escolhas, mais concretamente ao Pedro Calado e Jorge Nunes,
agradeço as pontes que me permitiram estabelecer com agentes locais
privilegiados nos cinco casos de estudo e às informações gerais sobre
a realidade destes territórios. Aos coordenadores dos projectos do Programa Escolhas, em curso nos Bairros em estudo (Teresa Baptista da
Quinta da Princesa, Luís Pedro Serra da Alta de Lisboa, Sónia Fernandes
do Bairro de Santa Filomena e Nuno Cristóvão do Bairro Amarelo, agradeço as conversas e informações dadas ao longo de passeios pelos territórios da exclusão, assim como os contributos que tornaram possíveis
a aplicação dos questionários e o seu entusiasmo na importância dos
seus resultados.
À presidente da Associação Sócio-Cultural da Quinta da Serra, Floresbela
Mendes Pinto por me ter dado a conhecer este bairro, das suas origens
à actualidade, suprimindo as carências da inexistência de qualquer tipo
de bibliografia, mas também por me ter acompanhado durante a realização dos questionários.
Nas minhas pesquisas e investigações nas temáticas do urbanismo e
planeamento, agradeço aos diversos técnicos das respectivas autarquias
onde se inserem os cinco casos de estudo, por terem tornado possível a
minha consulta de vários documentos, assim como por me terem desenhado o pano de fundo diacrónico em matéria de saúde e urbanismo,
destes territórios. Assim, agradeço à Dr.a Isabel Clemente da Câmara
Municipal do Seixal, à Dr.a Deolinda da Câmara Municipal da Amadora,
à Dr.a Eugénia Esteves da Câmara Municipal de Loures, à Arquitecta
Sofia Leitão da Câmara Municipal de Almada e à Dr.a Maria Filomena
Leonardo da Câmara Municipal de Lisboa.
Aos amigos e colegas que me acompanharam na realização dos questionários, Ana, Francisco e Viviane, um especial agradecimento pela compreensão e por terem tornado possível a sua concretização, num período
de tempo tão reduzido.
Inês Martins Andrade
22
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Aos meus Pais, Carlos e Palmira Andrade, à Cristina e ao Pedro, agradeço as infindáveis ajudas práticas, mas sobretudo a profunda compreensão pelas minhas longas ausências que a concretização deste projecto tanto exigiu, por todos os momentos importantes em que cheguei
tarde ou a pressa me levou mais cedo do que gostariam. A vocês agradeço a tolerância, o incentivo constante nos momentos de maior hesitação e a confiança inabalável, fundamentais para a minha estabilidade
profissional e emocional. A vocês os quatro, dedico este trabalho.
Inês Martins Andrade
23
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
RESUMO
O objectivo central que sustentou o presente trabalho consistiu no aprofundar do conhecimento relativamente superficial sobre a Geografia da
Saúde da População Imigrante, isto é, sobre o acesso e a utilização aos
cuidados de saúde e sobre o estado da saúde de um grupo populacional,
que embora estatisticamente relevante, não tem despertado o interesse
de investigações no sector da saúde.
O desfasamento entre os níveis de produção de conhecimento científico
na temática da saúde da população imigrante registados em Portugal
comparativamente aos observados em países como o Canadá, os Estados
Unidos da América ou Holanda, assim como os efeitos negativos, directos e indirectos, desse desconhecimento, justificaram a necessidade de
desenvolver este trabalho. Embora a investigação em Geografia da Saúde
esteja a adquirir uma nova escala, nos anos mais recentes, persistem
a nível nacional inúmeras temáticas por abordar. Do mesmo modo, os
trabalhos académicos sobre imigração no contexto da Geografia portuguesa têm-se vindo a multiplicar, no entanto, marginalizando na maior
parte das vezes a questão da saúde como factor de integração e, em trabalho algum conhecido, centrando-se totalmente no tema da saúde da
população imigrante.
Tendo como objectivos centrais o conhecimento da tipologia de acesso
e utilização aos cuidados de saúde, a respectiva identificação das principais condicionantes e do estado de saúde dos imigrantes africanos,
o presente trabalho divide-se em três grandes momentos. A primeira
parte tem como finalidade fazer uma apresentação global da Geografia
da Saúde e uma reflexão em torno dos principais conceitos para a compreensão deste tema. Na segunda parte apresenta-se o Sistema Nacional de Saúde, o debate e o quadro legislativo que regula o acesso e a utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde e uma reflexão sobre a
concentração dos imigrantes em cidades, em particular, no caso da Área
Metropolitana de Lisboa (AML). A terceira parte consiste no desenvolvimento da parte prática que se centrou na AML a partir de cinco casos
de estudo, a Quinta da Serra, Santa Filomena, Alta de Lisboa, Bairro
Amarelo e Quinta da Princesa. O seu estudo visa a compreensão do tipo
de acesso e utilização que os imigrantes fazem dos cuidados de saúde,
das barreiras que se colocam ao seu acesso e utilização, do seu estado
de saúde, nas principais determinantes de saúde e na satisfação desta
população com a prestação destes cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
Inês Martins Andrade
25
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento é uma necessidade cuja omissão tem custos muito elevados. Atendendo a que a integração dos imigrantes passa necessariamente pela saúde, e que estes
são hoje elementos centrais num urbanismo multi-étnico, a sustentabilidade das cidades e das grandes metrópoles implica necessariamente a
promoção de sistemas de saúde mais equitativos. É em torno desta ideia,
que partimos para a investigação.
PALAVRAS-CHAVE: Geografia da saúde; acesso aos cuidados de saúde; utilização dos
cuidados de saúde; condicionantes de saúde; determinantes de saúde; Área Metropolitana de Lisboa.
Inês Martins Andrade
26
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
SUMMARY
The mail goal supporting this work is to intensify a much too shallow
knowledge on the Geography of Health of the Immigrant Population, i.e.,
about its access and use to health care and about the state of health of a
population group that, although statistically relevant, has not kindled the
interest of research within the scope of health.
The phase lag between the levels of production of the scientific knowledge on the subject of health of the immigrant population registered in
Portugal, comparatively to those observed in countries such as Canada,
the United States of America or Holland, as well as the negative effects
(direct and indirect) of that lack of knowledge, have validated the need
to develop this work. Although the research on Geography of Health is
getting a new scale in recent years, there are still several thematics at a
national level which remain to be approached. Simultaneously, the academic work on immigration in the context of the Portuguese Geography
has multiplied throughout the last decade, marginalizing, however, health
as an integration factor not focusing on this subject in any known work.
Having as main goals the knowledge of the typology related to the access
and using of healthcare, the respective identification of the chief conditionings and the state of health of the African immigrants, this present
work is divided in three large moments. The first part’s purpose is to
make a global presentation of the Geography of Health and a reflection
around the main concepts towards the comprehension of this subject.
On the second part, the background of the thematic is presented, i.e.,
the National Healthcare Service, the debate and the legislative frame
that regulates the access and use of immigrants to health care and a
deliberation on the concentration of immigrants in cities, particularly,
on the Lisbon’s Metropolitan Area (AML). The third part consists of a
case study: AML from 5 case studies – Quinta da Serra, Santa Filomena,
Alta de Lisboa, Bairro Amarelo and Quinta da Princesa. Its study aims
at the comprehension of the type of access and use that immigrants
do of healthcare, the barriers they come across to that use and access,
of their state of health, on the main health determinants and this population’s satisfaction with healthcare within the scope of the National
Healthcare Service.
The immigrant’s integration in the receiving society is a necessity whose
omission has high costs. Given that that the immigrant’s integration is
inevitably connected with health, and that nowadays these are crucial
elements in a multi-ethnic urbanism, the cities and great metropolis’
Inês Martins Andrade
27
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
sustainability implies the promotion of equitable health care systems.
This is the idea from which we begin our research.
KEY-WORDS: Geography of health; access to health care; health care use; health conditioning; health determinants; Metropolitan Area of Lisbon.
Inês Martins Andrade
28
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL
CAPÍTULO I – A AFIRMAÇÃO ESPACIO-TEMPORAL
DA GEOGRAFIA DA SAÚDE
1. AS ORIGENS DA GEOGRAFIA MÉDICA
Já no século IV a.C. a escola de Hipócrates realçava a existência de
uma relação entre a distribuição de várias doenças e as características
ambientais das áreas por elas abrangidas. Na sua famosa obra «Dos
ares, das águas e dos lugares», publicada aproximadamente em 480 a.C.,
Hipócrates apresenta de forma sistematizada relações causais entre
factores do meio físico e doença. Todavia, foi somente no decurso do
século XVIII que a Geografia Médica viria a adquirir expressão.
A emancipação da Geografia Médica ficou a dever-se essencialmente a
médicos. De facto, foi um médico alemão – Finke – que utilizou pela primeira vez o termo «Geografia Médica», ao publicar um ensaio geral em
três volumes sobre Geografia Médica, termo este que viria a ser posteriormente difundido em França por outros médicos, tais como Boudin
(1843), Lombard (1877-80) ou Boudier (1884).
De igual modo, também aquele que é usualmente referenciado como o
primeiro estudo formal de Geografia Médica, assim como de Epidemiologia, foi realizado por um médico. Trata-se do estudo desenvolvido em
1854, por John Snow, um médico inglês que descobriu a associação (entre
vários outros factores) entre o risco de cólera em Londres e a ingestão de água fornecida por uma determinada companhia (BEAGLEHOLE,
BONITA, KJELLSTROM, 2003).
Da mesma maneira, foi também entre médicos que surgiram as primeiras cartografias de doenças, numa época (século XVIII) em que as cidades europeias cresciam a ritmos historicamente incomparáveis e a propagação de epidemias como a cólera ou a varíola ocorria a um ritmo
bastante acelerado. Preocupados com o desenvolvimento das patologias
e influenciados pelo pensamento higienista alguns cientistas rompem
com a teoria clássica de que a saúde dos homens dependia das autoridades celestes, aquáticas ou terrestres e procuram então compreender
a influência das condições ambientais na génese das doenças (SIMÕES,
1989). Neste sentido, diversos médicos propõem um conjunto de medidas de tipo higiénico-social, de modo a contribuir para a melhoria da
saúde pública, sobretudo, nas grandes cidades.
Inês Martins Andrade
29
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Estas preocupações sanitárias começaram a aparecer reflectidas em
diversos domínios, designadamente, no urbanismo do final do século XIX.
Em diferentes países, médicos, urbanistas, planeadores, geógrafos,
entre muitos outros, defendem a construção das Garden Cities, inspirados no modelo urbano da Cidade-Jardim de Ebenezer Howard.
Foi neste contexto urbano e social que diversos médicos desenvolveram
cartografias de doenças, denominadas de monografias médicas, também
conhecidas por topografias médicas ou paleografias médicas. Com um
conteúdo idêntico ao desenvolvido pelas geografias regionais clássicas,
as topografias médicas constituem estudos nos quais se apresentam
cartografias das doenças, designadamente, de carácter infeccioso, e realizam-se análises históricas, estudos da geografia física assim como
descrições sócio-económicas, do ambiente urbano e da demografia dos
locais. Procurava-se assim identificar relações entre as doenças e os
factores físicos dos territórios (NOSSA, 2001). Com efeito, a espacialização das doenças tornou-se uma prática corrente, afirmando-se como
um instrumento essencial para a identificação da sua natureza, evolução
e respectivo tratamento.
As topografias médicas, surgiram na Alemanha e França, mas rapidamente se multiplicaram por toda a Europa, com ampla difusão em particular nos países anglo-saxónicos. Também em Portugal o desenvolvimento das topografias médicas alcançou um largo espectro, pois somente
o Jornal de Coimbra, entre 1812 e 1820, registou um total de vinte e
nove publicações (AZEVEDO, 1925). Em Portugal, as topografias médicas
constituíram importantes e, por vezes, os únicos, estudos concelhios.
Estes estudos transportaram ao longo dos tempos uma forte relação
com a medicina, mas ao contemplarem o estudo do homem e as suas
relações com o meio, utilizaram também conceitos e corpos teóricos de
outras ciências, tais como a Antropologia, a Etnografia ou a Arqueologia.
Ao serem consideradas, de uma forma mais globalizante, como a disciplina que estuda a geografia das doenças, diferentes autores consideram
tratarem-se de uma ramificação da Geografia Humana (LACAZ, BARUZZI,
SIQUEIRA, 1972). Por conseguinte, as topografias médicas registam um
forte pendor geográfico e embora não conotados como tal, para muitos
autores estas constituem a base da Geografia Médica.
Cronologicamente o século XVIII viria então a constituir um dos períodos
áureos da Geografia Médica: o aparecimento de diversas pandemias em
toda a Europa, possibilitadas pelo desenvolvimento dos transportes que
então se registava, associadas ao processo de exploração e colonização
Inês Martins Andrade
30
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
das regiões tropicais, conduziu à descoberta e ao contacto com novas
doenças, o que promoveu uma acumulação de progressos no corpo teórico da geografia e a elaboração de diversos mapas, culminando no que
inúmeros autores consideram a época de ouro da cartografia médica:
1835-55 (ARROZ, 1979).
Até meados do século XIX, a Geografia Médica ficou assim marcada por
inúmeros progressos, bem como pelo determinismo ambiental, segundo
o qual existiam relações lineares de causa-efeito entre as doenças e o
meio físico, considerando-se que as diversas doenças que afectavam as
populações derivavam das características dos lugares.
Porém, a partir de meados do século XIX, altura em que ocorre a chamada «revolução bacteriológica» na medicina, a Geografia Médica
sofreu um declínio e entrou num período de estagnação (SIMÕES, 1989;
URTEAGA, 1980). A dita revolução bacteriológica, protagonizada pela
teoria dos gérmenes de Louis Pasteur, consistiu na identificação de inúmeros microorganismos responsáveis pelas doenças infecciosas mais
marcantes da altura, como a lepra ou a cólera, e no desenvolvimento
de vacinas que permitiam uma luta mais racional e eficaz contra estas
doenças.
Neste período, denominado de era bacteriológica ou pasteuriana, assiste-se a um abandono do paradigma hipocrático, assim como de todas as
ideologias defensoras do determinismo ambientalista, ao mesmo tempo
que se afirma a teoria da unicasualidade. Os defensores desta teoria
consideravam que, uma vez identificados os microrganismos patogénicos e os seus meios de transmissão, a prevenção e tratamento das
doenças correspondentes seriam um facto, ignorando os demais determinantes causais relacionados com os factores hospedeiros (LEMOS
& LIMA, 2002).
Durante as primeiras décadas do século XX, com a afirmação de um novo
paradigma científico (o Possibilismo), muitos dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Geografia Médica são alvo de fortes criticas, face à
influência do determinismo ambientalista que acarretavam. Os possibilistas, interessados pelo estudo analítico dos vários elementos físicos
e humanos, consideravam que entre o homem e o meio físico apenas
existiam relações de contingência, o que não permitia o estabelecimento
de leis. Subsequentemente, inúmeros são aqueles que advogam o abandono deste ramo da Geografia, argumentando que se trata de um campo
de investigação de médicos e não de geógrafos, dada a incompatibilidade
com o objecto de estudo ciência geográfica (NOSSA, 2001).
Inês Martins Andrade
31
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Somente a partir da década de trinta do século XX, a teoria da unicasualidade entra em crise e começa a prevalecer a ideia de multicasualidade,
face à constatação de que as doenças são o produto de múltiplas causas.
Assim, a Geografia Médica registaria um novo impulso científico, sendo
de opinião generalizada que para tal foi notório o contributo dado pelo
geógrafo Max Sorre. Inspirado nos trabalhos e ideias de Vidal de La
Blache, Sorre acabou por dar continuidade à obra do nome sonante da
escola francesa do Possibilismo, definindo os verdadeiros fundamentos
da Geografia Médica no seu artigo «Complexe pathogéne et geographie
médicale», publicado na revista Annales de Geographie, em 1933. Max
Sorre salientava que a Geografia deveria conferir maior importância às
inter-relações entre o homem e o ambiente e aprender com tal, uma vez
que daí provinham inúmeras consequências, como sendo as doenças
(COSTA & TEIXEIRA, 1999).
Entre 1930 e 1970, a Geografia Médica evoluiu de forma autónoma, adaptando-se às múltiplas correntes e escolas de conhecimento científico
que surgiam (NOSSA, 2001). Esta constituía uma área de estudo de interesse para diferentes especialistas. Entre eles salientam-se os sociólogos, sobretudo, na continuação do trabalho desenvolvido pela Escola
Ecológica de Chicago, relativamente à preocupação com o padrão de
distribuição espacial das doenças, mas também os antropólogos, que
procuravam analisar os factores culturais da saúde e da doença, e psicólogos, que atribuem grande relevo às preocupações com as perturbações mentais em espaços urbanos, assim como a tantas outras temáticas desenvolvidas a meio caminho entre as ciências sociais e a medicina.
Todavia, a Geografia Médica só viria a ser reconhecida internacionalmente no âmbito da Geografia aquando do Congresso Internacional de
Geografia, realizado em Lisboa, no ano de 1948. Embora já anteriormente exitissem abordagens deste tipo em Geografia, só a partir de
então se passou a estabelecer uma relação estreita entre Geografia e
Saúde.
Assim, decorridos vários séculos de desenvolvimento um pouco à margem da Geografia, ainda que mostrando uma forte associação entre
saúde e espaço geográfico nos trabalhos elaborados por médicos, no
despoletar do século XXI, a Geografia Médica afirma-se indelével como
uma área do saber da ciência geográfica.
Inês Martins Andrade
32
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 1 – Análise Diacrónica dos Momentos
de Evolução Primordiais da Geografia Médica
1960 a 1980
1950 a 1960
1930 a 1950
PARADIGMA
CIENTÍFICO
ECOLOGIA
DA DOENÇA
GEOGRAFIA
QUANTITATIVA
GEOGRAFIA
HUMANISTA
GEOGRAFIA
CRÍTICA
FUNDAMENTO
IDEOLÓGICO
LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
Relação entre o ambiente
natural e as doenças
endémicas e infecciosas
• Compreensão do complexo quadro relacional entre
os factores patogénicos e geoénicos
Procura de regularidades
espaciais e preocupações
locativas dos equipamentos
de saúde
• Estudos sobre a difusão das doenças
• Optimização e localização dos equipamentos
colectivos de saúde
• Acessibilidade aos equipamentos de saúde
• Equidade na utilização dos serviços de saúde
Valorização das dinâmicas
comportamentais
• Valorização do comportamento e da experiência
individual como factores capazes de influenciar
a escolha e a utilização dos cuidados de saúde
As desigualdades
sociais e espaciais
• Análise das estruturas e redes de equipamentos
sanitários
• Identificação de padrões de equidade na utilização
dos serviços de saúde
2. TENDÊNCIAS RECENTES EM GEOGRAFIA DA SAÚDE
2.1. A Diversidade de Expressões
Nas últimas décadas, a Geografia Médica tem sido alvo de uma profunda
reflexão e intenso debate em torno da sua designação. Embora inicialmente a expressão generalizada tenha sido a de «Geografia Médica»,
actualmente assiste-se a uma pluralidade de expressões, nomeadamente, a de «Geografia das Doenças» (amplamente generalizada entre
os anglo-saxões, ao longo do século XX) ou a de «Geografia da Saúde»
(surgida no Congresso de Moscovo, da União Geográfica Internacional,
em 1976).
Inês Martins Andrade
33
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Para os defensores da «Geografia Médica», factores como a existência
de uma longa tradição nesta expressão, o facto desta ser a designação
adoptada pelos autores (de formação geográfica e não geográfica) mais
representativos desta temática ou ainda o facto de alguns autores considerarem que a mudança de designação não acarreta consigo necessariamente inputs para a temática em causa, fundamentam a sua perenidade (Simões, 1989).
Por outro lado, inúmeros investigadores apresentam um conjunto de
constrangimentos à utilização da expressão «Geografia Médica», sendo
o mais relevante o facto de se considerar que a expressão «Geografia
Médica» se centra, sobretudo, nas questões de mortalidade e morbilidade e, como tal, reflecte preocupações ao nível da doença, não manifestando o devido interesse e preocupação com a saúde propriamente dita.
Os defensores desta perspectiva consideram que a denominação «Geografia da Saúde» se apresenta mais abrangente, uma vez que denota uma
preocupação com o estudo da doença, mas igualmente da saúde. Esta
abordagem é, em parte, reflexo das próprias alterações registadas no
conceito de saúde, particularmente notável na designação de saúde adoptada pela OMS, em 1948. De acordo com esta, a saúde não é apenas a
ausência de doença, trata-se de algo mais abrangente, pois constitui um
bem-estar humano transversal a três vertentes: física, psíquica e social.
Encontrando-se o presente trabalho centrado no acesso e utilização aos
cuidados de saúde de uma população-alvo tendencialmente desfavorecida (os imigrantes), considera-se que a expressão mais adequada é a de
«Geografia da Saúde». A opção por esta expressão resulta ainda de no
presente trabalho se utilizar o conceito de saúde tal como este é entendido na definição de saúde proposta pela OMS, ou seja, saúde não se
pode traduzir meramente num conjunto de indicadores mensuráveis,
pois constitui algo mais amplo. Por outro lado, a adopção desta expressão resulta desta ser a mais utilizada em alguns dos principais e recentes trabalhos de investigação desenvolvidos em Portugal neste campo
científico, designadamente, «Saúde: O Território e as Desigualdades»,
de José Simões (1989), «Geografia da Saúde: O caso da Sida», de Paulo
Nossa (2001) ou ainda «Geografias da Saúde e do Desenvolvimento: Evolução e Tendências em Portugal», de Paula Santana (2005).
2.2. A Relevância do Fenómeno de Urbanização em Geografia da Saúde
Concomitantemente, nas últimas três décadas, tem-se registado uma
ampliação das preocupações da Geografia da Saúde. Esta tem-se inteInês Martins Andrade
34
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ressado pelo estudo de questões muito diversificadas e complementares, entre as quais se salientam, por exemplo, as determinantes de
saúde; a avaliação do estado de saúde das populações; a análise de
novas doenças e principais factores de risco; a identificação de grupos
populacionais tendencialmente vulneráveis; os padrões de distribuição
e difusão das doenças; a acessibilidade e utilização dos serviços de
saúde; a localização e áreas de influência dos equipamentos e serviços
de saúde, entre muitos outros.
Estas transformações encontram-se fortemente associadas a tendências recentes, sendo o fenómeno da urbanização considerado por muitos
especialistas um dos factores que mais tem influenciado a saúde das
populações, quer pelo lado negativo, ao aprofundar o fosso das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde e promover o desenvolvimento
de novas patologias, quer pelo lado positivo, assegurando às populações
o acesso e a utilização de um conjunto de factores indutores de um bom
estado de saúde (Santana, 2000).
Atendendo a que o ritmo de crescimento das cidades tenderá a manter-se e, em alguns casos, até a intensificar-se durante os próximos anos,
e tendo em conta que é nas cidades que se concentra preferencialmente
a população imigrante em todo o mundo, importa analisar alguns dos
principais factores derivados do fenómeno da urbanização, potencialmente desvalorizadores ou enriquecedores do capital saúde, assim como
alguns factores com capacidade de filtrar estes impactes e assim explicar as desigualdades no acesso e utilização dos cuidados de saúde e na
própria saúde ou ausência desta.
2.2.1. Factores Urbanos de Desvalorização do Capital Saúde
No âmbito dos factores urbanos de desvalorização do capital saúde, os
novos ritmos de vida constituem um aspecto de grande relevância. Estes
encontram-se fortemente marcados pelo stress e perda de relações de
sociabilização, o que em muito contribui para o isolamento, o que se
repercute, por exemplo, no acréscimo de perturbações mentais e do
suicídio.
Correlativo dos novos ritmos são os novos estilos de vida, os quais têm
contribuído para novos padrões de mortalidade e morbilidade, com particular destaque para a incidência das mortes «evitáveis», como os acidentes de viação ou a proliferação de doenças infecto-contagiosas como
o SIDA, que manifestam uma particular incidência nos grupos etários
Inês Martins Andrade
35
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
mais jovens. Entre estes, importa salientar também a difusão de novos
hábitos, numa primeira fase tipicamente urbanos, como sendo o consumo de tabaco, que embora em decréscimo, continua a afectar uma
percentagem significativa da população mundial, pois segundo a OMS
é a causa de morte de 4,9 milhões de pessoas em todo o mundo, ou o
consumo de estimulantes e outros tipos de drogas, com efeitos nocivos na saúde, especialmente graves a longo prazo (complicações psiquiátricas, alterações neurológicas, cardiopatias, problemas respiratórios, etc.).
Os novos ritmos e estilos de vida têm em muito contribuído também
para a diminuição da actividade física (devido a actividades profissionais
menos exigentes fisicamente, mas também devido à substituição da
mobilidade pedonal por diferentes modos de transporte, em particular
pelo automóvel) e substituição de regimes alimentares saudáveis, ricos
em nutrientes, por refeições excedentárias em alimentos pouco nutritivos e com muitas gorduras (como as gorduras saturadas e os ácidos
gordos), de que o fast food, mundialmente generalizado, é exemplo ilustrativo. A junção da inactividade física e hábitos alimentares pouco saudáveis em muito tem contribuído para o aumento do excesso de peso e
da obesidade, o que tem sido responsável pelo aumento de doenças cardiovasculares, o que constitui efectivamente uma das principais causas
de morte prematura.
Entre os novos estilos de vida, não podemos ignorar as consequências da
exposição humana às radiações electromagnéticas. Nas últimas décadas, este tem sido um fenómeno em rápido crescimento que tem manifestado particular incidência nos centros urbanos, onde se generalizou a
utilização das novas tecnologias de informação e de comunicação, como
o telemóvel, e onde a instalação das respectivas estações de base é mais
incidente. Embora os seus efeitos na saúde das populações ainda não se
encontrem bem definidos, esta constitui outra das múltiplas situações
de risco para a saúde das populações urbanas.
É também particularmente nas grandes cidades que mais se regista
uma afirmação de novos padrões familiares, entre os quais se destacam
as famílias monoparentais. Tratando-se muitas vezes de famílias monoparentais femininas, que têm a seu cargo uma criança e se deparam
com situações de desemprego ou emprego precário, ao que acresce o
facto de, em algumas situações, não terem um suporte familiar, estas
confrontam-se com diversos problemas. Entre as consequências negativas para a saúde decorrentes desta realidade, destacam-se as complicações ocorridas durante a gravidez, o que pode efectivamente conduzir
Inês Martins Andrade
36
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
a abortos, nascimentos de crianças prematuras, crianças com baixo
peso, ou ao aparecimento de diversos outros constrangimentos para
a saúde após o nascimento da criança e no decurso do seu respectivo
desenvolvimento psico-motor.
Associado à intensificação dos fenómenos de urbanização e globalização
tem-se observado uma mobilidade crescente (migrações pendulares
diárias, migrações de residência ou migrações com fins de turismo e
lazer), o que cria importantes desafios para a saúde. Os desafios ao nível
da delimitação/controlo da propagação de doenças e globalização das
ameaças são provavelmente a questão central. De facto, as cidades, em
especial as grandes metrópoles mundiais, pelos elevados fluxos migratórios diários que registam, constituem importantes portas de entrada a
novas infecções, vírus, bactérias, tornando qualquer problema de saúde
numa problemática de carácter mundial.
No que trata aos movimentos populacionais, o fenómeno da imigração
apresenta um papel essencial, uma vez que influencia a saúde das populações urbanas de diversas maneiras. Por um lado, porque os estilos
de vida que alguns imigrantes tinham no seu país de origem, permite-lhes muitas vezes compensar os malefícios urbanos, justificando uma
maior resistência a determinadas patologias comparativamente à população autóctone, por outro lado, porque o facto de alguns imigrantes
serem provenientes de regiões do globo com elevadas prevalências
de certas doenças (novas ou já há muito extintas nos países de acolhimento), leva a que estes possam constituir canais de difusão dessas
mesmas patologias, face às quais os residentes das cidades não apresentam resistências.
A concentração populacional em grandes aglomerados populacionais
tem tido também consequências muito nefastas ao nível ambiental.
A concentração de população, de inúmeras actividades económicas,
em especial industriais, e de múltiplos modos de transporte, muitos
dos quais ambientalmente pouco sustentáveis, são correlativos de uma
intensificação da poluição, do aumento dos lixos derivados de produtos
de consumo, da degradação dos diversos recursos naturais, assim como
da sobrexploração das fontes de energia não renováveis. Acrescendo a
tudo isto a escassa presença de manchas florestais nas cidades conduz
também ao aumento da temperatura, causado pela presença de estruturas que retêm o calor e dos inúmeros edifícios que provocam a obstrução da circulação dos ventos. A poluição do ambiente natural e a promoção de transformações climáticas são indissociáveis de diversas
doenças, em especial, das doenças respiratórias, irritações alérgicas,
Inês Martins Andrade
37
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
problemas como a asma, afectando em particular alguns grupos mais
vulneráveis, como os idosos e as crianças.
A intensa construção de edifícios em betão, a elevada concentração
de arranha-céus, as mega construções de superfícies comerciais e as
ruas convertidas em autênticas máquinas de tráfego que caracterizam
o mundo urbano contemporâneo, e especialmente as grandes metrópoles, são também usualmente associados a vários problemas de saúde.
Destacam-se as patologias mentais, o constrangimento do desenvolvimento das crianças, ou outros aspectos decorrentes do facto das populações permanecerem muito mais tempo fechadas em casa ou nos
escritórios do que na rua, acentuando a prolongada exposição ao estreito
espectro da luz artificial, o que acaba por privar os indivíduos dos estímulos necessários fornecidos pela luz solar, podendo simultaneamente
perturbar os ritmos corporais internos, que se baseiam no dia solar
(LYNCH, 1999).
Embora as consequências para a saúde das populações derivadas da
urbanização se façam sentir um pouco por todo o mundo, é nos Países
em Vias de Desenvolvimento que as consequências da urbanização
são mais trágicas. O processo de urbanização nestes países, ainda que
recente, tem-se processado a ritmos muito elevados, o que tem criado
novos problemas de saúde. A inexistência de um planeamento territorial
capaz de responder às necessidades mais elementares dos massivos
fluxos populacionais que se dirigem para as cidades, faz com que as
populações vivam desprovidas das condições básicas de higiene e habitação, fomentando os acidentes domésticos e dando uma maior dimensão às catástrofes naturais. O facto destes territórios serem usualmente
perspectivados pelas grandes empresas multinacionais como paraísos
para a produção, pela mão-de-obra barata, pela inexistência de controlo
ambiental ou pelos benefícios fiscais, incrementa significativamente os
níveis de poluição destas regiões, conduzindo à contaminação dos seus
ecossistemas naturais. Por outro lado, a própria incapacidade de resposta às aspirações pessoais leva, muitas vezes, aqueles que efectuaram
o êxodo rural a comportamentos de risco, como forma de sobrevivência,
ou a refugiarem-se no álcool (que no ano 2000 era responsável por 4%
da morbilidade a nível mundial) ou ingerência há drogas. O desemprego,
que marca profundamente o quotidiano destes territórios, acarreta frequentemente situações de fome, de impossibilidade de aceder a uma
habitação, à formação e informação ou aos cuidados de saúde, promovendo a chamada falta de sustentabilidade do crescimento humano
(SANTANA, 2000).
Inês Martins Andrade
38
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
As cidades dos Países em Vias de Desenvolvimento configuram assim
um ambiente fértil para a proliferação de doenças infecto-contagiosas,
promovidas pela associação entre a má nutrição e as condições ambientais, como a tuberculose, doenças transmitidas sexualmente como o
SIDA ou a hepatite B, doenças usualmente atribuídas à adopção de estilos de vida urbanos, como o cancro e a diabetes, ou ainda doenças de
foro psicológico associadas à desintegração social ou ao consumo de
drogas e ingerência abusiva de álcool.
Nos Países ditos Desenvolvidos, para além dos factores urbanos de desvalorização do capital saúde referidos, importa ter em conta que, seja
nos locais com elevados níveis de urbanidade ou nas suas áreas rurais
despovoadas, os novos padrões de vida têm conduzido a um duplo envelhecimento populacional, resultante da diminuição considerável das
taxas de fecundidade e natalidade e, por outro lado, do aumento da esperança média de vida, em virtude da melhoria das condições de vida, o que
faz aumentar a proporção de idosos na estrutura etária destas sociedades. Esta nova realidade demográfica, tem criado novos problemas de
saúde (crónicas e degenerativas) e um aumento do consumo de cuidados
de saúde em geral e de cuidados continuados em particular. Aos problemas físicos dos idosos acresce, muitas vezes, uma junção de problemas
de ordem mental, em consequência do isolamento a que estão sujeitos,
agravando assim as condições de idoso.
Inês Martins Andrade
39
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 2 – Análise sistémica dos factores urbanos
de desvalorização do capital de saúde
Cirrose
do fígado
Suicídio
Doenças
Mentais
Síndrome de dependência
do álcool
Isolamento
Frustações
Pessoais
Stress
Acidentes
de viação
Doenças
oncológicas
Dificuldades
respiratórias
Intensificação
da Poluição
Aumento
dos Resíduos
Sólidos
Problemas
dermatológicos
Difusão
do Automóvel
Novos Ritmos
de Vida
Doenças
infecciosas
e sexualmente
transmissíveis
Comportamentos
de Risco
Novas Agressões
Ambientais
Doenças
oncológicas
Novos Padrões
de Vida
Novos Hábitos
Alimentares
e Tabágicos
Degradação
dos Recursos
Naturais
Urbanização
Perturbações
Mentais
Migrações
Pendulares
Diárias
Obesidade
Novos Padrões
Familiares
e Demográficos
Novos Padrões
de Mobilidade
Migrações
de Residência
Turismo
Difusão
e Lazer
Diminuição
das doenças
da Mobilidade
Pedonal
Doenças
cardiovasculares
Hipertensão
Envelhecimento
Populacional
Famílias
Monoparentais
Diminuição
dos laços
familiares
Aborto
Crianças
prematuras
Perturbações
Mentais
Doenças
Crónico-degenerativas
Obesidade
Estas transformações têm manifestado impactes múltiplos e de carácter
bastante diversificado no sector da saúde. Por um lado, criam novas
áreas-problema, o que exige um novo tipo de investigações, de técnicas e
metodologias de análise. Concomitantemente, aumenta também o consumo dos serviços de saúde, o que exige uma capacidade de resposta
efectiva por parte do Estado, mas também por parte do próprio sector da
saúde.
Inês Martins Andrade
40
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.2.2. Factores Urbanos de Valorização do Capital Saúde
Embora nos trabalhos científicos centrados nesta temática se abordem,
sobretudo, os malefícios da urbanização para a saúde, não se pode ignorar que a urbanização e a vida em espaços urbanos em muito tem contribuído para a ocorrência de ganhos em saúde. As cidades proporcionam
um conjunto de aspectos inexistentes em espaços com baixas densidades populacionais, fomentam uma supressão de constrangimentos
vários frequentes em áreas rurais, pelas suas especificidades contribuem para o estabelecimento de parcerias e redes promotoras da saúde
dos indivíduos e das comunidades e alargam o espectro da oferta em
sectores muito distintos, o que tem sustentado e impulsionado as lógicas
de migração, a diferentes escalas em todo o mundo.
O desenvolvimento das competências pessoais através do acesso à
educação e à informação que as cidades têm proporcionado, constitui
um dos aspectos essenciais face aos benefícios que tal acarreta em
matéria de saúde. A educação constitui um domínio de real importância,
uma vez que promove o acesso aos recursos por parte das populações,
eleva a sua capacidade participativa, as suas competências e conhecimentos essenciais, o que amplia as oportunidades de aprendizagem
sobre saúde e torna os indivíduos elementos integrantes das políticas e
programas de saúde e não meros alvos. Ao que acresce o facto de existir
nas cidades uma maior concentração de equipamentos de saúde, o que
aumenta a acessibilidade às acções de promoção e educação para a
saúde como aos equipamentos e serviços de saúde propriamente ditos.
Intimamente articulado com a educação está o factor informação, que
também assume maior expressividade nas cidades, pois é aí que há um
maior número de acções de divulgação que permitem opções mais saudáveis, sobre os direitos e deveres em saúde nas suas múltiplas dimensões. A informação é actualmente uma notável forma de promoção da
saúde e, por isso, é uma maneira de aumentar os ganhos nesta área.
A pobreza e o desemprego, questões correntes nas áreas urbanas estão
associados a problemáticas graves como a fome, um dos pré-requisitos
fundamentais para a saúde. Todavia, é nas cidades que há um maior
número de respostas (oferta/recolha de alimentos, distribuição de refeições confeccionadas, de cabazes de alimentos, etc.) e diversidade de
actores que procuram combater esta problemática, como sendo as
Organizações Não Governamentais (ONG’s), as Instituições de caridade
social, os voluntários da sociedade civil, entre outros. Já nos espaços
rurais, em especial, nos Países em Vias de Desenvolvimento, esta temática assume dimensões significativamente maiores. Tratando-se de
Inês Martins Andrade
41
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
sociedades essencialmente agrárias, onde domina a agricultura de subsistência. Nos maus anos agrícolas (de seca ou de cheias) a fome constitui uma importante causa de mortalidade, o que é agravado pelo facto do
combate a este flagelo se encontrar dificultado. A insuficiente cobertura
de redes de transporte e de acessibilidades impede que os alimentos
cheguem frequentemente até muitas das comunidades rurais e aldeias
sem colheitas, levando a que toneladas de alimentos enviados pela
comunidade internacional sejam desperdiçados durante o transporte
e/ou se estraguem nos armazéns.
Uma das condições essenciais para a saúde, transversal aos inúmeros
documentos da OMS ou às políticas e programas dos governos de todo
o mundo, são os recursos económicos/rendimentos. Estes são considerados condição essencial para se assegurar um conjunto de condições
básicas (habitação, alimentação, educação e acesso aos cuidados de
saúde) às populações. O rendimento e a saúde encontram-se profundamente inter-relacionados, pois uma população sem saúde não é capaz
de promover crescimento económico e sem rendimento os indivíduos
não podem aceder a um conjunto de aspectos essenciais para a sua
saúde. Tal como Santana redigiu os «Rendimentos têm consequências
directas na pobreza e, em alguns casos, na exclusão de alguns grupos
populacionais relativamente ao acesso e consumo de determinados bens
e serviços, onde se incluem os da saúde. Os constrangimentos económicos no acesso aos cuidados de saúde podem agravar a já precária saúde
e torna-se também numa causa de exclusão social na saúde e no acesso
aos cuidados de saúde» (SANTANA, 2005).
Dada a elevada concentração de populações e actividades existente nas
cidades, é aí que existem consequentemente maiores oportunidades de
se obterem recursos económicos, é aí que as populações têm mais hipóteses de encontrar uma actividade profissional ajustada às suas qualificações e aspirações pessoais, o que tem fomentado que as migrações
internacionais com fins económicos se concentrem preferencialmente
nas grandes cidades.
Embora a saúde dependa de factores que se estendem para lá do sector
da saúde, é inegável que este exerce um carácter essencial no estado
das populações. As cidades são pólos privilegiados de concentração de
equipamentos e serviços de saúde, uma vez que a racionalização económica cada vez mais presente nas estratégias dos governos, exige contenção dos investimentos, em particular, dos públicos, o que leva a que
estes se concentrem nas cidades, uma vez que é aí que a existência de
limiares de procura justificam níveis de oferta superiores. A maior densiInês Martins Andrade
42
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
dade de equipamentos de saúde nos centros urbanos é válida independentemente da sua natureza jurídica (públicos e privados) e manifesta-se
ao nível dos diferentes cuidados de saúde, isto é, não só nos clínicos e
curativos como também nos de promoção e prevenção.
É também nos centros urbanos e, mais evidentemente, nas grandes
cidades, que a influência de barreiras tradicionais, com impacte directo
na saúde é mais reduzida. Este é um factor relevante, ainda que mais
difícil de medir e de avaliar. Nas áreas urbanas, os novos ritmos e estilos
de vida tendem a diminuir ou mesmo a anular várias práticas, costumes
ou valores fundamentais em ambientes rurais. As ideologias religiosas
contrárias à utilização de métodos contraceptivos e os seus inúmeros
impactes negativos na saúde (gravidezes indesejáveis e consequências
daí derivadas; difusão de doenças infecciosas, etc.) assim como as práticas culturais e rituais relativos à saúde e realizados sem qualquer tipo
de cuidados médicos (auto-tratamentos e curas tradicionais), são aspectos que podem realmente interferir nos níveis de saúde dos indivíduos.
A generalização dos cuidados de saúde e dos comportamentos saudáveis
nos espaços urbanos em muito tem contribuído para um aceso combate
a estas práticas, e assim se têm alcançado notáveis ganhos nesta área.
Figura 3 – Análise sistémica dos factores urbanos
de valorização do capital de saúde
ACESSO A:
Educação
Informação
Rendimentos
Urbanização
Cuidados de Saúde
Bem-estar físico,
social, mental
das populações
Alimentação
Barreiras culturais
e religiosas
DESVALORIZAÇÃO DE:
2.2.3. Factores Diferenciadores do Capital Saúde
Constituindo o ambiente urbano um espaço simultaneamente promotor
e desvalorizador da saúde das populações, importa compreender que
nesta abordagem sistémica interage ainda uma terceira dimensão de
Inês Martins Andrade
43
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
factores com impacte na saúde. Estas constituem importantes filtros dos
impactes positivos e negativos da urbanização na saúde, razões essenciais para que as populações urbanas apresentem níveis de bem-estar
físicos, psíquicos e sociais tão diferenciados entre si. Entre essas condições essenciais para a saúde, consideram-se particularmente determinantes as seguintes:
Figura 4 – Factores diferenciadores do capital de saúde em espaços urbanos
Rendimentos
Integração
Social
Justiça
Social
Saúde
Paz
Habitação
Condições
de Trabalho
Equidade
Mobilidade
Apesar das inúmeras potencialidades e constrangimentos que a urbanização na sua forma mais globalizante têm gerado ao nível da saúde das
populações, estes factores pelo seu carácter diferenciador manifestam
uma elevada influência, levando a que alguns grupos sociais e económicos sejam potencialmente mais vulneráveis a complicações de saúde
enquanto que outros manifestem melhores estados de saúde. Efectivamente, factores como o rendimento, a integração social ou a mobilidade,
entre outros, justificam que indivíduos residentes no mesmo contexto
urbano, sujeitos aos mesmos factores de desvalorização e potenciação
do capital saúde, registem diferentes níveis de acesso e utilização aos
cuidados de saúde e subsequentemente distintos estados de saúde.
Entre os grupos e comunidades particularmente vulneráveis destacam-se, as crianças e os idosos pobres, os sem-abrigo, os desempregados,
os imigrantes, as famílias monoparentais femininas, os ex-reclusos, os
consumidores dependentes de álcool/drogas duras, as pessoas portadoras de deficiência, entre outros grupos considerados de risco ou pessoas e famílias em situação de carência sócio-económica, visto que são
estes preferencialmente que acumulam factores adicionais de desfavorecimento.
Inês Martins Andrade
44
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
De entre estes, a população imigrante manifesta alguma especificidade,
pois para além dos problemas com que se confrontam os outros grupos
identificados como socialmente desfavorecidos, deparam-se ainda com
um conjunto de outros factores que manifestam um papel determinante
na saúde. É o caso das dificuldades linguísticas, do choque cultural ou
das burocracias legislativas, o que levam a que este grupo mereça particular atenção, de modo a reduzir-se ou pelo menos a atenuar-se a sua
precariedade e a promover-se a sua integração.
Inês Martins Andrade
45
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CAPÍTULO II – REFLEXÃO EM TORNO DOS CONCEITOS
DE SUSTENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
Os termos utilizados em Geografia da Saúde são muito diversificados,
como o podemos constatar à medida que percorremos a bibliografia, os
glossários das fontes de informação estatísticas, das entidades de saúde
e dos principais investigadores nesta temática. Naturalmente, em função
do objectivo central da linha de investigação desenvolvida encontramos
associado um conjunto específico de conceitos mais relevantes para a
descrição, caracterização e avaliação dessa questão. Assim sendo, de
seguida, procurar-se-á apresentar o quadro conceptual de referência
e lançar alguns debates para uma melhor compreensão do estado de
saúde da população imigrante e o seu respectivo acesso e utilização dos
cuidados de saúde.
1. EQUIDADE, UM CONCEITO CENTRAL EM SAÚDE
O termo equidade constitui um factor essencial no processo de integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento, designadamente, no
âmbito da saúde, na medida em que um sistema de saúde equitativo, isto
é, capaz de responder às necessidades dos imigrantes e de garantir um
conjunto de direitos transversais a todos os indivíduos independentemente da sua naturalidade, género, raça ou religião, contribui para uma
efectiva integração dos imigrantes.
Dada a sua condição, os imigrantes estão sujeitos a um risco acrescido
de doença. Não obstante, a sua importância quantitativa crescente em
diversos países e apesar de podermos considerar que todos os países
do mundo se encontram relacionados nesta teia de fluxos migratórios,
quer como pólos emissores, somente como pólos receptores ou assumindo essa dupla condição, as necessidades da população imigrante
continuam a ser pouco atendidas, sobretudo, porque não beneficiam dos
mecanismos de resposta e protecção existentes no âmbito dos cuidados
de saúde e da segurança social, ao qual se articula todo um sistema
muitas vezes ineficaz (MIGUEL e BUGALHO, 2002). Assim, o conceito
«equidade» é provavelmente um dos termos centrais no estudo da saúde
da população imigrante.
A equidade é considerada como um dos objectivos primordiais dos sistemas públicos dos cuidados de saúde, daí a que a sua presença esteja
subjacente nos diplomas fundamentais da política de saúde de países
como o Reino Unido, Suécia, Canadá ou Portugal. Da análise de alguns
Inês Martins Andrade
46
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
excertos da própria Constituição da República Portuguesa, de 2 de Abril
de 1976, transparece claramente a preocupação em assegurar em
Portugal um sistema de saúde equitativo: «Todos têm direito à protecção
da saúde e o dever de a defender e promover (…) sendo esse direito à
protecção da saúde realizado através de um serviço nacional de saúde
universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais
dos cidadãos, tendencialmente gratuito» (Constituição da República Portuguesa, Artigo 64.o).
Os próprios documentos internacionais orientadores da política de saúde
denotam uma forte preocupação em se assegurarem sistemas de saúde
equitativos, questão esta que ganha particular relevo no caso dos grupos socialmente desfavorecidos como os imigrantes. Ilustrativo desta
constatação é o documento da OMS Metas da Saúde para Todos até ao
ano 2000, no qual na sua Meta n.o 1 apela, desde logo, à necessidade de
redução das diferenças: «até ao ano 2000, as diferenças do estado de
saúde entre países e entre grupos dentro de um mesmo país deveriam
ser reduzidas, pelo menos em 25%, graças a uma melhoria da saúde em
nações e grupos desfavorecidos».
No âmbito das estratégias de reforma dos sistemas de saúde adoptadas
pela generalidade dos países incluindo Portugal, a equidade, a par da
eficiência e da qualidade tem-se afirmado como os três pilares centrais
dessas reestruturações, na medida em que constituem componentes
essenciais para se alcançar os objectivos fundamentais propostos pela
OMS. De facto, verifica-se que o financiamento dos sistemas de saúde
de modo mais equitativo e sustentável emerge progressivamente como
a política dominante em inúmeros países. Num estudo desenvolvido
recentemente, por Miguel e Bugalho, demonstrou-se como esta é uma
realidade tanto nos países seguidores do modelo Beveridge, sistema de
saúde baseado predominantemente em impostos com acesso tendencialmente universal aos cuidados de saúde, como é o caso de Portugal,
bem como nos países que seguem o modelo Bismarck, sistemas baseados em seguros obrigatórios onde há um progressivo aumento do controlo e regulação governamental, sendo disso exemplo, França ou
Holanda (MIGUEL e BUGALHO, 2002).
1.1. A Afirmação do Conceito
O aparecimento do tema da equidade em saúde e nos cuidados de saúde
registou-se no início da década de oitenta do século XX com o famoso
«Relatório Black», no Reino Unido. Este tinha como finalidade central
Inês Martins Andrade
47
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
avaliar a forma como as desigualdades em saúde e cuidados de saúde
estavam ou não a ser corrigidas pelo Serviço Nacional de Saúde inglês,
fazendo uma chamada de atenção para a perenidade de algumas desigualdades, cerca de quarenta anos após a criação deste serviço.
Foi neste contexto, que emergiu a discussão em torno do conceito de
equidade entre diferentes especialistas, entre os quais se destaca o
notável contributo dos economistas de saúde Le Grand e Mooney, explicito nos seus estudos «The Strategy of Equality. Redistribution and social
services» e «Equality in health care: confronting the confusion», respectivamente, não só pelo vasto aprofundamento do tema que promoveram
como também pelas ideias inovadoras que desenvolveram (GIRALDES,
1997).
Em Portugal, este tema viria também a ser substancialmente explorado
desde então, com particular incidência no que trata aos cuidados de
saúde primários, constituindo objecto de estudo de vários trabalhos de
investigação desenvolvidos, em particular, por Maria do Rosário Giraldes,
João Lucas ou Correia de Campos.
Uma das primeiras propostas de definição de equidade na saúde foi dada
por Ferreira, o qual entendia este termo como o reconhecimento do
direito de cada pessoa na participação justa nos recursos disponíveis de
uma sociedade, direito que a cada momento apresenta uma dimensão
moral, política, social, económica ou financeira. Ao que acresce ainda
que no caso concreto da saúde, a equidade implica o benefício da utilização dos serviços em condições semelhantes para todas as pessoas e a
consequente necessidade do uso adequado dos fundos e dos recursos
destinados ao funcionamento de cada sector da saúde, tendo em consideração as prioridades estabelecidas (FERREIRA, 1989).
1.2. Dificuldades Teóricas e Operacionais
Contrariamente ao consenso existente em relação ao conceito de «eficiência» 1, que a par do termo de equidade sustentam as principais orientações estratégicas para a saúde, no que trata ao conceito de equidade
existe uma notória dificuldade em obter uma definição consensual, o que
1. Por «Eficiência» entende-se a relação entre os recursos utilizados e os resultados
obtidos em determinada actividade. A produção dita eficiente é a que maximiza os resultados obtidos com base num determinado nível de recursos ou minimiza os recursos
necessários para obter determinados resultados (SANTANA, 2005).
Inês Martins Andrade
48
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
resulta, sobretudo, do seu carácter vago. De facto, este conceito é alvo
de uma grande amplitude de interpretações, que variam em função dos
valores morais, da formação e do próprio entendimento pessoal das pessoas que o utilizam (LE GRAND, 1989).
Percorrendo a bibliografia, verificam-se colagens comuns do termo de
equidade a justiça na distribuição de recursos, direito a usufruir dos
recursos por necessidade ou contribuição, igualdade de acesso aos cuidados de saúde, produção da maior quantidade de bem para o maior
número de beneficiários, igualdade de tratamento para igual necessidades, entre outros.
A forte associação ao conceito de igualdade é provavelmente a mais frequente de todas, sendo o termo equidade muitas vezes utilizado como
sinónimo. Quando se define o conceito de equidade na prestação de
saúde em termos de igualdade, este conceito abrange a dimensão de
equidade horizontal (tratamento igual de indivíduos que se encontram
numa situação de saúde igual) e equidade vertical (tratamento apropriadamente desigual de indivíduos em situação de saúde não igual),
considerando-se que havendo «igual tratamento para igual necessidade» ou «igual acesso» existe necessariamente equidade em saúde.
Ainda que numa abordagem superficial tal possa ser considerado um
tratamento equitativo, na prática esta concepção levanta dificuldades
óbvias.
Pensando no caso de dois imigrantes que se encontrem em igual circunstância em termos de problemas de saúde e sejam submetidos a
igual tratamento de saúde, este pode não promover a equidade, porque
em resultado das suas realidades genéticas, comportamentos e padrões
de vida distintos, entre outros aspectos, estes poderão apresentar diferentes respostas ao mesmo tratamento.
Frequentemente, é colocado o enfoque na «igualdade de acesso» como
condição para a equidade. Todavia, recorrendo ao factor escolha, factor
introduzido por Le Grand neste tipo de análise, evidencia-se que desigualdades no acesso não significam necessariamente acessos não equitativos (LE GRAND, 1989). Deste modo, no caso de dois imigrantes que
tenham escolhido Portugal como país de destino, mas que se estabelecem em lugares distintos, de modo a ficarem próximos das suas comunidades de origem, e que esses lugares têm níveis de oferta de cuidados
de saúde completamente distintos, não se pode considerar que para uma
determinada comunidade de imigrantes o sistema de saúde é menos
equitativo, porque tem de enfrentar custos pessoais superiores para
Inês Martins Andrade
49
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
receber o mesmo tratamento, uma vez que foi o próprio imigrante/comunidade a assumir essa escolha.
Enquanto que a equidade é um conceito do domínio da justiça social, tem
uma dimensão ética e constitui um conceito relativo, a igualdade não
denota necessariamente uma dimensão ética, é um conceito mais absoluto que compara diferentes níveis de saúde, de recursos, de acesso, de
utilização entre diferentes indivíduos e comunidades.
Ainda que muitos autores perspectivem a equidade como uma forma
de justiça na obtenção, no uso e no acesso aos cuidados de saúde, este
conceito é muito mais vasto, abrangendo outros aspectos. Entre as propostas mais interessantes encontra-se, por exemplo, a de Ferreira e
Lourenço, centrada na ideia de que o conceito de equidade deve também
ser estendido a aspectos da relação dos cidadãos com os sistemas de
saúde e à forma com estes são recebidos e tratados em termos técnicos
e humanos pelas organizações, instituições e profissionais de saúde.
Subsequentemente, perante as mesmas necessidades de cuidados de
saúde e os mesmos tratamentos e acesso, os imigrantes, assim como
todo o restante universo de utentes, podem ter uma avaliação subjectiva
distinta da qualidade dos serviços prestados. Assim, estes autores consideram que as avaliações subjectivas sobre a qualidade dos cuidados
e serviços prestados podem representar um importante contributo para
o estudo da equidade em saúde (FERREIRA, LOURENÇO, 2003).
Para além das dificuldades conceptuais, a concretização prática deste
conceito confronta-se também com constrangimentos. No que concerne
às medidas adoptadas pelo sector da saúde, para se alcançar efectivamente a equidade nos cuidados de saúde, importa não só reduzir as
desigualdades em saúde, como também tornar a utilização e o acesso
aos cuidados de saúde mais justo. Sendo que equidade na utilização dos
cuidados de saúde exige também equidade na afectação de recursos,
levantam-se desde logo várias problemáticas. A questão central resulta
da introdução de programas de contenção de custos na maioria dos sistemas de saúde e da subsequente necessidade de tornar os sistemas
cada vez mais eficientes. De modo a ilustrar mais nitidamente esta problemática, consideremos a questão da acessibilidade, ou seja, nos territórios com fracas densidade populacionais, pode-se considerar eficiente
que a localização dos serviços de saúde de elevada utilização ultrapasse
os níveis considerados aceitáveis, gerando-se assim iniquidades no
acesso aos serviços por parte dos utentes residentes nestes territórios
comparativamente aos que residem nas áreas urbanas densamente
povoadas e dotadas de equipamentos de saúde.
Inês Martins Andrade
50
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Ainda que se tratando de um conceito essencial, o seu carácter generalista e de forte componente subjectiva, susceptível de interpretações
diferenciadas em contextos e escalas temporais distintas, constitui um
problema frequentemente apontado, uma vez que se torna muito difícil
estabelecer indicadores que permitam avaliar a equidade alcançada.
2. ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
2.1. Análise Conceptual
Para a compreensão do estado de saúde das populações, independentemente de se tratarem de autóctones ou de imigrantes, é fundamental compreender o acesso e a utilização dos cuidados de saúde, visto
que tal abordagem contribui para um melhor entendimento das causas
da desigualdade, do mesmo modo que, pela identificação das principais variáveis que condicionam o acesso e a utilização das populações
aos cuidados de saúde, se torna possível delinear novas estratégias
para as políticas e assim contribuir para a promoção e prevenção da
doença.
Uma das recomendações prioritárias da OMS, expressa em vários
documentos resultantes das Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, desde a adopção da Declaração de Alma-Ata, em 1977,
consiste na necessidade de aumentar o acesso aos cuidados de saúde
e assegurar a sua utilização, por considerar tratar-se do caminho mais
eficaz para reduzir as desigualdades de saúde nas pessoas económica
e socialmente mais desfavorecidas.
O conceito «acesso aos cuidados de saúde» exprime a possibilidade temporal, geográfica ou financeira, que os indivíduos têm em obter cuidados
de saúde apropriados às suas necessidades, de modo a alcançarem
ganhos em saúde. Alguns autores fazem ainda a distinção entre «acessibilidade potencial», que é influenciada pelas características quantitativas
e qualitativas de uma determinada população e pelo respectivo sistema
de cuidados de saúde, e a «acessibilidade expressa/revelada» que ocorre
quando a necessidade de cuidados de saúde percebida ou profissionalmente reconhecida é convertida em utilização dos serviços, podendo ser
medida de diferentes formas, nomeadamente, através da frequência de
atendimento ou nos resultados dos actos médicos (SANTANA, 1993).
Por sua vez, o conceito de «utilização dos cuidados de saúde» expressa o
uso da oferta de serviços, num determinado período de tempo, e enconInês Martins Andrade
51
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
tra-se dependente da quantidade e qualidade da oferta do sistema de
saúde, mas também das necessidades e das características do utente.
Este pode ser medido através de diversos indicadores, designadamente,
pelo número de consultas em centros de saúde ou em hospitais; pelo
número de consultas de urgência nos diversos equipamentos de saúde;
número de atendimentos em ambulatório; número de consultas por
valência, entre outros.
2.2. Condicionantes ao Acesso/Utilização dos Cuidados de Saúde
O acesso e a utilização dos cuidados de saúde são influenciados por diferentes tipos de factores, os quais podem ser agrupados em dois grandes domínios: a oferta e a procura. A sua compreensão implica uma
abordagem bilateral, uma vez que estes factores se inter-relacionam
mutuamente.
No que concerne à oferta identificam-se duas tipologias de constrangimentos no acesso e utilização dos cuidados de saúde, que consistem nas
barreiras estruturais potenciais e as características dos profissionais
de saúde.
A primeira, barreiras estruturais potenciais, é relativa às especificidades do sistema de saúde, por exemplo, disponibilidade de oferta de serviços ou profissionais, pagamento de taxas moderadoras, tempo de deslocação até aos respectivos equipamentos ou serviço de saúde, horário
de funcionamento destes mesmos serviços, ou à existência ou inexistência de redes de referenciação. Pensando no caso dos imigrantes recém-chegados a um novo país, muitas vezes sem emprego e sem recursos
económicos, caso tenham que percorrer uma elevada distância para
aceder aos serviços de saúde de que necessitam, compreende-se como
a localização e a deslocação podem ser constrangedores do acesso e a
utilização aos cuidados de saúde.
A segunda tipologia remete para as particularidades dos profissionais
de saúde, o que vai desde a sua idade, género, religião, etnia, experiência
profissional ou atitude no exercício da sua actividade. Assim, considerando as situações em que a etnia de um médico ou enfermeiro não lhe
permita examinar um utente de determinada nacionalidade e/ou etnia,
torna-se evidente como as características dos profissionais de saúde
podem também comprometer o acesso e a utilização dos utentes aos
cuidados de saúde.
Inês Martins Andrade
52
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Relativamente à procura, identificam-se também dois tipos de factores:
as características imutáveis e as características mutáveis do utente.
Quanto às características imutáveis, isto é, aquelas que não são controladas pelas políticas e pelas opções estratégicas de cada governo,
incluem-se factores como o género, a idade, a cultura, a etnia ou a
nacionalidade do utente. Os imigrantes muitas vezes têm o seu acesso
e utilização dos cuidados de saúde dificultados, em virtude de não dominarem a língua, o que não lhes permite comunicar com os profissionais
de saúde. Do mesmo modo que a religião ou etnia de determinados imigrantes não lhes permitem que as mulheres possam usar os serviços de
saúde materna quando os profissionais de saúde são do sexo masculino.
Do mesmo modo que muitas etnias consideram a maternidade como
algo muito simples ou que deve ser sujeito a um conjunto de procedimentos/rituais desenvolvidos em casa, o que não leva a que os imigrantes utilizem os cuidados de saúde.
As características mutáveis, correspondem às que podem ser manipuladas, encontram-se entre elas o rendimento, escolaridade, área de
residência ou actividade profissional. O rendimento é considerado por
muitos autores como o factor mais relevante no âmbito das características mutáveis, na medida em que uma baixa capacidade económica
corresponde a maiores necessidades reais em saúde e gera maiores
dificuldades no acesso e na utilização, fomentando assim um ciclo de
degradação do capital saúde, o que exige maior compensação do lado
da oferta. No entanto, todos os outros aspectos manifestam grande
importância, destacando-se em particular a ocupação profissional, uma
vez que aos imigrantes são usualmente atribuídas as actividades de
maior risco para a saúde e com menores garantias sociais, que a população da sociedade de acolhimento rejeita (SANTANA, 2005).
2.3. Uma Condicionante Particular: a Distância
Pela sua matriz geográfica e pela sua centralidade na compreensão do
acesso e utilização dos cuidados de saúde, importa analisar individualmente o factor distância. Este factor há muito que tem despertado o interesse dos geógrafos e sustentado o desenvolvimento de inúmeras investigações que procuram analisar os seus efeitos no acesso e utilização
dos mais diversificados serviços.
À semelhança do constatado relativamente às actividades comerciais por
Salgueiro, em que a organização urbana do comércio se baseia numa
Inês Martins Andrade
53
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
hierarquia de centros comandada pelo centro principal de comércio e
serviços, combinando os princípios de uma estrutura hierárquica com
um modelo urbano monocêntrico e centralizado em que ao desenvolvimento e domínio de um centro se opõem periferias desguarnecidas
(SALGUEIRO, 1996), verifica-se que esta abordagem é extensiva a outros
domínios designadamente aos serviços de saúde, visto que a sua implantação territorial segue também princípios hierárquicos. De facto, os serviços de saúde mais especializados e de menor frequência de utilização,
localizam-se nos principais aglomerados populacionais, enquanto que
os serviços de nível inferior e utilizados com regularidade por grande
parte da população (bens banais) encontram-se dispersos pelo território,
inclusive nos pequenos centros urbanos.
Neste sentido, para a obtenção de serviços e cuidados de saúde mais
raros, as populações residentes em espaços afastados dos principais
centros urbanos, têm de percorrer distâncias maiores do que aquelas
que precisam do mesmo tipo de serviços e residem em espaços de nível
superior na hierarquia urbana. Esta é uma questão particularmente pertinente em Geografia da Saúde, uma vez que o factor distância pode condicionar profundamente o acesso e a utilização dos cuidados de saúde,
manifestando-se como um factor redutor da equidade, o qual parece
difícil de contornar numa lógica de promoção de sistemas de saúde eficientes em nítido crescimento.
O efeito da diminuição da utilização dos serviços com o aumento da distância foi introduzido pela primeira vez na análise dos cuidados de saúde
desenvolvida por Shannon e Dever, em 1974. Estes demonstraram uma
forte relação entre a distância e a utilização, concluindo que o primeiro
pode condicionar de forma acentuada o segundo, pois a maior utilização dos serviços de saúde observava-se nos espaços mais próximos da
implantação destes. Em Portugal, também Santana identificou uma correlação estatisticamente significativa entre a utilização dos serviços de
urgência e das consultas externas e a distância percorrida entre o lugar
de partida (residência dos utentes) e o destino, concluindo que o factor
distância influência negativamente a utilização dos cuidados de saúde
(SANTANA, 1994).
Ainda que a distância possa ser um importante factor condicionante do
acesso e utilização dos cuidados de saúde, considera-se que o efeito distância pode ser contrariado por diferentes elementos, em particular,
relativos à mobilidade e à doença. No que trata ao primeiro, constata-se
que o acréscimo generalizado das acessibilidades e o aumento considerável da capacidade de mobilidade das populações, sobretudo, promoInês Martins Andrade
54
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
vido pela diversificação dos modos de transporte e generalização do
transporte individual, tem contribuído para suprimir os efeitos da distância, tornando consideravelmente próximos lugares fisicamente afastados. Relativamente ao segundo aspecto, constata-se que também a
natureza dos sintomas ou a própria natureza da doença, pode tornar o
efeito distância mais ou menos acentuado, pois se em patologias pouco
graves ou face a sintomas pouco relevantes, a população poderá optar
por não utilizar os cuidados de saúde face à distância elevada a que
estes se localizam em relação ao seu ponto de referência (residência), já
no caso de situações de doença e sintomas graves e exigentes na prestação de cuidados de saúde com urgência, o factor distância não será
suficientemente capaz de impedir o acesso e utilização dos mesmos.
Naturalmente, outros aspectos conduzem a variações consideráveis no
efeito da distância sobre o acesso e a utilização dos cuidados de saúde,
designadamente, as características do sistema urbano de cada país ser
tendencialmente monocêntrico ou policêntrico.
2.4. Modelos Analíticos de Acesso aos Cuidados de Saúde
Sendo a temática do acesso e utilização aos cuidados de saúde uma das
mais antigas linhas de investigação na Geografia da Saúde contemporânea, a análise dos factores que o influenciam há muito que desperta o
interesse dos investigadores. Neste sentido, existem actualmente inúmeros modelos de acesso e utilização dos serviços de saúde, apresentando todos eles simultaneamente traços comuns e especificidades. Tal
facto resulta de, em geral, cada modelo constituir um aperfeiçoamento
do modelo que o antecedeu, assim como da inexistência de critérios
estabelecidos sobre o que se considera fundamental nesta matéria e
ainda da própria base moral e dos valores de cada investigador bem
como os objectivos que conduziram a investigação.
A multiplicidade de modelos analíticos de acesso e utilização tem grande
relevância para os estudiosos nesta matéria, uma vez que a sua complementaridade promove visões sistémicas e leituras mais completas
daquela que é uma questão chave para se assegurar o planeamento de
um sistema de saúde mais equitativo. Porém, este aspecto constitui
simultaneamente um problema, uma vez que os resultados de cada
estudo apresentam fortes limitações, ou seja, não podem ser directamente aplicados noutro contexto espacio-temporal, nem são linearmente comparáveis com os resultados obtidos em estudos de outros
modelos.
Inês Martins Andrade
55
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Um dos mais importantes modelos analíticos desenvolvidos em torno do
pressuposto da existência de um conjunto de factores que influenciam o
acesso e a utilização dos cuidados de saúde, é o de Aday e Anderson,
elaborado em 1974. Ainda que não constituindo o primeiro modelo deste
tipo, manifesta particular relevância por ter constituído uma primeira
tentativa de esquematização dos múltiplos factores que influenciam o
acesso/utilização e das relações que se estabelecem entre as orientações da sociedade, o sistema de saúde e a população.
O modelo de Aday e Anderson tem como factor de base a política de
saúde, onde o financiamento, a educação, a sua organização e os recursos humanos constituem aspectos que podem condicionar ou promover
o acesso e a utilização das populações aos cuidados de saúde. As especificidades da política de saúde (as orientações políticas que cada país
assume) influenciam as características do sistema de saúde e as características da população. Nesta sistematização analítica, considera-se
que os três conjuntos de factores anteriores vão influir na utilização dos
serviços de saúde (no tipo e frequência de utilização) e na satisfação dos
utentes (produto da relação entre as necessidades de cuidados identificados pelos profissionais de saúde e os resultados em termos de ganhos
em saúde).
Figura 5 – Modelo de Acesso aos Cuidados de Saúde de Aday e Anderson, 1974
Política
da Saúde
Financiamento
Educação
Recursos Humanos
Organização
Características
do Sistema de Saúde
Características
da População
Recursos
Distribuição
Organização
Entrada
Estrutura
Mutáveis
Imutáveis
Necessidade
Percebida
Avaliada
Satisfação
do Utente
Utilização
dos Serviços de Saúde
Conveniência
Custos
Informação
Qualidade
Cortesia/Coordenação
Tipo
Local
Motivo
Intervalo de Tempo
Fonte: Aday e Andersen, 1974
Inês Martins Andrade
56
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
À semelhança deste, outros modelos matemáticos assentes em análises
de regressão multivariada foram desenvolvidos, entre as décadas de
setenta e oitenta, contribuindo para uma abordagem mais meticulosa
desta temática. Porém, estes modelos depararam-se com dificuldades
várias que não só comprometiam a sua elaboração como desencadearam algumas críticas. Entre as limitações mais relevantes destaca-se
a elevada quantidade de variáveis que cada modelo compreendia, o que
colocava problemas metodológicos vários, e o facto dos factores associados ao comportamento humanos não poderem ser integrados em modelos matemáticos, quando na verdade se constatou que estes aspectos
manifestavam uma ampla influência nos padrões de acesso e de utilização dos serviços de saúde.
Como forma de suprimir estes constrangimentos, desde o início da
década de setenta, começaram a ser desenvolvidos modelos de acesso
e utilização aos cuidados de saúde que privilegiam a vertente humanista (analisam os factores de predisposição, de disponibilização e de
utilização dos utentes) em detrimento das metodologias matemáticas.
Nestes modelos o elemento-chave é o contexto cultural, isto é, considera-se que mesmo que os restantes factores sejam semelhantes, se o
contexto cultural for distinto, o acesso e a utilização assumirá contornos
diferenciados.
Foi com base nestes pressupostos que Wan e Soifer desenvolveram o
seu modelo de acesso e utilização aos cuidados de saúde. De acordo
com este, os factores sociais, económicos, culturais e tradicionais que
caracterizam cada utente são determinantes e influenciam os factores
de predisposição, como é o caso dos aspectos psicológicos que promovem ou constrangem a consciencialização das necessidades de cuidados
de saúde, isto é, os sintomas e as respostas necessárias, e os factores
de disponibilidade, como por exemplo, os rendimentos e os seguros de
saúde de cada indivíduo que, por sua vez, influenciam a utilização dos
serviços de saúde.
Inês Martins Andrade
57
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 6 – Modelo de Acesso aos Cuidados de Saúde de Wan e Soifer, 1974
Factores Sociais, Económicos, Culturais e Tradicionais
Factores
de Predisposição
Factores
de Disponibilidade
Demográfico
Estrutura Social
Psicológicos
Outros
Individuais (seguros de saúde,
rendimento, etc.)
Sistema de serviço de saúde
Necessidade
de Cuidados de Saúde
Utilização
dos Serviços de Saúde
Sintomas e Resposta
Padrão e Volume
Com base no modelo analítico de Wan e Soifer, decorrida mais de uma
década, em 1987, Stock desenvolveu um novo modelo de acesso e utilização dos cuidados de saúde. No modelo de Stock, os factores de base são
a política do governo de cada país e os valores culturais, embora se dê
alguma primazia aos segundos. São estes dois factores que influenciam
todos os aspectos que determinam o estado de saúde, designadamente,
as estratégias dos cuidados de saúde, os factores de predisposição e os
factores de disponibilidade. Assim sendo, explicar-se-ia, por exemplo
que em algumas culturas humanas mais tradicionais, onde as estratégias dos cuidados de saúde consistam ainda no recurso a curas tradicionais ou a auto-tratamentos, os estados de saúde se apresentem mais
frágeis do que nas sociedades mais desenvolvidas, nas quais culturalmente a estratégia de cuidados de saúde mais generalizada consiste em
utilizar os serviços de saúde.
Inês Martins Andrade
58
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 7 – Modelo de Acesso aos Cuidados de Saúde de Stock, 1987
Factores de Base
A. Política do Governo
Doença
B. Valores Culturais
Estado de Saúde
a. Designação
b. Causa
c. Tipo
d. Duração
Estratégias
de Cuidados de Saúde
Saúde/Doença
a. Auto-tratamento
b. Curas tradicionais
c. Uso de serviços de saúde
Factores de Predisposição
Factores de Disponibilidade
a. Sócio-demográficos
b. Atitudes e comportamentos
c. Experiência de cuidados de saúde
a. Acessibilidade espacial
b. Considerações financeiras
c. Organização
Fonte: Stock, 1987
Em meados da década de noventa, no âmbito da Geografia portuguesa,
Santana desenvolveu uma nova abordagem analítica da utilização dos
cuidados de saúde. Segundo esta, a utilização dos serviços de saúde é o
resultado de um processo complexo no qual interagem inúmeros aspectos e estabelecem relações bidimensionais entre si. Com efeito, consideram-se factores intervenientes na utilização dos cuidados de saúde os
factores ambientais, onde se englobam os aspectos do ambiente físico
como sendo as condições de salubridade em que vivem os indivíduos e
do ambiente social, em que se salientam as respostas sociais existentes
na comunidade; a percepção que cada indivíduo faz do seu estado de
saúde, isto é, como interpreta a causa, o tipo e outros aspectos da sua
saúde/doença, e os factores de predisposição, que se encontra relacionado, entre outros aspectos, com a satisfação que os indivíduos são
obtendo ao longo do tempo com a prestação dos cuidados de saúde.
Estes dois últimos factores (percepção da saúde/doença e factores de
predisposição) influenciam claramente as estratégias para solucionar
os problemas de saúde que os indivíduos adoptam, o que à semelhança
dos modelos de Wan e Soifer e de Stock, denota uma a influência da
componente cultural.
Todavia, a política de saúde é encarada neste modelo o ponto de partida
da análise desta problemática, pois considera-se que é esta dimensão que determina a própria política de saúde, isto é, as estratégias de
Inês Martins Andrade
59
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
promoção da saúde e prevenção da doença, o estímulo à educação para
a saúde e para o tratamento das patologias, como também os factores
da oferta, ou seja, a tipologia de serviços de saúde, bem como a sua respectiva quantidade e qualidade). É à política de governo que compete
compensar as desigualdades de rendimento e melhorar progressivamente a organização e gestão dos sistemas de saúde, por outras palavras, é à política de governo que compete resolver as iniquidades (de
acesso, rendimento, oferta, utilização, educação, satisfação, etc.) locais,
regionais e nacionais que se colocam a um acesso e utilização socialmente justa dos cuidados de saúde, e assim assegurar um sistema de
saúde cada vez mais equitativo (SANTANA, 1995).
Figura 8 – Modelo de Utilização dos Serviços de Saúde
em Portugal, de Santana, 1995
Factores
Ambientais
Saúde/Doença
Designação
Causa
Tipo
Duração
Salubridade
Equipamentos sociais
etc.
Factores
Predisposição
Sócio-demográficos
Atitudes e comportam.
Satisfação c/ C. Saúde
Factores
Disponibilidade
Acessibilidade Especial
Rendimentos
Estratégias
C. Saúde
Auto-tratamento
Cuidados alternativos
Uso dos Serviços
de Saúde
Utilização
dos Cuidados
de Saúde
Política
do Governo
Factores Oferta
Política
de Saúde
Tipos dos cuidados
Qualidade dos cuidados
Quantidade dos cuidados
Referenciação
Prevenção
Educação
Tratamento, etc.
3. DETERMINANTES DE SAÚDE
À semelhança do constatado relativamente ao conceito de equidade,
também o estudo das determinantes de saúde foi amplamente estimulado pelos resultados do «Black Report», uma vez que este advogava
igualmente a necessidade de se aprofundar a investigação em torno das
variáveis que determinam o estado de saúde/doença das populações.
As determinantes em saúde são o resultado de um conjunto de factores
que determinam o estado de saúde dos indivíduos e que podem ser agruInês Martins Andrade
60
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
pados em dois conjuntos: as características pessoais de cada indivíduo
e as características das sociedades e países em que os indivíduos estão
inseridos.
As determinantes de saúde não são sinónimos de «causas de doenças»,
embora por vezes se gere alguma confusão na sua distinção. A causa de
uma doença é um acontecimento, condição, característica ou combinação destes factores que desempenham um importante papel no aparecimento da doença (BEAGLEHOLE et al., 2003). Todavia, à semelhança do
observado em relação às causas da doença, o conhecimento das determinantes de saúde é também de grande relevância, pois permite desenvolver acções de promoção mais eficazes.
No primeiro conjunto de factores, as características pessoais dos indivíduos, encontram-se englobados os factores genéticos/biológicos e os
estilos de vida/comportamentos, uma vez que se tratam de aspectos inerentes e específicos de cada indivíduo.
De facto, a carga genética de cada um pode constituir uma condicionante na saúde, uma vez que se tem verificado que há um conjunto de
patologias que têm causa genética, sendo transmitidas de pais para
filhos através dos genes, ao longo de gerações. Por se tratar de um
domínio de actuação claramente da Medicina, esta é a determinante
em saúde à qual menor importância tem sido atribuída nos estudos de
Geografia da Saúde, o que também se verificará no presente trabalho.
Os estilos de vida e comportamentos de cada indivíduo são considerados por muitos autores como a determinante em saúde mais relevante
numa lógica de promoção da saúde, uma vez que constitui aquela em
que mais facilmente se pode intervir, educando e conferindo às populações a capacidade para exercer uma maior intervenção e controlo sobre
a sua saúde. O estilo de vida e os comportamentos adoptados por cada
indivíduo constituem um factor multidimensional, uma vez que dependem eles próprios em grande medida de componentes diversas como
sendo a cultura, a educação, o emprego, o rendimento, a religião ou as
redes sociais e comunitárias. De facto, a inter-relação entre todos estes
factores determina que cada indivíduo assuma um determinado estilo de
vida e comportamento que pode ser promotor ou redutor da sua saúde.
Entre os comportamentos de risco, mais frequentes no mundo contemporâneo, destacam-se os hábitos tabágicos, o alcoolismo, maus regimes
alimentares, consumo de drogas ilícitas, práticas sexuais de risco, entre
outros, todos eles impulsionadores da probabilidade de surgir ou de se
desenvolver uma doença, ou até mesmo de conduzir à morte. Os estilos
Inês Martins Andrade
61
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de vida e os comportamentos de risco estão substancialmente associados às mortes consideradas evitáveis, isto é, óbitos prematuros considerados como evitáveis tendo em consideração as possibilidades existentes no domínio da prevenção primária (comportamentos e atitudes
saudáveis).
Na segunda vertente, as características das sociedades, dos lugares e
dos países em que os indivíduos estão inseridos, incluem-se dois tipos
de determinantes de saúde: os factores ambientais e os factores político-sociais.
O ambiente como determinante de saúde deve ser entendido na acepção
ampla da palavra, isto é, enquanto ambiente físico e ambiente social,
uma vez que cada um deles determina estados de saúde/doença diversos. A estabilidade do ambiente físico manifesta grande importância para
a saúde humana, uma vez que estes se encontram em constante interacção e como tal o bem-estar de um encontra-se intrinsecamente ligado
com o bem-estar do outro. A contaminação dos ecossistemas, que se
pode propagar nos homens através de diversas vias (inalação, ingestão,
contacto, acumulação nos seres vivos da cadeia alimentar, etc.) está
intimamente associada a vários riscos para a saúde humana. Entre as
patologias mais frequentes destacam-se as infecciosas e transmissíveis
ou as intoxicações agudas. No que concerne ao ambiente social destacam-se aspectos como as más condições habitacionais ou do local de
trabalho, em particular, ao nível da insalubridade, degradação e insegurança, o que determina a existência de estados de saúde mais frágeis.
No contexto do ambiente social, manifestam igual importância o nível
de cobertura da rede de serviços sociais, a acessibilidade a bens e serviços essenciais ou a existência de equipamentos colectivos de relevância, na medida em que a sua existência/inexistência proporciona condições sociais diversas e subsequentemente determina estados de saúde/
/doença também eles distintos.
Os factores político-sociais inerentes a cada país também concorrem
para influenciar o estado de saúde/doença das populações. Em função
das políticas adoptadas por cada governo, variam amplamente elementos como o grau de universalidade, de equidade ou de gratuitidade do
sistema de saúde, assim como o tipo de planeamento e grau de descentralização dos cuidados de saúde ou ainda o tipo de financiamento.
As políticas de saúde podem assim visar objectivos muito distintos, pois
umas têm a eficácia como objectivo e para outras a meta a atingir é
a equidade. No entanto, a actuação das políticas de cada governo vão
muito além do domínio da saúde, manifestam-se também nas políticas
Inês Martins Andrade
62
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de educação, de distribuição de rendimento, de habitação, entre muitas
outras vertentes sociais, sendo que para haver efectivamente ganhos em
saúde, a política de saúde terá de estar integrada em todas as outras.
Deste modo, considera-se que combinação de todas estas políticas
podem contribuir, de forma mais ou menos acentuada, para a promoção
da saúde e, por isso, consideram-se também como uma importante
determinante desta.
Os factores que influenciam a saúde dos indivíduos são assim múltiplos
e interactivos, sendo por isso o estado de saúde/doença o resultado de
uma combinação complexa.
Inês Martins Andrade
63
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
PARTE II – SAÚDE E IMIGRAÇÃO: UMA RELAÇÃO BIUNÍVOCA
CAPÍTULO I – O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE E A IMIGRAÇÃO
1. A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE EM PORTUGAL
1.1. O Serviço Nacional de Saúde
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado na dependência da Secretaria de Estado da Saúde do Ministério dos Assuntos Sociais, pela Lei
N.o 56/79 de 26 de Agosto, promulgada a 15 de Setembro do mesmo
ano (SANTANA, 1993), cujo estatuto ainda em vigor foi aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro.
De acordo com a Lei n.o 56/79, de 15 de Setembro, o SNS abrange todos
os cuidados integrados de saúde, compreendendo a promoção e a vigilância da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença,
bem como a reabilitação médica e social, competindo ao Estado assegurar o direito à saúde de todos os cidadãos, independentemente da sua
condição sócio-económica. Assim, o SNS tem como fim a efectivação por
parte do Estado da sua responsabilidade na prestação de cuidados de
saúde a toda a população e de forma individual, a cada cidadão. Privilegiando os cuidados de saúde primários, o SNS é universal e tendencialmente gratuito, visa garantir a equidade atendendo aos impactes das
desigualdades económicas, sociais, geográficas, no acesso e utilização
aos cuidados de saúde.
O SNS constitui um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e
de serviços oficiais que prestam os cuidados de saúde, funcionando sob
a superintendência ou a tutela do Ministério da Saúde, sendo financiado
pelo Orçamento Geral do Estado. O SNS, sendo integrado por todas as
instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, dependentes do Ministério da Saúde, pode-se afirmar que é composto por três
pilares essenciais que são as administrações regionais de saúde (que
integram as sub-regiões de saúde e os centros de saúde), os hospitais
e diversas outras entidades oficiais que prestam cuidados de saúde.
Todavia, o SNS não esgota em si mesmo o sistema nacional de saúde,
na medida em que este último abrange serviços e entidades públicas,
dependentes ou não do Ministério da Saúde, que desenvolvam actividades no domínio da promoção, prevenção e tratamento da saúde, bem
como também as entidades privadas, que acordem com o SNS a prestação de todas ou parte daquelas actividades.
Inês Martins Andrade
65
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
O SNS gozando de autonomia financeira e administrativa, organiza-se
de forma desconcentrada e descentralizada, compreendendo órgãos de
âmbito central, regional e local, cada um dos quais com características
específicas, e dispõe de serviços prestadores de cuidados de saúde primários e serviços prestadores de cuidados de saúde diferenciados.
1.2. As Redes de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde
1.2.1. A Rede de Cuidados de Saúde Primários
Decorridos mais de trinta anos desde a entrada dos cuidados de saúde
primários em Portugal (Decreto-Lei n.o 413/71, de 27 de Setembro),
estes constituem actualmente o pilar central do sistema de saúde, pois
é através deles que se efectua o primeiro contacto dos indivíduos e das
famílias com os serviços de saúde. Os cuidados primários têm como
objectivos principais promover a saúde e a prevenção da doença, assim
como assegurar a gestão dos problemas de saúde, agudos e crónicos,
tendo em conta a sua dimensão física, psicológica, social e cultural.
Os centros de saúde, serviços que prestam actividades de prevenção primária (promoção e educação para a saúde), secundária (diagnóstico, tratamento e referência para os cuidados secundários) e terciária (reabilitação), têm a sua acção globalmente orientada para os indivíduos, a família
e a comunidade. Os cuidados são prestados em regime ambulatório,
e para alguns locais também em internamento (unidades de internamento dos centros de saúde). Os centros de saúde estão na dependência
orgânica e funcional das Administrações Regionais de Saúde e, como tal,
o seu financiamento é assegurado através de verbas desta.
Ao longo da sua história, os centros de saúde conheceram diversos
momentos, o que originou as denominadas três gerações de centros de
saúde. Com efeito, Branco e Ramos consideram que os centros de saúde
em Portugal passaram por três momentos muito distintos (BRANCO
& RAMOS, 2001):
– A primeira geração surgiu com a reforma de Gonçalves Ferreira,
em 1971, em que a prestação de cuidados de saúde nestas unidades se encontrava associada ao conceito de saúde pública
vigente na época;
– A segunda geração emerge, a partir de 1983, com a fusão dos
primeiros centros de saúde com os postos dos ex-serviços
Médico-Sociais;
Inês Martins Andrade
66
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
– A terceira geração resulta da legislação de 1999 sobre os «centros de saúde de terceira geração», na sequência de experiências desenvolvidas na prática, assentes no princípio de «prática
de grupo» e em mudanças na sua estrutura organizativa.
Ilustrando o seu já longo passado de implementação, presentemente os
centros de saúde abrangem a totalidade do território de Portugal Continental, existindo um em cada sede de concelho, com excepção dos grandes aglomerados urbanos, onde poderão coexistir vários centros de
saúde por concelho. De um modo geral, a área de influência de cada
centro de saúde equivale à área geográfica do concelho e, naturalmente,
às freguesias que o integram, ou outra que seja definida no âmbito da
respectiva ARS como sua área de influência.
De modo a assegurar uma maior acessibilidade por parte da população
aos cuidados de saúde primários, procurou-se que as unidades que
prestam estes serviços se encontrem o mais descentralizados possível,
ou seja, se encontrem tanto quanto possível próximos dos cidadãos. Com
efeito, os centros de saúde dispõem de unidades mais pequenas, designadas por extensões de saúde, as quais geralmente correspondem à
área de influência das freguesias, mas também SAP (Serviço de Atendimento Permanente).
Nos últimos anos, têm sido aprovados vários diplomas legais com vista
à reestruturação dos cuidados de saúde primários. Entre eles salientam-se o Decreto-Lei n.o 60/2003, de 1 de Abril que revoga o Decreto-Lei
n.o 157/99, de 10 de Maio, que ampliou a rede de serviços de saúde, onde,
para além do papel fundamental do Estado, passaram a poder co-existir
entidades de natureza privada e social. Segundo esse mesmo diploma
legal que institui a rede de cuidados de saúde primários, esta é então
constituída pelos centros de saúde integrados no SNS, pelas entidades
do sector privado, com ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados
de saúde primários a utentes do SNS, ao abrigo de contratos estabelecidos de acordo com a legislação em vigor, e por profissionais/agrupamentos de profissionais em regime liberal, constituídos em cooperativas
ou outras entidades, com quem sejam celebrados contratos, convenções
ou acordos de cooperação.
Conscientes do papel fulcral que os cuidados de saúde primários desempenham no quadro do SNS, considerados o meio mais acessível e eficiente para se promover e proteger a saúde da população, mas também
das suas vastas fragilidades actuais, sintomáticas de novas necessidades da população e de uma incapacidade do Estado em responder às
Inês Martins Andrade
67
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
mesmas, encontra-se em curso um importante processo de reforma dos
cuidados de saúde primários. Estas alterações podem ser agrupadas em
oito grandes reformas que são a reconfiguração e autonomia dos centros
de saúde; a implementação de Unidades de Saúde Familiar; a reestruturação dos Serviços de Saúde Pública; as outras dimensões da intervenção na comunidade; a implementação de Unidades Locais de Saúde;
o desenvolvimento dos recursos humanos; o desenvolvimento do Sistema de Informação; e a mudança e desenvolvimento de competências.
Tratam-se de reformas de grande amplitude e, como tal, alvo de diversificadas resistências entre profissionais de saúde e população em geral.
Todavia, pela sua amplitude e estruturação constituem medidas essenciais para a viabilização da rede de cuidados de saúde primários enquanto
pilar central do SNS.
Figura 9 – Distribuição dos Centros de Saúde, por NUT III,
em Portugal Continental, em 2002
N
MINHO-LIMA
ALTO TRÁS-OS-MONTES
CÁVADO
AVE
GRANDE
PORTO
TÂMEGA
DOURO
ENTRE DOURO
E VOUGA
BEIRA
INTERIOR
NORTE
DÃO-LAFÕES
BAIXO
VOUGA
SERRA DA
ESTRELA
BAIXO
MONDEGO
PINHAL
INTERIOR
NORTE
PINHAL
LITORAL
COVA
DA BEIRA
BEIRA
INTERIOR
SUL
PINHAL
INTERIOR
SUL
MÉDIO
TEJO
OESTE
ALTO
ALENTEJO
LEZÍRIA
DO TEJO
GRANDE
LISBOA
PENÍNSULA
DE SETÚBAL
ALENTEJO
CENTRAL
ALENTEJO
LITORAL
N.o de centros
de saúde
BAIXO
ALENTEJO
[3 a 5[
[5 a 10[
[10 a 15[
[15 a 20]
[34]
[38]
ALGARVE
0
40 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Anuários Estatísticos – 2002, Tratamento próprio
Inês Martins Andrade
68
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
1.2.2. A Rede de Cuidados de Saúde Diferenciados
O SNS engloba também os cuidados de saúde diferenciados, que são
assegurados pelos hospitais do próprio SNS. Os cuidados de saúde diferenciados, usualmente também denominados de cuidados de saúde
secundários ou hospitalares, têm um propósito essencialmente curativo
e prestam cuidados ao nível do internamento, actos ambulatórios especializados para diagnóstico, terapêutica e reabilitação, consultas externas de especialidade e cuidados de urgência na doença e em situação
de acidente.
Tal como definido no Regulamento Geral dos Hospitais, constante do
Decreto-Lei n.o 48 358, de 27 de Abril de 1968, os hospitais são serviços
de interesse público, instituídos, organizados e administrados com o
objectivo de prestar à população assistência média curativa e de reabilitação e compete-lhes colaborar na prevenção da doença, no ensino, bem
como no domínio da investigação científica. Os hospitais do SNS asseguram, para além de cuidados de saúde que exigem internamento de longa
ou curta duração, a consulta externa de várias especialidades que possuem e a formação pós-graduada de médicos e enfermeiros (estágios
e internatos).
A prestação de cuidados de saúde diferenciados é efectuada por hospitais gerais e hospitais especializados, encontrando-se estes últimos
vocacionados para áreas médicas específicas. Os hospitais gerais abrangem hospitais de diferentes níveis, que são os seguintes:
– Hospitais Centrais que correspondem aos hospitais que têm
um âmbito de actuação nacional ou supra-regional, sendo
simultaneamente distritais para a sua área de influência, os
quais incluem todas as especialidades básicas (medicina
interna, cirurgia geral, ginecologia – obstetrícia e pediatria),
diferenciadas e altamente diferenciadas;
– Hospitais Distritais Gerais que servem a população de grupos
de concelhos ou, tal como o nome indicam, todo um distrito e
apresentam especialidades básicas e algumas diferenciadas;
– Hospitais Distritais de Nível 1, que constituem o nível mais
baixo nesta hierarquia.
A prestação de cuidados de saúde em unidades hospitalares tecnicamente equipadas é uma realidade que antecede a implantação dos cuidados de saúde primários, pois foi instituída pelo Decreto-Lei n.o 48 357/68,
Inês Martins Andrade
69
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de 27 de Abril. Durante quarenta anos de existência, a procura deste tipo
de cuidados aumentou consideravelmente, sendo disso sintomático o
aumento expressivo do número de hospitais em todo o país. Nos últimos
anos constatou-se que estes apresentavam constrangimentos vários, de
financiamento, gestão, estrutura organizativa, o que se repercutia nitidamente no resultados. Procurando ultrapassar estas fragilidades, foram
recentemente aprovados diplomas, como é o caso da Lei n.o 27/2002,
de 24 de Agosto, que aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar
ou o Plano Nacional de Saúde 2004/2010, que aponta um conjunto de
grandes orientações estratégicas e intervenções para ultrapassar estas
debilidades.
Figura 10 – Distribuição dos Hospitais Gerais em Portugal Continental, em 2005
N
Hospitais gerais
0
40 km
Fonte: Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento,
INFARMED – 2005, Tratamento próprio
Inês Martins Andrade
70
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 11 – Distribuição dos Hospitais Especializados
em Portugal Continental, em 2005
N
Porto
Penacova
Coimbra
Torres Vedras
Cascais
Lisboa
Setúbal
Especialidades hospitalares
Pediatria
Obstetrícia
Ginecologia
Neonatologia
Pneumologia
Infecciologia
Psiquiatria
Oncologia
Ortopedia
Oftalmologia
0
40 km
Fonte: Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento,
INFARMED – 2005, Tratamento próprio
1.2.3. A Rede de Cuidados Continuados de Saúde
Em estreita articulação e em regime de complementaridade com as
redes de cuidados de saúde primários e hospitalares foi recentemente
criada a rede de cuidados de saúde continuados (Decreto-Lei n.o 281/
/2003. DR 259 Série I-B de 2003-11-08).
O aumento da esperança média de vida, do envelhecimento populacional
e subsequentemente das doenças crónicas e degenerativas, bem como
Inês Martins Andrade
71
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
das pessoas vítimas de acidentes ou com patologias de evolução prolongada e potencialmente incapacitante, registados nas últimas décadas,
têm criado novas necessidades de cuidados de saúde em situação de
dependência. Embora este aumento tenha sido acompanhado do surgimento de novas respostas sociais em estreita articulação com as famílias, quando o utente padece de doença crónica, em que necessita simultaneamente de cuidados de saúde e cuidados sociais, o internamento
hospitalar continua a ser a principal resposta.
Já em 1998, procurando responder, de algum modo, a este tipo de novas
necessidades, foram criadas intervenções articuladas de apoio social e
de cuidados de saúde continuados, os quais se destinavam às pessoas
em situação de dependência, eram o Apoio Domiciliário Integrado (ADI)
e a Unidade de Apoio Integrado (UAI). Contudo, só em 2003 viria a ser
aprovada a Rede de Cuidados Continuados de Saúde, que é composta
de acordo com o Decreto-Lei n.o 281/2003 2, «pelos serviços integrados
no Serviços Nacional de Saúde (SNS), por instituições particulares de
solidariedade social (IPSS), misericórdias, pessoas colectivas de utilidade pública e entidades privadas que prestem cuidados de saúde complementares a utentes do SNS, nos termos de contratos celebrados ao
abrigo da legislação em vigor, ou noutras entidades com quem sejam
celebrados contratos, ou acordos de cooperação, que podem ser traduzidos em protocolos».
Atendendo a que a rede de cuidados continuados de saúde tem como
objectivo contribuir para a melhoria de acesso da pessoa com perda
de funcionalidade a cuidados técnica e humanamente adequados, esta
assenta num conjunto de serviços prestadores de cuidados de recuperação em interligação com a rede de cuidados de saúde primários bem
como com os hospitais integrados na rede de prestação de cuidados
de saúde (Decreto-Lei n.o 281/2003. DR 259 Série I-B de 2003-11-08).
Actualmente estão previstas cinco tipologias para unidade de cuidados
continuados que variam entre o tipo 1, mais próximo do internamento
hospitalar, e o tipo 5, prestado no próprio domicílio do utente, e que são
as seguintes:
2. De acordo com o artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 281/2003, por cuidados de saúde continuados entendem-se os cuidados de saúde prestados a cidadãos com perda de funcionalidade ou em situação de dependência, em qualquer idade, que se encontrem afectados na estrutura anatómica ou nas funções psicológica ou fisiológica, com limitação
acentuada na possibilidade de tratamento curativo de curta duração, susceptível de correcção, compensação ou manutenção e que necessite de cuidados complementares e
interdisciplinares de saúde, de longa duração.
Inês Martins Andrade
72
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
– Unidade de tipo 1 – Pós-agudo, convalescença e reabilitação –
presta cuidados em regime de internamento e de unidade de
dia, após fase de internamento hospitalar do utente ou de agudização de determinada patologia, em período de convalescença, que necessite de cuidados clínicos, durante um período
de tempo não superior a 30 dias.
– Unidade de tipo 2 – Longa duração – presta cuidados de saúde
e de apoio social em regime de internamento e de unidade de
dia dirigidos sobretudo à recuperação das funcionalidades e à
potencialização de capacidades, por um período de tempo não
superior a 180 dias.
– Unidade de tipo 3 – Permanente – presta cuidados de saúde
e de apoio social em regime de internamento e de unidade de
dia, sobretudo, ao nível do apoio psicológico e de reabilitação
ou manutenção de longa duração.
– Unidade de tipo 4 – Unidade de Dia/Centro de Dia – presta cuidados de treino cognitivo e de reabilitação global, assegura
a disponibilidade médica e de enfermagem, bem como todo
um conjunto de outros serviços: apoio psicológico e social, cuidados de higiene habitacional e tratamento de roupas, entre
outros.
– Unidade de tipo 5 – Apoio Domiciliário – presta apoio clínico
de natureza curativa e acções paliativas de nível básico, bem
como assegura cuidados de enfermagem, actividades de reabilitação, apoio psico-social e todo um vasto conjunto de serviços de higiene e tratamento de roupa, no próprio domicílio do
utente.
Inês Martins Andrade
73
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 12 – Rede de Cuidados Continuados, de acordo com o Ministério da Saúde
HOSPITAL
TIPO 1
Pós-agudo,
convalescença
e reabilitação
TIPO 2
Longa duração
TIPO 3
Permanente
TIPO 4
Unidade de dia/
/centro de dia
TIPO 5
Apoio domiciliário
Equipas mistas (saúde/segurança social) – definição do Plano de Cuidados Pessoais
Possibilidades de transferência de utentes
Articulação entre redes
Fonte: Ministério da Saúde, Direcção-Geral da Saúde, Adaptado
2. O ACESSO E A UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
PELOS IMIGRANTES
A crescente multiculturalidade das sociedades ocorrida nos últimos anos
tem levado a que, de forma progressiva, os governos desenvolvam políticas de saúde culturalmente sensíveis, denotando um profundo respeito
pelas especificidades das comunidades imigrantes presentes nos seus
territórios. Estas visam a promoção do acesso e utilização aos cuidados
de saúde não só do ponto de vista legal como através do combate às inúInês Martins Andrade
74
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
meras barreiras que se colocam ao exercício deste direito essencial de
qualquer indivíduo, independentemente do seu estatuto legal, nacionalidade, crença, língua ou cor.
Todavia, persistem múltiplas diferenças nesta matéria entre os vários
países, pois enquanto nas sociedades com longa tradição no acolhimento
de imigrantes a reformulação das políticas de saúde orientadas para a
integração da população imigrante se encontram num estado de desenvolvimento substancialmente avançado, no outro extremo encontram-se países como Portugal, onde por motivos variados que se sustentam
no facto da imigração se tratar de um movimento populacional relativamente recente na nossa história, ainda não existem políticas ou programas de saúde multiculturais. Entre estes dois extremos existem inúmeras situações, tanto mais integradoras quanto mais orientadas para a
multiculturalidade.
Apresentar uma reflexão centrada no debate que actualmente se desenrola em torno das várias abordagens sobre a reformulação das políticas
de saúde com vista a garantir-se o acesso e a utilização dos imigrantes
aos cuidados de saúde, à escala internacional e europeia, bem como
analisar os direitos e as restrições afectados aos imigrantes em matéria
de acesso e utilização de serviços de saúde, à luz do sistema de saúde
português, são os objectivos que prendem a análise que se segue.
2.1. Revisão do Debate Actual
2.1.1. Saúde da População Imigrante:
a perspectiva de um custo e não de benefício
O direito à saúde e ao bem-estar físico, mental e social é um direito de
todos os cidadãos, que se encontra declarado em vários diplomas legais
de âmbito internacional, de que são exemplo, a Declaração Universal dos
Direitos do Homem (1948), o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1996) ou a Convenção Europeia relativa ao Estatuto Jurídico do Trabalhador Migrante (1977).
Embora mundialmente reconhecido como um direito essencial, o acesso
à saúde continua a ser uma das maiores dificuldades com que os imigrantes se deparam nas sociedades de acolhimento. Como explica um
relatório recente da Organização Internacional para as Migrações (OIM),
as políticas de saúde que visam a promoção da saúde da população imigrante e o atenuar das desigualdades sentidas ao nível do acesso e da
Inês Martins Andrade
75
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
utilização dos serviços de saúde variam de país para país, no entanto,
na sua maioria todos os países, alegando motivos de ordem diversa, procuram reduzir as despesas com a saúde. Consequentemente, os imigrantes têm o seu acesso aos cuidados de saúde muitas vezes restringido ou muito limitado, o que só acontece porque, tal como esse mesmo
relatório da OIM citando Byrne explicou, a saúde das comunidades imigrantes e do grupos minoritários nos países de acolhimento tende a ser
encarada, sobretudo, como uma despesa para o orçamento de Estado
e não como um investimento a curto, médio e longo prazo para esse
mesmo orçamento como para a sociedade em geral, assim esta é vista
como um custo e não como um benefício (OIM, 2005). Ilustrativo desta
realidade, verifica-se que alguns países de imigração têm regulamentos
para a imigração que visam a proibição de entrada de imigrantes com
condições de saúde frágeis ou que possam constituir um grande encargo
para os sistemas sociais ou de saúde.
Um elevado número de investigações recentes tem evidenciado os benefícios da adopção de políticas de saúde sensíveis às especificidades culturais, religiosas ou linguísticas dos imigrantes. O factor mais relevante
de tais investigações, desenvolvidas pela OIM ou por centros de investigação europeus e norte americanos, consiste em notar-se que as vantagens são biunívocas, pois se por um lado, se promove o bem-estar e a
saúde do imigrante e a sua integração na sociedade de acolhimento, porque os imigrantes numa situação de bem-estar globalizante são mais
receptivos à educação e ao emprego e desempenham um papel mais
participativo na sociedade de acolhimento, por outro lado, a melhoria do
estado de saúde destes grupos populacionais aumenta a produtividade e
o rendimento per capita dos países acolhedores. Com efeito, como advogam diferentes investigadores, assegurar e promover o acesso e utilização dos imigrantes aos diferentes serviços de saúde constitui um pré-requisito para a sua efectiva integração nas sociedades de acolhimento
(FONSECA e MALHEIROS, 2005; FREITAS, 2005).
Porém, a promoção do acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde
acarreta ainda importantes benefícios para a saúde pública, em particular, tratando-se de situações de doenças infecto-contagiosas, pois a
adopção das medidas necessárias atempadamente impede a propagação
das patologias, ou de problemas de saúde mental, uma vez que o diagnóstico e respectivo tratamento das doenças dificultam o riso de surgimento de comportamentos que coloquem em perigo a saúde do próprio
imigrante assim como de terceiros. Naturalmente quanto maior for a
possibilidade dos imigrantes acederem aos cuidados de saúde maiores
serão os benefícios para o próprio Sistema Nacional de saúde, na medida
Inês Martins Andrade
76
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
em que é possível efectuar maior prevenção das doenças em detrimento
de tratamentos, assim como diagnósticos em fases iniciais da evolução
das doenças e ainda se diminuem os riscos de mais indivíduos serem
contagiados.
2.1.2. Imigrantes Indocumentados:
um grupo particularmente mais vulnerável
Embora as políticas sociais e de saúde de carácter restritivo acabem
por afectar gravemente a saúde dos imigrantes na sua generalidade,
identificam-se grupos de imigrantes particularmente mais vulneráveis,
entre os quais se destacam os imigrantes indocumentados. De facto, um
pouco por todo o mundo, o estatuto de documentado ou indocumentado
acaba por conferir aos imigrantes um grau de autorização e de direito
ao acesso aos cuidados de saúde muito distinto. Naturalmente, os imigrantes indocumentados são o grupo de imigrantes mais susceptível
de ser interdito a aceder e utilizar os serviços de saúde, dado o seu estatuto indocumentado. Porém, na prática acaba por se privar de um direito
essencial uma população que, precisamente devido ao facto de não ter
documentos, vive muitas vezes em condições habitacionais e sanitárias
sub-humanas, de exploração laboral e de má nutrição, o que torna a
sua saúde ainda mais frágil e assim acaba-se por negligenciar um conjunto de situações de risco que possam por em causa a saúde pública
da população em geral (OIM, 2005).
2.1.3. Países com Longa Tradição em Imigração
versus Países de Imigração Recente:
perspectivas distintas de uma mesma realidade
Nos países com longa tradição em imigração e onde este fenómeno há
várias décadas ou mesmo séculos constitui um pilar essencial das suas
economias, é possível identificar exemplos variados de como os governos
ou a sociedade civil, de forma mais ou menos organizada, têm conseguido encontrar respostas para as necessidades de cuidados de saúde
da população imigrante respeitando e ajustando-se às suas particularidades culturais. Entre estas iniciativas encontram-se alguns exemplos
de boas práticas que começam a ser mais comuns em diferentes países,
como é o caso da Holanda ou dos Estados Unidos, onde nos sistemas de
saúde existem profissionais de saúde com conhecimentos linguísticos
diversos de modo a poderem compreender e auxiliar melhor os utentes
de nacionalidade estrangeira (FREITAS, 2005), ou então o exemplo da
Inês Martins Andrade
77
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
iniciativa desenvolvida no Canadá de dar aos imigrantes no momento em
que chegam um guia com as principais orientações, em matérias várias,
de modo a facilitar a sua integração. Contudo, encontramos também
práticas que assumem grande particularidade pelo grau de compreensão que assumem de outras culturas, sendo disso bom exemplo a iniciativa desenvolvida em Itália através do Departamento de Medicina Preventiva para as Migrações, Turismo e Dermatologia Tropical, que durante o
mês do Ramadão se encontra aberto durante a noite, com a finalidade
de poder assegurar a medicação após o pôr-do-sol aos muçulmanos que
jejuem (FONSECA, 2005).
Na Europa, os sistemas de saúde, embora denotando a influência de
diferentes modelos, apresentam como traço comum o facto de assegurarem a todos os cidadãos o acesso aos cuidados médicos. Neste sentido, a própria União Europeia tem criado vários diplomas legais, que
vinculando ou não os Estados-membros, denotam preocupações com a
integração social, o respeito pelos direitos de todos os cidadãos e com
a necessidade de protecção da saúde. Ilustrativo de tais preocupações
é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que de acordo
com o seu Artigo 35.o «Todas as pessoas têm o direito de aceder à prevenção em matéria de saúde e de beneficiar de cuidados médicos, de
acordo com as legislações e práticas nacionais. Na definição e execução
de todas as políticas e acções da União será assegurado um elevado
nível de protecção da saúde humana».
Porém, embora no espaço comunitário, a legislação que regula o acesso
e a utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde seja influenciada
pelos regulamentos e orientações legais comunitárias, esta é determinada pelos documentos legislativos aprovados em cada Estado-membro.
Assim sendo, explica-se a existência de acentuadas disparidades na promoção e protecção desse direito às populações imigrantes entre os diferentes países comunitários.
Para muitos autores, as políticas de saúde europeias denotam uma
acentuada insensibilidade cultural, o que, por diferentes razões, resulta
de um grande número de Estados-Membros ainda não ter adoptado
políticas de saúde multiculturais. De facto, tal como alguns estudos
têm demonstrado, os sistemas de saúde europeus confrontam-se com
um importante dilema, pois numa vertente encontra-se o facto de terem
de assegurar as necessidades de saúde dos imigrantes e minorias étnicas respeitando e ajustando-se às suas realidades culturais e religiosas, mas por outro lado, encontram-se condicionados pela legislação
em vigor, que coloca limitações variadas à prestação de cuidados de
Inês Martins Andrade
78
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
saúde a imigrantes com determinados estatutos, nomeadamente, de
indocumentados, o que aquando de se tratarem de situações que possam por em causa a saúde pública, gera ainda maior confusão sobre o
modo de actuação, podendo mesmo gerar uma dicotomia entre os princípios éticos e legislativos.
2.1.4. Abordagens Distintas nas Políticas de Saúde:
Assimilacionista e Multiculturalista
Segundo estudos publicados recentemente por departamentos de investigação europeus, podemos considerar que existem dois grandes tipos
de abordagens no que respeita à promoção de políticas e ao acesso e
utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde: a multiculturalista e a
assimilacionista.
A abordagem assimilacionista remete para as políticas que enfatizam
a importância da homogeneidade cultural, segundo a qual, se defende
a adaptação/assimilação dos imigrantes às políticas de saúde e estruturas de prestação de cuidados de saúde existentes nos países de acolhimento. Esta ideologia não só assume um carácter substancialmente
passivo como denota a noção de superioridade da cultura dominante,
daí às culturas minoritárias terem de se ajustar à primeira.
Esta é a abordagem que tem orientado as políticas sociais e de saúde,
por exemplo, em França, e que como num estudo recente a geógrafa
Esteves refere, aludindo Castles e Miller (2003), em França «não obstante a tónica ser dada à integração política, há uma lógica de homogeneização cultural subjacente» (ESTEVES, 2004). Tal como acontecimentos recentes ilustraram, este tipo de políticas começa a evidenciar os
seus primeiros grandes sinais de falência e insustentabilidade, porque
ainda que os imigrantes se possam, de algum modo, adaptar aos padrões
de vida e estruturas de funcionamento dos serviços de saúde das sociedades receptoras, a sua cultura tende a permanecer e especialmente
quando se trata da segunda ou terceira geração de imigrantes (população com direito iguais aos dos autóctones) os choques culturais tendem
a ganhar uma dimensão assinalável (INGLEBY, 2005).
Considerando que as políticas monoculturalistas não geram harmonia
social, mas antes antagonismo e contestação social, alguns Estados
adoptaram políticas multiculturalistas. Baseadas no princípio da integração em detrimento da noção de assimilação, nas políticas multiculturalistas defende-se a implementação de serviços coerentes com as
Inês Martins Andrade
79
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
culturas dos utentes a que se presta cuidados de saúde, de modo a responder-se com a melhor qualidade às necessidades dos imigrantes e
grupos minoritários. As políticas multiculturalistas foram inicialmente
adoptadas pelos países de imigração tradicional, como sendo o Canadá,
Estados Unidos da América, Brasil e Austrália, aliás como refere, uma
vez mais, Esteves aludindo a Castles e Miller (2003), «no caso do Canadá,
e apesar das reformas adoptadas a partir de 1993 no sentido de reduzir a
ênfase dada ao multiculturalismo, são reconhecidos os direitos dos imigrantes e das minorias étnicas enquanto grupos» (ESTEVES, 2004). Esta
tipologia política encontra-se assim estreitamente associada a sociedades de acolhimento com uma longa herança de convivência multi-cultural e, como tal, a diversidade não é entendida como uma ameaça, mas
sim como uma complementaridade positiva (REBELO, 2006).
Actualmente, estas políticas multiculturalistas, por vezes denominadas
de pluralistas, têm também sido adoptadas em alguns Estados-Membros da União Europeia, nomeadamente na Holanda, onde ao nível da
saúde existe uma preocupação em que os profissionais de saúde estejam aptos em termos linguísticos para compreender a população imigrante (INGLEBY, 2005; FREITAS, 2005).
Não obstante as inúmeras vantagens deste modelo, podem-se igualmente identificar algumas fragilidades, nomeadamente, derivadas da
falta de coesão social, uma vez a valorização da manutenção das várias
culturas poderá culminar em importantes choques culturais.
Até ao momento presente, Portugal ainda não adoptou políticas ou programas de saúde de carácter assimilacionista ou multiculturalista, o que
não é indicativo de que se considera que os imigrantes e grupos minoritários se devem adaptar ao sistema de saúde português, porque tal se
traduziria na aplicação das primeiras (políticas assimilacionistas). Trata-se antes do facto da imigração constituir uma realidade temporalmente
recente em Portugal e, como tal, as políticas de integração de imigrantes
encontram-se num estado ainda muito incipiente de desenvolvimento.
Embora, existam algumas medidas de integração de imigrantes ao nível
da saúde, dado o seu carácter disperso, também não nos é possível falar
de políticas multiculturalistas.
2.2. Direitos e Restrições no Quadro do Serviço Nacional de Saúde
Em Portugal, a legislação que permite aos imigrantes acederem aos cuidados de saúde é relativamente recente, pois data de finais da década
Inês Martins Andrade
80
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de noventa. Somente em 2001, foi garantido, do ponto de vista legal, aos
cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal, os mesmos
direitos e deveres da população portuguesa, no que concerne ao acesso
aos cuidados de saúde e de assistência medicamentosa no âmbito do
Serviço Nacional de Saúde, através do Despacho N.o 25 360/2001. Este
despacho é o resultado da necessidade de responder aos princípios
constitucionais da igualdade, da não discriminação e da equiparação dos
direitos e deveres entre a população autóctone e os estrangeiros, independentemente das suas condições económicas, sociais ou culturais.
Todavia, em função de variáveis muito diversas tais como a idade, o estatuto de documentado ou de indocumentado, da situação sócio-económica dos imigrantes que se encontrem em Portugal, a legislação estabelece direitos e deveres distintos, que importa discernir.
2.2.1. O Acesso e a Utilização dos Imigrantes
aos Cuidados de Saúde à Luz da Legislação
De acordo com o Despacho N.o 25 360/2001, os imigrantes que se encontrem em Portugal em situação regular, isto é, que tenham visto de trabalho, autorização de permanência ou de residência, podem aceder aos
cuidados de saúde do mesmo modo que a população portuguesa, o que
passa por poderem obter o cartão de utente do Serviço Nacional de
Saúde. A obtenção do cartão de utente do SNS, implica que os cidadãos
estrangeiros apresentem, perante os serviços de saúde da sua área de
residência, o documento comprovativo de permanência, residência ou o
visto de trabalho em território nacional, conforme as situações aplicáveis.
Segundo o mesmo diploma legal, os imigrantes indocumentados, ou
seja, que não disponham de autorização de permanência, de residência ou visto de trabalho, embora não tenham direito a obter um cartão
de utente do SNS, também lhes é assegurado o direito de acesso aos
serviços e estabelecimentos do SNS. Para tal, os cidadãos estrangeiros têm de apresentar junto dos serviços da sua área de residência um
documento comprovativo, que deve ser emitido pelas juntas de Freguesia, nos termos do disposto no Artigo 34.o, do Decreto-Lei n.o 135/99, de
22 de Abril, de que se encontram em Portugal há mais de noventa dias.
Para que seja passado este atestado de residência, são precisas duas
testemunhas também elas residentes na mesma área.
Quanto aos cidadãos estrangeiros menores de idade presentes em território nacional não legalizados, foi criado um diploma legal específico,
o Decreto-Lei n.o 67/2004, de 25 de Março, de modo a dar resposta a um
Inês Martins Andrade
81
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
vazio jurídico complexo e impeditivo do acesso dos menores de idade em
situação irregular aos benefícios elementares. De facto, se por um lado
se tratam de cidadãos em situação irregular, por outro é necessário ter
em conta que têm idade inferior à mínima permitida por lei para a celebração autónoma de contrato de trabalho, ao que acresce o facto de se
encontrarem completamente dependentes da economia do seu agregado
familiar e, como tal, não têm autonomia suficiente para se legalizarem,
procurarem trabalho ou ausentarem do país.
Assim, através do referido diploma foi criado um registo nacional de
menores estrangeiros que se encontrem em situação irregular, face ao
regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, com o objectivo de se assegurar o acesso
dos menores aos dos cuidados de saúde e à educação pré-escolar e
escolar. Competindo ao Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural, em articulação transversal com os serviços da Administração Pública com competências para o efeito, assegurar que estas
crianças e jovens registados acedam ao exercício de direitos que a lei
atribui aos menores em situação regular no país.
Procurando evitar possíveis desvios à finalidade central do Decreto-Lei
n.o 67/2004, de 25 de Março, e garantir a segurança e confiança dos cidadãos estrangeiros na lei nacional, mesmo dos que se encontram em
situação de indocumentados, o diploma legal salienta que os dados
recolhidos visam exclusivamente a identificação do menor, sendo que
em caso algum estes poderão fundamentar ou servir de prova para
qualquer procedimento, administrativo ou judicial, contra qualquer cidadão estrangeiro que exerça o poder paternal do menor registado, com
excepção das situações em que se coloque em causa a protecção dos
direitos do menor. A esta nota acresce ainda que em nenhuma situação,
os elementos constantes deste registo poderão servir de base à legalização do menor registado ou dos cidadãos estrangeiros que sobre este
exerçam o poder paternal.
Relativamente à questão do pagamento dos serviços utilizados no âmbito
do SNS, a Lei define igualmente vários tipos de situação. Com efeito, os
imigrantes documentados que efectuem descontos para a segurança
social e respectivas famílias efectuam pagamentos em condições iguais
aos cidadãos nacionais, o que se traduz no pagamento de uma taxa
moderadora, variáveis em função do tipo de serviço ou cuidado de saúde
utilizado no momento do acesso, ou seja, quando se dirigem aos serviços
públicos de saúde ou privados convencionados e fazem a inscrição. Estas
taxas são pagas nas situações de realização de exames complementares
Inês Martins Andrade
82
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de diagnóstico e terapêutica em serviços de saúde públicos ou privados
convencionados, com excepção dos efectuados em regime de internamento; nos serviços de urgência hospitalar e centros de saúde; e ainda
nas consultas nos hospitais, nos centros de saúde e em outros serviços
de saúde públicos ou privados convencionados, tal como estabelece o
Decreto-Lei n.o 173/2003 de 1 de Agosto.
Todavia, tal como os cidadãos nacionais, também os imigrantes ficam
isentos do pagamento destas taxas moderadoras caso se encontrem
numa das situações seguintes:
– As grávidas e parturientes (mulheres que se encontrem no
período de oito semanas após o parto);
– As crianças até aos 12 anos de idade, inclusive;
– Os beneficiários de subsídios oficiais atribuídos por razões de
carência;
– Os desempregados inscritos nos Centros de Emprego, os seus
cônjuges e filhos menores, desde que dependentes;
– Os trabalhadores por conta de outrem que recebam rendimento mensal não superior ao salário mínimo nacional, os
seus cônjuges e filhos menores, desde que dependentes;
– Os indivíduos com doenças crónicas legalmente estabelecidas
e comprovadas através de declaração médica;
– Os dadores benévolos de sangue;
– Bombeiros;
– Outros casos determinados em legislação especial.
Aos imigrantes indocumentados podem ser cobradas as despesas efectuadas nos serviços do SNS, segundo o estabelecido pelas tabelas em
vigor, com excepção de situações em que alguém do seu agregado familiar efectue descontos para a Segurança Social ou nas situações em que
os cidadãos estrangeiros se encontrem em carência económica e social,
situações estas a aferir pelos serviços de Segurança Social, a quem
competirá passar um comprovativo de tal situação ou ainda nos casos
em que a não prestação de cuidados de saúde possa colocar em causa
a saúde pública.
Nas situações de perigo para a saúde pública, designadamente no caso
da existência de doenças transmissíveis, em particular, as Doenças de
Inês Martins Andrade
83
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Declaração Obrigatória, de que é exemplo, a tuberculose, ou nas situações de saúde materna, saúde infantil e planeamento familiar e ainda
as vacinas constantes do Programa Nacional de Vacinação. Deste modo,
os imigrantes indocumentados quando enquadrados numa destas três
situações, do mesmo modo que os cidadãos portugueses, não efectuam
qualquer tipo de pagamento.
2.2.2. Barreiras ao Acesso e Utilização
dos Cuidados de Saúde pelos Imigrantes
Para que o direito dos imigrantes ao acesso e utilização dos cuidados
de saúde seja assegurado é necessário que, antes de mais, seja legislado ao nível de cada país, mas importa salientar que as políticas de
saúde adequadas ao background social, cultural e religioso de cada
grupo étnico ou comunidade migrante, por si só não são suficientes para
garantir na prática o acesso e utilização dos cuidados de saúde pelos
imigrantes. Efectivamente, embora os direitos dos imigrantes no acesso
e utilização dos cuidados de saúde já se encontrem salvaguardados em
termos legislativos, na prática quotidiana surgem, por vezes, situações
que inviabilizam a sua concretização.
Considerando todo o contexto de partida, em geral, sociedades mais
pobres, desprovidas de modelos de prestação de cuidados de saúde do
tipo ocidental, bem como todo o processo de transição e subsequentes
sequelas psicológicas, e o próprio quadro de acolhimento, identificam-se
inúmeras barreiras ao acesso e utilização dos serviços de saúde pela
população imigrante. Estas barreiras resultam assim da conjugação
de factores da parte da sociedade portuguesa bem como da parte dos
imigrantes.
No que concerne aos primeiros, destacam-se factores como sendo a
persistência de alguns preconceitos e ideais racistas ou discriminatórios para com imigrantes, o mero desconhecimento da legislação em
vigor (por profissionais de saúde e outros profissionais da administração
pública) ou ainda as inúmeras dificuldades em fazer cumprir a legislação
em vigor. Estas últimas podem traduzir-se em situações tão variadas
como sendo as dificuldades em aferir as situações de carências económicas e sociais dos imigrantes, o facto destes nem sempre se encontrarem em situação que lhes permita apresentar as testemunhas necessárias para a obtenção de determinados documentos, (por exemplo, caso
estejam em situação de sem abrigo ou domicilio instável) ou até mesmo
a dificuldade em apresentarem os documentos necessários (por exemInês Martins Andrade
84
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
plo, nas situações em que os imigrantes acabaram por cair nas teias
das redes de tráfico de imigrantes e estes lhes tenham retirado todos
os seus documentos). A estes acrescem ainda barreiras como sendo a
reduzida ou nula sensibilidade para a diversidade cultural por parte dos
profissionais de saúde, a excessiva burocracia do SNS ou a inexistência
de serviços de tradução (FONSECA, 2005). Na prática, estes factores inerentes à sociedade de acolhimento geram importantes choques culturais que são usualmente solucionados pela opção de não utilização dos
cuidados de saúde pelos imigrantes.
Da parte dos imigrantes, salientam-se como principais factores a ausência de uma cultura de saúde preventiva, as dificuldades em efectuar o
pagamento das taxas moderadoras (ou mais do que isso, caso se encontrem em situação irregular), dificuldades de mobilidade geográfica e linguísticas, o que acarreta todo um vasto conjunto de situações que bloqueiam o acesso, designadamente, dificuldades em obterem informação
sobre os seus direitos e deveres, sobre o modo de funcionamento do
SNS, sobre como proceder mediante situações de mau atendimento, ou
desconhecimento de que os profissionais de saúde estão obrigados ao
sigilo profissional.
Embora estas sejam as barreiras mais frequentes à generalidade dos
imigrantes, no caso dos imigrantes indocumentados, os contornos desta
situação tende a agravar-se. Como resultado da sua condição irregular,
entre os imigrantes indocumentados existe um forte receio de serem
denunciados pelos profissionais de saúde às autoridades competentes,
não dispõem muitas vezes de condições económicas que lhes permitam
efectuar o pagamentos dos serviços (que de acordo com a legislação em
vigor são consideravelmente mais elevados nesta situação) assim como
a sua precária condição laboral não lhes permite, muitas vezes, ausentarem-se do trabalho por motivos de saúde, correndo o risco de verem
o seu salário ser consideravelmente diminuído ou até mesmo de serem
dispensados pela entidade patronal, uma vez que não se encontram ao
abrigo de qualquer tipo de contrato de trabalho ou regime de protecção
social (FONSECA, 2005).
2.2.3. Portugal: a Inoperância Política
face às Atitudes Pró-activas da Sociedade Civil
Em Portugal, a nível político ainda não se reconheceu a necessidade de
criar programas ou políticas de saúde multiculturais de nível nacional,
o que começa a permitir a emergência de situações de choque cultural
Inês Martins Andrade
85
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ou de impedimento do cumprimento da legislação em vigor. Assim,
embora existam várias campanhas e programas de promoção da saúde
e de prevenção da doença, estas continuam orientadas para a população
em geral, não visando as especificidades culturais, religiosas e sociais
da população imigrante, o que acaba por constituir uma fragilidade em
termos de estratégia para a saúde.
Não obstante, têm-se identificado algumas situações pontuais em que
as campanhas de saúde se destinam concretamente aos imigrantes. São
disso exemplo, o esforço que o Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI) tem desenvolvido neste sentido, que se traduz, por exemplo, na publicação de uma brochura sobre saúde (Health
Guide For Immigrants), de um guia informativo de esclarecimentos às
questões mais elementares com que os imigrantes se confrontam, entre
as quais se encontram também as preocupações de saúde, panfletos
de esclarecimento sobre algumas doenças (tuberculose ou VIH/SIDA), de
apoio a vítimas de violência imigrantes ou através dos seus CNAI (Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante) de Lisboa e Porto, onde se encontram profissionais do SNS com a finalidade de prestar um apoio multivariado a cidadãos estrangeiros, designadamente, dúvidas no âmbito dos
direitos e restrições no acesso e utilização dos serviços de saúde.
Para além do ACIDI, que tem desenvolvido um importante e singular
trabalho a nível nacional, importa destacar o trabalho de outras entidades e organismos, designadamente, o Hospital Miguel Bombarda, em
Lisboa, que desde 2004, tem a funcionar uma consulta de saúde mental
e psiquiatria direccionada especificamente para populações imigrantes,
maiores de 16 anos. Designada «Consulta de Psiquiatria Transcultural»,
consiste numa consulta especializada para imigrantes vítimas de choques culturais ou com problemas de foro mental resultantes do processo
de imigração. Tratando-se de uma experiência pioneira em Portugal, tem
registado alguma notabilidade em termos de procura, uma vez que passou de 9 consultas prestadas no ano em que entrou em funcionamento
para 31 consultas no ano seguinte, observando-se uma ligeira superioridade na procura dos indivíduos do sexo masculino (58%, em 2005) relativamente aos do sexo feminino (42%, em 2005).
De igual modo, também o EPI MIGRA (Núcleo de Estudo Epidemiológico
de Doenças Transmissíveis em Populações Migrantes), do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical, tem desenvolvido um importante trabalho
nesta área, uma vez que criou a Consulta do Migrante, em parceria com
o Conselho Português para os Refugiados (CPR) e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, em 2002. Surgida da necessidade de enquaInês Martins Andrade
86
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
drar os imigrantes desprovidos da documentação necessária que lhes
possibilitasse aceder aos serviços de saúde, o EPI MIGRA tem realizado
check-ups gratuitos a imigrantes e refugiados, com a dupla finalidade de
garantir um conjunto de direitos a esta população e de se identificarem
eventualmente doenças, especialmente, infecto-contagiosas características dos seus países de origem. Desde o seu surgimento foram já atendidos aproximadamente 700 imigrantes e refugiados, repartidos numa
média anual de 200 indivíduos, o que ilustra a importância deste tipo de
iniciativas. Segundo o próprio EPI MIGRA o padrão mais usual de indivíduos que procuram os seus serviços são indivíduos do sexo masculino
oriundos da Africa Subsariana, no entanto, nos anos mais recentes registou-se um afluxo particularmente elevado de indivíduos, de ambos os
sexos, provenientes da Europa de Leste. Para além do apoio prestado
aos próprios cidadãos estrangeiros, esta iniciativa tem igualmente contribuído para a desmistificação de um conjunto de ideias pré-concebidas
relativas aos malefícios dos imigrantes para a saúde pública. Neste sentido, tem-se constatado que os problemas de saúde mais comuns entre
os imigrantes são a depressão e as diarreias associadas às doenças
infecto-contagiosas, nomeadamente Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), não se registando qualquer expressividade das doenças tipicamente tropicais.
Concomitantemente ao trabalho desenvolvido por estas três entidades,
muito relevante tem sido o contributo de várias ONG, entre as quais, os
Médicos do Mundo ou o Serviço Jesuíta para os Refugiados, que prestam
um vasto conjunto de apoios, designadamente, médico e medicamentoso, e têm de certo modo efectuado uma importante pressão para o
reconhecimento e devida valorização desta temática, de Associações de
Imigrantes ou Autarquias Locais que têm promovido um debate em torno
destas questões e desencadeado um conjunto de iniciativas com vista
à protecção e promoção da saúde dos imigrantes.
Todavia, num país que já se afirmou nitidamente enquanto país de imigração, com cidadãos provenientes de diferentes pontos do globo e,
como tal, com particularidades muito distintas, urge desenvolver uma
estratégia nacional orientada para a promoção da saúde e do acesso aos
cuidados de saúde pelos imigrantes, na medida em que ignorar o problema e a progressiva debilidade da saúde destas populações, consiste
em fomentar a médio e longo prazo custos económicos e encargos muito
variados, em geral, muito superiores para o SNS e para a própria saúde
pública.
Inês Martins Andrade
87
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CAPÍTULO II – RESPOSTAS DE SAÚDE E IMIGRAÇÃO
NO ÚLTIMO QUARTEL DO SÉCULO XX
Efectuar uma breve leitura da repartição espacial dos imigrantes e das
respostas de saúde à escala internacional, europeia e nacional é um dos
objectivos que a seguir nos propomos. Compreender o motivo pelo qual
as grandes cidades e, em particular, as principais metrópoles atraem
imigrantes e registam elevadas concentrações espaciais de respostas
de saúde, tentar perceber qual a relação entre estes dois fenómenos,
identificar a sua origem na escala temporal são algumas das questões
que orientaram a análise que se segue.
E porque o território que servirá de caso de estudo à presente investigação é precisamente uma grande metrópole, a maior no contexto nacional, que se tem afirmado ao longo do último quartel do século XX como
um pólo receptor de imigrantes, oriundos de pontos geográficos distintos, em momentos temporais igualmente diferenciados, porque a capacidade de resposta às necessidades habitacionais, de trabalho, educação, mas também de saúde desta população nem sempre foi a desejada,
importa também perceber o processo e os territórios de exclusão para
os quais a população imigrante foi, directa ou indirectamente, conduzida.
1. AS CIDADES ENQUANTO PÓLOS DE CONCENTRAÇÃO
DE IMIGRANTES E RESPOSTAS DE SAÚDE
1.1. Do Contexto Internacional à Escala Europeia
A concentração de imigrantes em grandes cidades constitui provavelmente uma das tendências mais inalteráveis da história da Humanidade,
uma vez que pensando na urbe da Antiguidade Clássica ou em todas as
grandes cidades que emergiram como resultado do processo colonizador ao longo dos séculos XIX e XX e se constituíram como importantes
metrópoles, como sendo Nova York, Toronto ou Sydney, não as podemos
indissociar de elevadas concentrações de imigrantes, até porque em
muitas delas toda a sua história foi em larga medida construída por
sucessivas gerações de imigrantes.
De facto, o crescimento das cidades sempre foi alimentado por fluxos
migratórios, quer de carácter interno, provenientes do espaço rural
em fases diferentes culminando várias vezes em êxodos rurais, quer
à escala internacional, em que espaços rurais ou cidades de países
em vias de desenvolvimento constituem o ponto de partida de fluxos
Inês Martins Andrade
88
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
migratórios orientados para as grandes metrópoles de países mais
desenvolvidos.
A análise estatística da distribuição geográfica da população de origem
estrangeira em países de imigração, evidencia uma forte tendência
de concentrações espaciais em áreas urbanas, não obstante algumas
diferenças existentes entre elas, resultantes em parte de se tratarem
de países de imigração recente ou de longa tradição em imigração.
Por conseguinte, compreende-se que em 2000, nos Estados Unidos
da América as maiores concentrações de imigrantes ocorressem precisamente nas suas quatro maiores cidades (Nova York 2,9 milhões,
Los Angeles 1,5 milhões, Chicago 629 000 e Houston 516 000). Do mesmo
modo, no Canadá, em 2001 era nas cidades de Toronto e Vancover que
se encontravam os quantitativos mais expressivos da população do país
nascida no estrangeiro, 43,7% e 37,5% respectivamente. Repercutindo
este mesmo padrão de repartição espacial de população imigrante, na
Austrália é também na sua maior aglomeração urbana, a cidade de
Sydney, que se concentra a maior proporção da população do país nascida no estrangeiro (38%), o que reafirma nitidamente a tendência para
a concentração em grandes áreas urbanas (FONSECA, 2005).
À semelhança do observado nestes países de longa tradição em imigração, também na União Europeia, a população imigrante tende a concentrar-se nas principais aglomerações urbanas do país de acolhimento.
Na análise da tabela seguinte verifica-se a existência de grandes discrepâncias em termos de população residente nas principais cidades de
cada Estado-Membro. Num extremo encontra-se Londres com 7 172 091
habitantes, correspondendo a uma megalopole, e no outro extremo
oposto encontra-se a cidade do Luxemburgo com apenas 76 688 habitantes. A cidade de Lisboa, ainda que constituindo a maior aglomeração à escala nacional, no contexto da União Europeia surge como uma
das menores cidades no que concerne a população residente, com apenas um pouco mais de meio milhão de habitantes (564 657 habitantes).
O cruzamento da informação anterior com os valores da proporção de
cidadãos de países terceiros no total da população no contexto dos países da União Europeia, valida a tese de opção por áreas urbanas, habitualmente metrópoles de grande dimensão como local de fixação de
residência da população imigrante.
Assim, a análise da tabela seguinte, relativa ao ano de 2001, permite-nos afirmar que na maior parte dos Estados Membros é nas suas maiores aglomerações urbanas, geralmente, o que corresponde às suas cidades capitais, que se concentram as maiores proporções de população
Inês Martins Andrade
89
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
estrangeira proveniente de países terceiros. Embora sejam muitas as
situações ilustrativas desta tendência, algumas cidades são particularmente representativas, dadas as elevadas percentagens de população
estrangeira de países terceiros que concentram, como é o caso de Tallin
(27,8%), Atenas (17%), Viena (14,4%) ou Bruxelas (12,1%). Por conseguinte, tal como Esteves salienta referindo Koff, nas cidades europeias,
as áreas metropolitanas «… estão a tornar-se proeminentes áreas de
integração devido à crescente concentração de imigrantes, ao estabelecimento de redes internacionais e à tendência actual dos governos dos
países da Europa Ocidental no sentido do desenvolvimento de políticas
de integração» (ESTEVES, 2004).
Tabela 1 – População Residente e Cidadãos de Países Terceiros,
nas Cidades da União Europeia, 2001 3
População
Residente (N.o)
Proporção de Cidadãos
de Países Terceiros
no Total da População (%)
1 227 958
16,19
641 076
16,28
1 550 123
14,42
Linz
183 504
11,06
Bruxelas
Bruxelas
973 565
12,08
Chipre
Lefkosia
200 686
5,53
Dinamarca
Copenhaga
499 148
8,87
Eslováquia
Banska Bystrica
83 056
4,01
Eslovénia
Ljubljana
270 506
3,69
Madrid
2 957 058
5,86
Barcelona
1 505 325
4,00
Tallin
399 685
27,81
Helsínquia
559 718
3,99
Turku
173 686
3,24
País
Cidade
Munique
Alemanha
Frankfurt
Viena
Áustria
Espanha
Estónia
Finlândia
(continua)
3. A comparabilidade destes dados implica uma certa margem de precaução, na medida
em que a lei da nacionalidade não é comum a todos os Estados-Membros e, como tal,
os critérios para a definição de cidadão estrangeiro não são precisamente os mesmos
em todos eles.
Inês Martins Andrade
90
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
(continuação)
População
Residente (N.o)
Proporção de Cidadãos
de Países Terceiros
no Total da População (%)
2 125 246
10,20
92 059
22,74
789 166
16,71
1 777 921
1,73
Dublin
495 781
8,88
Galway
65 832
7,43
1 256 211
6,28
Verona
253 208
4,93
Riga
756 627
6,24
Liepaja
88 473
6,92
Lituânia
Vilnius
554 281
1,10
Luxemburgo
Luxemburgo
76 688
7,79
Holanda
Amesterdão
734 594
8,89
Malta
Valletta
363 799
sd
Polónia
Varsóvia
País
França
Cidade
Paris
Cayenne
Grécia
Atenas
Hungria
Budapeste
Irlanda
Itália
Letónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suécia
Milão
1 609 780
0,25
Lisboa
564 657
2,26
Setúbal
113 934
3,18
Birmingham
977 087
10,70
Manchester
418 600
7,20
1 169 106
2,08
Gotemburgo
466 990
6,17
Malmö
259 579
7,31
Praga
Fonte: Urban Audit, 2001
Sd – Sem dados, Informação estatística não disponível
Em alguns Estados Membros, embora não seja o centro urbano principal
aquele que concentra os valores percentuais mais elevados de cidadãos
de países terceiros no total da sua população residente, constata-se que,
de um modo geral, as aglomerações que concentram maiores proporções de população imigrante correspondem às principais cidades do país
Inês Martins Andrade
91
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
em termos de concentração de população residente. Exemplificativo de
tal são as cidades de Munique, que constituindo a terceira maior aglomeração da Alemanha em termos de população residente, é aquela que
concentra a maior proporção de cidadãos de países terceiros no total da
sua população (16,2%), de Milão com uma proporção de 6,28% de cidadãos de países terceiros no total da sua população, correspondendo à
segunda maior cidade na hierarquia urbana de Itália ou ainda a cidade de
Birmingham, também ela a terceira maior aglomeração da rede urbana
inglesa, mas com a maior concentração espacial de cidadãos de países
terceiros no total da sua população residente (10,7%).
Uma terceira constatação que importa salientar consiste em comparar
os valores percentuais registados entre as cidades do Norte e do Sul da
Europa. As áreas urbanas do sul da Europa, por constituírem cidades
de imigração recente no contexto das migrações internacionais, apresentam proporções de cidadãos de países terceiros no total da sua população residente consideravelmente mais baixos do que as cidades da
Europa do Norte, que constituem pólos de recepção de imigrantes há
longas décadas. Neste padrão, a cidade de Atenas individualiza-se, pois
apresenta um valor percentual consideravelmente elevado (16,7%). Este
é indicativo de uma chegada recente e volumosa de imigrantes e, por
isso, manifesta ainda uma elevada concentração na cidade capital.
Esta tendência de concentração de imigrantes e minorias étnicas nas
aglomerações urbanas mais importantes de cada país de acolhimento,
usualmente, designada por «metropolização das migrações» tem despertado a atenção de muitos investigadores. Subsequentemente, diversos estudos recentes têm procurado identificar os principais factores
explicativos da forte polarização que as grandes aglomerações urbanas exercem no contexto das migrações internacionais enquanto pólos
receptores. Não obstante a multiplicidade de factores apresentados,
considera-se que seis factores assumem um papel determinante.
O primeiro constitui o facto de serem as grandes metrópoles de cada
país, geralmente correspondendo à sua capital, as cidades mais conhecidas no plano internacional, o que do ponto de vista psicológico constitui
uma referência para quem pensa em efectuar o seu percurso migratório.
Em segundo lugar, porque é nas principais cidades de cada país que se
concentram os principais nós das redes de transportes internacionais,
nomeadamente, aeroportos e portos, estas constituem as importantes
gateways cities em cada país, isto é, cidades de entrada de imigrantes,
Inês Martins Andrade
92
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
o que numa primeira fase, marcada por maiores dificuldades de mobilidade, leva a que o imigrante permaneça neste espaço.
Em terceiro lugar, encontra-se a existência de um mercado laboral mais
amplo e diversificado, um dos factores de atracção das cidades mais
explorado por diversos investigadores. Uma estrutura de emprego substancialmente heterogénea, permite dar trabalho a imigrantes altamente
qualificados ligados aos ramos da banca, finanças ou a sectores de
ponta, que acompanham os processos de internacionalização do capital,
mas simultaneamente a trabalhadores com poucas ou nenhumas qualificações, que geralmente são afectados às profissões menos valorizadas, quer pelas baixas remunerações quer pelo desprestígio social que
lhes está associada, e que por isso a população da sociedade de acolhimento tende a recusar (ESTEVES, 2004; MALHEIROS, 2006). Para além
da diversificação é necessário notar-se que é também nas grandes áreas
urbanas que se concentram actividades que absorvem grandes quantitativos de mão-de-obra, é o caso particular dos ramos da construção
civil e obras públicas, dos serviços e do comércio, ou da indústria transformadora.
Um quarto factor consiste na existência de um mercado habitacional
consideravelmente diversificado, capaz de responder às necessidades
de imigrantes com diferentes estatutos sócio-económicos. Aí é possível
encontrarem-se desde condomínios fechados de luxo, até quartos baratos para alugar em pensões situadas nos centros históricos, bairros
clandestinos onde facilmente é possível construir ou alugar uma barraca, o estaleiro de uma obra onde o patrão permite que o imigrante
pernoite durante alguns meses, barracões abandonados onde o imigrante se pode instalar até juntar algum dinheiro, um andar de modestas
dimensões e de baixos custos que é possível partilhar com conterrâneos
até se estabelecerem as condições necessárias para o processo de reunificação familiar ou mesmo um andar nos subúrbios da capital com
mensalidades reduzidas onde é possível ao imigrante se estabelecer e
chamar toda a família que ficou no país de origem (SALGUEIRO, 2001;
SALGUEIRO, 2006; ESTEVES, 2004).
Um quinto aspecto a considerar remete para o facto das cidades constituírem territórios onde há um menor controlo social (MALHEIROS, 2001).
As elevadas densidades populacionais, a coexistência de culturas e religiões mais diversificadas, a fragmentação da família e a rápida transformação de valores e princípios assim como a existência de um maior
individualismo, fazem das cidades espaços mais tolerantes. A existência
de uma maior tolerância a par de um menor controlo social, facilita a
Inês Martins Andrade
93
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
integração na sociedade de acolhimento de imigrantes com culturas e
valores morais ou religiosos muito diferenciados.
Por fim, um último factor explicativo remete para a presença de co-étnicos (ESTEVES, 2004). Efectivamente após a fixação dos primeiros imigrantes numa determinada cidade, tendem a desenvolver-se mecanismos de networking que atraem outros imigrantes com a mesma origem
geográfica. Este processo constitui uma mais valia para os grupos de
imigrantes que vão chegando posteriormente, uma vez que os primeiros constituem uma base de apoio essencial que poderá facilitar todo
o processo imigratório bem como a instalação na sociedade de acolhimento (encontrar habitação, trabalho, tratar da documentação necessária, informar sobre direitos e deveres, princípios sociais distintos, etc.),
para além de que promove a preservação da cultura e dos valores num
contexto social distinto. Deste modo, os mecanismos de networking
reforçam a concentração espacial dos grupos de imigrantes e, de forma
articulada com outros factores, explicam que, por exemplo, em determinadas cidades de França, Suiça ou Luxemburgo se encontre uma comunidade portuguesa tão extensa, que em Londres a comunidade muçulmana atinja valores tão elevados ou que as cidades de Lisboa, Roterdão
e Milão se tenham consolidado ao longo dos tempos como alguns dos
principais destinos da diáspora cabo-verdiana.
No que concerne aos equipamentos de saúde é igualmente notória a
propensão para a sua concentração em áreas urbanas e, em particular,
em grandes cidades. Na análise do processo de consumo colectivo em
saúde, Simões refere mesmo que a concentração de equipamentos
colectivos de saúde está fundamentalmente associada ao fenómeno de
industrialização-urbanização, às necessidades de restabelecimento da
força de trabalho crescente, em contextos de desagregação da família
tradicional alargada (SIMÕES, 1989).
Efectivamente, a análise estatística permite constatar que é também em
áreas urbanas de grande dimensão que se concentram os equipamentos
de saúde. Esta tendência de forte concentração, menos estudada do que
a polarização das cidades sobre os imigrantes, resulta em grande parte
da necessidade de se rentabilizar o capital investido. Ainda que a informação estatística disponível no que trata aos equipamentos de saúde,
por cidades à escala europeia, seja escassa, é possível validar as teses
de concentração espacial em grandes cidades e metrópoles. Por conseguinte, na tabela 2 apresentam-se as cidades melhor posicionadas no
ranking de cada Estado-Membro, ao nível do indicador camas de hospital
Inês Martins Andrade
94
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
por cada 1000 habitantes. Da leitura desta informação estatística podem-se retirar três grandes conclusões.
Desde logo verifica-se que na maioria dos Estados-Membros da União
Europeia, as cidades melhor dotadas de camas de hospital por cada
1000 habitantes são cidades de dimensão compreendida entre os 100
e os 400 mil habitantes. No entanto, deve notar-se que isto não significa
que estas cidades tenham em valor absoluto mais camas de hospital do
que as principais aglomerações e grandes metrópoles destes mesmos
países, o que se explica pelo facto deste indicador resultar de uma ponderação entre o número de camas disponível por cidade em relação com
o seu número de habitantes. Logo, por mais elevado que seja o número
de camas disponível nas maiores áreas urbanas de cada Estado-Membro,
atendendo aos elevados quantitativos populacionais aí existentes, o indicador camas de hospital por cada 1000 habitantes é nestas cidades menor
do que nas cidades que, embora com menos recursos físicos (neste caso
número de camas) registam menores quantitativos populacionais.
Estreitamente articulado com a composição deste indicador, constata-se
que nos países em que anteriormente se havia identificado as maiores
aglomerações urbanas no contexto da União Europeia, se observa agora
que as cidades melhor posicionadas em termos de camas de hospital
por cada 1000 habitantes constituem, preferencialmente, cidades de
média ou pequena dimensão em termos de população residente nas
redes urbanas de cada país. Com efeito, verifica-se que no Reino Unido,
em 2001, embora a aglomeração urbana mais importante seja Londres
com 7 172 091 habitantes, a cidade com o valor mais elevado de camas
de hospital por cada 1000 habitantes é Belfast (7,66), ainda que apresentando um volume demográfico consideravelmente inferior (277 391 habitantes). Do mesmo modo, verifica-se uma importante diferença entre a
cidade alemã com maior peso demográfico (Berlim, 3 388 434 habitantes) e a respectiva cidade com melhor posição no indicador camas de
hospital por cada 1000 habitantes (Regensburg, 127 198 habitantes).
Esta leitura é transversal a todos os países em que nos seus sistemas
urbanos existem grandes metrópoles em termos de população residente, como é o caso de países como Espanha, França, Itália ou Polónia
e ainda que a uma outra escala e de forma menos evidente países como
Portugal, onde o sistema urbano se apresenta claramente monocêntrico.
Importa ainda constatar que os Estados-Membros em que a cidade com
o valor mais elevado de camas de hospital por cada 1000 habitantes é
a capital do país, corresponde sobretudo aos países que recentemente
Inês Martins Andrade
95
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
integraram o espaço comunitário, nomeadamente, Chipre, Eslovénia e
Letónia. Nesta análise, a Finlândia e o Luxemburgo constituem excepções, na medida em que, constituindo dois antigos Estados-Membros,
é nas suas cidades capitais (Helsínquia e Lexemburgo) que se encontram simultaneamente as mais fortes concentrações de população residente e os valores mais elevados do indicador número de camas por
cada 1000 habitantes, 8,10 e 16,73 respectivamente.
Tabela 2 – Ranking das Cidades de cada Estado-Membro melhor posicionadas
em termos de Camas de Hospital por cada 1000 Habitantes, em 2001
País
Cidade
População
Residente (N.o)
Camas de Hospital
por cada 1000 Habitantes
Alemanha
Regensburg
127 198
22,02
Austria
Linz
183 504
21,75
Gent
224 685
15,66
Brugge
116 559
14,65
Chipre
Lefkosia
200 686
6,82
Dinamarca
Sd
Sd
Sd
Eslováquia
Banska Bystrica
83 056
15,64
Eslovénia
Ljubljana
270 506
13,10
Espanha
Santiago
de Compostela
93 381
30,69
Estónia
Tartu
101 207
12,15
Finlândia
Helsínquia
559 718
8,10
Nancy
258 268
11,98
84 002
11,42
Thessaloniki
385 406
15,05
Miskolc
184 125
18,85
Nyíregyháza
118 795
18,30
Galway
65 832
16,75
Cremona
70 887
20,20
Cagliari
164 249
19,71
Riga
756 627
10,06
Bruxelas
França
Pointe-a-Pitre
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
(continua)
Inês Martins Andrade
96
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
(continuação)
População
Residente (N.o)
Camas de Hospital
por cada 1000 Habitantes
Kaunas
379 706
13,84
Vilnius
554 281
12,79
País
Lituânia
Cidade
Luxemburgo
Luxembourg
76 688
16,73
Holanda
Heerlen
95 149
15,65
Malta
Valletta
363 799
Sd
Polónia
Rzeszów
162 153
11,37
Portugal
Coimbra
148 443
20,63
Belfast
277 391
7,66
Derry
105 066
7,05
95 436
13,31
104 512
7,27
Reino Unido
República Checa
Usti nad Labem
Suécia
Umeå
Fonte: Urban Audit, 2001
Sd – Sem dados, Informação estatística não disponível
1.2. Distribuição Territorial de Imigrantes e Equipamentos
de Saúde no Sistema Urbano Nacional:
a Preponderância da Área Metropolitana de Lisboa
1.2.1. A Distribuição Territorial da População Imigrante
No que trata ao padrão espacial das áreas de residência da população
estrangeira em Portugal Continental, verifica-se que este reproduz,
de um modo geral, a disposição das áreas urbanas no sistema urbano
nacional.
É ao longo de toda a faixa litoral, ocidental e meridional, que se registam as maiores concentrações de população estrangeira residente
em Portugal Continental. Todavia, ao longo desta extensa faixa, a Área
Metropolitana de Lisboa (AML), em 2001, individualiza-se das restantes
áreas urbanas no que concerne à concentração espacial da população
estrangeira, pelos elevados quantitativos populacionais registados. Efectivamente, em 2001, a AML agregava 57% do total de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, sendo que somente a Grande Lisboa detinha
43% desse universo nacional e a Península de Setúbal 12%. A Grande
Inês Martins Andrade
97
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Área Metropolitana do Porto ainda que detendo um dos valores percentuais mais elevados do país (8,1%), este apresenta-se consideravelmente
mais modesto quando comparado com o da AML. Porém, a AMP apresenta na sua área envolvente um conjunto de concelhos com concentrações expressivas de cidadãos estrangeiros, nomeadamente, Viana do
Castelo, Braga, Guimarães ou Vila Nova de Famalicão, com 1040, 3095,
1167 e 1026 cidadãos estrangeiros residentes respectivamente.
Na orla litoral compreendida entre as duas áreas metropolitanas, identifica-se um conjunto de concelhos com significativas concentrações de
população estrangeira residente, que correspondem em geral às principais aglomerações urbanas aí existentes. Tratam-se de três concelhos
localizados a sul da AMP, nomeadamente, Aveiro (1717 cidadãos estrangeiros), Coimbra (2395 cidadãos estrangeiros) e Leiria (2316 cidadãos
estrangeiros) assim como outros três concelhos dispostos imediatamente a norte da AML, designadamente, Caldas da Rainha (1026 cidadãos estrangeiros), Alenquer (1326 cidadãos estrangeiros) e Torres
Vedras (1326 cidadãos estrangeiros).
Na NUT II Algarve identificam-se importantes pólos de concentração de
cidadãos estrangeiros, sobretudo, nos principais centros urbanos. De
facto, na grande maioria dos concelhos algarvios regista-se uma forte
presença desta população, pois somente Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos,
Loulé, Olhão, Portimão, Silves e Tavira detinham em 2001 aproximadamente 10% da população estrangeira residente em Portugal, uma importância superior à registada pela AMP. No interior do território nacional,
verifica-se uma fraca expressividade da população estrangeira, com
excepção de alguns concelhos, designadamente, Chaves, Viseu, Guarda
e Castelo Branco.
Deste modo, evidencia-se claramente a preferência da população estrangeira em se fixar em áreas urbanas e, sobretudo, em grandes aglomerações.
Inês Martins Andrade
98
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 13 – População Estrangeira Residente em Portugal Continental,
por Concelhos, em 2001
N
População Estrangeira
21 476
2862
45
8
0
20 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Censos 2001, Tratamento próprio
A tese da metropolização das migrações internacionais é particularmente evidente no caso dos nacionais de países africanos, uma vez que
85% destes residiam em 2001 nas duas áreas metropolitanas do país.
Em 2001, os cidadãos estrangeiros provenientes do continente africano
constituíam a parcela mais relevante da população estrangeira residente
em Portugal (41%).
Inês Martins Andrade
99
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Uma análise relativamente minuciosa do padrão espacial da residência
do maior grupo de estrangeiros segundo proveniência geográfica permite constatar uma incidência, à escala de Portugal Continental, predominantemente na AML (80,2%). Dentro desta existe uma superioridade
na Grande Lisboa (63%) em relação à Península de Setúbal, que apenas
detinha 17% do total de cidadãos africanos residentes em Portugal Continental à data do recenseamento. A AMP apresenta uma concentração
residencial substancialmente inferior desta população, uma vez que não
ultrapassa os 4%.
Este valor é mesmo inferior ao observado na NUT II Algarve (5%), visto
que nesta identifica-se um conjunto de concelhos com notável presença
desta população, nomeadamente Loulé, Albufeira, Portimão e ainda
Faro, com 1227, 651, 638 e 556 cidadãos nacionais de África, respectivamente.
No restante território nacional a análise da cartografia relativa à localização residencial da população de origem africana evidencia uma pulverização de pequenas concentrações, dispersas entre Lisboa e Porto,
mas incidentes na faixa litoral e com perda de significado à medida que
aumenta o nível de interioridade. Na Região do Alentejo, a expressividade desta população é muito reduzida, observando-se apenas alguma
relevância nos concelhos de Sines, Mértola, Santiago do Cacém e Évora,
oscilando sensivelmente entre uma e quatro centenas de residentes.
Inês Martins Andrade
100
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 14 – População Estrangeira de Origem Africana
Residente em Portugal Continental, por Concelhos, em 2001
N
População Africana
18 294
1227
1
0
20 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Censos 2001, Tratamento próprio
Pela expressividade quantitativa que a população proveniente dos PALOP
(Países de Língua Oficial Portuguesa) assume no total da população
estrangeira e na população estrangeira com origem em países africanos, mas também por se tratar da população-alvo da presente investigação, importa analisar o padrão espacial da sua residência com algum
pormenor.
Inês Martins Andrade
101
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Da observação da figura seguinte, percebe-se que o padrão espacial da
população proveniente das ex-colónias portuguesas (Cabo Verde, Angola,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau) decalca o da população de origem africana e, uma vez mais, o da população estrangeira residente em Portugal. Por conseguinte, verifica-se que as migrações oriundas dos PALOP apresentam um forte carácter de metropolização, pois a
sua incidência regista-se sobretudo na maior aglomeração do país (82%).
Dentro da AML, a Grande Lisboa assume novamente um papel de destaque, concentrando 78% desta população, enquanto que a Península de
Setúbal concentra apenas 22% da população estrangeira dos PALOP,
ainda que sendo a segunda NUT III em todo o país com maior proporção
desta população.
A seguir à AML destaca-se a NUT III Algarve que concentra 5% do total
desta população residente no país. Com forte analogia ao observado
anteriormente para os cidadãos nacionais de países africanos, é também
nos concelhos de Loulé, Albufeira, Portimão e Faro que mais se concentra a população estrangeira dos PALOP. A AMP surge com quantitativos
percentuais idênticos, embora inferiores aos da NUT III Algarve (4%),
o que embora lhe confira uma das posições mais significativas no contexto nacional, consiste numa importância reduzida.
No restante território de Portugal Continental identificam-se apenas
meras concentrações de carácter pontual e com fraca dimensão demográfica, designadamente, na orla litoral ocidental desenvolvendo-se
entre as duas principais cidades do país, e de forma muito ténue no restante território.
Este padrão locativo da população estrangeira nacional dos PALOP residente em Portugal resulta, tal como explica Fonseca do facto de se tratar
de uma «… migração de natureza laboral, com baixos níveis de qualificação escolar e profissional, estruturada a partir de redes de conhecimento interpessoal, compreende-se facilmente que se concentre na
aglomeração urbana da capital portuguesa, e nas regiões urbanas onde
podiam encontrar trabalho com maior facilidade, nomeadamente na
construção civil e nos serviços mais desqualificados, como sejam as
limpezas industriais e domésticas…» (FONSECA, 2005).
Inês Martins Andrade
102
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 15 – População dos PALOP Residente em Portugal Continental,
por Concelhos, em 2001
N
População PALOP
17 961
1108
1
0
20 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Censos 2001, Tratamento próprio
1.2.2. A Disposição Territorial dos Equipamentos de Saúde
A análise do padrão espacial dos equipamentos colectivos de saúde e do
pessoal ao serviço, nos cuidados de saúde primários e nos cuidados de
saúde diferenciados, manifesta idêntica relevância, uma vez que permite
Inês Martins Andrade
103
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
constatar a proeminência da concentração espacial nos principais centros urbanos do país, com especial destaque para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. A cartografia dos hospitais oficiais e particulares no Continente permite tirar um conjunto de ilações que vão
precisamente ao encontro da tese de concertação espacial em áreas
urbanas e grandes metrópoles, à escala nacional.
Em 2001, era ao longo da orla litoral ocidental, na faixa que se desenvolve entre as duas áreas metropolitanas do país, que se concentrava
a maioria dos hospitais oficiais e particulares do Continente. Contudo,
nesta parcela do território identificam-se acentuadas disparidades,
uma vez que desde logo se evidencia a forte preponderância da AML,
que detém 29% dos hospitais oficiais e particulares existentes no país.
Dentro desta, evidencia-se uma vez mais o papel da Grande Lisboa, na
medida em que reúne 57 dos 63 cuidados de saúde diferenciados existentes na AML, enquanto que a Península de Setúbal se circunscreve
a 6 hospitais.
Depois surge a AMP, ainda que com um número de hospitais consideravelmente mais reduzido do que a sua congénere de sul (35 hospitais
públicos e privados, o que corresponde a 16% do total do país). No contexto da AMP, embora somente os concelhos de Trofa, Maia e Arouca,
em 2001, não apresentassem nenhum equipamento hospitalar, de natureza jurídica pública ou privada, observa-se uma notável disparidade
entre o concelho do Porto, que congrega 23 dos 35 hospitais da AMP,
e os restantes, uma vez que os seus quantitativos variam entre 1 ou 2
hospitais.
Ainda na faixa litoral ocidental, o concelho de Coimbra assume um papel
de destaque, uma vez que regista um total de 13 hospitais (6% do universo total dos hospitais públicos e privados existentes no país). A existência acentuada de hospitais em Coimbra encontra-se associada ao
importante papel que esta assumiu desde há vários séculos no contexto
nacional, tendo levado a que ao longo dos tempos, monarcas e ordens
religiosas tivessem aí fundado inúmeros hospitais.
O restante território nacional caracteriza-se por presenças pontuais e
fragmentadas, o que lhe confere um carácter muito desguarnecido no
que trata a esta tipologia de equipamentos de saúde. As NUT II Alentejo
e Algarve constituem as regiões mais sub-equipadas, no entanto, note-se que todo o interior, transversal às quatro NUT II (Norte, Centro,
Alentejo e Algarve) apresenta grandes carências nos serviços de saúde
diferenciados.
Inês Martins Andrade
104
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Por se tratarem de equipamentos de saúde de grande dimensão, os respectivos critérios de localização implicam a existência de limiares de
procura elevados e as suas áreas de influência são consideravelmente
extensas, o que faz com que estes tendam a concentrar-se nas áreas do
país com maiores concentrações demográficas, o que ocorre precisamente no litoral. No entanto, trata-se de uma distribuição espacial pouco
equitativa.
Figura 16 – Hospitais Oficiais e Particulares em Portugal Continental, em 2001
N
N.o de Hospitais
1
5
10
0
20 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 2001, Tratamento próprio
Inês Martins Andrade
105
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A repartição espacial do pessoal ao serviço em hospitais em Portugal
Continental evidencia, por um lado, o padrão territorial dos hospitais
existentes no país, mas sobretudo o modelo territorial da população
portuguesa.
Com maior evidência que na cartografia anterior, constata-se que é nas
duas áreas metropolitanas do país se concentra a grande maioria do
pessoal ao serviço em hospitais. De facto, estas duas aglomerações
metropolitanas reúnem mais de metade do total do pessoal ao serviço
em hospitais no país (54%), o que reproduz claramente o modelo de
bipolarização que caracteriza o sistema urbano nacional. Todavia, uma
vez mais, entre os dois territórios metropolitanos emergem diferenças relevantes, pois enquanto a AMP detém 20% do total deste tipo de
trabalhadores, a AML regista valores percentuais substancialmente
mais elevados (35%). Deste modo, não obstante a metropolização deste
indicador, a preponderância da metrópole de Lisboa é uma vez mais
reafirmada.
No restante território nacional identificam-se apenas algumas concentrações pontuais de carácter difuso. Destacam-se os concelhos de Évora,
Santarém, Vila Real, Braga e Viana do Castelo por concentrarem entre
1000 e os 2200 trabalhadores ao serviço em hospitais, seguidos dos
concelhos de Torres Vedras, Torres Novas, Abrantes, Figueira da Foz,
Castelo Branco, Chaves e Penafiel com quantitativos de pessoal ao serviço em hospitais compreendidos entre os 500 e os 1000 trabalhadores,
em 2001.
A análise da rede de cuidados de saúde primários, efectuada a partir
da leitura da distribuição territorial dos centros de saúde e das extensões dos centros de saúde à escala do Continente, promove uma leitura diferente. Constata-se que a este nível de respostas de saúde existe
uma maior equidade territorial, uma vez que a concentração, ainda que
incisiva no litoral que se estende entre as duas principais cidades do
país, não é tão notória como no âmbito dos cuidados de saúde diferenciados, uma vez que um pouco por todo o território proliferam estes
equipamentos.
De facto, observa-se uma maior dispersão territorial dos centros de
saúde e das extensões dos centros de saúde, o que promove uma maior
equidade geográfica no acesso e utilização destes equipamentos de
saúde. Naturalmente, este factor resulta de se tratarem de equipamentos colectivos cujos limiares mínimos de população necessários para a
sua construção são menores e dos respectivos critérios de programação
Inês Martins Andrade
106
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
visarem que estes se encontrem mais próximos da população. Todavia,
identifica-se uma distribuição geográfica muito heterogénea destes equipamentos de saúde no território nacional.
A AML destaca-se a nível nacional no que trata aos centros de saúde e
simultaneamente às suas extensões, pois apresenta as concentrações
espaciais mais elevadas no Continente. A metrópole de Lisboa agrega
14% dos centros de saúde, destacando-se dentro desta os concelhos
de Lisboa e de Sintra, na Margem Norte, com dezassete e seis centros
de saúde respectivamente enquanto que na Margem Sul, destacam-se
os concelhos de Almada e do Seixal, cada um deles com três.
Figura 17 – Pessoal ao Serviço em Hospitais em Portugal Continental, em 2001
N
N.o de Pessoas ao Serviço
27 346
14 562
29
0
20 km
Sem informação
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 2001, Tratamento próprio
Inês Martins Andrade
107
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Assim, mesmo à escala da AML observam-se importantes desigualdades
na distribuição geográfica destes equipamentos de saúde, face à supremacia do concelho de Lisboa comparativamente aos restantes.
A AMP acumula 10% do total nacional dos centros de saúde e, ainda que
consistindo num valor percentual não muito díspar do registado pela
AML, uma vez mais regista uma distribuição mais homogénea entre
vários concelhos, sendo o Porto (10), Vila Nova de Gaia (6) e Matosinhos (5)
os que registam as concentrações mais significativas.
Fora dos territórios metropolitanos apenas se destaca o concelho de
Coimbra com seis centros de saúde. O mapa dos centros de saúde
coloca em evidência duas das mais importantes singularidades do território português, isto é, a dicotomia Norte/Sul, dada a clara diminuição
dos quantitativos deste tipo de equipamentos à medida que se desce em
latitude, assim como a dicotomia Interior/Litoral, uma vez que se observa
uma clara litoralização dos centros de saúde, enquanto que o interior
apresenta uma menor pulverização destes equipamentos.
Por fim, a distribuição espacial das extensões dos centros de saúde,
mais do que na análise anterior, evidencia a clara preponderância da
faixa litoral que se desenvolve entre Setúbal e Vila Real e dentro desta
a relevância da AML, que detém 179 extensões, o que corresponde a 9%
do total nacional e seguidamente a AMP, com 91 extensões num universo nacional de 1941. Todavia, nesta longa faixa litoral, um conjunto
de concelhos emergem com quantitativos de extensões de centros de
saúde particularmente elevados, o que em geral corresponde aos centros urbanos mais dinâmicos do litoral. Entre eles identificam-se dois
sub-conjuntos, por um lado, aqueles que se encontram na área envolvente das duas áreas metropolitanas, como sendo Viana do Castelo,
Barcelos, Braga ou Vila Nova de Famalicão, no caso da AMP, e Abrantes,
Tomar, Torres Vedras, Ourém ou Caldas da Rainha, no caso da AML,
e por outro lado aqueles que registam um posição geográfica intermédia,
nomeadamente, Leiria, Coimbra, Figueira da Foz ou Pombal.
Ao nível das NUT II é a Região Centro a que apresenta o valor absoluto
mais elevado de extensões de centros de saúde (40% do total nacional).
No contexto desta Região, identificam-se inúmeros concelhos com concentrações elevadas desta tipologia de equipamentos, o que em geral
corresponde a centros urbanos e cidades médias, por vezes capitais de
distrito, e que concentram maiores quantitativos populacionais, em parte
resultado do notável dinamismo registado nos últimos anos. Este é o
caso de concelhos como, por exemplo, Guarda, Castelo Branco, IdanhaInês Martins Andrade
108
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
-a-Nova, Covilhã, Fundão ou Sertã. Na Região Norte, os concelhos com
valores mais elevados de extensões de centros de saúde encontram-se,
na sua maioria, concentrados no litoral, com excepção dos concelhos
de Bragança e Macedo dos Cavaleiros. Na Região Alentejo e na Região
Algarve o número de concelhos com expressão significativa em termos
de concentração destes equipamentos diminui consideravelmente, sendo
os concelhos de Évora, Montemor-o-Novo, Portalegre, Beja e Faro os
que mais se destacam.
Figura 18 – Centros de Saúde Com ou Sem Internamento
em Portugal Continental, em 2002
N
N.o de Centros de Saúde
10
6
1
Centros de saúde com internamento
Centros de saúde sem internamento
0
20 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 2002, Tratamento próprio
Inês Martins Andrade
109
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 19 – Extensões de Centros de Saúde em Portugal Continental, em 2002
N
Extensões de Centros
de Saúde
1
5
10
0
20 km
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 2002, Tratamento próprio
A análise cartográfica efectuada permite validar a tese de que, à semelhança do constatado à escala internacional e europeu, também no contexto nacional, é nos principais centros urbanos do país e preferencialmente nas áreas metropolitanas que ocorre uma maior concentração
espacial de população imigrante e de equipamentos colectivos de saúde.
A nível nacional, constata-se que as áreas de residência da população
estrangeira e, particularmente, da população de origem africana ou
proveniente dos PALOP, bem como a localização dos equipamentos de
saúde primários e secundários tende mesmo a decalcar o modelo terInês Martins Andrade
110
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ritorial do sistema urbano nacional. Todavia, verificou-se ainda que à
escala nacional, a Área Metropolitana de Lisboa assume uma clara preponderância, concentrando os maiores quantitativos de cidadãos estrangeiros, dos nacionais dos PALOP e dos equipamentos de saúde bem
como dos seus respectivos profissionais.
2. ÁREAS DE RESIDÊNCIA DOS IMIGRANTES NA AML:
TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO
2.1. Crescimento Urbano da AML e Suburbanização da Imigração:
o Papel da Política Nacional de Habitação
Até meados dos anos sessenta a Área Metropolitana de Lisboa (AML)
registava um reduzido afluxo de migrações, uma vez que se mantinha
auto-suficiente em matéria de mão-de-obra. Todavia, a segunda metade
desta década marcou o início daquilo que seria um longo período de
intensos fluxos migratórios. O crescente dinamismo económico, sustentado sobretudo pela expansão da indústria e da construção civil, após a
adesão de Portugal à EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre), em
1959, num período marcado por perdas significativas de mão-de-obra
jovem, dada a coincidência temporal da forte emigração para os países
mais desenvolvidos da Europa e do envio de contingentes para a Guerra
Colonial em África, geraram fortes necessidades de mão-de-obra.
Neste contexto, teve início o êxodo rural, marcado pela intensa chegada
de trabalhadores dos espaços rurais de todo o país à AML, em busca de
melhores condições de vida nas cidades, longe de uma base económica
agrícola ainda muito rudimentar. As populações oriundas das Regiões
Norte e Centro do país fixaram-se preferencialmente na Margem Norte
do Tejo, na periferia imediata e ao longo das principais acessibilidades, nomeadamente, da linha do comboio e da auto-estrada do Norte,
enquanto que as populações provenientes das Regiões do Alentejo e do
Algarve se estabeleciam na sua maioria na Margem Sul, encontrando
trabalho nas indústrias pesadas e transformadoras nos concelhos do
Barreiro e Setúbal, mas também na cidade de Lisboa, proporcionada
pela abertura da Ponte 25 de Abril, em 1966. Porém, face às grandes
necessidades de mão-de-obra recorreu-se também à imigração de trabalhadores, sobretudo, do sexo masculino oriundos de Cabo Verde, os
quais ainda que dispersos por toda a cidade, acabaram por se concentrar
no triângulo formado pelas ruas de São Bento, dos Poiais de São Bento
e do Poço dos Negros, o qual ficaria conhecido pelo «triângulo caboverdiano» de Lisboa (MALHEIROS, 2000).
Inês Martins Andrade
111
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Esta chegada cada vez mais maciça de migrantes à AML gerou uma
importante pressão no mercado habitacional. Todavia, a combinação de
um conjunto de factores impossibilitava uma resposta eficaz às necessidades. Por um lado, a Administração Pública mostrava-se incapaz
de responder a esta procura, porque apesar do forte crescimento económico ocorrido na década de sessenta, este era amplamente canalizado para a manutenção do conflito bélico nas colónias africanas, o que
não permitia a existência de recursos para investir nos equipamentos e
infra-estruturas necessárias. Perante esta incapacidade de resposta do
Estado, foi à iniciativa privada que competiu quase integralmente a produção de habitação, o que lhe permitiu praticar preços inacessíveis para
a grande maioria dos imigrantes, uma população com baixos níveis de
escolaridade e de formação profissional, com fraca capacidade económica e recém-chegada a um território novo, muitas vezes desprovidos
de qualquer tipo de apoio ou laços de solidariedade familiar e/ou social.
A estes factores acrescia ainda a impossibilidade de se efectuarem contratados de arrendamento de duração limitada no mercado de habitação
nacional, do congelamento das rendas nas cidades de Lisboa e Porto de
1948 a 1985, e a sua respectiva extensão a todo o país após a Revolução
de 1974 e dos custos da habitação na cidade se tornarem cada vez mais
elevados, dada a crescente invasão das actividades terciárias no centro
(ESTEVES, 2004; SALGUEIRO, 2006).
A incapacidade de resposta da Administração Pública às necessidades
de habitação crescentes de uma população que aumentava a um ritmo
incomparável na história da AML, traduziu-se inevitavelmente numa
débil produção de habitação social. Embora as primeiras iniciativas
públicas planeadas, com vista ao realojamento de populações remontasse à Primeira República (1918), com a decisão legislativa de extinção dos bairros infectos e lúgubres (GASPAR et al., 2006), até à década
de sessenta, como afirma Salgueiro «… a promoção feita pelo Estado
esteve na origem da construção de pequenos bairros residenciais…»
(SALGUEIRO, 2006).
A combinação destes factores, levou a que estes elevados quantitativos
de trabalhadores migrantes não conseguissem adquirir uma habitação
no centro da cidade, sendo empurrados para as suas periferias imediatas, onde se iriam então desenvolver múltiplas formas marginais de
habitação. Aí começaram então a proliferar casas de auto-construção
com recurso a materiais velhos e usados, como a madeira ou lata, geralmente com hortas no espaço envolvente, o que lhe conferia traços de
ruralidade e era indicativo das origens geográficas dos seus residentes,
o que posteriormente, viria a dar origem aos bairros de barracas. SimulInês Martins Andrade
112
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
taneamente, assistiu-se ao loteamento de importantes áreas na periferia
urbana, onde muitos construtores, beneficiando da conjuntura social,
económica e política da época, construíam urbanizações ilegais, caracterizadas por prédios com inúmeros andares, em alvenaria e com uma
tipologia e qualidade semelhante às construções legais, em terrenos
da sua propriedade. Surgiam assim a construções clandestinas, também denominados, bairros de génese ilegal, vendidos muitas vezes com
o total desconhecimento da situação de irregularidade pelos compradores, sendo disso exemplo bairros na Charneca, Galinheiras, Prior Velho,
Costa da Luz ou Brandoa (SALGUEIRO, 2001).
Deste modo, dava-se uma saída relativamente rápida das residências
acompanhada de outros usos do solo, nomeadamente, a indústria e o
comércio, o que gerava um alargamento do perímetro urbano da cidade
e aumentava a incapacidade de responder às necessidades de infra-estruturas e dotação de equipamentos colectivos, por parte da Administração Pública.
Com a Revolução do 25 de Abril de 1974, a AML depara-se com a chegada de milhares de imigrantes e retornados provenientes da ex-colónias, concentrados num curto período de tempo, que procuravam fugir
à guerra, fome e forte instabilidade política. Embora o IARN (Instituto
de Apoio ao Retorno de Nacionais) tenha efectuado uma redistribuição
por todo o território nacional e muitos dos retornados se tenham dirigido para as suas terras natais ou para locais onde tinham familiares,
a grande maioria daqueles que chegaram acabou por se fixar na AML.
Tratava-se de uma população com um perfil social e económico idêntico
ao apresentado pelos migrantes rurais dos anos sessenta, na medida
em que detinham baixas qualificações escolares e formação profissional,
ao que acrescia todo um conjunto de fragilidades decorrentes da sua
situação de imigrantes e deslocados.
Subsequentemente, também estes imigrantes se depararam com fortes
restrições no acesso ao mercado de habitação, agravado com o congelamento das rendas de habitação em 1974, o que diminuiu drasticamente
o mercado de arrendamento em Portugal. Como tal, também eles acabaram por se fixar em bairros de barracas ou em bairros clandestinos,
especialmente nos arredores imediatos da cidade de Lisboa. Assim,
dava-se uma mudança do perfil da população que habitava estes bairros,
ao mesmo tempo que se dava a sua expansão e densificação. Estas
áreas residenciais apresentavam padrões locativos pautados pelas más
acessibilidades, estabelecimento nos limites administrativos dos concelhos (o que dificultava o controlo destes territórios) em espaços livres
Inês Martins Andrade
113
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
como era o caso das Estradas Militares, mas também, muitas vezes,
situados na proximidade de fontes poluentes, como sendo fábricas,
sucatas, depósitos do lixo ou mesmo o aeroporto, sendo disso exemplo
o Bairro da Quinta da Serra ou o Bairro da Torre, no concelho de Loures,
ou em bairros em construção, que se encontravam inacabados ou cujas
obras foram suspensas, conduzindo ao surgimento de bairros degradados como a já demolida Quinta do Mocho, no concelho de Loures, ou o
Bairro dos Chícharos, usualmente conhecido como o Bairro da Jamaica,
no concelho do Seixal.
Deste modo, tratavam-se de espaços territorialmente marginalizados,
não revelando continuidade com o restante território construído, ao que
acrescia uma marginalização socioeconómica, uma vez que se tratavam de populações frequentemente em situação de desemprego ou de
emprego precário, e por vezes dedicadas a actividades clandestinas, por
exemplo o tráfico de droga, como forma de subsistência, o que lhe conferia imagens negativas e sentimentos de medo e insegurança entre a
restante população do território metropolitano. Deste modo, as áreas
residenciais da população imigrante proveniente dos PALOP, configuram-se progressivamente como territórios de exclusão num território
metropolitano, em nítido processo de suburbanização, onde a sua expansão reflecte a nítida tolerância e incapacidade de controlo, gestão e planeamento da Administração Central e Local.
À semelhança do observado anteriormente, mais uma vez a intervenção
pública em matéria de habitação social revelara-se modesta e claramente insuficiente. No início da década de setenta, no âmbito do recém-criado (1969) Fundo de Fomento de Habitação (FFH), foram realizados
os PI (Planos Integrados), na sequência das ideias de que o Estado deveria manifestar um papel mais activo no sector da habitação, de forma
a responder às graves carências sentidas no país. Estes constituíam
programas habitacionais de promoção directa em empreendimentos de
grande dimensão, o que na AML correspondeu ao PI de Almada, Setúbal
e Zambujal. Embora se tratando de uma intervenção notória, esta foi
mais limitada no tempo (GASPAR et al., 2006). Efectivamente, na sequência do movimento revolucionário e de toda a instabilidade política que marcou o período de pós-Revolução, entre 1974 e 1976, observou-se uma
regressão ao nível da promoção pública de habitação (SALGUEIRO, 2006).
Não obstante, os cortes registados entre 1978 e 1980, na sequência de
uma política económica e financeira severa, que procurava uma estabilização económica das contas do Estado, num contexto de subida das
taxas de juro do crédito. De facto, pode-se considerar que a partir de
Inês Martins Andrade
114
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
1976, houve uma inversão na tendência de investimentos públicos na
habitação, a influência e presença dos partidos de esquerda no Governo
e nas Câmaras Municipais acabou por se repercutir amplamente nas
políticas habitacionais adoptadas, uma vez que se deu um reforço do
papel do Estado na promoção pública de habitação, ainda que claramente insuficiente face à elevada procura.
Por um lado, a presença dos partidos de esquerda reflectiu-se na emergência de preocupações da Administração Local com a necessidade
de infra-estruturar os territórios suburbanos, em matéria de transportes, comércio, equipamentos colectivos, mas também de dotá-los de
um maior ordenamento do território. Perante a tolerância manifestada
durante a construção, incapacidade de resposta à totalidade de situações
de carência, e consciencialização de que a demolição dos núcleos de
barracas e de bairros clandestinos apenas viria a agravar as dimensões
de um problema habitacional já incontrolável, foram adoptadas medidas de recuperação de áreas urbanas de génese ilegal. É neste cenário
que é promulgado, por exemplo, em 1976, como Gaspar et al. referem o
«… decreto-lei referente à Nova Política de Solos (Decreto-Lei n.o 794/76,
de 5 de Novembro), o qual abriu a porta à criação da figura de ACRRU
– Áreas Criticas de Recuperação e Reconversão Urbanística, ao abrigo da
qual se vem facilitar a intervenção da administração em áreas onde se
verifique a falta ou insuficiência de infra-estruturas urbanísticas, de equipamento social (…) de imediato seria também promulgado o Decreto-Lei
n.o 804/76, de 6 de Novembro, o qual determina as medidas a aplicar na
construção clandestina, bem como nas operações de loteamento clandestino, servindo assim de base à elaboração de Planos de Recuperação
dos Bairros Clandestinos…» (GASPAR et al., 2006). Foi neste contexto que
se processou a recuperação de grandes loteamentos ilegais, de que são
exemplos o parcelamento ilegal em Fernão Ferro, no concelho do Seixal,
ou o loteamento clandestino de Casal de Cambra, no concelho de Sintra.
Por outro lado, são criados vários programas com a finalidade central de
satisfazer as elevadas necessidades habitacionais, entre os quais se
salientam o Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), que consistia em
programas cooperativos combinados com um sistema de renda resolúvel, apoiados ao nível técnico e financeiro pela Administração Central, os
Contratos de Desenvolvimento Habitacional (CDH), que correspondiam a
contratos de habitação social estabelecidos entre empresas privadas de
construção civil e a Administração Central, e por fim os empréstimos às
Autarquias Locais assim como às Cooperativas de Habitação, o que promoveu a construção de bairros sociais e cooperativos não só no espaço
metropolitano, como um pouco por todo o país.
Inês Martins Andrade
115
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Foi assim no contexto de uma política de promoção de habitação social
mais dinâmica, que surgiram muitos bairros sociais ou ditos bairros de
realojamento. Ainda que possibilitando responder às necessidades habitacionais de muitos imigrantes, mas também população autóctone, mantiveram-se inúmeras problemáticas com agravamento de outras. Com
efeito, a nível socioeconómico mantiveram-se e, em alguns casos, até
se agravaram os problemas destas populações: desemprego, emprego
precário, baixas remunerações e grande instabilidade de emprego e de
remunerações associada a baixas qualificações, dificuldades linguísticas, níveis de escolaridade nulos ou muito reduzidos, o que fazia desta
população um grupo social e economicamente muito vulnerável e, como
tal, os seus territórios de residência constituíam verdadeiras bolsas de
pobreza e de exclusão social. Por outro lado, a intervenção urbanística
apresentou uma grande multiplicidade de fragilidades que apenas agravou ainda mais a situação e a condição destas populações. Do prisma
arquitectónico, ressaltam as construções débeis associadas a uma incapacidade de manutenção e conservação, que rapidamente geraram paisagens urbanas degradadas. Em termos urbanísticos, a ausência de
infra-estruturas, de equipamentos colectivos geradores de dinâmicas
sociais e polarizadores de populações não residentes nesses empreendimentos sociais, levaram a um forte isolamento social, agravado pelo
facto de já por si apresentarem uma forte marginalidade geográfica, com
graves carências ao nível das acessibilidades e apresentando uma forte
distância e descontinuidade com o restante tecido urbano (MALHEIROS,
2001; SALGUEIRO, 2001).
De facto, a solução encontrada para as necessidades habitacionais nem
sempre foi a melhor, embora não se possa ignorar a complexa e extensa
tarefa com que a Administração Pública se deparou, depois de um
período de grande desgaste económico com uma guerra e sem grandes
apoios e recursos para planear e ordenar uma metrópole que, num
período de apenas alguns anos, galgou os seus limites administrativos,
estendendo-se em várias frentes e pautada por especificidades várias.
Naturalmente, em grande parte das situações, o decorrer dos tempos
acabou por acentuar ainda mais estes factores de exclusão social e territorial, bem como a degradação do próprio parque habitacional encontrando-se muitos destes bairros actualmente a ser alvo de programas
especiais de reabilitação/renovação, concretizáveis através de vários
programas, como é o caso do URBAN, Renovação Urbana, entre outros,
na sua maioria financiados pela União Europeia (SALGUEIRO, 2006).
Os meados da década de oitenta constituem um novo um período de viragem na política nacional de habitação, marcado pelo súbito abandono da
Inês Martins Andrade
116
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
promoção pública de habitação, numa altura em que importantes quantitativos de imigrantes africanos continuavam a chegar à AML. Este foi o
resultado da combinação de factores diversificados como sendo as restrições impostas pelo FMI, a extinção do FFH, redução dos apoios financeiros à promoção de habitações a custos controlados ou início de uma
nova lógica de gestão das habitações sociais, caracterizada pela sua
venda aos residentes.
A persistência de inúmeras carências habitacionais dispersas um pouco
por todo o país, mas particularmente relevantes na AML, e dentro desta
na cidade de Lisboa, levou a que em 1987 fosse criada uma nova intervenção de base territorial, o Plano de Intervenção de Médio Prazo de
Construção em Lisboa (PIMP). Criado através de um acordo celebrado
entre a Autarquia de Lisboa, e o Instituto Nacional de Habitação (INH)
e o IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado), o PIMP, tal como salienta Gaspar, tinha como propósito
«… a construção de 9698 fogos, com o objectivo de fazer face aos graves problemas de habitação na capital, e ao mesmo tempo contribuindo
para a erradicação de núcleos de construção degradada, desde casas
de fibrocimento, madeira e/ou metal dos chamados “bairros provisórios”
do Estado Novo, a barracas…» (GASPAR et al., 2006). Este consistiu num
programa de realojamento de grande dimensão na capital, tendo abrangido 14 bairros de barracas e outros alojamentos em avançado estado
de degradação na cidade de Lisboa.
A continuidade dos fluxos imigratórios em direcção à AML, as criticas às
políticas habitacionais adoptadas desde o 25 de Abril de 1974, a persistência de inúmeros aglomerados de barracas dispersos por todo o território metropolitano, a existência de gerações que nasceram e cresceram
em bairros precários, com problemáticas sociais e económicas associadas, com impactes na saúde, numa época em que Portugal já integrava
a União Europeia, levou a que em 1993 fosse criado o Programa Especial de Realojamento (PER) e o Programa de Construções de Habitações
Económicas (PCHE) com a finalidade de erradicar as barracas e outras
tipologias de construção degradadas e o seu subsequente realojamento
em habitações condignas, das duas áreas metropolitanas do país. Tratava-se de um grande desafio, que possibilitava aos municípios promoverem a construção dos fogos necessários ou procederem à aquisição
de habitações existentes no mercado, apoiados pelo IGAPHE, a quem
competia disponibilizar os recursos financeiros necessários, sob a forma
de comparticipações a fundo perdido.
Inês Martins Andrade
117
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Procurando evitar os efeitos perversos e os erros cometidos em políticas
de realojamento em momentos anteriores, o PER acabou por se prolongar no tempo mais do que o esperado.
Tabela 3 – Situação do Programa Especial de Realojamento (PER),
em Dezembro de 1997 (N.o)
Concelhos
Lisboa
N.o de Fogos
Previstos
N.o de Fogos
Realizados
N.o de Fogos
por Realizar
11 129
829
10 300
5 419
122
5 297
80
0
80
Cascais
2 051
0
2 051
Loures
3 904
756
3 148
Mafra
87
24
63
Oeiras
3 165
100
3 065
Sintra
1 591
729
862
765
219
546
44
17
27
2 156
418
1 738
Barreiro
461
164
297
Moita
160
72
88
Montijo
307
212
95
Palmela
61
5
56
Seixal
635
0
635
Sesimbra
128
23
105
1 272
145
1 127
33 415
3 835
29 580
Amadora
Azambuja
Vila Franca de Xira
Alcochete
Almada
Setúbal
Total da AML
Fonte: Adaptado do INH em Matos, 1998
A análise da tabela anterior ilustra bem a lentidão que caracterizou o
processo de realojamento PER. As Autarquias têm procurado fazer deste
processo de realojamento, um processo mais participado, onde as populações a realojar são ouvidas, são questionadas sobre aspectos muito
diversificados, de modo a aumentar os níveis de satisfação com a habitação como a criar um sentimento de pertença das populações ao bairro,
procurando assim atenuar o facto de se tratar sempre de um realojaInês Martins Andrade
118
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
mento à força, onde independentemente da vontade individual, a demolição e o realojamento são passos incontornáveis.
Mais de uma década decorrida de experiência PER, técnicos, investigadores e populações identificam inúmeras fragilidades neste processo.
O facto de muitas vezes a sua concretização estar pressionado pelo factor tempo, não tem permitido na prática um verdadeiro processo de
governança.
Pela dimensão dos agregados familiares que muitas vezes é necessário realojar, foram frequentemente criados bairros de realojamento de
grande dimensão, onde apenas se concentram populações com fortes
debilidades sociais e económicas, isoladas de todo o restante tecido
urbano, como é o caso da Quinta da Fonte ou da urbanização Terraços
da Ponte, no Concelho de Loures.
Outra fragilidade do PER são as construções demasiado uniformes, que
pelas cores ou arquitectura fazem com que os empreendimentos se individualizem na paisagem urbana, sendo facilmente identificáveis como
bairros de realojamento. De facto, este aspecto pode conferir um carácter estigmatizante ao bairro e subsequentemente às suas populações,
como se observa sobretudo no Bairro da Outurela/Portela, no concelho
de Oeiras, mas ainda que de forma menos evidente também no Casal da
Boba, no Concelho da Amadora.
Procurando ultrapassar alguns destes pontos fracos que têm marcado
a implementação do PER, no realojamento do Alto do Lumiar/Alta de
Lisboa, no concelho de Lisboa, por exemplo, procurou-se promover
uma forte miscigenação social, étnica e económica, num território que
se apresenta integrado no tecido urbano da cidade de Lisboa. Todavia,
embora ainda numa fase de conclusão, inúmeras críticas começam
desde já a ser levantadas a esta política de realojamento, assentes na
ideia de que a mistura social não é efectiva, de que apenas se fomentam
tensões sociais, dadas as acentuadas disparidades entre as várias classes sociais que aí se concentram.
Posteriormente ao PER, no âmbito da política nacional de habitação com
vista à erradicação de barracas e aglomerados habitacionais carenciados,
outras intervenções de base territorial têm sido criadas, nomeadamente,
alguns planos e programas complementares ao PER, visando um realojamento ou uma recuperação das habitações. Entre os mais recentes
destacam-se o PROHABITA (Programa de Financiamento para Acesso à
Habitação), o PROQUAL (Programa Integrado de Qualificação das Áreas
Inês Martins Andrade
119
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa), o PRAUD (Programa de
Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas) ou o IORU (Intervenção
Operacional de Renovação Urbana), este último de importância particular, uma vez que possibilitava a dotação dos bairros com mobiliário
urbano, necessidades que não estavam previstas no financiamento PER.
Face à intensidade de intervenções territoriais desenvolvidas nos últimos
anos, registou-se um acentuado decréscimo dos bairros de barracas em
todo o país, mas particularmente notório na AML, que em 1981 reunia
96,4% das barracas existentes no país.
Apesar da importante promoção de habitação condigna e supressão dos
bairros de barracas e bairros degradados, mais de quatro décadas de
oscilações na política nacional de habitação, três décadas decorridas
desde o 25 de Abril e o início do período de forte afluência de imigrantes
para a AML e subsequente propagação de construções ilegais e precárias, duas décadas depois da integração de Portugal na União Europeia
e de beneficiação de fundos comunitários, depois de Portugal se afirmar
como um país de imigração não só para populações dos PALOP, mas
também do Brasil, do Leste Europeu, de países asiáticos, verifica-se que
inúmeros bairros de barracas continuam a persistir e a marcar a identidade de Lisboa, uma jovem metrópole multiétnica.
Tabela 4 – Evolução de Barracas nas Áreas Metropolitanas
de Lisboa e Porto e no Continente (%)
1950
1960
1970
1981
1991
2001
AML
54,7
57,5
68,4
96,4
90,1
60,8
Cidade de Lisboa
38,7
24,9
42,2
46,8
46,1
21,8
AML Norte
13,8
25,0
22,0
42,3
39,2
51,8
AML Sul
2,2
7,6
4,2
7,2
4,8
9,0
AMP
2,9
6,2
3,2
5,0
7,0
8,0
10 450
30 365
29 605
22 736
15 607
11 185
Continente
Fonte: Adaptado de T.B.Salgueiro, 2006
2.2. Segregação Residencial Sócio-Étnica dos Imigrantes
versus Centralidade dos Equipamentos Colectivos de Saúde
A cidade segregada deve ser entendida não apenas como áreas residenciais de grande homogeneidade interna e acentuadas disparidades com
Inês Martins Andrade
120
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
as restantes áreas circundantes, teoria que prevaleceu durante algum
tempo, mas também como uma cidade zonada, em que cada zona do
seu espaço tem uma determinada afectação de uso do solo e em que as
zonas residenciais se encontram associadas a uma determinada classe
social e, cada vez mais, também a uma etnia ou nacionalidade, resultante da sobre-representação desses grupos populacionais nesses espaços, constituindo a maioria da população residente. Assim, por segregação espacial de base étnico-social entende-se o desenvolvimento de
clusters territoriais, em que especificidades sócio-étnicas conduzem
a uma separação territorial relativamente ao restante tecido urbano,
sendo mesmo usualmente limitados os contactos entre eles.
A progressiva chegada de imigrantes às grandes metrópoles europeias,
registada ao longo das últimas décadas, veio claramente acentuar esta
segregação de base social e étnica. Tal como constatado anteriormente
no caso da AML, os imigrantes provenientes dos PALOP, manifestaram
uma forte tendência de concentração em determinados bairros de barracas, clandestinos ou sociais, o que conferia a estes territórios residenciais uma forte homogeneidade étnica, o que associado a um perfil de
grande vulnerabilidade sócio-económica, gerava uma segregação sócio-étnica. Esta tem sido também a tendência transversal a imigrantes
provenientes de outros contextos geográficos que, nas últimas duas
décadas, têm chegado à AML. Ilustrativos de tal, é a nítida sobre-representação dos imigrantes brasileiros na freguesia da Costa da Caparica,
no concelho de Almada, ou nas freguesias do litoral, no Concelho de
Cascais, do mesmo modo que existe uma clara apropriação territorial
dos imigrantes indianos no Martim Moniz, no concelho de Lisboa, ou um
pouco por todo o concelho de Odivelas, ou uma notável concentração
de imigrantes de leste em espaços rurais do interior ou de múltiplos
imigrantes chineses em diversas áreas centrais da cidade de Lisboa,
articulado à actividade comercial.
A segregação residencial de base sócio-étnica resulta da conjugação de
factores da procura (população imigrante) com factores da oferta (mercado habitacional). No caso dos imigrantes provenientes dos PALOP
residentes na AML, manifestam particular relevância os seguintes:
– No que concerne aos primeiros (população imigrante) destacam-se as estratégias endógenas a estes grupos de imigrantes
e minorias étnicas, de propensão para se fixarem no país de
acolhimento com base em mecanismos de networking. Portanto, estes tendem a concentrar-se em unidades territoriais
onde já se encontram seus conterrâneos, o que com o passar
Inês Martins Andrade
121
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
dos tempos, tende a gerar fortes concentrações espaciais de
base étnica. Trata-se de uma auto-segregação resultante do
estabelecimento de redes de solidariedade social entre imigrantes. O facto de se tratar, em geral, de uma população com
baixos níveis de escolaridade e reduzidas, ou mesmo nulas,
qualificações e formações profissionais, explica que se trate
de uma população que se encontra frequentemente pouco
informada, o que sustenta uma notória inércia nos processos
de mobilidade residencial.
– Todavia, também do lado da oferta, isto é, no que compete ao
mercado habitacional se identificam condicionantes e estratégias que em muito têm contribuído para esta segregação residencial de base étnico-social. Por um lado, no início dos fluxos
imigratórios registados a partir do pós-25 de Abril, a incapacidade de resposta do mercado de habitação pública associado
a todos os constrangimentos do mercado habitacional, subtraíram a esta população a possibilidade de aquisição de uma
habitação, conduzindo-as para grandes bairros de barracas
nas periferias imediatas da AML.
– Por outro lado, se aparentemente os sucessivos processos
de realojamento poderiam ser indicativos da supressão destas tendências, verificou-se que frequentemente acabaram
por enfatizar ainda mais a segregação residencial de base
étnica na AML, uma vez que agruparam populações homogéneas do ponto de vista social, étnico e económico, em grandes
empreendimentos sociais, isolando-as da população pertencente a estratos sociais diferentes ou com nacionalidades, religiões e culturas distintas, de que é bom exemplo a urbanização
Terraços da Ponte, no concelho de Loures, onde 98% da população é proveniente de países africanos.
A conjugação destes factores explica que as áreas de residência desta
população africana, caracterizadas por padrões locativos marginais à
restante malha urbana edificada e habitada, com difíceis acessos, elevada concentração de populações com graves dificuldades económicas
e socais, constituam na cidade fragmentada guetos de exclusão social.
De modo a analisar a dimensão da segregação residencial dos imigrantes dos PALOP à escala da AML, importa efectuar uma análise detalhada
dos seus padrões locativos, o que pode ser obtido através do cruzamento
dos resultados de duas medidas de concentração, isto é, os quocientes
de localização e os índices de segregação.
Inês Martins Andrade
122
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A repartição espacial da população imigrante proveniente dos PALOP por
autarquias denota a preponderância da Margem Norte relativamente à
Margem Sul do Tejo, uma vez que a incidência dos quantitativos de imigrantes é consideravelmente superior no primeiro. No contexto da Margem Norte destacam-se em particular os concelhos de Sintra, Loures
e Amadora, com 17 961, 10 838 e 10 254 cidadãos nacionais dos PALOP
aí residentes respectivamente, enquanto que na Margem Sul assumem
particular ênfase os concelhos mais próximos de Lisboa, nomeadamente
Almada e Seixal, com 4310 e 6174 estrangeiros residentes nacionais dos
PALOP, em 2001.
Descendo à escala das freguesias, é possível identificar nos concelhos
com maior representatividade dos imigrantes dos PALOP, um conjunto
de freguesias em cada um deles com maior preponderância dos quantitativos desta população.
Assim sendo, a análise seguinte, que corresponde à cartografia dos quocientes de localização 4 dos cidadãos dos PALOP na AML por freguesias,
em 2001, confirma a evidência de uma repartição muito heterogénea
do grupo de estrangeiros mais numeroso em Portugal pelo território
metropolitano.
As maiores sobre-representações de cidadãos dos PALOP ocorre na
1.a coroa suburbana na Margem Norte de Lisboa, mais concretamente,
nas freguesias do Prior Velho, Portela, Sacavém, São Julião do Tojal,
Frielas, Apelação e Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures,
nas freguesias de São Brás, Venda Nova, Damaia e Buraca, no concelho da Amadora, e nas freguesias de Rio de Mouro, Massamá, Queluz
e Monte Abrãao, no concelho de Sintra. Já na Margem Sul, as maiores sobre-representações dos cidadãos nacionais dos PALOP ocorrem,
sobretudo, nas freguesias do Vale da Amoreira, no concelho da Moita,
nas freguesias da Costa da Caparica, Trafaria e Caparica, no concelho de Almada, e por fim na freguesia da Amora no concelho do Seixal
(ESTEVES, 2004).
4. Os quocientes de localização (QL) são uma medida de concentração que expressa a
relação entre o peso relativo de um grupo particular da população em cada unidade geográfica e o peso relativo do mesmo grupo no conjunto da área em estudo. Os QL variam
entre < 1, o que indica uma sub-representação de um determinado grupo na unidade
territorial em análise comparativamente à observada na área total de referência, podem
ser iguais a 1, o que corresponde a uma reprodução da presença/concentração do grupo
em análise da situação observada para o conjunto da área de referência e, finalmente,
os QL podem ser >1, o que corresponde a uma sobrerepresentação do grupo em análise
numa determinada unidade por comparação com o conjunto da área de referência.
Inês Martins Andrade
123
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
As concentrações mais elevadas da população dos PALOP nestas freguesias é o resultado da existência de bairros sociais criados no pós 25
de Abril, como é o caso do Vale da Amoreira, de bairros PER, no caso
das freguesias da Apelação, São Brás ou Monte Abrãao, mas também da
persistência temporal de muitos aglomerados de barracas, o que confere quocientes de localização tão elevados a um vasto conjunto de freguesias, nomeadamente, às freguesias do Prior Velho, Portela, Sacavém,
Venda Nova, Damaia, Buraca e Rio de Mouro.
Figura 20 – Quocientes de Localização dos Cidadãos dos PALOP na AML, em 2001
Q.L.
0
3,0 a 6,1
1,5 a 2,9
1,1 a 1,4
0,3 a 1,0
0,1 a 0,2
0,0
20 km
Fonte: Esteves, 2004
Inês Martins Andrade
124
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Quanto à segregação 5 sócio-espacial dos imigrantes, esta tem sido bastante estudada na literatura recente relativa à temática das migrações
internacionais. Neste contexto, têm-se procurado identificar as suas
principais consequências, que Fonseca e Malheiros agrupam em duas
categorias. Entre os aspectos negativos resultantes da segregação
sócio-espacial dos imigrantes salientam-se o facto de dificultar ou
mesmo obstruir o processo de integração dos imigrantes nas sociedades
de acolhimento, gerarem uma insatisfação entre a população autóctone
relativamente às áreas onde os imigrantes se encontram concentrados,
bem como de acentuar os conflitos sociais. No que concerne aos aspectos positivos da segregação sócio-espacial dos imigrantes destaca-se o
facto de possibilitar a existência de infra-estruturas étnicas de suporte
e de possibilitar a criação e proliferação de negócios e investimentos
étnicos e de instituições (FONSECA e MALHEIROS, 2005).
A leitura dos índices de segregação, calculados ao nível da freguesia
para as várias nacionalidades residentes na AML, relativos à data dos
dois últimos recenseamentos gerais da população (1991 e 2001), permite compreender como têm evoluído as tendências de separação dos
imigrantes provenientes de diferentes origens geográficas como também quais os que evidenciam tendências mais segregacionistas na
actualidade.
Tabela 5 – Índices de Segregação para as Principais Nacionalidades
Residentes na AML, por Freguesia, em 1991 e 2001
1991
2001
Diferença entre
1991 e 2001
Portugal
24,8
21,5
– 3,3
EU-15
38,6
39,0
0,4
Europa de Leste
59,4
28,8
– 30,6
Nacionalidades
(continua)
5. Na análise da distribuição espacial das áreas de residência dos imigrantes e minorias
étnicas, o índice de segregação revela-se extremamente importante, na medida em que
nos permite medir o grau de semelhança entre a distribuição espacial de um grupo e a
distribuição da população. Este índice varia entre zero, que corresponde a uma distribuição perfeita, ou seja, uma distribuição equitativa dos grupos étnicos e sociais pelo
território não havendo por isso segregação, e 100 que, por sua vez, corresponde a uma
segregação máxima, isto é, de total separação espacial de um determinado grupo relativamente à restante população. Todavia, a leitura dos resultados deste índice deverá
ter em conta algumas fragilidades que lhe são inerentes, nomeadamente, o facto de ser
muito sensível à dimensão das unidades de análise e ao tamanho das populações em
análise.
Inês Martins Andrade
125
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
(continuação)
1991
2001
Diferença entre
1991 e 2001
36,6
35,7
– 0,9
Cabo Verde
45,6
37,4
– 8,1
Guiné-Bissau
51,3
45,7
– 5,6
Angola
30,0
35,5
– 5,5
S. Tomé e Príncipe
50,4
49,9
– 0,6
Moçambique
37,6
27,2
– 10,4
Outros África
43,5
30,8
– 12,7
América do Norte
42,0
37,3
– 4,7
Brasil
32,7
27,7
– 5,0
Outros da América do Sul
e Central
36,4
34,0
– 2,4
China, Índia e Paquistão
52,3
42,4
– 9,9
Paquistão
67,5
41,2
– 26,3
Índia
54,4
54,0
– 0,4
China
71,0
63,8
– 7,2
61,6
46,6
– 15,0
Nacionalidades
PALOP
Outros da Ásia
Fonte: Malheiros e Vala, 2004
A leitura da tabela anterior coloca assim em evidencia o decréscimo dos
índices de segregação na grande maioria das principais nacionalidades
residentes na AML, sendo a única excepção os cidadãos nacionais da
União Europeia dos 15, que registaram um ligeiro aumento. Esta inversão das tendências segregacionistas, nomeadamente, no caso dos cidadãos nacionais dos PALOP, tal como afirma Esteves reflecte «… o amadurecimento do próprio processo migratório…» (ESTEVES, 2004). Por
outras palavras, esta evolução ilustra que os imigrantes já se encontram
há algum tempo na AML e, como tal, começam a adquirir alguma capacidade de mobilidade residencial, o que os leva a encontrar casa fora
dos bairros de barracas, clandestinos ou sociais, onde se fixaram à chegada a Portugal. Este «amadurecimento» traduz-se também no aumento
da capacidade económica da população imigrante, que anos depois de
se instalarem num país de acolhimento, conseguem efectuar algumas
economias que lhes permitem adquirir uma habitação própria fora das
áreas tradicionais de alojamento.
Inês Martins Andrade
126
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Por conseguinte, os nacionais dos PALOP apresentam índices de segregação consideravelmente mais reduzidos do que outros grupos de imigrantes, cuja presença quantitativa em Portugal é substancialmente
mais reduzida, mas também porque as suas diásporas só recentemente
começaram a orientar-se para Portugal como, por exemplo, os nacionais
da China, Índia, Paquistão. Muito interessante é, no entanto, constatar-se
que os imigrantes nacionais dos países de leste, embora registem uma
tradição de imigração para Portugal muito mais recente do que os nacionais dos PALOP evidenciaram, entre 1991 e 2001, um decréscimo do
índice de segregação muito superior (variação de – 30,6 contra – 0,9).
Entre os muitos factores explicativos deste comportamento, destaca-se
o facto dos imigrantes provenientes de países de leste se estabelecerem
tendencialmente em áreas residenciais, públicas e privadas, mais dispersas pelo território metropolitano, onde lhes é possível encontrar habitações a preços mais reduzidos.
Nesta leitura comparativa por nacionalidades, importa ainda notar o
padrão heterogéneo entre os nacionais dos PALOP e da UE dos 15, uma
vez que embora se tratando de grupos de imigrantes com longas tradições na imigração para Portugal, os segundos tendem a apresentar índices de segregação não só superiores como também com tendência para
se acentuarem. Este é o resultado dos imigrantes nacionais da EU dos
15 procurarem áreas residenciais de prestígio e com elevada qualidade
ambiental, que lhes proporcione uma elevada qualidade de vida. Trata-se
assim de uma auto-segregação que se procura manter e não inverter,
como ocorre no caso dos cidadãos dos PALOP, o que vem confirmar a
relação da imagem associada a cada área residencial e o estatuto social
dos seus habitantes.
Uma análise mais minuciosa ao nível da nossa população-alvo, permite
ainda constatar a existência de algumas assimetrias no índice de segregação. De facto, os grupos mais numerosos e que têm maior tradição de
imigração para Portugal, como é o caso da comunidade caboverdiana,
apresentam menores índices de segregação, em ambos os períodos de
tempo considerados, enquanto que os grupos de imigrantes nacionais
de países com uma menor comunidade em Portugal, como é o caso dos
guineenses ou dos são-tomenses, apresentam valores de segregação
residencial superiores (ESTEVES, 2004).
Se os imigrantes nacionais dos PALOP apresentam assim padrões residenciais marcados pela suburbanização, em áreas económica e socialmente pouco valorizadas, pelo contrário os equipamentos colectivos
de saúde assumem uma posição central no contexto metropolitano. Os
Inês Martins Andrade
127
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
equipamentos colectivos, nomeadamente, os de saúde «… têm não só
um papel determinante na organização do território, a diferentes escalas, e por essa via no dia-a-dia das populações, como também na imagem e projecção exterior dos lugares…» (SIMÕES et al., 2006). Portanto,
a esta centralidade funcional procura-se fazer corresponder uma centralidade física e simbólica, que explica que nos processos de planeamento locais ou regionais, na programação locativa destes equipamentos, exista a preocupação de lhes conferir uma centralidade no território,
afectando-os a espaços bem dotados de acessibilidades.
Deste modo, compreende-se que nos equipamentos colectivos de saúde,
de nível hierárquico superior, isto é, os hospitais, apresentem um padrão
de dispersão pela AML muito díspar. Dos 63 hospitais, públicos e privados, existentes na AML, a grande maioria (65%, o que corresponde a
41 hospitais) concentra-se no concelho de Lisboa. Ao concelho de Lisboa
segue-se o concelho de Sintra, embora com quantitativos muito menores (6 hospitais), Oeiras e Cascais, cada um dos quais com 3 hospitais,
e depois uma vasta rede de concelhos com 1 ou 2 hospitais (Amadora,
Barreiro, Setúbal, Loures, Almada, Montijo e Vila Franca de Xira). A tendência de centralidade no tecido urbano da AML evidencia-se também
ao nível dos cuidados de saúde primários. Ainda que de forma menos
acentuada, pois é também no concelho de Lisboa que se concentram os
valores percentuais mais elevados de centros de saúde e de extensões
dos centros de saúde de toda a AML, 34% e 21% respectivamente.
Esta é uma preocupação crescente no âmbito do planeamento urbano
e do ordenamento do território, daí a que, recorrendo uma vez mais às
palavras de Simões et al. seja importante «… recolocar a localização
dos equipamentos colectivos como elementos ordenadores do planeamento e do desenho urbano e não apenas dispô-los segundo a lógica
do menor custo, por um lado, e do melhor acesso ao automóvel, por
outro…» (SIMÕES et al., 2006).
Deste modo, conclui-se com a constatação de que à escala da maior
metrópole do país, a posição de suburbanização que as áreas de residência dos imigrantes nacionais dos PALOP assumem é não só periférica ao centro da cidade de Lisboa, como também aos equipamentos
de saúde, que apresentam uma forte centralidade, o que tem necessariamente de ser tomado em conta na compreensão e investigação
do acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde assim como dos seus
níveis de saúde e da sua satisfação para com a prestação dos mesmos.
Inês Martins Andrade
128
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
PARTE III – GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE:
A REALIDADE DA AML
CAPÍTULO I – METODOLOGIA DE SUPORTE À INVESTIGAÇÃO
A terceira parte da presente dissertação corresponde ao desenvolvimento da investigação prática, em que se procurará analisar, compreender, validar ou eventualmente refutar as teorias analisadas. No Capítulo V começa-se por expor a estrutura que deu forma ao trabalho de
campo, identificando-se os objectivos que orientaram toda a investigação, as técnicas e metodologias utilizadas, assim como se apresenta o
caso de estudo seleccionado para testar as nossas hipóteses. Faz-se
assim um enquadramento metodológico antes da leitura, exposição e
reflexão que será efectuada nos capítulos seguintes.
1. OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
Com a análise teórica efectuada evidenciou-se que no campo da Geografia da Saúde, a realidade inerente à população imigrante constitui
uma das principais lacunas na actualidade. Embora existam inúmeras
ideias pré-concebidas que consideram que os imigrantes em Portugal
apresentam taxas de acesso e utilização aos cuidados de saúde, primários e diferenciados, consideravelmente reduzidos, embora existam
receios transversais à sociedade portuguesa que atribuem à população
imigrante a responsabilidade do aumento de determinadas doenças,
nomeadamente, patologias infecto-contagiosas, o que fundamenta a
ideia de que estes constituem um peso considerável para o sistema
nacional de saúde, na verdade, existe um acentuado défice de investigação científica que nos permita validar ou contradizer estas ideias, que
em muito contribuem para uma estigmatização desta população e que
de forma indelével dificultam a sua integração na sociedade portuguesa.
Por conseguinte, os objectivos do presente trabalho são os seguintes:
– Compreender a tipologia de acesso e utilização dos imigrantes
africanos aos cuidados de saúde, primários e diferenciados,
em Portugal;
– Identificar as principais condicionantes e constrangimentos
que limitam ou dificultam o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde;
– Analisar a evolução do estado da saúde da população imigrante dos PALOP desde a sua chegada a Portugal, identificando potenciais factores explicativos dessa evolução.
Inês Martins Andrade
129
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tendo estes três objectivos centrais, as hipóteses que a presente investigação prática procurará validar são as seguintes:
– Os imigrantes provenientes dos PALOP acedem e utilizam os
cuidados de saúde, embora em resultado de um conjunto de
factores, a utilização dos cuidados de saúde, primários e diferenciados, ocorre maioritariamente em situação de urgência,
em detrimento de uma cultura de promoção da saúde e prevenção da doença.
– O acesso e a utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde
são influenciados por variáveis transversais à população portuguesa, em igual posição socioeconómica, nomeadamente,
o género, idade, nível de instrução e profissão, mas também por
aspectos próprios do Sistema Nacional de Saúde, no entanto,
as características inerentes à sua condição de imigrante justificam a sua tipologia de acesso e de utilização aos cuidados de
saúde primários assim como aos hospitais.
– Os imigrantes oriundos dos PALOP representam à chegada
a Portugal uma população maioritariamente saudável não
constituindo pontes para a introdução de novas patologias em
Portugal. São as condições de vida em que estas populações
vivem na sociedade de acolhimento que promovem o aparecimento de doenças. Deste modo, a população proveniente
do território africano não traz, na sua expressa maioria, nem
doenças tipicamente tropicais nem outras específicas dos seus
países de origem, nem registam doenças infecto-contagiosas.
Esta panóplia de objectivos e hipóteses de investigação serão exploradas e analisadas ao longo dos capítulos que se seguem, procurando-se
assim contribuir para um conhecimento mais profundo do acesso e utilização mas também do estado de saúde e da (in)satisfação com o SNS
da população imigrante africana em Portugal.
2. METODOLOGIA ADOPTADA
Partindo das hipóteses de investigação, a metodologia adoptada na presente dissertação correspondeu essencialmente na recolha directa de
informação, efectuada através da realização de um inquérito e de entrevistas individuais.
O questionário foi aplicado num conjunto de bairros da AML, repartidos pela Margem Norte e Margem Sul do Tejo, mais concretamente,
Inês Martins Andrade
130
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
no Bairro da Quinta da Serra, no Bairro de Santa Filomena, na Alta de
Lisboa, no Bairro Amarelo e no Bairro da Quinta da Princesa, entre os
meses de Abril e Maio de 2006. De modo a que os resultados obtidos
através do questionário não fossem enviesados, este foi realizado por
diferentes entrevistadores com sensibilidade e conhecimento da temática. Para que estes pudessem ser directamente comparáveis efectuou-se precisamente o mesmo número de questionários em cada unidade
de análise (60), num universo de 300 inquéritos.
Este questionário foi dirigido exclusivamente à população proveniente
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) que são
Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe,
uma vez que, pela sua história fortemente associada a Portugal, constituem as comunidades africanas com maior representatividade quantitativa em Portugal. A população etnicamente lusa, com naturalidade/
/nacionalidade dos PALOP aí residente, ficou excluída, porque o seu tipo
de pele poderia dificultar este processo, visto que nestes bairros reside
também população portuguesa sem qualquer tipo de ligação (naturalidade ou nacionalidade) individual e familiar aos PALOP. Atendendo
aos objectivos da presente investigação, o questionário não foi alargado
às restantes comunidades de imigrantes residentes em Portugal e já
quantitativamente expressivas, na medida em que a cada uma delas se
encontra associado um conjunto de especificidades, que influenciam o
seu acesso e utilização dos cuidados de saúde assim como a sua própria
saúde, o que o tempo disponível para a realização da presente investigação, não permitiria compreender na sua total dimensão.
Na realização do questionário procurou-se obter um equilíbrio de respostas entre ambos os sexos, no entanto, o facto de se tratar de uma
população-alvo já estabelecida em Portugal há várias décadas, registou-se uma ligeira supremacia dos indivíduos do sexo feminino (167 questionários foram realizados a mulheres e 133 a homens), contrariamente
ao que se observa em comunidades com uma história de imigração
mais recente em Portugal. A variável idade foi igualmente tomada em
consideração, de modo a poder-se constatar se existem disparidades
promovidas por este aspecto. Porém, o facto de se tratar de uma população imigrante maioritariamente jovem e adulta, em que a população idosa, quando possível, tende a regressar ao seu país de origem,
o número de questionários realizado por grupos de idades é muito heterogéneo, isto é, à população jovem (idades compreendidas entre os 15 e
os 20 anos) foi realizado um total de 63 questionários; à população adulta
e em idade activa (idades compreendidas entre os 21 e os 64 anos), por
corresponder ao grupo mais extenso, foram realizados 195 questionários
Inês Martins Andrade
131
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
e, finalmente, à população idosa (com 65 ou mais anos) foram apenas
realizados 42 questionários.
O questionário encontra-se dividido em três grandes partes. A primeira
parte é a de «Caracterização Global do Indivíduo» e visava recolher as
principais características do indivíduo inquirido, como sendo o sexo,
idade, naturalidade, nacionalidade, nível de instrução ou estado civil.
A segunda parte do questionário, intitulada «Epidemiologia e Respectivas Determinantes» procurava, por um lado, analisar o percurso imigratório da população que não tem naturalidade portuguesa, identificando-se a existência ou inexistência de doenças à chegada a Portugal,
e por outro lado, analisar um conjunto de aspectos que possam facilitar
a compreensão, sobretudo, da existência de patologias, como sendo a
profissão, o contexto habitacional e os comportamentos e estilos de vida.
A terceira e última parte do questionário, denominada «Acesso e Utilização dos Cuidados de Saúde», é a mais extensa de todas, na medida em
que como o seu título deixa prever responde ao objectivo central da presente investigação.
Esta encontra-se subdividida em seis partes, nomeadamente, a análise
do «Estado da Saúde» actual, na qual se analisa se a população tem
doenças e caso tenha se efectua tratamento, onde é que a população se
dirige actualmente para a obtenção de cuidados de saúde, de medicação
etc. o segundo grupo «Acesso e Utilização da Extensão/Centro de Saúde
do Serviço Nacional de Saúde», tem como propósito compreender o
padrão dominante de acesso e utilização desta população aos cuidados
de saúde primários, enquanto que o grupo de questões que se seguem,
«Acesso e Utilização aos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde», tem
como alvo a compreensão dos mesmos aspectos mas relativamente aos
cuidados de saúde diferenciados.
O quarto grupo da terceira parte do questionário destinava-se a analisar
a «Satisfação com a Prestação dos Cuidados de Saúde», ou seja, compreender se esta população se encontra ou não satisfeita com os cuidados de saúde em geral em Portugal, quais considera serem os principais
aspectos positivos e negativos dos mesmos e quais os principais factores
que já limitaram ou condicionam o seu respectivo acesso e utilização.
Na quinta parte «O Papel de Agentes Locais e das Entidades» procurou-se analisar se nos bairros em análise já foram desenvolvidas campanhas específicas de promoção da saúde e prevenção ou rastreio de doenças e em que medida estas acções podem influenciar o estado de saúde
destas populações. Por fim, o sexto grupo «Transnacionalismo para a
Inês Martins Andrade
132
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Obtenção de Cuidados de Saúde» destinava-se a analisar se a população-alvo apresenta um comportamento migratório para a obtenção de
serviços de saúde, deslocando-se ao seu respectivo país de origem ou
a países mais desenvolvidos, mas também identificar a sua percepção
quanto às disparidades existentes entre Portugal e o seu país de origem
em matéria de cuidados de saúde.
A segunda técnica de recolha de informação directa correspondeu à realização de entrevistas individuais com actores privilegiados em cada uma
das unidades de análise. Assim, foram feitas reuniões com elementos-chave no âmbito da saúde, da imigração e do urbanismo, ordenamento,
planeamento e gestão do território.
No que concerne à temática da saúde efectuaram-se reuniões de nível
local, isto é, com os técnicos dos centros de saúde ou respectivas extensões que mais frequentemente trabalham com as populações dos bairros em causa (médicos de saúde pública ou enfermeiros), o que nem
sempre corresponde às unidades de saúde que servem os bairros de
análise. Como tal, são quem melhor conhece as especificidades que
caracteriza o acesso e utilização aos cuidados de saúde primários desta
população, mas também os seus principais problemas de saúde. Ao nível
regional e central, foram realizadas entrevistas na Sub-Região de Saúde
de Lisboa e no EPI-MIGRA, uma vez que constituíam elementos-chave
no esclarecimento e compreensão de aspectos da saúde das populações
imigrantes num prima mais globalizante. Neste nível, procurou-se estabelecer contactos com os hospitais de referência dos bairros de análise,
uma vez que a recolha de informação a este nível seria essencial na
compreensão do acesso e utilização aos cuidados de saúde diferenciados, no entanto, não se obteve qualquer tipo de resposta em tempo útil
da parte dos mesmos.
No domínio da imigração seguiu-se a mesma metodologia, ou seja, realização de entrevistas a diferentes escala. Portanto, ao nível central o
ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural) foi a
entidade entrevistada, por constituir um parceiro essencial ao nível das
migrações no contexto nacional, mas também o Observatório da Imigração (OI) e a Coordenação do Programa Escolhas (PE), da Zona Centro
e da Zona Sul e Ilhas, que permitiu efectuar a ponte com os projectos do
PE ao nível dos bairros. Deste modo, ao nível local, os coordenadores
das intervenções do Programa Escolhas, sempre que este se encontrava
presente nos bairros de análise, foram os parceiros escolhidos, visto que
apresentam um notável conhecimento de terreno, longa experiência no
trabalho com as comunidades imigrantes e seus descendentes, focando
Inês Martins Andrade
133
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
por diversas vezes aspectos da saúde, no decurso dos últimos anos.
Assim, estes constituíram quase sempre o primeiro contacto com as
unidades de análise.
No domínio do planeamento e do urbanismo, desenvolveram-se entrevistas em todas as Câmaras Municipais dos respectivos bairros em
análise, excepção feita à Autarquia de Lisboa, cujo contacto foi meramente telefónico e via internet. O contacto com os técnicos das Autarquias revelou-se essencial na compreensão da origem destes territórios,
dos seus processos de exclusão urbana, na existência ou não de projectos de urbanismo e ordenamento do território com vista à sua renovação
e reabilitação habitacional ou à sua maior integração no tecido urbano
concelhio.
Complementarmente a estes três domínios, sempre que identificados
nos territórios de análise entidades, associações ou ONG (Organizações
Não Governamentais) de papel relevante ou sempre que se sentiram
carências de informação, foram realizadas outras entrevistas. Apenas
no Bairro Amarelo e na Alta de Lisboa não foram efectuadas reuniões
de carácter complementar, uma vez que dado o elevado número de instituições e ONG presentes nestas unidades de análise, seria muito difícil
seleccionar-se apenas uma, ao que acresce que a informação necessária para a compreensão da realidade local foi integralmente recolhida
nas abordagens anteriores.
Tabela 6 – Entidades e Instituições Entrevistadas
Unidades
de Análise
SAÚDE
IMIGRAÇÃO
URBANISMO
Complementar
Local
Regional/Central
Local
Quinta
da Serra
Centro de Saúde
de São João
da Talha
(Não há
Intervenção do PE)
Santa
Filomena
Centro de Saúde
da Damaia
Projecto Informar
para Inserir (PE)
Alta
de Lisboa
Centro de Saúde
do Lumiar
Bairro
Amarelo
Unidade de Saúde
Familiar do Monte
da Caparica
Quinta
da Princesa
Centro de Saúde
da Amora
Sub-Região
de Saúde
Núcleo de Estudo
Epidemiológico
de Doenças
Transmissíveis
em Populações
Migrantes
Projecto Intervir
para Integrar
Crianças e Jovens
com Futuro na
Alta de Lisboa (PE)
Projecto Geração
Cool (PE)
Central
Alto Comissariado
para a Imigração
e Minorias Étnicas
Observatório
da Imigração
Programa
Escolhas,
(Coordenação)
Projecto Tutores
de Bairro (PE)
Inês Martins Andrade
134
Concelhio
Câmara Municipal
de Loures
Associação
de Moradores
Médicos do Mundo
Câmara Municipal
da Amadora
Associação
de Moradores
Câmara Municipal
de Lisboa
—
Câmara Municipal
de Almada
—
Câmara Municipal
do Seixal
Serviço
de Proximidade
da Quinta
da Princesa
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
3. CASOS DE ESTUDO NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
O caso de estudo onde foi desenvolvida a investigação prática da presente dissertação corresponde à Área Metropolitana de Lisboa (AML),
na medida em que constitui a maior metrópole do país e a principal área
urbana de concentração de imigrantes e, em particular, dos cidadãos
nacionais dos PALOP, como anteriormente constatado. Dentro deste
contexto territorial, foram seleccionadas cinco unidades de análise, onde
foram aplicados os questionários e realizadas as entrevistas: Quinta da
Serra, Bairro de Santa Filomena, Urbanização da Alta de Lisboa, Bairro
Amarelo e Quinta da Princesa.
A selecção dos cinco casos de estudo foi efectuada com vista, antes de
mais, a responder aos objectivos e às hipóteses de investigação definidos. Por conseguinte, a sua escolha resultou da concertação de um conjunto de quatro critérios, considerados essenciais para se alcançarem
as metas propostas.
O primeiro critério tomado em conta foi a questão habitacional, isto é,
considerou-se importante analisar bairros com características habitacionais diversas, de modo a perceber como as condições de habitação
influenciam a sua saúde e ilustrar na prática aquilo que tem sido a realidade da AML em matéria de respostas habitacionais a estes imigrantes.
Assim analisaram-se dois grandes grupos, isto é, dois bairros de alojamentos não clássicos (Quinta da Serra e Bairro de Santa Filomena)
e três bairros de alojamentos clássicos em edifícios (Alta de Lisboa,
Bairro Amarelo e Quinta da Princesa). Todavia, dentro destes dois grandes grupos procurou-se igualmente escolher unidades de análise com
especificidades que podem de algum modo condicionar ou facilitar o seu
acesso e utilização aos cuidados de saúde, bem como o estado de saúde
dos seus residentes.
Neste sentido, a Quinta da Serra foi eleita na medida em que ilustra
a forma como muitos bairros de barracas e outras construções não
clássicas proliferaram na proximidade de grandes fontes poluentes,
neste caso o Aeroporto Internacional de Lisboa, persistindo na escala do
tempo, ainda que bem visível aos olhos de todos os que entram pelo lado
Norte na cidade de Lisboa pela sua principal acessibilidade rodoviária
(Auto Estrada N.o 1 – A1 – com ligação à 2.a circular). O Bairro de Santa
Filomena destacou-se por se encontrar totalmente inserido no território
do município da Amadora, não imaginando qualquer estranho que por
ali passasse, que numa das transversais (Avenida Lourenço Marques)
Inês Martins Andrade
135
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
que cruza uma das principais avenidas do concelho (Avenida General
Humberto Delgado) fosse aparecer um aglomerado de barracas e construções habitacionais precárias com uma dimensão tão elevada. O Bairro
de Santa Filomena, corresponde a um outro perfil dos muitos bairros de
barracas da AML, tendencialmente mais escondido e desenvolvendo-se
ao longo de uma encosta. Deste modo, ainda que com construções similares e situados ambos na periferia imediata de Lisboa, apresentam
especificidades muito heterogéneas, o que poderá condicionar de forma
diferenciada a saúde destas populações.
Quanto aos restantes três bairros, ainda que tenham em comum o facto
de serem alojamentos clássicos de tipo edifício, e de constituírem bairros de realojamento, cada um deles ilustra diferentes momentos da política nacional de habitação, estando por isso a sua génese associada a
períodos distintos e reflectindo intervenções díspares da Administração
Pública. Efectivamente, o Bairro Amarelo e a Quinta da Princesa correspondem a bairros de realojamento mais antigo, no período pós 25 de
Abril, ainda que pautados por intervenções distintas, enquanto que a
Urbanização da Alta de Lisboa corresponde a um realojamento muito
recente, no âmbito das intervenções PER.
Um segundo critério que presidiu à selecção dos casos de estudo foi a
existência de uma elevada incidência de população nacional dos PALOP
e onde se pudesse encontrar simultaneamente indivíduos que imigraram
para Portugal em períodos muito diversos (antes da Revolução do 25 de
Abril de 1974, nos anos seguintes, na década de oitenta, noventa, mas
igualmente nos últimos anos) e onde existisse a presença dos seus descendentes (de segunda e terceira geração de imigrantes), de modo a
verificar-se a existência ou não de diferenças no acesso e utilização e no
próprio estado de saúde destas populações associadas à sua naturalidade distinta.
Em terceiro lugar, o critério geográfico registou grande relevo, uma vez
que se considerou determinante seleccionar unidades de análise dispersas pela AML, de modo a obterem-se respostas multivariadas nos
questionários, uma vez que em cada concelho encontramos políticas de
intervenção municipal distintas, quer seja ao nível da autarquia, quer
dos serviços de saúde, ou ainda associadas às próprias dinâmicas locais
dos residentes, o que por sua vez também poderá influenciar o acesso
e utilização aos serviços de saúde ou o estado de saúde das populações.
Considerou-se que somente assim se poderia, a partir dos resultados
obtidos nestes cinco casos de estudo, auferir para a AML.
Inês Martins Andrade
136
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Por fim, o critério inovação embora aparentemente menos relevante,
manifestou também um notável peso. A ideia subjacente a este critério
consistiu em seleccionarem-se unidades de análise que ainda não tivessem sido objecto de trabalhos de investigação académica no domínio da
Geografia, pelo menos nos últimos anos. Considera-se que este critério
é bastante relevante, na medida em que permite atribuir novos inputs
na investigação académica em Geografia. Todavia, os casos de estudo
seleccionados já foram alvo de trabalhos académicos ou técnicos anteriores, no entanto, de todos os que se obtiveram conhecimento, a abordagem e a temática explorada apresenta-se totalmente diferente da
adoptada na presente investigação.
3.1. Quinta da Serra
O Bairro da Quinta da Serra, situado na freguesia do Prior Velho, no concelho de Loures, tem a sua génese na década de sessenta, com a chegada de população do interior do país, para trabalhar na construção civil,
tendo esta aí construído as suas casas de madeira circundadas por hortas. Com a independência das colónias e a chegada de milhares de cidadãos nacionais dos PALOP, este foi um dos muitos aglomerados de barracas que cresceu na periferia imediata de Lisboa. O grande crescimento
populacional da Quinta da Serra registou-se, no entanto, em finais da
década de oitenta e início da de noventa, na sequência do processo de
reunificação familiar.
De acordo com um estudo recente da Câmara Municipal de Loures, em
2004, foram identificados 1559 residentes, dispersos por um total de
309 agregados familiares. As nacionalidades mais prevalecentes eram
a cabo-verdiana (29%), a guineense (27%), a dupla nacionalidade portuguesa e cabo-verdiana (19%) e finalmente a portuguesa (12%). Constituindo uma importante plataforma giratória entre os PALOP e os países
europeus, identificou-se também um elevado número de indivíduos isolados, que aí se estabelecem enquanto preparam o seu novo percurso
imigratório.
Este bairro beneficia da presença de um dos quatro GIL (Gabinetes de
Intervenção Local) existentes no concelho, que tem como propósito fazer
um acompanhamento das populações locais, preparando o processo
de realojamento, e auxiliando os indivíduos não enquadrados no PER,
a encontrar outras possíveis respostas habitacionais, no momento do
realojamento.
Inês Martins Andrade
137
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 21 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica da Quinta da Serra
N
Quinta da Serra
0
2,5 km
Dominam construções de um só piso, muito precárias, edificadas em
alvenaria, folhas de zinco e em madeira, onde no seu interior proliferam várias divisões, de dimensões muito reduzidas, que foram sendo
construídas em correlação com o aumento da capacidade económica
das famílias, mas também à medida que chegavam mais familiares provenientes do país de origem. Os problemas de insalubridade e humidade nas residências, têm contribuído para o agravamento das doenças
de alguns dos moradores com patologias crónicas, ao que a Câmara
Municipal de Loures tem providenciado, em tempo útil, o respectivo
realojamento.
Não obstante as condições de habitabilidade muito precárias, a Autarquia tem realizado um conjunto de intervenções pontuais, com a finalidade de melhorar algumas das condições de higiene e salubridade
do Bairro. Entre as intervenções realizadas, destacam-se as ligações
provisórias de água, electricidade e esgotos à rede pública, em 1997,
o que permitiu eliminar situações de esgotos a céu aberto e existência de
águas sujas estagnadas, o que fomentava problemas de saúde pública.
Procedeu-se também ao melhoramento de alguns pontos de passagem,
que se apresentam hoje consideravelmente mais amplos, e à construção
de um espaço descoberto destinado à prática de jogos.
Inês Martins Andrade
138
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 22 – Vista de um dos Principais Caminhos
do Bairro da Quinta da Serra, alvo de melhoramentos
Os 60 questionários aplicados na Quinta da Serra incidiram sobre 53,3%
indivíduos do sexo feminino e 46,7% do sexo masculino, repartidos pelos
grandes grupos etários considerados, de forma muito heterogénea, ilustrando a predominância de uma população adulta em idade activa.
Tabela 7 – População Inquirida segundo o Género e os Grupos Etários,
na Quinta da Serra (%), 2006
Género
Grupos Etários
Total
Feminino
Masculino
15 aos 20 anos
18,3
5,0
23,3
21 aos 64 anos
26,7
35,0
61,7
8,3
6,7
15,0
53,3
46,7
100,0
65 ou mais anos
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Coincidente nos resultados com o estudo efectuado pela Câmara Municipal de Loures, em 2004, o trabalho de campo evidenciou a primazia
da população com naturalidade e nacionalidade cabo-verdiana, seguida
da guineense e posteriormente da portuguesa, identificando-se no
entanto a existência de outras comunidades, ainda que com menor
expressão quantitativa, de que é exemplo a população nacional de São
Tomé e Príncipe. Trata-se assim de um bairro predominantemente habitado por populações africanas.
Inês Martins Andrade
139
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 8 – População Inquirida segundo a Nacionalidade e a Naturalidade,
na Quinta da Serra (%), 2006
Nacionalidade
Angola
Naturalidade
0,0
0,0
Cabo Verde
63,3
70,0
Guiné-Bissau
16,7
16,7
Moçambique
0,0
0,0
18,3
10,0
1,7
3,3
100,0
100,0
Portugal
São Tomé e Príncipe
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
No que trata ao estado civil, a população da Quinta da Serra encontra-se
maioritariamente solteira (36,7%) e com valores percentuais muito próximos casada (35%). A estas seguem-se, por ordem decrescente, os estados civis de união de facto (23,3%), viúvo (3,3%) e divorciado (1,7%).
A análise do ano de chegada a Portugal da população aí residente evidência a preponderância da década de noventa (45%). Todavia, verifica-se que nos anos mais recentes continuaram a chegar ao bairro muitos
imigrantes africanos, o que deriva, sobretudo, da contínua tendência de
imigração para Portugal com a finalidade de posteriormente se imigrar
para outros países europeus. Os restantes períodos temporais considerados ilustram afluências relativamente idênticas, com tendência para
aumentarem à medida que o tempo vai passando (antes de 1973, 8,3%,
entre 1974 e 1979, 6,7%, entre 1980 e 1989, 13,3%, sendo que 10% das
respostas obtidas não se aplicam, uma vez que se trata de indivíduos
com naturalidade portuguesa).
Inês Martins Andrade
140
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 23 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
na Quinta da Serra (%), 2006
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
쏝 1973
1974-1979
1980-1989
1990-1999
쏜 2000
% De População
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
3.2. Santa Filomena
Localizado na freguesia da Mina, concelho da Amadora, o Bairro de
Santa Filomena surgiu entre as décadas de sessenta e setenta, com a
afluência de milhares de imigrantes provenientes das ex-colónias, tendo
aumentado consideravelmente na década de oitenta. No início da década
de noventa (1992), segundo um levantamento realizado pela Câmara
Municipal da Amadora, o Bairro de Santa Filomena constituía o quarto
maior bairro degradado do concelho, num total de 27 aglomerados identificados. Com um universo populacional de 1581 indivíduos, era apenas
precedido pela Cova da Moura (3087 habitantes), Azinhaga dos Besouros
(2478 habitantes) e Estrada Militar do Alto da Damaia (1737 habitantes).
Decorrido um ano, aquando do levantamento PER realizado em 1993,
registou-se uma variação populacional de 22%, residindo aí já 1926 indivíduos.
Tratam-se na sua maioria de construções abarracadas, edificadas em
alvenaria, que se estendem pela encosta, segundo caminhos estreitos,
por vezes, labirínticos culminando em becos, construídos provisoriamente, ainda que constituindo a única solução habitacional ao longo
de várias décadas. Perante as deficientes condições de habitabilidade,
em 1995, o Bairro foi objecto de uma intervenção do Plano de Luta Contra a Pobreza, que procurou melhorar as condições de habitabilidade,
através da criação de redes de saneamento básico, melhoria de alguns
aspectos das habitações muito húmidas e insalubres, assim como as
respectivas acessibilidades. Mais de uma década decorrida desde então,
Inês Martins Andrade
141
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
as habitações estão degradadas, acentuou-se a construção vertical e as
condições de habitabilidade deterioraram-se, sendo agravadas pela sua
sobreocupação, dado o desajustamento entre o número de pessoas por
fogo e a sua tipologia e ainda a coabitação de várias famílias.
Figura 24 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica
do Bairro de Santa Filomena
N
Santa Filomena
0
2,5 km
Desprovido de espaços de lazer e efectivos espaços comerciais, apenas
existe um espaço de convívio destinado sobretudo à população mais
jovem, onde se encontra em funcionamento o Projecto Formar para
Inserir desenvolvido pelo Programa Escolhas, e alguns estabelecimentos comerciais, nomeadamente, cafés e pequenos supermercados, com
péssimas condições de higiene. Ao longo das principais ruas do bairro
estabelecem-se usualmente estratégias de comercialização de alimentos, o que fomenta as lógicas de convívio e simultaneamente da economia informal.
Tendo no passado sido alvo de uma operação SAAL, o Bairro encontra-se classificado pela Autarquia na tipologia dos Bairros de situações
relativamente consolidadas, com graves problemas urbanísticos e incidências fortemente negativas em projectos de urbanização com grande
interesse público. De acordo com um estudo da Autarquia, as nacionaliInês Martins Andrade
142
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
dades dominantes no bairro são a portuguesa (63%), a cabo-verdiana
(28%), a angolana (4,47%) e a são-tomense (2,34%).
Figura 25 – Estado de Degradação das Habitações e Construção em Altura
no Bairro de Santa Filomena
A população inquirida no trabalho de terreno reparte-se de forma relativamente uniforme por ambos os sexos (53,3% dos indivíduos são do sexo
feminino e 46,7% são do sexo masculino). Segundo os grandes grupos
etários, a população com idades entre os 15 e os 20 anos corresponde
a 15% do universo da amostra, a população adulta, com idades entre os
21 e os 64 anos constitui a parcela principal (68,3%) e a população com
idade igual ou superior a 65 anos equivale a 16,7%.
Tabela 9 – População Inquirida segundo o Género e os Grupos Etários,
em Santa Filomena (%), 2006
Género
Grupos Etários
Total
Feminino
Masculino
15 aos 20 anos
11,7
3,3
15,0
21 aos 64 anos
35,0
33,3
68,3
6,7
10,0
16,7
53,3
46,7
100,0
65 ou mais anos
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A amostra recolhida, no que concerne à nacionalidade e naturalidade dos
residentes no Bairro, grosso modo, decalca os resultados dos levantaInês Martins Andrade
143
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
mentos realizados pela Autarquia. Não obstante a oscilação percentual
dos valores em função de se tratar da nacionalidade ou da naturalidade,
uma vez que estas variáveis não são exactamente coincidentes, constata-se que a comunidade cabo-verdiana seguida da portuguesa são as
mais relevantes, ainda que com uma notável discrepância entre elas.
Para além destas duas comunidades, a são-tomense surge como a mais
expressiva, seguida da angolana, ainda que seja de realçar que embora
3,3% da população tenha nascido em Angola, nenhum individuo tem
nacionalidade angolana, o que resulta da adopção da nacionalidade portuguesa, explicando assim que os valores percentuais da nacionalidade
portuguesa sejam superiores aos da respectiva naturalidade.
Tabela 10 – População Inquirida segundo a Nacionalidade e Naturalidade,
em Santa Filomena (%), 2006
Nacionalidade
Angola
Naturalidade
0,0
3,3
71,7
71,7
Guiné-Bissau
0,0
0,0
Moçambique
0,0
0,0
23,3
20,0
5,0
5,0
100,0
100,0
Cabo Verde
Portugal
São Tomé e Príncipe
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Quanto ao estado civil da população, a solteira corresponde a metade
da população inquirida (50%). Entre a outra metade da população destaca-se a situação de casados (28,3%) e de união de facto (15,0%), sendo
os restantes percentualmente pouco significativos (a população divorciada e viúva corresponde, cada uma delas a 3,3% do total da população
inquirida).
A análise da evolução do período de chegada da população ao bairro evidencia que uma parcela relevante da população instalou-se aí até 1973
(13,3%) e nos anos que se seguiram à independência das colónias africanas, a chegada de população não foi quantitativamente das mais importantes (entre 1974 e 1979 chegaram ao Bairro 6,7% habitantes). A década
de oitenta marcou o início de um período de maiores fluxos de imigração,
que tem vindo desde então a crescer de forma continuada (entre 1980
e 1989, 18,3%, entre 1990 e 1999 registaram-se os maiores valores percentuais, 23,3%, e desde 2000 já chegaram 18,3%).
Inês Martins Andrade
144
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 26 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
em Santa Filomena (%), 2006
25
20
15
10
5
0
쏝 1973
1974-1979
1980-1989
1990-1999
쏜 2000
% De População
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
3.3. Bairro Amarelo
O Bairro Amarelo, cuja geografia se situa na freguesia da Caparica, no
concelho de Almada, tem a sua origem enquadrada pelo Plano Integrado
de Almada, um dos três planos integrados de habitação (PI) lançados
na área de Lisboa, no início da década de setenta.
O PIA surgiu no contexto da Política Nacional de Habitação, como uma
infra-estrutura social destinada a acolher os migrantes esperados para
trabalharem no pólo da indústria pesada que emergia em Almada. A localização revelava-se de excelência dada a proximidade aos pólos de desenvolvimento industrial e a proximidade a Lisboa, beneficiando da então
ainda recente construção da Ponte 25 de Abril e vasta disponibilidade
de terrenos que permitiam a edificação de uma grande urbanização.
A sua programação, embora inicialmente orientada por princípios de
integração social, perante a necessidade de suprimir as sucessivas
necessidades habitacionais (primeiro dos trabalhadores nacionais da
indústria, depois a resultante da imigração de populações dos PALOP
na sequência da Descolonização e na década de oitenta, face a contínua
chegada de imigrantes dos PALOP em busca de uma vida melhor), conduziu a uma grande uniformidade económica e social dos seus residentes que associada a uma exclusão territorial relativamente ao restante
tecido urbano, acabou por conferir a este território a conotação de gueto.
O Bairro Amarelo conjuntamente com os Bairros Branco, Rosa e do
Raposo constituem o então designado PIA, num total de 1999 fogos.
Inês Martins Andrade
145
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 27 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica do Bairro Amarelo
N
Bairro Amarelo
0
2,5 km
O Bairro Amarelo, o primeiro a ser edificado, apresenta o maior número
de fogos do PIA (1050) e caracteriza-se, em termos urbanísticos, por
construções verticais em banda, pintadas de amarelo. O Bairro Amarelo,
vulgarmente conhecido como o Bairro do «Pica-pau Amarelo», segundo
um estudo recente da Câmara Municipal de Almada, é habitado por
população de nacionalidade maioritariamente portuguesa, mas também
por cidadãos nacionais dos PALOP, em especial, oriundos de Cabo Verde,
ao que acrescem, com menor relevo, indivíduos de etnia cigana.
A presença de uma população social e economicamente muito vulnerável, a tendência para a exclusão territorial e a incidência de problemáticas diversificadas, fez com que este território tenha beneficiado de
vários investimentos e apoios, aquilo que podemos denominar de instrumentos de desencravamento, no decurso dos últimos anos. Entre eles
destacam-se a construção de novas acessibilidades, como sendo o comboio que faz a ligação entre as duas Margens do Rio Tejo, bem como
a instalação de grandes equipamentos geradores de emprego e de fluxos diários, como o Instituto Piaget. Neste espaço encontram-se também inúmeras instituições e entidades, nomeadamente, a Santa Casa da
Misericórdia de Almada e a Casa Pia de Lisboa, as quais têm desenvolvido vários projectos de cariz social. Trata-se de um território com uma
Inês Martins Andrade
146
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
rede de equipamentos muito diversificada, nomeadamente, de saúde,
educação, formação, alojamento turístico, de actividades no sector terciário, assim como de infra-estruturas/logística. Contudo, embora as
intervenções das entidades e instituições no terreno tenham vindo a colmatar algumas das principais problemáticas, não se têm alcançado as
finalidades sociais pretendidas, na medida em que não se regista interacção entre a população que para ali vai trabalhar e a população que aí
reside, ocorrendo uma persistência das tendências de isolamento social.
Figura 28 – Elevada Presença de Actividades Comerciais no Bairro Amarelo
Dos 60 indivíduos inquiridos no Bairro Amarelo, 58,3% são mulheres
e 41,7% são homens. No que concerne aos grupos etários foi possível
encontrar valores percentuais mais elevados de população idosa (20%)
comparativamente aos bairros anteriores, porque ao se tratar de um
bairro de realojamento, com melhores condições habitacionais, não há
uma tendência tão acentuada de regresso ao país de origem. Aqui foi
também possível inquirir quantitativos percentuais de população com
idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos mais elevados (31,7%) e,
portanto, a população com idades entre os 21 e os 64 tem menor expressividade do que nos bairros anteriores (48,3%).
Tabela 11 – População Inquirida segundo o Género e os Grupos Etários,
no Bairro Amarelo (%), 2006
Grupos Etários
Género
Total
Feminino
Masculino
15 aos 20 anos
16,7
15,0
31,7
21 aos 64 anos
30,0
18,3
48,3
65 ou mais anos
11,7
8,3
20,0
58,3
41,7
100,0
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
147
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Uma leitura segundo a naturalidade e a nacionalidade da população, evidencia uma nítida superioridade da população cabo-verdiana. Embora
a população portuguesa surja em segundo lugar, verifica-se que esta
tem maior relevância no que trata à nacionalidade, o que se explica pelo
facto de muitos dos indivíduos nascidos em Cabo Verde ou em Angola já
terem nacionalidade portuguesa. A comunidade são-tomense aparece
como a de importância mais residual e não se identificou nenhum indivíduo com naturalidade ou nacionalidade moçambicana ou guineense.
Tabela 12 – População Inquirida segundo a Nacionalidade e Naturalidade,
no Bairro Amarelo (%), 2006
Nacionalidade
Angola
Naturalidade
5,0
10,0
50,0
55,0
Guiné-Bissau
0,0
0,0
Moçambique
0,0
0,0
41,7
31,7
3,3
3,3
100,0
100,0
Cabo Verde
Portugal
São Tomé e Príncipe
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Relativamente ao estado civil da população inquirida, reproduz-se o
padrão observado nos casos de estudo anteriores, ou seja, há uma primazia da população solteira (45%), seguida da casada (30%) e posteriormente da união de facto (13,3%) entre si, tendo a população divorciada (6,7%) ou viúva (5%) valores percentuais modestos e idênticos,
no entanto, é neste bairro que se identificou uma maior proporção de
indivíduos divorciados. O ano de chegada a Portugal apresenta-se mais
elevado entre 1974 e 1979 (20%). Apenas 5% dos indivíduos chegou a
Portugal depois de 2000.
Inês Martins Andrade
148
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 29 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
no Bairro Amarelo (%), 2006
25
20
15
10
5
0
쏝 1973
1974-1979
1980-1989
1990-1999
쏜 2000
% De População
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
3.4. Quinta da Princesa
O Bairro da Quinta da Princesa insere-se no espaço físico da freguesia
da Amora, no concelho do Seixal, e corresponde a um CDH (Contratos
de Desenvolvimento Habitacional), isto é, contratos de habitação social
estabelecidos entre empresas privadas de construção civil e a Administração Central, que remontam aos anos 70/80, com a dupla finalidade de,
por um lado, as empresas privadas de construção civil poderem trabalhar, porque ao beneficiarem de investimento do IGAPHE, deixavam de
precisar de recorrer ao crédito, que na altura apresentava taxas de juro
consideravelmente elevadas, e por outro lado, de resolução de problemas habitacionais, pois em contra-partida, o Estado ficava com uma
parte das construções, para suprimir tais carências, que na época se
avolumavam de forma acentuada.
Perante este quadro, na primeira metade da década de setenta começou a ser construída a Quinta da Princesa. Dos vinte edifícios que constituem o bairro, treze foram alvo de venda livre, no entanto, face às elevadas carências habitacionais sentidas no concelho, um pouco como em
todo o contexto metropolitano, na sequência da chegada de retornados e
imigrantes dos PALOP, a Câmara Municipal do Seixal acabou por solicitar ao IGAPHE a afectação de um conjunto de residências que lhe permitisse responder à acentuada procura, por parte de uma população desprovida de recursos económicos. Assim, foram atribuídos sete edifícios
(208 fogos) à Autarquia, que se destinaram ao realojamento de população com carências habitacionais dispersa pelo concelho. Esta população
podia então optar por uma renda social, que era revista anualmente,
Inês Martins Andrade
149
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ou por uma renda resolúvel, revista em cada quinquénio ainda que de
forma acentuada, com a vantagem de que findos 25 anos, as casas passavam automaticamente a pertencer de pleno direito aos respectivos
moradores.
Figura 30 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica da Quinta da Princesa
N
Quinta da Princesa
0
2,5 km
Embora a construção do Bairro estivesse concluída no final da década
de setenta, somente entre 1980/1981 foram atribuídas as casas. Deste
modo, a Quinta da Princesa acabou por assimilar concomitantemente
venda livre e realojamento, o que decorridos vinte e seis anos desde
então, percebe-se que se tratou de uma opção com inúmeras fragilidades. A coexistência de diferentes regimes de propriedade dificultam
acções de preservação e valorização do edificado, uma vez que o sentido
de pertença à habitação daqueles que compraram casa e dos que optaram pela renda resolúvel comparativamente aos de renda social, é muito
díspar. Em termos práticos, geram-se grandes desigualdades no estado
de conservação entre os edifícios de venda livre e os de habitação social,
e nos edifícios onde se conjugaram as duas tipologias de realojamento,
porque a gestão torna-se complexa.
A Quinta da Princesa apresenta uma localização consideravelmente periférica face ao restante tecido urbano, mesmo na actualidade, com o
Inês Martins Andrade
150
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
aumento do espaço construído e a criação de mais acessibilidades, o que
articulado com o facto de se situar numa área geomorfologicamente
deprimida, acabou por lhe conferir uma posição geográfica marginal.
Acrescendo a isto inúmeras problemáticas sociais, inexistência de equipamentos com capacidade polarizadora da restante população concelhia,
a Quinta da Princesa adquiriu uma forte estigmatização, sendo percepcionada pela população envolvente com um território de insegurança.
Figura 31 – Vista sobre dois Edifícios em avançado Estado de Degradação,
na Quinta da Princesa
Um estudo realizado em 2001, pelo Programa Escolhas, concluiu que
residiam aí aproximadamente 1000 indivíduos, na sua maioria naturais
ou descendentes de imigrantes nacionais dos PALOP, entre os quais se
destacava a forte incidência dos cabo-verdianos, mas também de população autóctone e de etnia cigana.
No trabalho de campo, foram inquiridos 60 indivíduos, 58,3% do sexo
feminino e 41,7% do sexo masculino. Por grupos etários, a população em
idade activa constitui a parcela da população mais expressiva (76,7%),
seguida da população jovem (15%), enquanto que a população com 65
ou mais anos representa 8,3% da amostra, o que evidencia a sua fraca
expressividade neste território.
Inês Martins Andrade
151
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 13 – População Inquirida segundo o Género e os Grupos Etários,
na Quinta da Princesa (%), 2006
Género
Grupos Etários
Total
Feminino
Masculino
15 aos 20 anos
8,3
6,7
15,0
21 aos 64 anos
43,3
33,3
76,7
6,7
1,7
8,3
58,3
41,7
100,0
65 ou mais anos
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Quanto à naturalidade, confirmando os resultados apresentados no diagnóstico supra-mencionado, a maioria da população (48,3%) é de Cabo
Verde. Seguidamente aparecem como as naturalidades mais significativas, São Tomé e Príncipe (21,7%), Angola (15,0%) e Portugal (13,3%).
Quanto às restantes naturalidades, Guiné-Bissau apresenta uma incidência muito residual (1,7%) e não foi identificado nenhum cidadão
nacional de Moçambique. A análise da nacionalidade oferece uma outra
leitura, pois a nacionalidade portuguesa aumenta consideravelmente,
o que resulta de se tratar de uma população que embora seja de naturalidade estrangeira, já tem nacionalidade portuguesa.
Tabela 14 – População Inquirida segundo a Nacionalidade e Naturalidade,
na Quinta da Princesa (%), 2006
Nacionalidade
Naturalidade
Angola
10,0
15,0
Cabo Verde
41,7
48,3
Guiné-Bissau
1,7
1,7
Moçambique
0,0
0,0
Portugal
25,0
13,3
São Tomé e Príncipe
21,7
21,7
100,0
100,0
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
No estado civil, as situações de solteiro (36,7%) e casado (35,0%) assumem as proporções mais significativas. De notar, que é nesta unidade de
análise que a união de facto regista maior relevância (23,3%), enquanto
que as situações de viúvo (3,3%) ou divorciado (1,7) se apresentam pouco
Inês Martins Andrade
152
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
significativas. Quanto ao ano de chegada a Portugal, embora o período
entre 1974 e 1979 registe uma importância considerável (20,0%), o que
seria de se esperar, uma vez que corresponde ao momento de construção do bairro e ao início do processo de realojamento, verifica-se que a
maioria dos seus habitantes chegaram a partir da década de noventa,
mais concretamente, 30% da população chegou entre 1990 e 1999 e 25%
após 2000.
Figura 32 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
na Quinta da Princesa (%), 2006
35
30
25
20
15
10
5
0
쏝 1973
1974-1979
1980-1989
1990-1999
쏜 2000
% De População
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
3.5. Alta de Lisboa
A Alta de Lisboa encontra-se situada numa área de charneira que abarca
parcelarmente três freguesias, Lumiar, Charneca e Ameixoeira, do concelho de Lisboa. Tratando-se de uma área periférica dentro dos próprios
limites administrativos da Autarquia de Lisboa, pautada por um grande
isolamento promovido pela articulação da topografia, proximidade ao
Aeroporto Internacional de Lisboa e separada do contínuo edificado da
cidade pela barreira física que constitui a 2.a circular, o Alto do Lumiar
constituiu uma área marginal e isolada em Lisboa.
Tendo constituído o lugar de destino de diversas levas de realojamentos
provisórios de população autóctone desalojada de diferentes pontos da
cidade, nomeadamente de Alcântara na década de sessenta no seguimento da construção da Ponte 25 de Abril. Com uma estrutura fundiária eminentemente rural, que no decurso dos tempos deram origem a
inúmeras quintas, na década de setenta este território acabou por acolher também muitos dos inúmeros imigrantes oriundos dos PALOP. Até
Inês Martins Andrade
153
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
há poucos anos concentravam-se aí muitos dos bairros precários do
concelho de Lisboa, designadamente, Bairro da Musgueira Norte, Bairro
da Musgueira Sul, Bairro das Calvanas, Bairro da Quinta Grande, Bairro
da Charneca e Bairro da Cruz Vermelha.
De um acordo celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a SGAL
(Sociedade Gestora do Alto do Lumiar), em 1984, surgiu a primeira tentativa de urbanização deste imenso território, a qual viria posteriormente
a ser alterada com a aprovação do PDM no início dos anos noventa.
Figura 33 – Enquadramento Geográfico e Vista Panorâmica da Alta de Lisboa, 2006
N
Alta de Lisboa
0
2,5 km
Assim surgiu a Urbanização da Alta de Lisboa, designação esta que visa
estabelecer uma oposição com a Baixa de Lisboa, onde se conjugaram
os objectivos de realojamento da população que se aglomerava neste
espaço em condições muito precárias e de venda livre de habitação, num
contexto de criação de um núcleo urbanístico funcionalmente autónomo,
mas em plena continuidade com a restante cidade de Lisboa, constituindo-se como o seu prolongamento para Norte. Trata-se de uma mega
urbanização no coração geográfico da AML, onde se prevê a construção
de dezassete mil fogos, ficando apenas três mil ao abrigo do PER (Programa Especial de Realojamento). Deste modo, a Alta de Lisboa constiInês Martins Andrade
154
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
tui, entre os casos de estudo, o exemplo moderno da política de realojamento em Portugal, não só por se enquadrar no PER, mas por procurar
promover uma nova lógica de realojamento, orientada pela miscigenação
económica, social e cultural. O início do realojamento data de 1998, e de
acordo com a Autarquia abrangeu um universo de 2753 agregados familiares, num total de 8913 indivíduos, sendo que 90,5% apresentavam
nacionalidade portuguesa.
Figura 34 – Vista sobre alguns dos Edifícios PER, na Alta de Lisboa
Dos 60 inquéritos realizados de forma dispersa pelo vasto território da
Alta de Lisboa, o que inclui os bairros denominados pela Alta de Lisboa
Centro e Alta de Lisboa Sul, 55% foram efectuados a indivíduos do sexo
feminino e 45% do sexo masculino. A análise da população por grandes grupos etários, denota uma preponderância da população em idade
activa, uma vez que constitui 70% da amostra. A população com idades
entre os 15 e os 20 ocupa o segundo lugar (20%) enquanto que a população estatisticamente dita idosa surge com uma posição pouco expressiva
(10%). Deste modo, trata-se de uma população extremamente jovem, na
qual as problemáticas de envelhecimento populacional transversais à
sociedade portuguesa não são muito expressivas.
Inês Martins Andrade
155
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 15 – População Inquirida segundo o Género e os Grupos Etários,
na Alta de Lisboa (%), 2006
Género
Grupos Etários
Total
Feminino
Masculino
15 aos 20 anos
11,7
8,3
20,0
21 aos 64 anos
38,3
31,7
70,0
5,0
5,0
10,0
55,0
45,0
100,0
65 ou mais anos
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
No que diz respeito à naturalidade e à nacionalidade dos residentes,
é aqui que se registou uma multiculturalidade mais acentuada, visto que
se encontram aí presentes cidadãos portugueses e de todos os PALOP,
com excepção da Guiné-Bissau, registando-se um expressivo equilíbrio
entre elas. No que trata à naturalidade a comunidade são-tomense
surge como a mais expressiva (40%), seguida da cabo-verdiana (20%)
e da portuguesa (18,3%) resultado do peso dos descendentes de imigrantes dos PALOP que já nasceram em Portugal. Por fim, a comunidade
angolana e moçambicana surgem com valores percentuais mais baixos
(13,3% e 8,3%). Quanto à nacionalidade mantém-se o retrato que a leitura da naturalidade nos proporciona, com excepção da troca de posições relativas que os cidadãos nacionais de Cabo Verde e de Portugal
assumem, pois a comunidade portuguesa cresce comparativamente às
proporções apresentadas na naturalidade (28,3%) enquanto que a cabo-verdiana diminui (18,3%), o que denota a aquisição da nacionalidade
portuguesa por vários imigrantes nascidos em Cabo Verde.
Tabela 16 – População Inquirida segundo a Nacionalidade e Naturalidade,
na Alta de Lisboa (%), 2006
Nacionalidade
Naturalidade
Angola
13,3
13,3
Cabo Verde
18,3
20,0
Guiné-Bissau
0,0
0,0
Moçambique
8,3
8,3
Portugal
28,3
18,3
São Tomé e Príncipe
31,7
40,0
100,0
100,0
Total
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
156
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
O estado civil desta população apresenta-se nitidamente marcado pelo
estatuto de solteiro (51,7%), seguido das situações de casado e união de
facto, as quais registam uma diminuta diferença entre si, 23,3% e 18,3%,
respectivamente. À semelhança do observado nos restantes casos de
estudo, o estado civil de divorciado e viúvo são os que registam menor
importância, cada um dos quais 3,3%.
Indo de encontro à própria história da população imigrante na Alta de
Lisboa, verifica-se que foi a partir da década de oitenta que se iniciou a
imigração destas populações para Portugal (23,3%), tendo-se registado o
seu pico de entrada em Portugal entre 1990 e 1999 (38,3%), mantendo-se
elevada nos últimos anos (13,3% chegou após 2000), pelo contrário até
1973 e entre 1974 e 1979, as chegadas foram pouco expressivas, 1,7%
e 5,0%, respectivamente.
Figura 35 – Ano de Chegada a Portugal da População Inquirida,
na Alta de Lisboa (%)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
쏝 1973
1974-1979
1980-1989
1990-1999
% De População
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
157
쏜 2000
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CAPÍTULO II – ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS IMIGRANTES DOS PALOP
AOS CUIDADOS DE SAÚDE NA AML
Estudos recentes, no âmbito da saúde pública, têm apontado para uma
sub-representação dos imigrantes na utilização dos serviços de cuidados de saúde, de âmbito preventivo ou curativo, em Portugal, o que faz
deles um grupo particularmente vulnerável. Todavia, trata-se de uma
temática pouco explorada, com pouca informação estatística disponível
e dispersa, onde portanto, o conhecimento prático e científico se reveste
de elevado valor. Por conseguinte, no presente capítulo serão apresentados os resultados nesta matéria, da investigação prática levada a cabo
nas cinco unidades de análise consideradas na AML. Assim, será efectuada uma apresentação do padrão dominante de acesso e utilização aos
cuidados de saúde primários e diferenciados da população imigrante e
posteriormente serão analisadas as condicionantes do lado da oferta dos
cuidados de saúde, mas também da parte da procura, de modo a chegar-se a conclusões indicativas sobre os bloqueios do acesso e respectiva utilização destes cuidados de saúde, pela população imigrante dos
PALOP e seus descendentes.
1. ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
1.1. Procura dos Cuidados de Saúde Primários
Os cuidados primários constituem a principal via de acesso aos cuidados de saúde, visto que é neles que se estabelece o primeiro contacto
das populações com os cuidados de saúde. Desempenhando um papel
essencial no âmbito da prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, tal como diversos estudos têm evidenciado, quanto mais elevada
for a sua utilização, melhores serão, em geral, os níveis de saúde das
populações e menores serão os encargos financeiros para o Estado em
termos de cuidados de saúde.
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a população imigrante africana na sua grande maioria (91,7%) está inscrita num centro
de saúde ou numa respectiva extensão do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), sendo que apenas uma pequena parcela deste universo amostral
não se encontra inscrita (8,3%).
Segundo uma leitura mais minuciosa, verifica-se que esta é uma realidade transversal a todos os bairros, não se identificando acentuadas discrepâncias entre eles. Não obstante, o Bairro Amarelo surge como o
Inês Martins Andrade
158
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
melhor posicionado nesta análise, atendendo a que 96,7% da sua população se encontra inscrita, enquanto que no extremo oposto se encontram
os outros dois bairros de realojamento analisados (a Quinta da Princesa
e a Alta de Lisboa), com as taxas mais reduzidas de população inscrita,
88,3% respectivamente, ainda que se tratando de uma proporção bastante positiva. A Quinta da Serra e Santa Filomena surgem em posições
intermédias com 91,7% e 93,3%, respectivamente, de população inscrita
nos cuidados de saúde primários.
Figura 36 – População Inscrita nos Centro de Saúde
ou Extensão do SNS, por Bairros (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Está inscrita
Não está inscrita
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
As razões apresentadas para a não inscrição num centro de saúde ou
extensão do SNS apresentam-se diversificadas. Das respostas obtidas
(da população que respondeu não estar inscrita, 92% apresentou uma
razão explicativa, enquanto que 8% não apresentou qualquer tipo de resposta), a maioria da população afirma ainda não ter efectuado o seu
registo, por ainda nunca ter precisado destes serviços (52,0%). Estas
Inês Martins Andrade
159
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
respostas foram obtidas de uma população que chegou há pouco tempo
a Portugal e que ainda não ficou doente, mas igualmente de uma população que reside há vários anos no nosso País e que também nunca se
encontrou doente. Os outros motivos mais relevantes apresentados para
a não inscrição foram o facto de ainda não terem documentos e, pelo
seu estatuto irregular, receiam fazê-lo (16%) e as questões burocráticas
que estão subjacentes a esse processo (12%). Foram também referidos
outros factores, ainda que estatisticamente menos significativos, nomeadamente, o facto de estarem a ser acompanhados no hospital (4%), de
terem médico no trabalho (4%), ou por lhes ter sido dito que não existem
médicos suficientes (4%).
No que trata à utilização dos cuidados de saúde primários (independentemente, de se encontrarem inscritos ou não), 86,7% dos imigrantes africanos e seus descendentes referiu utilizá-los e apenas 12,7% afirmou
não os utilizar. Numa análise desagregada à escala do bairro, o Bairro
Amarelo destaca-se pelas taxas de utilização mais elevadas (93,3% da
sua população utiliza o centro de saúde), enquanto que a Alta de Lisboa
e a Quinta da Princesa registam as taxas de não utilização mais elevadas
(em cada um dos bairros, 20,0% da sua população não utiliza os cuidados de saúde primários). Um aspecto transversal a todas as unidades de
análise consiste em se verificar que as taxas mais elevadas de não utilização deste nível de cuidados de saúde ocorre na população que chegou
mais recentemente a Portugal (após o ano 2000). Assim, verifica-se que,
em geral, quanto maior é o tempo de permanência em Portugal, maior
é a taxa de utilização dos centros de saúde e das extensões.
Tabela 17 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo o Ano de Chegada a Portugal e por Bairros (%), 2006
Unidade
de Análise
Alta
de Lisboa
Ano
de Chegada
a Portugal
Utilização dos Cuidados de Saúde Primários
Total
Não responde/ Geral
/Não se Aplica
Sim
Não
쏝 a 1973
1,7
0,0
0,0
1,7
1974 a 1979
5,0
0,0
0,0
5,0
1980 a 1989
18,3
5,0
0,0
23,3
1990 a 1999
33,3
5,0
0,0
38,3
5,0
8,3
0,0
13,3
16,7
1,7
0,0
18,4
80,0
20,0
0,0
100,0
> a 2000
Não se Aplica
Total Geral
(continua)
Inês Martins Andrade
160
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
(continuação)
Unidade
de Análise
Bairro
Amarelo
Ano
de Chegada
a Portugal
Não
쏝 a 1973
11,7
1,7
0,0
13,4
1974 a 1979
20,0
0,0
0,0
20,0
1980 a 1989
13,3
0,0
0,0
13,3
1990 a 1999
15,0
1,7
0,0
16,7
1,7
3,3
0,0
5,0
31,7
0,0
0,0
31,7
93,3
6,7
0,0
100,0
1,7
0,0
0,0
1,7
1974 a 1979
16,7
3,3
0,0
20,0
1980 a 1989
5,0
5,0
0,0
10,0
1990 a 1999
26,7
1,7
1,7
30,1
> a 2000
15,0
10,0
0,0
25,0
Não se Aplica
13,3
0,0
0,0
13,3
78,3
20,0
1,7
100,0
쏝 a 1973
8,3
0,0
0,0
8,3
1974 a 1979
6,7
0,0
0,0
6,7
1980 a 1989
11,7
1,7
0,0
13,4
1990 a 1999
41,7
1,7
1,7
45,1
> a 2000
11,7
5,0
0,0
16,7
Não se Aplica
10,0
0,0
1,7
10,0
90,0
8,3
1,7
100,0
11,7
1,7
0,0
13,4
1974 a 1979
6,7
0,0
0,0
6,7
1980 a 1989
18,3
0,0
0,0
18,3
1990 a 1999
21,7
1,7
0,0
23,4
> a 2000
15,0
3,3
0,0
18,3
Não se Aplica
18,3
1,7
0,0
20,0
Total Geral
91,7
8,3
0,0
100,0
Total Geral
86,7
12,7
0,7
100,0
> a 2000
Total Geral
쏝 a 1973
Total Geral
Quinta
da Serra
Total Geral
쏝 a 1973
Santa
Filomena
Total
Não responde/ Geral
/Não se Aplica
Sim
Não se Aplica
Quinta
da Princesa
Utilização dos Cuidados de Saúde Primários
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
161
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Quanto à frequência na utilização dos cuidados de saúde primários,
constatou-se que esta população utiliza estes serviços com regularidade, uma vez que, as respostas percentuais mais relevantes indicam
uma utilização que ocorre, em média, várias vezes durante o ano (40,3%)
ou anualmente (18,3%), embora 17% da população tenha referido outra
frequência, que remete para uma utilização inferior a uma vez por ano.
As frequências de utilização temporalmente mais concentradas registam pouco significado, pois nenhum indivíduo referiu utilizar estes serviços diariamente, somente 1,3% os utiliza semanalmente, 6% mais do
que uma vez por mês e só 4% referiu uma vez por mês. Deste modo,
verifica-se que embora se trate de uma população que utiliza os cuidados de saúde primários com regularidade, a sua frequência não é muito
elevada.
Figura 37 – Frequência de Utilização dos Cuidados de Saúde Primários (%), 2006
45,0
40,0
35,0
30,0
Não responde/
/Não se aplica
쏝 Uma vez
por ano
Uma vez
por ano
Várias vezes
durante o ano
Só uma vez
por mês
쏜 Uma vez
por mês
Semanal
0,0
Diário
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Frequência de Utilização
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Quanto ao facto de se ter médico de família, identificaram-se algumas
disparidades entre os cinco casos de estudo. Por um lado, a Quinta da
Serra, Santa Filomena e o Bairro Amarelo apresentam-se bem posicionados no que trata a esta temática, na medida em que 90% ou mais dos
seus residentes tem médico tem médico de família, mas por outro lado,
na Alta de Lisboa e, em particular, na Quinta da Princesa identificam-se
realidades mais negativas, na medida em que 21,7% e 56,7%, respectivamente, não têm médico de família. Quanto ao motivo de não terem
médico de família, obtiveram-se três grandes razões no conjunto dos
cinco bairros: 54% referiram que não há médicos de família suficientes,
34% porque ainda não foi ao médico e 12% porque se encontram indocumentados.
Inês Martins Andrade
162
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 18 – População Inquirida sobre o Médico de Família, por Bairro (%), 2006
Com Médico
de Família
Sem Médico
de Família
Total Geral
Alta de Lisboa
78,3
21,7
100,0
Bairro Amarelo
90,0
10,0
100,0
Quinta da Princesa
43,3
56,7
100,0
Quinta da Serra
91,7
8,3
100,0
Santa Filomena
90,0
10,0
100,0
78,7
21,3
100,0
Unidade de Análise
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Entre as principais razões para a utilização dos cuidados de saúde primários destaca-se a situação de urgência/doença, uma vez que 57,3%
indivíduos referiram que recorrem ao centro de saúde quando se encontram em situação de doença ou mesmo de urgência, e com valores
relativos muito próximos a realização de consultas de rotina (56,7%).
A obtenção de receita médica surge como a terceira principal razão para
a utilização do centro de saúde (43,3%), seguida da vacinação (34,7%),
do tratamento (21,3%), da consulta de planeamento familiar (18,3%),
da realização de meios complementares de diagnóstico (17%), da consulta de saúde infantil (15,7%) e, por fim, da consulta de saúde materna
(11,3%).
Figura 38 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários (%), 2006
Consulta de Saúde Materna
Consulta de Saúde Infantil
Realização de Meios Complementares de Diagnóstico
Consulta de Planeamento Familiar
Tratamento
Vacinação
Obter Receita Médica
Consulta de Rotina
Doença/Urgência
0,0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Motivo da Utilização do Centro de Saúde
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
163
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
O cruzamento das duas principais razões referidas para a utilização dos
cuidados de saúde primários com o ano de chegada a Portugal, permite-nos retirar importantes conclusões. De facto, a análise da tabela
seguinte evidencia que quanto mais recente é o período de chegada
a Portugal, mais elevado é a proporção de imigrantes africanos que
refere utilizar os cuidados de saúde primários por motivos de doença/
/urgência.
Pelo contrário, a utilização dos cuidados de saúde primários para a realização de consultas de rotina é tendencialmente maior nos indivíduos
que residem em Portugal há mais tempo. Note-se, por exemplo, que
entre os cidadãos nacionais dos PALOP que chegaram a Portugal entre
1974 e 1979, a maioria (9,3%) refere utilizar o centro de saúde com esta
finalidade e apenas uma pequena percentagem refere não o fazer (1,7%),
enquanto que a população que imigrou para Portugal desde 2000 afirma
maioritariamente uma não utilização dos cuidados de saúde primários
para realização de consultas de rotina (sim, 4,3%, e não, 8%).
Tabela 19 – As Duas Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários, segundo o Período de Chegada a Portugal (%), 2006
Período
de Chegada
a Portugal
Doença/Urgência
Sim
Não
쏝 a 1973
4,0
3,7
1974 a 1979
6,0
1980 a 1989
1990 a 1999
Não se aplica/
/Não responde
Consulta de Rotina
Não se aplica/
/Não responde
Sim
Não
0,0
5,7
2,0
0,0
5,0
0,7
9,3
1,7
0,7
9,3
5,7
0,7
10,7
4,3
0,7
19,0
10,7
1,0
14,0
15,7
1,0
9,0
3,3
3,3
4,3
8,0
3,3
Não se Aplica
10,0
8,7
0,0
12,7
6,0
0,0
Total Geral
57,3
37,0
5,7
56,7
37,7
5,7
> a 2000
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
1.2. Procura dos Cuidados de Saúde Diferenciados
Atendendo ao propósito essencialmente curativo e de tratamento da
doença que caracteriza os cuidados de saúde diferenciados, importa
analisar especificamente o padrão dominante de utilização destes serviços por parte da população-alvo.
Inês Martins Andrade
164
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A grande maioria dos cidadãos nacionais ou naturais dos PALOP inquiridos referiu já ter utilizado os cuidados de saúde secundários em Portugal
(84,7%), sendo que apenas 15,3% afirmaram nunca os terem utilizado.
Figura 39 – Utilização dos Cuidados de Saúde Diferenciados, por Bairro (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Já utilizou
Nunca utilizou
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Uma análise comparativa por unidades de estudo evidencia algumas
assimetrias na utilização deste nível de cuidados de saúde, sendo na Alta
de Lisboa que mais indivíduos já utilizaram o hospital (91,7%) e na Quinta
da Princesa que uma menor (ainda que consideravelmente elevada) percentagem de indivíduos também o fez (76,7%).
A análise da utilização dos cuidados de saúde diferenciados segundo o
período de chegada a Portugal indica, em traços gerais, que quanto mais
recuado no tempo for o período de chegada a Portugal, mais elevado
é o valor relativo de indivíduos que já utilizou estes cuidados de saúde.
Deste modo, verifica-se que entre a população que chegou entre 1974
a 1979, 91,4% já utilizou o hospital, enquanto que apenas uma pequena
Inês Martins Andrade
165
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
proporção de indivíduos (8,6%) refere nunca os ter utilizado. Pelo contrário, entre os indivíduos que chegaram mais recentemente a Portugal,
após o ano 2000, apesar de maioritariamente já terem utilizado os cuidados de saúde diferenciados (59,6%), uma parcela significativa destes
imigrantes recém-chegados ainda não os utilizou (40,4%). Entre os imigrantes recém-chegados, a existência de uma taxa de utilização do hospital superior à de não utilização, reflecte em muito o padrão actual que
caracteriza os motivos de entrada em Portugal desta população, marcados acentuadamente por motivos de saúde.
Tabela 20 – População que já Utilizou os Cuidados de Saúde Diferenciados,
por Período de Chegada a Portugal (%), 2006
Período de Chegada
a Portugal
Já Utilizou
Nunca Utilizou
Total Geral
쏝 a 1973
87,0
13,0
100,0
1974 a 1979
91,4
8,6
100,0
1980 a 1989
95,7
4,3
100,0
1990 a 1999
88,0
12,0
100,0
> a 2000
59,6
40,4
100,0
Não se Aplica
85,7
14,3
100,0
84,7
15,3
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Relativamente aos principais motivos para a utilização dos cuidados de
saúde diferenciados, verifica-se que a razão dominante é a situação de
urgência, uma vez que consistiu na razão mais apontada pelos inquiridos
(62,0%). Os outros factores que levam esta população a utilizar este nível
de serviços de saúde são as consultas externas (22,3%), realização de
tratamentos (14,3%) e realização de uma operação (12,3%).
Entre as razões menos referidas como factor de utilização dos cuidados
de saúde diferenciados encontram-se o internamento (6,0%), a realização de meios complementares de diagnóstico (5,3%) e a realização de
uma pequena cirurgia (1,3%). Acrescendo a estas razões, 9,7% da população referiu ainda a utilização do hospital por um outro motivo, entre os
quais, se destaca o parto, pois 29 respostas que referiram outra razão,
17 destas mencionaram o parto.
Inês Martins Andrade
166
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 40 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Diferenciados (%), 2006
Outra
Pequena Cirurgia
Realiz. Meios Compl. Diagnóstico
Internamento
Operação
Tratamentos
Cons. Externa
Urgência
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Motivo para a Utilização do Hospital
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Os serviços clínicos utilizados no hospital pela população imigrante revelam-se muito heterogéneos, no entanto, alguns deles assumem maior
relevância, na medida em que foram já foram utilizados por um maior
número de indivíduos. Por conseguinte, verifica-se que o serviço de obstetrícia/ginecologia regista os maiores valores percentuais de utilização
(21,7%), o que em grande parte reflecte uma das principais características culturais desta população, isto é, uma média elevada do número de
filhos por mulher, assim como a tendência de se ser mãe cedo. É nos
Bairros da Quinta da Princesa e da Alta de Lisboa que se registou o
maior número de utilizações desta especialidade clínica.
A ortopedia representa a segunda especialidade clínica com o valor percentual de utilização mais elevado (17,0%), o que se explica pela tipologia de profissões que caracteriza esta população ser muito exigente em
termos físicos e onde o risco de acidentes profissionais é elevado. Todavia, este valor percentual explica-se também pelo número considerável
de crianças e jovens que na sequência de quedas, acabam por sofrer
fracturas. À semelhança do serviço clínico anterior, também a utilização desta especialidade clínica regista assimetrias entre as diferentes
unidades de análise, sendo no Bairro Amarelo e em Santa Filomena que
ocorre o maior número de utilizações. Em Santa Filomena este é efectivamente o serviço clínico mais utilizado ao nível dos cuidados de saúde
diferenciados.
O serviço de cardiologia ocupa o terceiro lugar na hierarquia dos principais serviços clínicos utilizados, ainda que registando uma considerável diferença estatística comparativamente aos dois serviços clínicos
anteriores, tendo sido utilizado por 9,3% dos indivíduos. Esta reflecte a
Inês Martins Andrade
167
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
existência de alguns problemas cardíacos entre a população imigrante
oriunda dos PALOP, nomeadamente, tensão alta. O valor percentual
mais elevado de ocorrências regista-se na Alta de Lisboa, com grande
disparidade relativamente aos restantes bairros de análise.
Em quarto lugar surge a oftalmologia, com um valor percentual de respostas afirmativas de utilização de 7,7%, salientando-se no entanto que
na sua grande maioria não se encontram associadas a problemáticas
graves ou complexas. Importa salientar que a maior incidência da utilização desta especialidade hospitalar ocorre na Alta de Lisboa. Posteriormente, segue-se a reumatologia (6,0%), mais frequente entre a
população idosa, seguida da população em idade adulta, embora consideravelmente menos relevante, não se registando nenhum caso entre
a população com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos.
Em sexto lugar, encontra-se o serviço de infecto-contagiosas, ainda que
este apenas tenha sido utilizado por 5,3% da população da nossa amostra. Embora tenham sido identificados em todas as unidades de análise
utilizações destes serviços, verifica-se que o maior número de respostas, ainda que estatisticamente pouco significativos, ocorre na Quinta da
Serra e no Bairro Amarelo, precisamente onde de acordo com a metodologia qualitativa, foi possível identificar a ocorrência de pequenos surtos
de tuberculose nos últimos seis anos, embora se encontrem na actualidade aparentemente extintos.
Por fim, os últimos serviços clínicos hospitalares que obtiveram valores relativos de utilização com alguma expressividade foram a pediatria (5,0%) e a dermatologia (4,7%). No que trata à pediatria, importa
referir a existência de grandes disparidades entre os cinco casos de
estudo, visto que as utilizações desta especialidade ocorrem na sua
quase totalidade na Alta de Lisboa. Relativamente à especialidade de
dermatologia, identificam-se grandes assimetrias ao nível dos grupos
etários considerados, pois a quase totalidade das utilizações ocorre na
população adulta, registando-se apenas uma utilização na população
jovem e nenhuma na população com 65 ou mais anos.
A estas especialidades utilizadas nos cuidados de saúde diferenciados
acrescem muitas outras, mas atendendo ao reduzido número de respostas positivas obtidas relativamente à sua respectiva utilização (oscilando
entre 1,0% e 4,0%), não se considera relevante a sua análise desagregada e respectivo cruzamento com outras variáveis.
Inês Martins Andrade
168
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 41 – Principais Serviços Clínicos Utilizados nos Cuidados
de Saúde Diferenciados (%), 2006
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Ou
tra
cri
no
log
ia
Pn
eu
mo
log
P
ia
s
/
Ne Saúd iquia
op
las e Me tria/
nta
ia s
/On
l
co
log
ia
do
En
Ob
/Gi stet
ne ríc
co ia/
log
ia
Or
top
ed
ia
Ca
rdi
olo
g
ia
Oft
alm
olo
g
Re
ia
um
ato
log
ia
-C
on Infec
tag to
ios a
Pe s
dia
tria
De
rm
ato
log
ia
Dia
be
Ga
tes
str
en
ter
olo
gia
Es
tom
Oto
ato
rri
l
o
gia
no
lar
ing
olo
gia
0,0
Serviços Clínicos Utilizados
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A população imigrante dos PALOP e os seus descendentes apresentam
uma frequência de utilização dos cuidados de saúde diferenciados tendencialmente superior a três anos (37,0%) à qual se segue a frequência
várias vezes durante o ano (20,3%). Uma análise detalhada à escala da
unidade de análise ilustra efectivamente este quadro geral, isto é, em
todos os bairros a frequência mais mencionada é a superior a três anos,
constituindo a Alta de Lisboa a única excepção, uma vez que a frequência
de utilização dominante é a de várias vezes durante o ano (40%), à qual
se segue com uma diferença não muito significativa a frequência de uma
vez por ano (30,0%). Do mesmo modo, embora em Santa Filomena a
frequência dominante seja a de superior a 3 anos (35,0%), a diferença
percentual com a segunda frequência de utilização mais referida não é
muito acentuada (várias vezes durante o ano, 25,0%).
Tabela 21 – Frequência de Utilização dos Cuidados
de Saúde Diferenciados, por Bairro (%), 2006
Frequência de Utilização
Unidade
de Análise
Várias vezes Só uma vez
por mês
por mês
Não se
Várias vezes
Uma vez
Entre
쏜 a 3 anos aplica/Não
durante
por ano 1 a 3 anos
responde
o ano
Outra
Alta de Lisboa
3,3
5,0
40,0
30,0
08,3
03,3
10,0
0,0
Bairro Amarelo
0,0
0,0
11,7
05,0
13,3
56,7
13,3
0,0
Quinta da Princesa
0,0
3,3
13,3
10,0
08,3
41,7
23,3
0,0
Quinta da Serra
0,0
1,7
11,7
06,7
08,3
48,3
23,3
0,0
Santa Filomena
1,7
5,0
25,0
08,3
06,7
35,0
13,3
5,0
1,0
3,0
20,3
12,0
09,0
37,0
16,7
1,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
169
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2. CONDICIONANTES NO ACESSO E UTILIZAÇÃO
DOS CUIDADOS DE SAÚDE
2.1. Condicionantes da Oferta: Barreiras Estruturais Potenciais
Tal como constatado na I Parte desta dissertação, o acesso e a utilização
aos cuidados de saúde são influenciados por condicionantes do lado da
oferta, que se podem dividir entre as características inerentes aos profissionais de saúde e as barreiras estruturais potenciais. Considerando que
a análise da primeira tipologia de condicionantes da oferta implicaria
todo um levantamento das especificidades inerentes aos profissionais
de saúde (idade, género, etnia, nacionalidade, entre outros) que servem
as populações das áreas em estudo, o que se depararia com inúmeras
questões burocráticas e seria, portanto, extremamente moroso, optou-se por se efectuar apenas a análise da segunda tipologia das condicionantes da oferta.
As barreiras estruturais potenciais da oferta remetem para as especificidades do sistema de saúde e, como tal, a sua análise assentará na
verificação da existência de possíveis relações entre as características
dos cuidados de saúde que servem as unidades de análise e o padrão
dominante de acesso e utilização. As especificidades do sistema de
saúde a serem consideradas são a disponibilidade da oferta de serviços
e de profissionais de saúde e o tempo de deslocação aos respectivos
equipamentos.
Ao nível dos cuidados de saúde primários, os equipamentos que servem
os territórios dos casos de estudo são os seguintes: na Quinta da Serra
é a Extensão do Prior Velho (Extensão do Centro de Saúde de Sacavém),
em Santa Filomena é o Centro de Saúde da Amadora, na Alta de Lisboa é
o Centro de Saúde do Lumiar 6, no Bairro Amarelo é a Unidade de Saúde
Familiar do Monte da Caparica e, finalmente, na Quinta da Princesa a
população dirige-se simultaneamente ao Centro de Saúde da Amora
e à sua respectiva extensão (Extensão Quinta da Rosinha).
Da observação da tabela seguinte, constata-se que no Centro de Saúde
da Amora, onde se registam os menores quantitativos de população inscrita, é onde precisamente se regista face à procura a pior oferta em ter6. Embora a Urbanização da Alta de Lisboa abranja parte de três freguesias – Lumiar,
Charneca e Ameixoeira – a população inquirida embora dispersa por toda a urbanização,
apenas referiu utilizar o Centro de Saúde do Lumiar, não se verificando nenhuma situação de utilização das respectivas extensões do Centro de Saúde da Ameixoeira ou da
Charneca.
Inês Martins Andrade
170
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
mos de recursos humanos médicos disponíveis, pois é aí que existe um
maior número de utentes por médico. Cruzando esta informação com
outros resultados, compreende-se por exemplo que seja no Centro de
Saúde da Amora, que mais de metade da população inquirida não tem
médico de família (56,7%) e onde se regista uma das mais elevadas taxas
de não utilização dos cuidados de saúde primários (20% da população
inquirida não os utiliza).
Tabela 22 – Caracterização Geral dos Centros de Saúde de Referência (N.o), 2006
Características Gerais dos Centros de Saúde
Centros de Saúde/
/Extensões de Referência
População
N.o de
o
inscrita (N. ) Médicos
N.o Médio
de Utentes
por Médico 7
N.o de
Enfermeiros
N.o Médio
Atendimento
de Utentes
Permanente
7
por Enfermeiro
Centro de Saúde da Amadora
054 764
46
1190,5
25
2190,6
Sim
Centro de Saúde do Lumiar
064 334
69
0932,4
39
1649,6
Sim
Centro de Saúde de Sacavém
– Extensão do Prior Velho
116 039
91
1275,2
66
1758,2
Não
Centro de Saúde da Amora
– Extensão Quinta da Rosinha
042 620
29
1469,7
24
1775,8
Não
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Unidade de Saúde Familiar
do Monte da Caparica
Fonte: Carta de Equipamentos de Saúde, Direcção-Geral da Saúde, em http://www.dgs.pt/
Nota: O Número Médio de Utentes por Médico e por Enfermeiros são cálculo próprio,
a partir da informação disponível.
Já o Centro de Saúde da Amadora, apesar de apresentar o maior número
de utentes por enfermeiro, regista a segunda melhor situação ao nível
da relação média, população inscrita por médico. Estes resultados têm
repercussões nítidas na utilização da população imigrante africana dos
cuidados de saúde primários, visto que tal como apurado, no Centro de
Saúde da Amadora 90,0% da amostra populacional tem médico de família e somente 8,3% não utiliza o centro de saúde.
No que trata à Alta de Lisboa identificam-se os menores quantitativos
médios de população inscrita por médico e por enfermeiro. O seu cruzamento com os resultado dos inquérito, permitem-nos uma vez mais
7. A informação apresentada na tabela encontra-se condicionada pela respectiva informação disponível na fonte (Direcção-Geral de Saúde). Por conseguinte, a inexistência de
informação relativa ao Centro de Saúde de referência da Unidade de Saúde Familiar do
Monte da Caparica (DN – Não Disponível), impossibilita a comparação da realidade deste
equipamento de saúde com os das restantes áreas de referência. Note-se ainda que a
informação apresentada é relativa aos Centros de Saúde e respectivas extensões.
Inês Martins Andrade
171
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
identificar uma forte associação entre as características da oferta e o
acesso e utilização aos cuidados de saúde primários, visto que neste
caso de estudo, apesar da identificação dos mesmos valores percentuais
de não utilização do Centro de Saúde da Quinta da Princesa (20,0%),
verifica-se que 78,3% da população inquirida tem médico de família,
enquanto que na Quinta da Princesa esse valor não vai além dos 43,3%.
O Centro de Saúde de Sacavém surge neste contexto como um bom
exemplo da capacidade de resposta do sistema de saúde relativamente
à procura. O Centro de Saúde de Sacavém, que constitui o segundo centro de saúde do país com maior valor de população inscrita, regista um
considerável número de profissionais de saúde. Assim, explica-se que
comparativamente a alguns dos restantes casos de estudo, o Centro
de Saúde de Sacavém não tenha uma situação tão negativa em termos
de média de utentes por médico ou por enfermeiro. Este facto repercute-se de forma positiva na utilização dos cuidados de saúde primários
pela população imigrante oriunda dos PALOP, pois tal como apurado, da
população inquirida na Quinta da Serra, 91,7% está inscrita, 90,0% utiliza
este nível de cuidados de saúde e 91,7% tem médico de família.
Uma outra especificidade do sistema de saúde que importa analisar,
consiste no tempo de deslocação entre as áreas de residência da população-alvo e os cuidados de saúde primários, na medida em que este
constitui um dos aspectos essenciais na avaliação do acesso aos cuidados de saúde. Atendendo há inexistência da variável tempo de deslocação, em estatísticas oficiais disponíveis, a análise deste aspecto é feita
com recurso ao modo de deslocação predominantemente utilizado pela
população inquirida em cada bairro.
Tabela 23 – Modo de Deslocação para o Acesso e Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários, por Bairro (%), 2006
Modo de Deslocação Utilizado
Unidade
de Análise
Total Geral
(N.o)
A pé
Transportes
Públicos
Carro Próprio
Outra
Não se aplica/
/Não responde
Alta de Lisboa
06,7
50,0
18,3
1,7
23,3
100,0
Bairro Amarelo
86,7
05,0
01,7
0,0
06,7
100,0
Quinta da Princesa
51,7
18,3
06,7
3,3
20,0
100,0
Quinta da Serra
85,0
05,0
01,7
0,0
08,3
100,0
Santa Filomena
76,7
10,0
03,3
3,3
06,7
100,0
61,3
17,7
06,3
1,7
13,0
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
172
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Com base na leitura detalhada da tabela anterior é possível retirarem-se, sobretudo, duas conclusões. Desde logo, percebe-se que é no Bairro
Amarelo, Quinta da Serra e em Santa Filomena que a população inquirida se desloca aos cuidados de saúde primários maioritariamente a
pé. Em todos eles os restantes modos de deslocação para a utilização
destes cuidados de saúde assumem estatisticamente pouca expressão,
o que resulta da elevada proximidade dos centros de saúde ou extensões
às áreas de residência. Estes bairros constituem precisamente aqueles
em que se identificaram proporções mais elevadas de população inscrita
em centros de saúde ou respectivas extensões e nos quais a taxa de não
utilização destes serviços de saúde é mais reduzida. O exemplo mais
ilustrativo da relação entre o tempo de deslocação e o padrão de utilização dos cuidados de saúde primários, é o Bairro Amarelo, uma vez
que é aquele onde o centro de saúde e o bairro registam maior proximidade física e simultaneamente onde ocorre a proporção mais elevada
de população que utiliza estes serviços (93,3%).
Por outro lado, espelhando uma situação menos positiva, encontram-se
a Quinta da Princesa e a Alta de Lisboa, onde embora a distância entre
os bairros e os respectivos centros de saúde ou extensões não possa ser
considerado muito elevado, é comparativamente mais acentuada e, como
tal, a população desloca-se maioritariamente de transportes públicos
(50,0%) ou de carro próprio (18,3%), no caso da Alta de Lisboa, ou ainda
que se deslocando na sua maioria a pé (51,7%), no caso da Quinta da
Princesa, trata-se de um valor percentual consideravelmente mais reduzido por comparação com os observados no Bairro Amarelo, Quinta da
Princesa ou em Santa Filomena. Precisamente, nas unidades de análise
onde se regista um maior tempo de deslocação entre a área de residência e os cuidados de saúde primários, registam-se as mais elevadas
taxas de não utilização destes serviços de saúde (20,0% em cada bairro)
e os valores mais baixos de população inscrita (88,3% em cada bairro).
Deste modo, verifica-se que a este nível de serviços de saúde a distância geográfica afirma-se como uma importante condicionante no acesso
aos cuidados de saúde, manifestando-se este tanto mais elevado entre
a comunidade africana quanto mais reduzida for a distância física que
separa os territórios residenciais dos equipamentos de saúde primários.
Quanto aos cuidados de saúde diferenciados, a população imigrante em
estudo, à semelhança da população autóctone, desloca-se maioritariamente aos hospitais de referência que, no caso de Santa Filomena é o
Hospital Fernando da Fonseca (70,0% da população dirige-se aí), na
Quinta da Serra é o Hospital Curry Cabral (58,3% da população dirige-se
Inês Martins Andrade
173
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
aí), na Quinta da Princesa e no Bairro Amarelo é o Hospital Garcia da
Horta (73,3% e 80,0% da população dirige-se a este). Na Alta de Lisboa,
embora o Hospital de referência seja o Pulido Valente verifica-se que
o mais utilizado é o Hospital de Santa Maria (81,7%). Para além destes
valores, 8% do total da população inquirida referiu já ter utilizado outros
hospitais dispersos pela AML.
Figura 42 – Hospitais de Referência/Utilizados da População Inquirida, 2006
N
Vila Franca
de Xira
Mafra
Loures
Sintra
Odivelas
Hospital
Fernando da Fonseca
Cascais
Amadora
Lisboa
Hospital
Santa Maria
Alcochete
Hospital
Curry Cabral
Oeiras
Montijo
Montijo
Barreiro
Almada
Moita
Seixal
Hospital
Garcia da Horta
Palmela
Setúbal
Sesimbra
0
10 km
Segundo a Carta de Equipamentos de Saúde da Direcção Geral de Saúde
(DGS), o tempo de deslocação do Centro de Saúde da Amadora ao Hospital Amadora/Sintra é de 5 minutos, do Centro de Saúde do Lumiar ao
Hospital Pulido Valente é de 5 minutos, do Centro de Saúde de Sacavém
ao Hospital Curry Cabral é de 7 minutos e do Centro de Saúde da Amora
ao Hospital Garcia da Horta é de 8 minutos. Como já referido não existe
informação disponível relativamente ao Centro de Saúde que serve o
Bairro Amarelo, mas considerando que este fica mais próximo do Hospital de Garcia da Horta do que o Centro de Saúde da Amora, assume-se
um tempo de deslocação inferior.
O modo de deslocação predominantemente utilizado para a utilização
dos cuidados de saúde diferenciados são os transportes públicos, designadamente, nos casos de estudo da Margem Norte (Alta de Lisboa,
Inês Martins Andrade
174
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Quinta da Serra e Santa Filomena), onde estes assumem valores consideravelmente elevados (68,3%, 58,3% e 58,3%, respectivamente), em
detrimento dos restantes modos de transporte que registam pouca relevância estatística. No Bairro Amarelo e na Quinta da Princesa, embora
os transportes públicos registem também a maior proporção de respostas obtidas (46,7% e 31,7%, respectivamente), estas são estatisticamente
menos relevantes e outros modos de transporte também se destacam,
por exemplo, no Bairro Amarelo 20,0% da população costuma deslocar-se em carros de familiares e na Quinta da Princesa 18,3% utiliza carro
próprio e 16,7% vai de ambulância.
Tabela 24 – Modo de Deslocação para o Acesso e Utilização dos Cuidados
de Saúde Diferenciados, por Bairro (%), 2006
Modo de Deslocação Utilizado
Unidade
de Análise
Total Geral
(N.o)
Ambulância
Carro
de Familiares
Outra
Não se aplica/
/Não responde
18,3
00,0
03,3
01,7
08,3
100,0
46,7
03,3
10,0
20,0
06,7
13,3
100,0
Quinta da Princesa
31,7
18,3
16,7
10,0
00,0
23,3
100,0
Quinta da Serra
58,3
06,7
11,7
03,3
00,0
20,0
100,0
Santa Filomena
58,3
13,3
05,0
01,7
10,0
11,7
100,0
52,7
12,0
08,7
07,7
03,7
15,3
100,0
Transportes
Públicos
Carro
Próprio
Alta de Lisboa
68,3
Bairro Amarelo
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
É nos casos de estudo onde o tempo de deslocação aos cuidados de
saúde diferenciados é igual ou inferior a cinco minutos que uma maior
percentagem de indivíduos já utilizou o hospital (Alta de Lisboa 91,7%,
Santa Filomena 88,3% e Bairro Amarelo 86,7%), enquanto que nos casos
de estudo em que o tempo de deslocação é maior, a proporção de população que já os utilizou é menor (Quinta da Serra 80% e Quinta da Princesa 76,7%).
Por conseguinte, embora não se possa considerar a existência de uma
relação linear directa, importa notar a relação identificada entre a variável tempo de deslocação e utilização dos cuidados de saúde diferenciados, o que valida a importância do factor distância enquanto condicionante ao acesso da população imigrante, mas também da população
autóctone.
Inês Martins Andrade
175
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.2. Condicionantes da Procura de Cuidados de Saúde
2.2.1. Características Imutáveis dos Utentes
As características imutáveis dos indivíduos correspondem às suas especificidades que não são mudáveis, que escapam às estratégias e orientações políticas dos governos. Entre elas, na presente investigação dar-se-á
particular destaque a três: género, idade e nacionalidade da população
imigrante dos PALOP e dos seus descendentes.
2.2.1.1. Género
As diferenças entre a saúde dos homens e das mulheres constituem
no âmbito da investigação em saúde uma temática importante que tem
vindo a ser desenvolvida nos países da Europa do Norte, desde os anos
setenta (SILVA, 1999). Um relatório preliminar recente da Escola Nacional de Saúde Pública desenvolvido por Ana Fernandes, Julian Perelman
e Paula Santana constatava que a mulher vive mais do que o homem,
embora tanto os níveis da sua saúde objectiva (traduzida em doenças)
como da sua saúde subjectiva (percepção sobre a sua própria saúde)
sejam piores.
Se no que respeita à mortalidade as diferenças entre os géneros são
bem conhecidas, estando claro que a esperança média de vida dos
homens é bastante inferior à das mulheres, na actualidade a nível internacional procura-se compreender, como Silva refere «em que medida
e como é que o género condiciona a saúde?» (SILVA, 1999). Por conseguinte, procuraremos compreender em que medida o género condiciona
ou não o acesso e a utilização da população imigrante oriunda dos
PALOP aos cuidados de saúde.
A utilização dos cuidados de saúde primários ou diferenciados entre a
população de origem africana é claramente superior nas mulheres por
comparação aos homens. Ambos os sexos apresentam valores de utilização consideravelmente elevados, no entanto, as diferenças percentuais entre eles são notórias. Ao nível dos cuidados de saúde primários,
93,4% das mulheres encontra-se inscrita e 90,4% utiliza estes serviços de saúde, enquanto que entre os indivíduos do sexo masculino em
ambos os aspectos se registam valores inferiores. Nos cuidados de
saúde diferenciados, embora os valores da utilização sejam pouco assimétricos entre os sexos, é evidente a superioridade da percentagem de
mulheres que já utilizou o hospital (87,4%) face à dos homens (81,2%).
Inês Martins Andrade
176
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 25 – Relação entre a Variável Sexo e a Utilização
dos Cuidados de Saúde, 2006
Cuidados de Saúde
Diferenciados
Cuidados de Saúde Primários
Sexo
Utilização (%)
Inscrito (%)
Já Utilizou (%)
Total Geral
(N.o)
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Feminino
93,4
6,6
90,4
9,6
87,4
12,6
100,0
Masculino
89,5
10,5
82,0
16,5
81,2
18,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Quanto ao local a que habitualmente recorrerem para a obtenção de cuidados de saúde identificam-se algumas disparidades entre os géneros,
que residem sobretudo no facto dos indivíduos do sexo masculino procurarem cuidados de saúde mais diversificados do que as mulheres. As
mulheres dirigem-se maioritariamente aos cuidados de saúde primários
(79,6%) seguido dos cuidados de saúde diferenciados (13,8%), assumindo
todos os restantes locais uma fraca expressividade percentual. Os indivíduos do sexo masculino, ainda que recorrendo predominantemente aos
centros de saúde e respectiva extensão (74,4%), seguida igualmente dos
hospitais (13,5%), revelam um padrão mais diversificado de locais para
a obtenção de cuidados de saúde. De facto, são os homens que habitualmente procuram clínicas privadas (2,3%), medicinas tradicionais (1,5%)
e que mais recorrem à farmácia (3,8%), ainda que estes serviços registem uma importância pouco significativa.
Homens
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
177
Não sabe/
/Não responde
Medicinas
Tradicionais
Mulheres
Farmácia
Clínica Privada
Hospital
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Centro/Extensão
de Saúde
Figura 43 – Locais a que Recorre Habitualmente para a Obtenção
de Cuidados de Saúde, por Sexo, 2006
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Os motivos para a obtenção de cuidados de saúde primários apresentam
um padrão muito diversificado em função do género, quer em número de
serviços quer no que trata às principais razões de utilização.
Figura 44 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários, por Sexo, 2006
Mulheres
Obter Receita Médica
Doença/Urgência
Vacinação
Tratamento
Consulta de Saúde Infantil
Consulta Saúde Materna
Consulta de Planeamento Familiar
Consulta de Especialidade
RMC de Diagnóstico
Consulta de Rotina
0,0
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Homens
Obter Receita Médica
Doença/Urgência
Vacinação
Tratamento
Consulta de Saúde Infantil
Consulta Saúde Materna
Consulta de Planeamento Familiar
Consulta de Especialidade
RMC de Diagnóstico
Consulta de Rotina
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Nos indivíduos do sexo feminino, a principal razão para a utilização dos
cuidados de saúde primários é a consulta de rotina (64,7%), seguida
dos motivos de doença/urgência (60,5%), da obtenção de receita médica
(49,1%), das consultas de planeamento familiar (32,3%), da realização
de tratamentos (20,4%), da consulta de saúde infantil (23,4%), da consulta de saúde materna (19,8%), da realização de meios complementares de diagnóstico (19,2%) e por fim das consultas de especialidade
(3,0%). Os indivíduos do sexo masculino apresentam um número de principais razões para a obtenção de cuidados de saúde primários mais circunscrito e com valores percentuais que lhes conferem uma ordem de
importância distinta. Com efeito, por ordem decrescente de relevância
estatística, os principais motivos que levam a que a população do sexo
masculino utilize os cuidados de saúde primários são as situações de
Inês Martins Andrade
178
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
doença/urgência (53,4%), consulta de rotina (46,6%), obtenção de receita
médica (36,1%), realização de tratamentos (22,6%), vacinação (20,3%),
realização de meios complementares de diagnóstico (14,3%) e consulta
de saúde infantil (6,0%).
Esta leitura desagregada por motivos de utilização do centro de saúde ou
respectiva extensão, segundo o sexo, permite-nos retirar três grandes
conclusões:
– As mulheres denotam uma maior cultura de promoção da
saúde e prevenção de doença do que os homens, uma vez
que as primeiras recorrem a estes serviços de saúde sobretudo para a realização de consultas de rotina enquanto que os
homens fazem-no essencialmente em situação de doença ou
urgência, quando já necessitam de tratamentos e assistência
médica.
– O planeamento familiar é exclusivamente procurado pelas
mulheres, do mesmo modo que as consultas de saúde materna
e de saúde infantil competem basicamente às mulheres. Este
facto deriva da própria cultura africana, marcada pela desvalorização do planeamento familiar e onde a vigilância durante a
gravidez com a saúde da mãe e do feto, assim como com a da
própria criança são da competência das mulheres, manifestando os homens, portanto, uma papel muito diminuto. Todavia, refira-se que se começam a esboçar novas tendências
nesta matéria, pois 6,0% dos homens respondeu utilizar os
cuidados de saúde primários para obter consultas de saúde
infantil.
– Por fim, note-se a diferença acentuada entre os valores percentuais de indivíduos de cada sexo que utilizam estes serviços
para vacinação. De facto, esta é uma preocupação predominantemente feminina, sendo que apenas um pequeno número
de indivíduos do sexo masculino afirmou utilizar estes serviços
com esta finalidade.
2.2.1.2. Idade
Várias investigações no domínio da saúde têm demonstrado como a
variável idade influência as atitudes, comportamentos e a própria saúde
dos indivíduos, bem como a frequência de consumo de cuidados de
saúde, na medida em que as idades estão associadas a diferentes necessidades. De seguida, procurar-se-á demonstrar como a variável idade
Inês Martins Andrade
179
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
influencia a utilização que a comunidade imigrante africana residente na
AML faz dos serviços de saúde e indirectamente o estado da sua saúde.
Tendo em conta os resultados ao nível da frequência da utilização dos
cuidados de saúde, verifica-se que associados aos grupos etários estão
frequências de utilização distintas, nos diversos níveis.
Tabela 26 – Frequência de Utilização dos Cuidados de Saúde,
por Grupos Etários (%), 2006
Frequência de Utilização dos Cuidados de Saúde Primários
Só uma
vez
por mês
Várias
vezes
durante
o ano
Uma
vez
por ano
Não
Menos
do que se aplica/
/Não
uma vez
por ano responde
Total
Geral
(N.o)
Diário
Semanal
쏜 Uma
vez
por mês
15 aos 20 anos
0,0
0,0
03,2
1,6
38,1
27,0
28,6
01,6
100,0
21 aos 64 anos
0,0
1,5
05,1
4,6
36,9
19,0
15,9
16,9
100,0
65 ou mais anos
0,0
2,4
14,3
4,8
59,5
02,4
04,8
11,9
100,0
Total Geral
0,0
1,3
06,0
4,0
40,3
18,3
17,0
11,7
100,0
Grupos Etários
Frequência de Utilização dos Cuidados de Saúde Diferenciados
Não
Menos
do que se aplica/
/Não
uma vez
por ano responde
Total
Geral
(N.o)
Grupos Etários
Várias
vezes
por mês
Só uma
vez
por mês
Várias
vezes
durante
o ano
Uma
vez
por ano
Entre
1 a 3 anos
쏜a3
anos
15 aos 20 anos
0,0
0,0
11,1
09,5
06,3
52,4
0,0
20,6
100,0
21 aos 64 anos
1,5
4,1
20,0
12,8
07,2
35,4
1,0
17,9
100,0
65 ou mais anos
0,0
2,4
35,7
11,9
21,4
21,4
2,4
04,8
100,0
Total Geral
1,0
3,0
20,3
12,0
09,0
37,0
1,0
16,7
100,0
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A frequência de utilização dos cuidados de saúde primários aumenta em
correlação com a idade, isto é, quanto mais avançada é a idade, maior
é a frequência de utilização. De facto, constata-se que na comunidade
imigrante em análise, nos indivíduos com idades compreendidas entre
os 15 e os 20 anos assim como entre os 21 e os 64 anos, a frequência de
utilização dominante é a de várias vezes durante o ano (38,1% e 36,9%,
respectivamente), seguida no caso do grupo etário mais jovem da frequência de menos do que uma vez por ano (28,6%) e posteriormente de
uma vez por ano (27,0%), enquanto que na população adulta, em segundo
lugar surge a frequência de uma vez por ano (19,0%) e posteriormente
aparece a frequência menos do que uma vez por ano (15,9%).
Inês Martins Andrade
180
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Ainda que já se esboçando uma diferença indicativa do aumento da frequência com a idade, esta torna-se mais evidente no caso da população
com 65 ou mais anos. Efectivamente, a população idosa apresenta como
principal frequência de utilização destes serviços, várias vezes por ano
(59,5%), à qual se segue, mas com uma diferença consideravelmente
inferior, uma frequência superior a uma vez por mês (14,3%) e em terceiro lugar, com os mesmos valores percentuais, as frequências só uma
vez por mês (4,8%) e menos do que uma vez por ano (4,8%).
A leitura da frequência dominante por grupos etários no quadro dos cuidados de saúde diferenciados decalca novamente esta tendência de
aumento da utilização num menor espaço de tempo em função da idade.
Por conseguinte, constata-se que na população entre os 15 e os 20 a frequência de utilização dominante é a de superior a 3 anos (52,4%), distanciando-se de forma acentuada de todas as outras frequências possíveis,
pois a que ocupa o segundo lugar regista já um valor percentual muito
inferior (várias vezes durante o ano, 11,1%). Ao nível da população com
idades compreendida entre os 21 e os 64 anos de idade, a frequência de
utilização do hospital mais importante é a de superior a três anos (35,4%),
no entanto, com uma menor diferença estatística relativamente à frequência que surge em segundo lugar (várias vezes durante o ano, 20,0%).
Comparativamente com o grupo etário anterior, o modelo de utilização
do hospital da população idosa ilustra uma frequência muito distinta,
uma vez que desde logo a tipologia de frequência que assume maior
relevância é a de várias vezes durante o ano (35,7%), seguida com uma
pequena margem de diferença da utilização efectuada entre 1 a 3 anos
(21,4%) e da superior a 3 anos (21,4%), assumindo ainda uma expressividade notória a utilização efectuada uma vez por ano (11,9%). Deste
modo, evidencia-se que quanto maior é a idade, mais frequente é a utilização que a população imigrante africana faz dos cuidados de saúde
primários e diferenciados.
A análise da questão das vacinas segundo os grupos etários possibilita
também obter resultados relevantes da comunidade africana a residir na
AML. À medida que subimos na escala da idade da população inquirida,
observa-se uma diminuição da proporção de imigrantes africanos ou
seus descendentes com boletim de vacinas. Se entre a população jovem
praticamente o universo dos inquiridos (98,4%) tem boletim de vacinas,
na população adulta esse valor é claramente inferior (69,7%) e entre a
população idosa são ainda mais reduzidos (59,5%).
Inês Martins Andrade
181
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 45 – Indivíduos Com/Sem Boletim de Vacinas, por Grupos Etários (%), 2006
Total Geral
65 ou mais anos
21 aos 64 anos
15 aos 20 anos
0,0
20,0
40,0
Tem Boletim de Vacinas
60,0
80,0
100,0
120,0
Não Tem Boletim de Vacinas
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A mesma constatação é verificada quanto ao facto de se ter ou não as
vacinas em dia, pois na população com idades entre os 15 e os 20 anos,
85,7% tem as vacinas em dia, enquanto que entre a população adulta,
apenas 56,9% da amostra afirmou ter as vacinas em dia e ao nível da
população idosa é de salientar que a grande maioria dos indivíduos não
tem vacinas em dia (64,3%).
Figura 46 – Indivíduos Com/Sem Vacinas em Dia, por Grupos Etários (%), 2006
Total Geral
65 ou mais anos
21 aos 64 anos
15 aos 20 anos
0,0
20,0
40,0
Tem Vacinas em Dia
60,0
80,0
100,0
120,0
Não Tem Vacinas em Dia
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Esta leitura não pode ser seguramente efectuada à margem da própria
cultura da comunidade africana e da sua naturalidade. Por outras palavras, o facto dos indivíduos com mais idade terem vivido durante mais
tempo em países africanos desprovidos ou com reduzidos programas e
campanhas de vacinação, explica que esta população não tenha determinados hábitos de promoção da saúde e prevenção da doença, e como tal,
não revele este tipo de preocupações. Pelo contrário, a população mais
Inês Martins Andrade
182
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
jovem, mesmo que não tenha naturalidade portuguesa, o facto de na sua
frequência escolar ter de apresentar obrigatoriamente boletim de vacinas, tendo estas de se encontrar em dia, explica as elevadas percentagens observadas.
Deste modo, ainda que as diferenças neste contexto sejam delineadas
segundo os grupos etários, a sua compreensão e fundamentação não
pode ser desprovida de outras variáveis como sendo a nacionalidade,
a naturalidade ou até mesmo o número de anos vividos em Portugal.
2.2.1.3. Nacionalidade
A nacionalidade dos indivíduos constitui uma das suas características
imutáveis que condiciona o acesso e a utilização aos cuidados de saúde,
independentemente das decisões políticas e das orientações seguidas
pelos governos.
A tabela seguinte, relativa aos locais a que os imigrantes africanos
recorrem habitualmente para a obtenção de cuidados de saúde, permite identificar precisamente algumas especificidades no tipo de serviços procurados associadas à sua nacionalidade. Com efeito, verifica-se
que as comunidades angolanas e guineenses são as que apresentam o
padrão de serviços procurados mais circunscrito, reduzindo-se a sua utilização dos cuidados de saúde essencialmente à utilização dos centros
de saúde ou extensões e ao hospital. As restantes nacionalidades consideradas apresentam um padrão de cuidados de saúde mais amplo, pois
para além dos cuidados de saúde primários e diferenciados procuram
habitualmente também clínicas médicas privadas, medicinas tradicionais, farmácia, entre outras.
Inês Martins Andrade
183
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 27 – Locais a que Recorre Habitualmente para a Obtenção
de Cuidados de Saúde, por Nacionalidade (%), 2006
Locais onde recorre habitualmente
Farmácia
Não sabe/
/Não
responde
Outra
Total
Geral
00,0
0,0
0,0
100,0
02,7
3,4
0,0
100,0
0,0
00,0
0,0
9,1
100,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
100,0
80,5
11,0
1,2
03,7
3,7
0,0
100,0
65,8
21,1
0,0
2,6
02,6
7,9
0,0
100,0
77,3
13,7
1,3
1,0
03,0
3,3
0,3
100,0
Centro
de Saúde/
/Extensão
Hospital
Clínica
Privada
Angolana
94,1
05,9
0,0
Cabo-verdiana
77,6
13,6
2,0
Guineense
72,7
18,2
Moçambicana
60,0
Portuguesa
São-Tomense
Nacionalidades
Total Geral
Medicinas
Tradicionais
0,7
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Não obstante, esta diferença entre as diversas nacionalidades consideradas, emergem pontualmente outras disparidades que importam referir.
Uma delas consiste em notar-se que apenas os cidadãos de nacionalidade portuguesa procuram as clínicas médicas privadas para a obtenção
de cuidados de saúde. De facto, a obtenção da nacionalidade portuguesa
também ao nível da procura dos cuidados de saúde manifesta relevância,
pois confere aos indivíduos uma maior segurança, que não os faz recear
recorrerem aos cuidados médicos.
O segundo aspecto, reside no facto de somente os indivíduos de nacionalidade cabo-verdiana e são-tomense terem referido a procura e utilização habitual de medicinas tradicionais. A procura de medicinas tradicionais está associada não apenas à busca de plantas tradicionais para
fins terapêuticos, como tem também toda uma carga social, simbólica
e emocional, que leva a que os médicos tradicionais continuem a ser
procurados (MENESES, 2000). Através de interlocutores privilegiados
nas unidades em análise confirmou-se que vários imigrantes africanos recorrem de forma continuada à procura deste tipo de cuidados de
saúde, não só em Portugal, junto de conterrâneos residentes no próprio
bairro, que cultivam alguns elementos da flora tropical rica do ponto
de vista farmacológico, mas igualmente quando se deslocam aos seus
países de origem.
Em terceiro lugar, verifica-se uma preponderância díspar da não utilização dos cuidados de saúde primários segundo as nacionalidades. É entre
Inês Martins Andrade
184
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
os cidadãos nacionais de Moçambique que se registam as maiores respostas de não utilização deste nível de cuidados de saúde (40,0% não utiliza). Entre a população de nacionalidade guineense somente 18,2% não
os utiliza, no âmbito da comunidade cabo-verdiana esse valor é de 15,0%,
enquanto que entre os cidadãos de nacionalidade são-tomense verificou-se que atinge apenas 13,2% e entre a população com nacionalidade
angolana registou-se o valor mais baixo de não utilização (11,8%).
Note-se que, uma vez mais, a população de origem africana com nacionalidade portuguesa regista um papel de destaque, pois constitui o grupo
onde a proporção da população que não utiliza estes serviços de saúde
regista o valor estatístico menos significativo (6,1%). Por conseguinte,
pode-se afirmar que ao nível da utilização dos cuidados de saúde, em
particular, naqueles em que se deve registar uma maior proximidade
com a população, existem disparidades segundo a nacionalidade, manifestando um papel importante o facto desta população imigrante ter ou
não a nacionalidade portuguesa.
Figura 47 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo a Nacionalidade (%), 2006
100,0
80,0
60,0
40,0
Sim
Não
Total Geral
Santomense
Portuguesa
Moçambicano
Guineense
Cabo-verdiana
0,0
Angolana
20,0
Não se aplica
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Em quarto lugar, constata-se que no que trata às duas principais razões
de utilização dos cuidados de saúde primários identificadas no conjunto
da população de origem africana (a realização de consultas de rotina ou
as situações de doença/urgência), existem ligeiras diferenças segundo
a nacionalidade.
De facto, os cidadãos nacionais de Cabo Verde e da Guiné-Bissau apresentam um perfil distinto. Enquanto que entre a comunidade guineense,
a procura dos cuidados de saúde primários por motivos de consultas de
rotina e de doença/urgência regista precisamente a mesma importância
Inês Martins Andrade
185
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
estatística, a comunidade cabo-verdiana apresenta-se como a única em
que a utilização do centro de saúde é efectuada predominantemente em
situação de doença/urgência, registando a procura para realização de
consultas de rotina um papel secundário, sendo procurado por 49,7%
dos indivíduos com esta nacionalidade.
Figura 48 – Principais Razões para a Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo a Nacionalidade (%), 2006
Total Geral
Santomense
Portuguesa
Moçambicano
Guineense
Cabo-verdiana
Angolana
0%
20%
40%
Consultas de Rotina
60%
80%
100%
Doença/Urgência
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
2.2.2. Características Mutáveis dos Utentes
As especificidades individuais ditas mutáveis são aquelas que podem
ser, de algum modo, manipuladas, e que também condicionam o acesso
e a utilização aos cuidados de saúde. Dada a diversidade de características mutáveis com particular interesse para esta investigação, seleccionaram-se duas, o nível de instrução e a profissão, por consistirem em
variáveis mais fáceis de obter durante a aplicação da metodologia quantitativa, mas também por registarem particular importância no caso da
comunidade africana residente em Portugal que apresenta, em geral,
o perfil muito fragilizado no que trata aos estudos e à profissão que
desenvolve.
2.2.2.1. Nível de Instrução
A contínua instrução da população constitui hoje um factor fundamental
para o desenvolvimento dos países. Todavia, em países menos desenvolvidos, marcados por uma forte instabilidade política e fraco crescimento
económico, os investimentos no sector público da educação persistem
reduzidos, o que se repercute no potencial da sua própria população
em termos de conhecimentos. As ex-colónias portuguesas são um bom
Inês Martins Andrade
186
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
exemplo desta realidade, uma vez que as últimas décadas têm sido
marcadas por uma forte instabilidade política, económica e social, na
sequência dos processos de independência. Por conseguinte, os imigrantes oriundos destes países africanos ilustram com nitidez este perfil, no que concerne às habilitações escolares.
Nas unidades de análise, em termos médios, constata-se a preponderância percentual do terceiro ciclo do ensino básico (29,7%) seguida do
primeiro ciclo do ensino básico (24,3%). Porém, a proporção de indivíduos que não sabe ler nem escrever regista entre esta população uma
elevada expressividade (17,7%). Com níveis de instrução mais elevados, surgem valores mais reduzidos, pois somente 16,7% tem o ensino
secundário e apenas uma pequena parcela da população, estatisticamente insignificativa frequenta um nível de ensino superior.
Tabela 28 – Nível de Instrução da População Proveniente dos PALOP,
por Bairro (%), 2006
Nível de Instrução
Unidade
de Análise
o
Não Sabe
1. Ciclo
Sabe Ler
Ler nem
do Ensino
e Escrever
Escrever
Básico
2.o Ciclo
do Ensino
Básico
3.o Ciclo
Ensino
Ensino
do Ensino
Superior
Secundário
Básico
Incompleto
Total
Geral
Alta de Lisboa
00,0
0,0
26,7
08,3
36,7
26,7
1,7
100,0
Bairro Amarelo
16,7
1,7
25,0
06,7
25,0
23,3
1,7
100,0
Quinta da Princesa
16,7
0,0
21,7
11,7
36,7
13,3
0,0
100,0
Quinta da Serra
30,0
5,0
25,0
03,3
23,3
11,7
1,7
100,0
Santa Filomena
25,0
3,3
23,3
11,7
26,7
08,3
1,7
100,0
17,7
2,0
24,3
08,3
29,7
16,7
1,3
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Uma avaliação desagregada à escala da unidade de análise coloca em
evidência um forte contraste entre os bairros de realojamento e os bairros de barracas. De facto, verifica-se que nos bairros de habitação social,
o perfil da população decalca o apresentado em termos médios para o
conjunto das áreas de estudo (preponderância do terceiro ciclo do ensino
básico seguida do primeiro ciclo do ensino básico), com uma pequena
diferença no caso do Bairro Amarelo, onde os valores percentuais destes níveis são exactamente iguais. Porém, os dois aglomerados de alojamentos não clássicos denotam outro perfil, com traços ainda mais
negativos, uma vez que os valores estatisticamente mais significativos
ocorrem entre a população que não sabe ler nem escrever (Quinta da
Serra, 30,0% e Santa Filomena 25,0%), seguida no caso do Bairro do
Inês Martins Andrade
187
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Prior Velho pela escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico (25,0%)
e no caso do aglomerado da freguesia da Mina, pelo terceiro ciclo do
ensino básico (26,7%). Tratam-se assim de níveis de escolaridade consideravelmente reduzidos, o que acaba por se reflectir ao nível do próprio
acesso e utilização aos cuidados de saúde.
A análise das principais razões que levam os indivíduos a procurar os
cuidados de saúde, ainda que não revelando grandes disparidades por
nível de instrução, verifica-se uma particularidade. De facto, ao nível dos
cuidados de saúde primários a utilização dos serviços de saúde para realização de consulta de especialidade é tanto maior quanto mais elevado
é o nível de instrução, como se percebe pela figura seguinte. Assim, são
apenas os indivíduos com níveis de escolaridade igual ou superior ao terceiro ciclo do ensino básico que procuram estes serviços, mais concretamente, verifica-se que 2,2% da população com o terceiro ciclo do ensino
básico, 6,0% com o ensino secundário e 25,0% com o ensino superior
utilizam os serviços de saúde primários por esta razão.
Figura 49 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários para Obtenção
de Consulta de Especialidade, por Nível de Instrução (%), 2006
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1.º Ciclo
do Ensino
Básico
2.º Ciclo
do Ensino
Básico
3.º Ciclo
do Ensino
Básico
Ensino
Secundário
Sim
Ensino
Superior
Incompleto
Não sabe
ler nem
escrever
Sabe ler
e escrever
Total Geral
Não
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A análise da existência de vacinas em dia segundo o nível de escolaridade,
permite também identificar a existência de uma relação entre estes dois
aspectos, pois quanto mais elevado é o nível de escolaridade da população imigrante africana e dos seus descendentes maior é o valor relativo
de indivíduos com as vacinas em dia. Deste modo, regista-se uma oscilação que vai desde 37,7%, que corresponde aos indivíduos que não sabem
ler nem escrever até ao valor mais elevado (100,0%) que corresponde
aos indivíduos que estão a completar o ensino superior. A única excepInês Martins Andrade
188
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
ção ocorre entre a população que não sabe ler nem escrever e a que
sabe ler e escrever, no entanto, por ambas representarem uma ausência
de escolaridade, este facto não manifesta particular atenção.
Tabela 29 – Indivíduos Com e Sem Vacinas em Dia, por Nível de Instrução (%), 2006
Nível de Instrução
Tem Vacinas
em Dia
Não Tem
Vacinas
em Dia
Não responde/
/Não se aplica
Total
Geral
Não sabe ler nem escrever
37,7
62,3
0,0
100,0
Sabe ler e escrever
33,3
66,7
0,0
100,0
1.o Ciclo do Ensino Básico
49,3
50,7
0,0
100,0
2.o
Ciclo do Ensino Básico
64,0
36,0
0,0
100,0
3.o Ciclo do Ensino Básico
71,9
28,1
0,0
100,0
Ensino Secundário
76,0
22,0
2,0
100,0
Ensino Superior Incompleto
100,0
0,0
0,0
100,0
Total Geral
60,0
39,7
0,3
100,0
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Considerando os resultados apresentados, é possível afirmar que no
caso particular da população africana residente na AML, os seus níveis
de instrução condicionam o seu acesso aos cuidados de saúde, pois a
níveis de escolaridade mais elevados estão associados tipologias de utilização dos cuidados de saúde nitidamente mais elevadas.
2.2.2.2. Actividade Profissional
O padrão de actividades profissionais dominante entre a população imigrante dos PALOP e os seus descendentes encontra-se estreitamente
articulado com os seus níveis de escolaridade. Da população inquirida
constatou-se que, no que se aplica à situação perante o trabalho, quase
metade é activa (46,7%), no entanto, a proporção de indivíduos em situação de desemprego é consideravelmente elevada (20,7%). Em terceiro
lugar, destacam-se os indivíduos que se encontram a estudar (17,7%),
valores estes que ilustram a proporção de indivíduos questionados com
idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. Para além destes grandes grupos de situações perante o trabalho, destaca-se ainda a situação
de reformado, que representa 11,7% da população inquirida, assumindo
todas as restantes situações uma diminuta expressividade estatística.
Inês Martins Andrade
189
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 30 – Situação dos Imigrantes dos PALOP perante o Trabalho,
por Bairro (%), 2006
Situação Perante o Trabalho
Unidade
de Análise
Outra
Total
Geral
11,7
0,0
100,0
0,0
21,7
0,0
100,0
13,3
0,0
16,7
0,0
100,0
20,0
13,3
0,0
28,3
1,7
100,0
3,3
11,7
15,0
0,0
25,0
0,0
100,0
2,7
17,7
11,7
0,3
20,7
0,3
100,0
Serviço
Desempregado
Militar
Activo
Doméstica
Alta de Lisboa
63,3
0,0
20,0
03,3
1,7
Bairro Amarelo
36,7
6,7
21,7
13,3
Quinta da Princesa
51,7
3,3
15,0
Quinta da Serra
36,7
0,0
Santa Filomena
45,0
46,7
Total Geral
Estudante Reformado
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Quanto à situação na profissão, a população inquirida activa é maioritariamente assalariada (95,1%), sendo que apenas 3,5% tem uma situação de patrão e 1,4% trabalha por conta própria. A situação na profissão
não exclusivamente assalariada ocorre na Alta de Lisboa e na Quinta da
Princesa.
A análise da inserção dos imigrantes africanos no mercado de trabalho
no contexto da AML tem por base as principais categorias consideradas na Classificação Nacional das Profissões, de 1994, do INE (Instituto
Nacional de Estatística).
As actividades que registam maior relevância são as dos trabalhadores
não qualificados, mais precisamente, a dos trabalhadores não qualificados dos serviços e do comércio (18,0%) devido, sobretudo, há preponderância que os serviços domésticos assumem entre os indivíduos do sexo
feminino, e os trabalhadores não qualificados das minas, da construção
e obras públicas (15,3%), da indústria transformadora e dos transportes,
o que resulta do elevado número de indivíduos do sexo masculino que
se encontram a trabalhar no sector da construção civil e obras públicas.
Com valores menos expressivos, mas constituindo a terceira actividade
mais relevante, encontra-se o pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança (8,3%), muito associado há predominância
do trabalho das mulheres africanas em restaurantes e cafés, enquanto
cozinheiras ou ajudantes. As restantes actividades profissionais assumem uma reduzida relevância percentual.
A população imigrante de origem africana, no território da AML, encontra-se assim predominantemente associada a profissões socialmente
Inês Martins Andrade
190
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
desvalorizadas pela população autóctone e pouco atraentes para os
jovens, mesmo entre os descendentes de imigrantes, uma vez que são
em geral mal remuneradas, muito exigentes do ponto de vista físico, com
horários de trabalho desfasados das restantes actividades em geral. Este
padrão de profissões é consequência de níveis de escolaridade e formação profissional diminutos, mas também da própria condição de imigrantes que, muitas vezes, desprovidos de capacidade económica ou de
uma situação legal regular, conduz esta população para as profissões
recusadas pela população autóctone.
Tabela 31 – Actividade Profissional da População Imigrante dos PALOP,
por Bairro (%), 2006
Bairros de Residência
Classificação Nacional de Profissões
Alta
Bairro
Quinta
Quinta
de Lisboa Amarelo da Princesa da Serra
Santa
Filomena
Total
Geral
4.2. Empregados de recepção, caixas, bilheteiros
e similares
1,7
6,7
0,0
1,7
0,0
2,0
5.1. Pessoal dos serviços directos e particulares,
de protecção e segurança
16,7
8,3
6,7
1,7
8,3
8,3
8.3. Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis
3,3
0,0
0,0
1,7
1,7
1,3
9.1. Trabalhadores não qualificados dos serviços
e comércio
21,7
11,7
23,3
18,3
15,0
18,0
9.3. Trabalhadores não qualificados das minas,
da construção e obras públicas, da indústria
transformadora e dos transportes
16,7
6,7
20,0
11,7
21,7
15,3
3,3
3,3
1,7
5,0
0,0
7,1
36,7
63,3
48,3
60,0
53,3
52,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Outra
Não se aplica
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A análise do local de trabalho da população-alvo activa por bairro permite-nos compreender a amplitude dos movimentos pendulares 8 no
contexto da AML. É para o concelho de Lisboa que converge o maior
número de trabalhadores imigrantes africanos (24,0%), o que confirma
a importância que este concelho continua a assumir em termos de oferta
de emprego. Contudo, associado ao sector da construção civil e das
obras públicas, regista-se também uma mobilidade para fins de trabalho
por todo o contexto metropolitano e até mesmo à escala do país.
8. Os movimentos pendulares aqui considerados são exclusivamente relativos à população com uma situação perante o trabalho activa.
Inês Martins Andrade
191
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 32 – Local de Trabalho da População Imigrante dos PALOP,
por Bairro (%), 2006
Locais de Trabalho
Unidade
de Análise
Todos
Outro
Todo
NS/NR
Almada Amadora Lisboa Loures Seixal Concelho os Concelhos
o País
da AML
da AML
Total
Geral
Alta de Lisboa
00,0
00,0
45,0
08,3
00,0
08,3
1,7
0,0
36,7
100,0
Bairro Amarelo
20,0
01,7
10,0
00,0
01,7
01,7
0,0
1,7
63,3
100,0
Quinta da Princesa
01,7
01,7
28,3
00,0
10,0
06,7
1,7
1,7
48,3
100,0
Quinta da Serra
00,0
00,0
21,7
10,0
00,0
01,7
1,7
1,7
63,3
100,0
Santa Filomena
00,0
13,3
15,0
00,0
00,0
10,0
0,0
8,3
53,3
100,0
04,3
03,3
24,0
03,7
02,3
05,7
1,0
2,7
53,0
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
O cruzamento da actividade profissional da população imigrante africana
com os cuidados de saúde, permite retirar algumas conclusões indicativas do modo como o factor profissão condiciona a utilização dos serviços de saúde. É entre os empregados de recepção, caixas, bilheteiras
e similares, mas também entre os condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis que ocorre a maior
proporção de não utilização dos cuidados de saúde primários (16,7%
e 25,0%, respectivamente).
Ainda que vários factores possam concorrer para a fundamentação desta
realidade estatística, o facto do primeiro não constituir uma profissão
tão exigente para a saúde, ser desempenhada por uma população mais
jovem, e no caso da segunda actividade profissional, o facto de lhe estar
associada uma forte mobilidade geográfica, ajudam a compreender a
sua menor utilização.
Inês Martins Andrade
192
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 33 – Utilização dos Cuidados de Saúde Primários,
segundo a Actividade Profissional (%), 2006
Cuidados de Saúde Primários
Classificação Nacional de Profissões
Total
Geral
Utiliza
Não
Utiliza
Não
Aplica
4.2. Empregados de recepção, caixas, bilheteiros
e similares
83,3
16,7
00,0
100,0
5.1. Pessoal dos serviços directos e particulares,
de protecção e segurança
88,0
12,0
00,0
100,0
8.3. Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis
75,0
25,0
00,0
100,0
9.1. Trabalhadores não qualificados dos serviços
e comércio
85,2
14,8
00,0
100,0
9.3. Trabalhadores não qualificados das minas,
da construção e obras públicas, da indústria
transformadora e dos transportes
87,0
10,9
02,2
100,0
Outra
75,0
12,5
12,5
100,0
Não se aplica
87,9
12,1
00,0
100,0
86,7
12,7
00,7
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
De igual modo, também o cruzamento da actividade profissional com as
principais razões para a utilização dos cuidados de saúde primários, evidencia como a profissão se encontra associada a determinados padrões
de utilização dos serviços de saúde. Recorrendo a duas das principais
razões, cuja utilização é indicativa de uma cultura de promoção da saúde
e prevenção da doença (as consultas de rotina e a realização de meios
complementares de diagnóstico), verifica-se uma menor procura dos
cuidados de saúde primários por estas razões associada às profissões
mais desqualificadas.
De facto, são os empregados de recepção, caixas, bilheteiras e similares
os que registam maior procura dos cuidados de saúde primários para
realização de consultas de rotina (83,3%), enquanto que os trabalhadores
não qualificados das minas, da construção e obras públicas, da indústria
transformadora e dos transportes os que apresentam menor utilização
destes serviços de saúde por esta razão (45,7%). De um modo geral,
observa-se uma correspondência hierárquica entre a actividade profissional de acordo com a CNP e a utilização dos serviços médicos de nível
primário por este motivo.
Inês Martins Andrade
193
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 50 – Procura dos Cuidados de Saúde Primários para realização de Consulta
de Rotina, segundo a Actividade Profissional (%), 2006
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
4.2.
5.1.
8.3.
9.1.
9.3.
Empregados
Pessoal
Condutores
Trabalhadores Trabalhadores
de recepção,
dos serviços
de veículos
não qualificados não qualificados
caixas, bilheteiros
directos
e embarcações
dos serviços
das minas,
e similares
e particulares,
e operadores
e comércio
da construção
de protecção de equipamentos
e obras públicas,
e segurança
pesados móveis
da indústria
transformadora
e dos transportes
Sim
Não
Total Geral
Não se aplica
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Efectuando o mesmo tipo de análise comparativa, quanto à realização
de meios complementares de diagnóstico como razão de utilização dos
serviços de saúde primários, identificam-se algumas diferenças comparativamente à leitura anterior, pois é ao nível dos trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio que se registam os valores percentuais
mais elevados de utilização dos cuidados de saúde primários para realização de meios complementares de diagnóstico (18,5%).
Esta constatação resulta, em grande medida, do facto destes trabalhadores não qualificados serem, na sua maioria, indivíduos do sexo feminino e, como tal, associada à vigilância na gravidez, acabam por utilizar
de forma mais significativa os cuidados de saúde primários. Com excepção deste aspecto, a análise da figura seguinte ilustra no seu todo uma
leitura coincidente com a efectuada anteriormente para as consultas de
rotina, isto é, aos grupos de profissões melhor posicionados segundo a
Classificação Nacional das Profissões correspondem maiores percentagens de utilização por este motivo.
Inês Martins Andrade
194
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 51 – Procura dos Cuidados de Saúde Primários para a Realização
de Meios Complementares de Diagnóstico, segundo a Actividade Profissional (%), 2006
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
4.2.
5.1.
8.3.
9.1.
Empregados
Pessoal
Condutores
Trabalhadores
de recepção,
dos serviços
de veículos
não qualificados
caixas, bilheteiros
directos
e embarcações
dos serviços
e similares
e particulares,
e operadores
e comércio
de protecção de equipamentos
e segurança pesados móveis
Sim
Não
9.3.
Trabalhadores
não qualificados
das minas,
da construção
e obras públicas,
da indústria
transformadora
e dos transportes
Total Geral
Não se aplica
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
2.3. Principais Barreiras ao Acesso e Utilização Percepcionadas
pela População Imigrante
Concomitantemente à análise das condicionantes da oferta e da procura
ao acesso e utilização dos cuidados de saúde, importa efectuar uma
análise das principais barreiras que limitam ou dificultam esse mesmo
acesso, mas que são percepcionadas como tal pela própria população
imigrante africana. Assim, quando confrontadas directamente com a
questão sobre quais os aspectos que estas consideravam que no passado ou ainda no presente limitam ou impedem que estas beneficiem
dos serviços de saúde, apesar da multiplicidade de factores apresentados (muitos dos quais passíveis de se considerarem condicionantes da
oferta ou da procura) foi possível identificar um conjunto de barreiras
mais relevantes, atendendo à quantidade de vezes que foram mencionadas, que são as seguintes:
– De acordo com o apurado, o factor que mais condiciona o
acesso e a utilização da população imigrante de origem africana aos cuidados de saúde é a existência de grandes listas de
espera (56,0%). Este é de facto um factor muitas vezes apontado pela própria população portuguesa, tal como muitos estudos têm demonstrado. Porém, tratando-se de uma população
imigrante assume ainda maior ênfase, uma vez que quando
Inês Martins Andrade
195
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
interligado a múltiplas situações de vulnerabilidade, levam a
que esta população, usualmente, opte por não utilizar os cuidados de saúde, adiando situações pouco complicadas, até
estas constituírem situações de urgência e de avançado estado
de doença.
– As dificuldades económicas foram mencionadas por 40,0% dos
imigrantes inquiridos. Tratando-se de uma população economicamente vulnerável, dada a acentuada incidência das situações de desemprego ou de emprego precário, a escassez de
recursos financeiros obriga a uma racionalização imperiosa.
Consequentemente, esta população acaba usualmente por evitar um conjunto de despesas entre as quais passam as ligadas
ao sector da saúde, o que na prática se traduz por um acesso
e utilização dos cuidados de saúde quase exclusivamente em
situações de doença.
– Em terceiro lugar, o aspecto que mais limitou ou continua a
dificultar o acesso e respectiva utilização desta população aos
cuidados de saúde consiste no facto de no seu país de origem
não ser muito usual irem ao médico (31,3%). Efectivamente,
pela situação económica, política e social muito instável e frágil, os PALOP não têm realizado grandes investimentos no
domínio da saúde, persistindo ao longo de décadas grandes
lacunas, que obrigam muitos dos seus habitantes a terem de
procurar cuidados de saúde em países mais desenvolvidos.
Essa ausência de investimento vai desde os cuidados de saúde
mais elementares, como sendo as campanhas de vacinação,
o que explica que persistam nestes países doenças há muito
erradicadas de países como Portugal. Deste modo, a população natural dos PALOP não apresenta grandes hábitos de consumos de serviços de saúde e prevenção da doença.
Posteriormente, surgem nesta hierarquia três factores, com valores percentuais muito semelhantes entre si, com a particularidade de serem no
seu conjunto relativos às características do próprio SNS. Estes consistem na falta de informação sobre o SNS (26,3%), burocracias inerentes
ao SNS (25,3%) e horário de funcionamento sobre o SNS (23,7%). Estes
são factores certamente não exclusivos da comunidade de imigrantes
em estudo, no entanto, uma vez mais quando associados à condição de
imigrante, estes aspectos adquirem uma maior dimensão, pois como é
compreensível, um sistema burocrático ou com insuficiência de informação condiciona mais o acesso e utilização de uma população estrangeira,
quer por não dominar a língua, quer porque tem maiores dificuldades
Inês Martins Andrade
196
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de mobilidade, etc. Para além disso, estes imigrantes desempenham
essencialmente actividades profissionais marcadas por horários muito
exigentes, e pela ausência durante longos períodos da sua área de residência e assim o seu acesso e utilização acaba por ser muito dificultado.
Embora a população em estudo seja proveniente de países de língua
oficial portuguesa, a coexistência de vários dialectos leva a que muitos
imigrantes não falem português fluentemente, daí a que 16,0% destes
tenham referido a língua como barreira ao seu acesso e utilização dos
serviços médicos. Porém, trata-se de uma realidade particularmente
oscilante em função do grupo etário em questão, pois enquanto que
entre a população jovem, ninguém apontou este aspecto, este foi no
entanto referido por 16,4% da população adulta, e manifestou particular
relevância na população idosa (38,1%). De salientar que este factor não
apresenta uma relação significativa com o número de anos vividos em
Portugal, sendo disso comprovativo o facto de entre a população idosa,
este ser um factor transversal aos que chegaram em 2006 como aos que
vivem em Portugal há várias décadas, o que resulta destas populações
viverem o seu quotidiano inseridas na sua própria comunidade (quer em
termos de áreas de residência quer nos próprios trabalhos), acabando
por utilizar essencialmente os seus dialectos.
Outras das barreiras mais mencionadas foram o estatuto de indocumentado (12,7%) e desconhecimento dos seus direitos e deveres (12,3%). Tratam-se de factores particularmente relevantes nos primeiros anos após
a chegada ao país de destino, num processo de integração na sociedade
de acolhimento, durante os quais existe uma panóplia receios resultante
da insegurança pela situação de irregularidade perante a lei e desconhecimentos, não obstante o crescente apoio das redes sociais. Deste modo,
compreende-se que sejam os imigrantes africanos que chegaram mais
recentemente a Portugal (ao longo da década de noventa e desde 2000
até à actualidade) aqueles que mais mencionam estes dois factores.
A desadaptação dos cuidados de saúde do SNS, em geral, à cultura africana é referida por 11,0% dos imigrantes. O facto do SNS não se encontrar orientado para as especificidades culturais, condiciona o acesso
e utilização dos imigrantes. Porém, começam a esboçar-se algumas
sensibilidades para com este factor, o que na prática tem levado, por
exemplo, a que na prestação de determinados cuidados de saúde se
recorra, cada vez mais, a profissionais de saúde naturais destes países,
na medida em que constituem intermediários privilegiados na resolução
de algumas questões, sendo disso bons exemplos o Centro de Saúde do
Lumiar ou o próprio CNAI (Centro Nacional de Apoio ao Imigrante).
Inês Martins Andrade
197
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A estes aspectos, acresce ainda uma bateria de outros sete factores condicionadores do acesso e respectiva utilização dos cuidados de saúde do
SNS pela população imigrante, no quadro geográfico da AML. Contudo,
atendendo a uma menor expressividade estatística (a percentagem de
indivíduos que os referiu foi inferior a 10,0% do universo da amostra), não
se justifica uma análise detalhada, não invalidando por isso que sejam
tomados em consideração.
Figura 52 – Factores que Condicionam o Acesso/Utilização da População Inquirida
aos Cuidados de Saúde do SNS (%), 2006
Desadaptação aos princípios religiosos
Outra
Discriminação pelos profissionais de saúde
Dificuldades de mobilidade
Prestação Difet País de Origem
A entidade patronal não o deixa faltar/sair mais cedo
Distância aos serviços do SNS
Desadaptação à sua cultura
Desconhecimento dos seus direitos e deveres
Estatuto indocumentado
Dificuldades na língua
Horário de funcionamento do SNS
Burocracias inerentes ao SNS
Falta de informação sobre o funcionamento do SNS
No país de origem não era usual ir ao médico
Dificuldades económicas
Listas de espera
0,0
10,0
20,0
30,0
Sim
40,0
50,0
60,0
Não
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
198
70,0
80,0
90,0
100,0
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CAPÍTULO III – O ESTADO DA SAÚDE
DA POPULAÇÃO IMIGRANTE DOS PALOP NA AML
Nos últimos anos, entre a bibliografia publicada têm-se esboçado frequentemente a ideia de que os imigrantes africanos têm um estado de
saúde pior do que a população nacional. Associado a tal têm-se desenvolvido frequentemente ideias pré-concebidas de que esta população
ao imigrar para Portugal trás consigo um conjunto de patologias típicas
do seu país de origem, doenças sexualmente transmissíveis e inúmeras doenças infecto-contagiosas. Todavia, tal como muitos estudos têm
salientado, continua a persistir no nosso país uma escassa informação
sobre os problemas e necessidades de saúde desta população.
Por conseguinte, neste capítulo apresentaremos os principais resultados
em matéria de estado da saúde da população de origem africana a residir na AML, desde a sua chegada até à actualidade, de percepção que a
comunidade africana tem da sua própria saúde, segundo uma óptica evolutiva, e serão ainda apresentadas algumas das principais determinantes
para a saúde desta população.
1. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO
1.1. Análise do Estado da Saúde à Chegada a Portugal
Os imigrantes oriundos dos PALOP que residem na AML, escolhem
Portugal como país de destino, sobretudo, por razões de procura de
melhores condições de vida (23,0%), dada a ausência de grandes expectativas no seu país de origem.
Porém, imigram também com a finalidade de efectuarem o seu processo
de reunificação familiar (19,0%), porque após uma primeira fase em que
chegam essencialmente indivíduos do sexo masculino, progressivamente
estes tratam de tudo o que é necessário para poderem mandar vir a
família, concluindo-se assim uma das experiências mais traumáticas
para o imigrante: a separação da família.
O terceiro motivo consiste em procurar trabalho (16,0%), razão estreitamente articulada com a procura de melhores condições de vida. A persistência de ambientes sociais e políticos instáveis, o fraco investimento
estrangeiro e crescimento das economias destes países, leva muitos dos
seus habitantes a imigrar para encontrarem trabalho que lhe proporcione uma vida melhor.
Inês Martins Andrade
199
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A quarta principal razão de imigração para o nosso país é a realização de
tratamentos médicos, ainda que com uma proporção de respostas diminuta (6,0%). O facto de Portugal ser perspectivado como um país mais
desenvolvido, manifesta-se também quando o motivo de imigração é a
saúde, apoiada pela prática de uma língua comum.
A estes motivos acrescem ainda outros, embora estatisticamente menos
relevantes, nomeadamente, estudar (5,0%) ou fugir à guerra e à instabilidade política (5,0%).
Figura 53 – Motivos de Imigração para Portugal da População dos PALOP (%), 2006
7%
5%
6%
Estudar
5%
Fazer tratamentos médicos
19%
Fugir à guerra/
/instabilidade política
Procurar melhores
condições de vida
23%
Procurar trabalho
Reunificação familiar
19%
Não se aplica
Outra
16%
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
À chegada a Portugal, tal como apurado no trabalho de campo realizado,
a maioria dos imigrantes naturais dos PALOP que se encontram a residir
na AML não apresentam qualquer tipo de patologias (70,0%), enquanto
que apenas 12,0%, dos 300 indivíduos inquiridos, afirmaram ter alguma
doença (18,0% da população inquirida não se aplica esta questão, porque
nasceu em Portugal).
Uma análise desta realidade pela geografia do território metropolitano
evidencia algumas assimetrias entre os diferentes casos de estudo.
Embora em nenhuma das unidades de análise se identifique uma
expressividade muito significativa da população com doença à chegada a
Portugal, constata-se que Santa Filomena e a Quinta da Princesa assumem particular destaque, pois 16,7% e 15,0% dos indivíduos tinham
uma determinada patologia no momento em que chegaram a Portugal.
A Quinta da Serra apresenta uma proporção mais diminuta (13,0%) e na
Alta de Lisboa e no Bairro Amarelo esses valores são ainda mais modestos (5,0% e 10,0%, respectivamente).
Inês Martins Andrade
200
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Estes resultados vão de encontro ao apresentado em alguns estudos
norte-americanos, onde se demonstra que a população imigrante é a
chegada uma população forte e saudável, até porque num mundo onde
as barreiras à imigração são cada vez mais difíceis de ultrapassar, aqueles que conseguem efectuar todo o percurso, demonstram desde logo
uma capacidade física e um estado de saúde bastante positivo.
Figura 54 – Existência/Inexistência de Doença entre a População Inquirida
à Chegada a Portugal, por Bairro de Residência (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Tinha doença
Não tinha doença
Não se aplica
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Entre a diminuta percentagem de imigrantes que tinha alguma doença
à chegada a Portugal, as patologias mais comuns são as dores de estômago, os problemas na coluna e os problemas cardíacos. Entre os 244
imigrantes inquiridos (sendo que 56 nasceram em Portugal), apenas dois
tinham à chegada uma doença infecto-contagiosa e somente um tinha
uma doença tipicamente tropical.
Inês Martins Andrade
201
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
O bom estado de saúde dos cidadãos nacionais dos PALOP, em geral,
à chegada a Portugal residente na AML explica que estes não necessitem de receber assistência médica a curto prazo, daí a que a maioria só
efectue a sua primeira utilização dos cuidados de saúde na sociedade
de acolhimento alguns meses depois da chegada (26,0%) ou até mesmo
vários anos depois (24,3%). O facto do intervalo de tempo de dias entre
a chegada a Portugal e a obtenção de cuidados de saúde ocupar a terceira posição (15,7%) é resultante, sobretudo, da imigração de crianças
e jovens, que para poderem ingressar no sistema de ensino português
têm de apresentar, um conjunto de comprovativos médicos como sendo
o boletim de vacinas actualizado.
Uma análise detalhada à escala do bairro revela que nas unidades de
análise da Alta de Lisboa, Bairro Amarelo e Quinta da Serra, a maioria
da população imigrante leva alguns meses até utilizar pela primeira vez
os cuidados de saúde (35,0%, 25,0% e 31,7%, respectivamente), enquanto
que na Quinta da Princesa e em Santa Filomena os valores mais significativos apontam para um intervalo temporal de vários anos (28,3%
e 40,0%).
Tabela 34 – Intervalo de Tempo desde a Chegada a Portugal da População Imigrante
dos PALOP e a Primeira Utilização dos Cuidados de Saúde, por Bairro (%), 2006
Intervalo de Tempo
Unidade
de Análise
Dias
Alguns
Meses
1 Ano
2 Anos
Vários
Anos
Nunca
Foi
Não sabe/
/Não
responde
Total
Geral
Alta de Lisboa
06,7
35,0
10,0
0,0
15,0
3,3
30,0
100,0
Bairro Amarelo
16,7
25,0
03,3
1,7
15,0
1,7
36,7
100,0
Quinta da Princesa
16,7
23,3
10,0
0,0
28,3
8,3
13,3
100,0
Quinta da Serra
23,3
31,7
08,3
0,0
23,3
3,3
10,0
100,0
Santa Filomena
Total Geral
15,0
15,0
08,3
0,0
40,0
0,0
21,7
100,0
15,7
26,0
08,0
0,3
24,3
3,3
22,3
100,0
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
1.2. Diagnóstico Epidemiológico Actual
Várias investigações a nível internacional têm concluído que as más condições de vida, em geral, a que os imigrantes são sujeitos na sociedade
de acolhimento deteriora-lhes o estado de saúde, conduzindo ao aparecimento de doenças.
Inês Martins Andrade
202
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Do mesmo modo, constatou-se que, decorridos alguns anos desde a
chegada a Portugal, a população imigrante natural dos PALOP residente
na AML, registou em termos médios uma deterioração do seu estado de
saúde. De facto, verificou-se um aumento do número de indivíduos com
doenças diagnosticadas, pois se há chegada 70,0% não tinham qualquer
patologia e apenas 12,0% tinham, no momento da realização dos inquéritos, esses valores percentuais haviam variado consideravelmente, uma
vez que somente 46,0% não tinha conhecimento de sofrer de alguma
patologia, enquanto 36,0% afirmava ter algum problema de saúde (os
restantes 18,0% correspondem à população de origem africana com
naturalidade portuguesa).
A análise da existência de patologias segundo as unidades territoriais
seleccionadas no contexto metropolitano, evidencia um padrão relativamente semelhante entre elas. As realidades mais díspares ocorrem na
Quinta da Princesa, que apresenta o maior valor de imigrantes africanos com algum tipo de patologia identificada (46,7%) e na Alta de Lisboa,
que apresenta o menor valor relativo de indivíduos com alguma doença
diagnosticada (23,3%). Os restantes três bairros registam quantitativos
de imigrantes com algum problema de saúde estatisticamente muito
próximos, oscilando entre os 40,0% (Bairro Amarelo), os 43,3% (Santa
Filomena) e os 45,0% (Quinta da Serra).
Figura 55 – Existência/Inexistência de Doença entre a População
de Origem Africana na Actualidade (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Tem doença
Não tem doença
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
203
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
As principais tipologias de patologias identificadas entre os imigrantes
de origem africana e os seus descendentes, apresentam algumas semelhanças com as da população portuguesa, embora se registem algumas
especificidades.
Os principais problemas de saúde são os problemas cardíacos (7,0% dos
300 indivíduos). Neste domínio registou-se um considerável número de
imigrantes com problemas de hipertensão, o que constitui um factor de
risco relevante para o surgimento de outras doenças cardiovasculares
como a isquémia do coração ou os acidentes vasculares cerebrais (AVC).
Aos problemas de pressão arterial elevada juntam-se outros problemas
cardíacos mais graves, mas pouco significativos. Esta é uma patologia
incidente em populações jovens adultas (42,9%), mas sobretudo na população com mais de 65 anos de idade (52,4%), observando-se uma incidência residual entre a população jovem (4,8%).
Os problemas de ossos e o reumatismo surgem em segundo lugar na
tipologia de doenças, afectando 6,0% da população imigrante residente
na AML. Nesta classificação encontram-se algumas más formações ao
nível dos ossos, mas especialmente uma diversidade de doenças reumáticas, como as artroses e artrites reumatóides, entre outras que se
manifestam através da dor e limitação da mobilidade. Embora ainda
pouco conhecidas as causas das doenças reumáticas, sabe-se que estas
resultam da interacção de uma predisposição genética com factores
ambientais, entre os quais uma má alimentação e o facto de se estar
sujeito a infecções, em muito contribui para o seu desenvolvimento,
sendo os principais factores de risco a idade, obesidade, tabagismo,
ingestão de bebidas alcoólicas em excesso e ingestão de fármacos. As
duras condições de vida em geral e determinadas práticas laborais destas populações, bem como a exposição a gases nocivos à saúde e um
comportamento cultural marcado pela ingestão de bebidas alcoólicas,
podem assim ajudar a compreender a expressividade das doenças de
ossos e reumatismo. Neste sentido, compreende-se que estas doenças
sejam mais incidentes entre os indivíduos com idades compreendidas
entre os 21 e os 64 anos (66,7%).
Estatisticamente menos relevantes, a seguir a estes dois grupos de
doenças destacam-se a diabetes (4,0%), os problemas de visão (3,7%), os
problemas respiratórios e pulmonares e os problemas mentais, estes
dois últimos com a mesma importância relativa (3,0%).
A presença de elevados níveis de glicose no sangue (hiperglicemia) tem
uma causa, em geral genética, o que pode ajudar a compreender a
Inês Martins Andrade
204
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
expressividade percentual da diabetes, na medida em que uma vez identificada entre os imigrantes africanos a possibilidade dos seus descendentes a desenvolverem é potencialmente mais elevada. Esta atinge,
sobretudo, a população com idades compreendidas entre os 21 e os 64
anos (58,3%), seguida da população idosa (41,7%), não se registando
nenhuma situação de diabetes entre a população jovem.
Os problemas de visão, registados caracterizam-se essencialmente por
uma diminuição da capacidade de visão. A incidência desta patologia
por grupos etários revela ser maior na população idosa (54,5%) e toca
de forma acentuada a população jovem (27,3%), apresentando assim
um padrão semelhante ao da população autóctone com a mesma faixa
etária.
Do mesmo modo, os problemas respiratórios afectam, sobretudo, os
extremos da pirâmide etária (44,5% de população com idades entre os
15 e os 20 e 44,5% de população com 65 ou mais anos). Neste grupo
de patologias identificaram-se desde broncopatias, que constituem as
doenças dos brônquios como é o caso da asma e da bronquite, até às
pneumopatias, o que remete para as doenças pulmonares como é o caso
das neoplasias pulmonares, ainda que menos relevantes, os transtornos
respiratórios, entre outras. Para o aparecimento destas patologias em
muito têm contribuído as más condições de habitação a que esta população tem estado sujeita.
Com a mesma importância estatística, encontram-se os problemas
mentais, como sendo as deficiências mentais, as depressões, mas particularmente problemas associados ao consumo de álcool. Embora as
causas destes problemas de saúde sejam diversificadas, dificuldades
inerentes ao próprio processo imigratório e de integração social na
sociedade de acolhimento, o isolamento e afastamento da família, assim
como a frustração gerada pelo insucesso das suas expectativas, conduzem frequentemente os imigrantes a situações de depressão ou refugio
no álcool, tal como várias investigações, nacionais e internacionais, em
saúde mental têm demonstrado.
Inês Martins Andrade
205
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 35 – Tipologia de Patologias Identificadas, por Grupos Etários (%), 2006
Grupos Etários
15-20
21-64
65 ou mais
Total
Geral
Anemia
25,0
075,0
00,0
100,0
Diabetes
00,0
058,3
41,7
100,0
Doenças infecto-contagiosas
00,0
100,0
00,0
100,0
Neoplasias
00,0
100,0
00,0
100,0
Obesidade
33,3
066,7
00,0
100,0
Problemas cardíacos
04,8
042,9
52,4
100,0
Problemas gástricos
00,0
083,3
16,7
100,0
Problemas de ossos/reumatismo
05,6
066,7
27,8
100,0
Problemas de visão
27,3
018,2
54,5
100,0
Problemas dermatológicos
33,3
066,7
00,0
100,0
Problemas mentais
00,0
088,9
11,1
100,0
Problemas respiratórios/pulmonares
44,5
011,2
44,5
100,0
Problemas/falta de dentes
00,0
060,0
40,0
100,0
Úlcera
00,0
066,7
33,3
100,0
Outros
25,0
075,0
00,0
100,0
Não se aplica
26,8
069,9
03,3
100,0
21,0
065,0
14,0
100,0
Tipo de Patologias
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A estas doenças acrescem outros problemas de saúde, embora de um
modo geral apresentem a mesma expressividade que na população portuguesa sujeita às mesmas condições de vida e de trabalho, como é o
caso dos problemas gástricos associados a uma alimentação deficiente
ou marcada por escassos cuidados de higiene (2,0%), problemas ao nível
dos dentes (1,7%) ou problemas dermatológicos (1,0%). Importa contudo
salientarem-se dois aspectos que, não obstante a sua importância estatística muito diminuta, importa clarificar:
– No que trata às doenças infecto-contagiosas, é relevante verificar-se a sua diminuta incidência na população imigrante
(1,3%), para além de que estas praticamente se resumem à
tuberculose, uma doença adquirida na sociedade de acolhimento na maior parte dos casos. Assim, explicam-se os vários
Inês Martins Andrade
206
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
estudos realizados, nos últimos anos, sobre tuberculose em
imigrantes e as suas conclusões indicativas de que estes constituem um grupo de risco particularmente acrescido para esta
doença (RIFES e VILLAR, 2003). A primazia da tuberculose no
contexto das doenças infecto-contagiosas, levou mesmo, no
caso da Quinta da Serra, ao desenvolvimento de um projecto
dos Médicos do Mundo, de acompanhamento e monitorização
no terreno dos doentes diagnosticados com tuberculose pelo
Centro de Diagnóstico Pulmonar (CDP) – Dona Amélia, embora
na actualidade esta problemática esteja praticamente superada. O papel relevante que a tuberculose assume no contexto
das doença infecto-contagiosa, ainda que, de importância estatística muito diminuta, resulta das más condições de vida destas população, associadas à facilidade com que a doença se
transmite. As doenças infecto-contagiosas identificadas ocorrem, na sua totalidade, na população com idades entre os 21
e os 64 anos de idade.
– Um segundo aspecto remete para a anemia, que afecta 1,3%
da população imigrante proveniente dos PALOP e seus descendentes, que residem na AML. Ainda que estatisticamente
pouco significativa, destaca-se esta patologia porque nas situações em que os indivíduos conheciam a causa da sua doença,
referiam ter hemoglobinopatias, uma doença genética associada aos distúrbios da hemoglobina que causa anemia e graves complicações para a saúde. A prevalência das hemoglobinopatias entre imigrantes africanos ou seus descendentes
(também denominadas de «drepanocitose» ou «talassémia
major», ainda que exprimindo cada uma delas especificidades particulares da doença), embora registando-se também
entre a população portuguesa e um pouco por todo o mundo,
revela uma particular incidência na nossa população-alvo,
o que levou a que no âmbito do Observatório da Imigração e
do ACIDI se encontrem em curso estudos aprofundados sobre
esta questão. A anemia é um problema de saúde que afecta
os jovens (25,0%), mas sobretudo o grupo etário entre os 21
e os 64 anos (75,0%), não se registando nenhuma situação
entre a população idosa, o que no caso das hemoglobinopatias
é explicado por lhes estarem associadas esperanças médias
de vida diminutas.
Da população que referiu ter algum problema de saúde, a maioria efectua tratamento (70,0%), sendo que apenas 30,0% não beneficia de
Inês Martins Andrade
207
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
nenhum tipo de assistência médica nem efectua qualquer tipo de tratamento.
A análise da figura seguinte, relativa aos familiares próximos dos imigrantes dos PALOP que não residam na mesma casa que estes, revela
igualmente que na sua maioria estes também não têm doenças (81,0%),
sendo que apenas 19% sofre de alguma patologia. Uma análise transversal aos vários casos de estudo, confirma esta constatação, embora
destacando-se a Quinta da Princesa, por apresentar uma proporção
mais relevante de familiares próximos com doenças (28,3%), enquanto
que no extremo oposto se encontra a Alta de Lisboa (8,3%).
Figura 56 – Existência/Inexistência de Doença nos Familiares Próximos
dos Imigrantes de Origem Africana Não Residentes na Mesma Habitação (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Têm doenças
Não têm doenças
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
208
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
1.3. Percepção da Evolução do Estado de Saúde e Factores Explicativos
A avaliação do Estado da Saúde da população, que em Portugal é efectuada desde 1989, assenta essencialmente na avaliação do estado de
saúde percepcionado pelos próprios indivíduos e, como tal, estes instrumentos conseguem apenas medir desvios relativamente a um estado de
saúde (SANTANA, 2005). Contudo, trata-se de um instrumento importante no contexto da Geografia da Saúde da população imigrante de
origem africana, porque a percepção individual da existência de uma
boa saúde ou de uma má saúde, geralmente associada à presença de
doença, tem impactes na procura e utilização dos cuidados de saúde
e subsequentemente nos seus respectivos níveis de saúde.
A aplicação das metodologias de avaliação do estado de saúde da população imigrante proveniente dos PALOP e seus descendentes, aqui
desenvolvida consiste numa aplicação simplificada dos modelos desenvolvidos, resumindo-se esta a uma análise das percepções globais do
universo da amostra no momento da chegada a Portugal, na forma como
esta evoluiu desde então e ainda numa reflexão em torno dos principais
factores explicativos do estado da sua saúde apresentados pelos próprios imigrantes. Esta aplicação simplificada dos modelos de avaliação
do estado de saúde da população resulta dos próprios objectivos inerentes a esta investigação, entre os quais a avaliação da percepção do
estado da saúde não assume um papel determinante, mas apenas complementar à compreensão dos objectivos centrais.
1.3.1. Avaliação da Percepção da Evolução do Estado de Saúde
A avaliação que a população imigrante originária dos PALOP faz do
estado da sua saúde à chegada a Portugal é na sua maioria de uma boa
saúde (60,7%), enquanto que 15,3% refere ter na altura uma saúde média
e somente 5,3% tem uma percepção negativa do estado da sua saúde.
Uma leitura pelos grandes grupos etários revela que é a população idosa
que apresenta valores percentuais mais elevados de uma percepção
negativa do seu estado de saúde (19,0%), enquanto que apenas 1,6% dos
indivíduos com idades entre os 15 e os 20 anos que nasceram num país
africano de língua oficial portuguesa fazem uma avaliação do estado da
sua saúde depreciativa.
Inês Martins Andrade
209
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 36 – Avaliação do Estado de Saúde à Chegada a Portugal (%), 2006
Avaliação do Estado de Saúde
Grupos Etários
Total Geral
Bom
Médio
Mau
Não se aplica
15-20 anos
36,5
00,0
01,6
61,9
100,0
21-64 anos
68,7
19,0
03,6
08,7
100,0
65 ou mais anos
59,5
21,4
19,0
00,0
100,0
60,7
15,3
05,3
18,7
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Porém, a análise da avaliação que os imigrantes vindos dos PALOP residentes na AML fazem da evolução do seu estado de saúde, desde a chegada a Portugal, evidencia que, embora à chegada considerem maioritariamente ter uma boa saúde, decorridos alguns anos de residência em
Portugal 34,3% consideram que esta se manteve estável, seguida por
25,7% que consideram que esta piorou, sendo que somente 22,3% tem
uma percepção positiva da evolução do estado da sua saúde.
A desagregação desta informação por sexos revela que homens e mulheres imigrantes consideram maioritariamente que a sua saúde se manteve estável (41,4% e 28,7%). Porém, a análise das percepções não predominantes indicam que 27,8% dos homens faz uma avaliação negativa,
pois considera que esta piorou e somente 17,3% considera que esta
melhorou. No sexo feminino, a percepção da evolução do estado da
saúde desde a chegada a Portugal indica que 26,3% das mulheres consideram que esta melhorou e 24,0% consideram que piorou. É de notar
assim uma maior homogeneidade na avaliação que os indivíduos do sexo
masculino fazem da evolução da sua saúde comparativamente aos do
sexo feminino.
Por grupos etários, registam-se avaliações da evolução do estado de
saúde bastante heterogéneas. A população jovem considera maioritariamente que a sua saúde melhorou (22,2%), uma menor percentagem que
esta se manteve estável (15,9%) e somente 7,9% considera que esta piorou. Já a população em idade activa faz uma avaliação mais moderada,
pois a maioria desta população (43,1%) considera que a sua saúde se
manteve estável, seguida de uma auto-avaliação mais incrédula (27,2%),
ainda que com valores relativamente próximos dos imigrantes que consideram que a sua saúde evoluiu positivamente (20,0%). Finalmente no
grupo etário com 65 ou mais anos encontra-se a pior avaliação, pois
45,2% desta população considera que a sua saúde piorou desde que veio
Inês Martins Andrade
210
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
viver para Portugal, 33,3% pensa que o estado da sua saúde melhorou
desde então e 21,4% consideram que esta se manteve estável.
Figura 57 – Avaliação da Evolução Estado de Saúde
Desde a Chegada a Portugal (%), 2006
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Melhorou
Manteve-se estável
15-20 anos
21-64 anos
Piorou
65 ou mais anos
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
1.3.2. Factores Explicativos da Avaliação Efectuada
Na fundamentação da avaliação do percurso evolutivo do estado da
sua saúde, os imigrantes africanos e seus descendentes residentes na
Área Metropolitana de Lisboa apresentam uma panóplia de factores
explicativos.
Entre os imigrantes que fazem uma avaliação positiva da evolução do
estado da sua saúde, os factores explicativos relacionam-se, sobretudo,
com a possibilidade efectiva de poderem beneficiar de melhores e mais
diversificados tratamentos médicos em Portugal do que no seu país
de origem (59,7%), seguido da existência de melhores condições de
vida em Portugal comparativamente às que tinham na sua terra natal
(29,9%). Por fim, 6,6% dos cidadãos nacionais dos PALOP consideram
que a saúde melhorou, devido às características do clima em Portugal,
isto é, devido a não se registarem níveis de humidade e temperaturas tão
elevadas, e como tal, trata-se de um clima menos propício ao desenvolvimento de doenças tipicamente tropicais, como a malária/paludismo.
No âmbito dos imigrantes que efectuam uma avaliação negativa do
estado da sua saúde, considerando que esta se deteriorou desde a chegada a Portugal, é também apresentada uma pluralidade de factores
explicativos. O factor mais frequentemente apresentado remete para
Inês Martins Andrade
211
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
as más condições de trabalho (28,6%), pois o facto da inserção dos imigrantes no mercado de trabalho se encontrar em muito associada a trabalhos mais exigentes fisicamente, mas também muitas vezes psicologicamente, desprovidos de condições de higiene e segurança, fundamenta
esta percepção. O segundo factor mais relevante é o clima, pois 20,8%
dos cidadãos nacionais dos PALOP considera que o facto deste ser mais
frio em Portugal e de apresentar Invernos mais rigorosos afecta-lhes
a saúde, em particular, durante os primeiros anos de residência em
Portugal. Com valores percentuais exactamente iguais (20,8%) surge
o factor idade, resultante da percepção de que o aparecimento de doenças é resultado directo do próprio avançar da idade. O quarto aspecto
referido consiste nas más condições de vida em geral (15,6%), o que se
encontra muito frequentemente associado a uma desilusão com o processo imigratório e, por fim, surgem as más condições de habitação,
referidas por 10,4% da população imigrante. De notar, no entanto, que
o factor condições de habitação é o único que não é transversal a todos
os casos de estudo, encontrando-se circunscrito ao Bairro de Santa
Filomena e da Quinta da Serra, precisamente os aglomerados de alojamentos não clássicos.
Tabela 37 – Factores Explicativos segundo a Evolução do Estado da Saúde
da População Imigrante (%), 2006
Factores Explicativos
Evolução do Estado
da Saúde
Más
Cond.
Vida
em Geral
Más
Cond.
Trab.
Não
Melhores
Cond. Tratamentos se aplica/
/Não
Médicos
Vida
responde
em Geral
Total
Geral
Clima
Idade
Más
Cond.
Hab.
Melhorou
06,0
00,0
00,0
00,0
00,0
29,9
59,7
004,5
100,0
Manteve-se estável
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
100,0
100,0
Piorou
20,8
20,8
10,4
15,6
28,6
00,0
00,0
003,9
100,0
Não responde
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
100,0
100,0
Não se aplica
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
100,0
100,0
06,7
05,3
03,0
04,0
07,3
06,7
13,3
053,7
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
O cruzamento da percepção dos imigrantes africanos relativamente à
evolução do estado da sua saúde com a existência ou não de doenças
e com a utilização dos cuidados de saúde primários e secundários, permite obter importantes conclusões indicativas, por um lado, da forte
associação da percepção que cada indivíduo faz da sua saúde com o
facto de ter ou não alguma doença, mas também do modo como o tipo
Inês Martins Andrade
212
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
de avaliação do estado de saúde que cada imigrante faz de si mesmo
condiciona a sua respectiva utilização dos cuidados de saúde.
Neste sentido, compreende-se que a população imigrante que considera
que o estado da sua saúde piorou desde que veio viver para Portugal,
tenha associada uma maior proporção de doenças diagnosticadas
(68,8%), do mesmo modo que é em torno dela que gravitam as maiores
utilizações dos cuidados de saúde primários (87,0%) e diferenciados
(92,2%). Assim sendo, a existência de doença conduz a uma percepção
negativa que os imigrantes têm da sua própria saúde, o que leva a que
estes, de um modo geral, utilizem mais os cuidados de saúde. Pelo contrário, os imigrantes que consideram que a sua saúde registou uma
evolução positiva têm comparativamente aos anteriores, uma menor
proporção de patologias diagnosticadas (49,3%).
Note-se também que os imigrantes que consideram que a sua saúde
se manteve estável desde a chegada a Portugal são os que apresentam
em termos relativos menos doenças diagnosticadas (22,3%), o que confirma novamente a relação entre a existência/inexistência de situações
de doença e a percepção que os imigrantes têm do estado da sua saúde.
Por outro lado, são também estes os que apresentam menores percentagens de utilização dos cuidados de saúde primários, embora igualmente bastante elevadas, o que poderá apontar para um conhecimento
menos aprofundado do estado da sua saúde, mas também indicar que a
menores necessidades de saúde estão associadas menores utilizações
dos cuidados médicos.
Tabela 38 – Relação entre a Evolução do Estado de Saúde da População Imigrante
e a Utilização dos Cuidados de Saúde (%), 2006
Evolução do Estado
da Saúde
Existência de Doença
Diagnosticada
Utilização dos Cuidados
de Saúde Primários
Já utilizou
os Cuidados de Saúde
Diferenciados
Total
Geral
Sim
Não
Sim
Não
Não
se aplica
Sim
Não
Melhorou
49,3
050,7
085,1
13,4
1,5
080,6
19,4
100,0
Manteve-se estável
22,3
077,7
082,5
17,5
0,0
081,6
18,4
100,0
Piorou
68,8
031,2
087,0
11,7
1,3
092,2
07,8
100,0
Não responde
00,0
100,0
100,0
00,0
0,0
084,3
15,7
100,0
Não se aplica
19,6
080,4
096,1
03,9
0,0
100,0
00,0
100,0
39,7
060,3
086,7
12,7
0,7
084,7
15,3
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
213
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2. DETERMINANTES DE SAÚDE
A compreensão do retrato da saúde da população imigrante vinda dos
PALOP e seus descendentes que residem na Área Metropolitana de
Lisboa não pode ser entendida à margem da análise das determinantes
de saúde, na medida em que a sua saúde é o resultado desse conjunto
de factores. Embora existam diversas determinantes de saúde repartidas por dois grandes grupos (as características pessoais do indivíduo
e as características da sociedade de acolhimento) de seguida serão apenas exploradas dois tipos de determinantes de saúde. Assim, no âmbito
das características pessoais do indivíduo, serão analisados os factores
comportamentais, na medida em que nos oferecem uma ilustração dos
hábitos alimentares, de higiene, entre outros estilos de vida com importantes impactos ao nível do estado da saúde das populações imigrantes.
Na vertente das especificidades da sociedade de acolhimento serão analisados os factores ambientais (físicos e sociais) que marcam os contextos de vivência, residência e trabalho, destes imigrantes em Portugal.
Naturalmente, a avaliação destas determinantes em saúde passará,
sempre que possível, pelo estabelecimento de relações entre estes factores e a saúde dos imigrantes. Embora outras determinantes em saúde,
manifestem uma relevância inigualável para a compreensão dos níveis
e estados de saúde da população imigrante, o facto do contributo do geógrafo em domínios como a genética ser manifestamente diminuto e a
sua avaliação implicar um conjunto de levantamentos práticos e conhecimentos que se desviam das nossas competências, não é aqui feita a
sua análise.
2.1. Características Pessoais do Indivíduo: Factores Comportamentais
Os estilos de vida, cada vez mais considerados a causa de muitas doenças, têm sugerido o desenvolvimento de muitas investigações. No caso
da população-alvo em estudo importa conhecer os estilos de vida que
podem, quando agregados com outras determinantes e factores influenciar determinados estados de saúde daqueles que penetram no sistema
internacional das migrações, isto é, importa conhecer os hábitos que os
imigrantes levam consigo, as práticas e estilos de vida típicos do seu país
de origem e da sua cultura, mas também os das gerações mais jovens
(naturais de Portugal ou de um PALOP), pois é sobretudo nelas que mais
se reflecte a assimilação dos comportamentos que lhes são passados
pela sua família e a aculturação dos hábitos sociais do país de onde são
naturais.
Inês Martins Andrade
214
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Podendo esta avaliação ser feita com recurso a uma multiplicidade infindável de aspectos, optou-se metodologicamente por utilizar factores que
nos ofereçam uma visão global dos comportamentos da população imigrante de origem africana em matéria nutrição, consumo de álcool, de
tabagismo, consumo de estupefacientes e precauções ao nível da transmissão das doenças sexualmente transmissíveis.
2.1.1. Nutrição
No domínio da nutrição, a análise da média de refeições diárias efectuadas pela população imigrante de origem africana, graficamente representada na figura seguinte, evidencia uma divergência entre os bairros
de realojamento e os bairros de alojamento não clássico, pois enquanto
nos primeiros domina um consumo médio de 3 ou 4 refeições por dia, no
Bairro de Santa Filomena e da Quinta da Serra vigora um número médio
de refeições por dia mais reduzido (duas por dia).
Figura 58 – Média de Refeições Diárias que a População Imigrante Consome,
por Bairro (%), 2006
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Alta
de Lisboa
Bairro
Amarelo
0
Quinta
da Princesa
1
2
Quinta
da Serra
3
Santa
Filomena
Total Geral
4
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Entre a população africana, os alimentos que entram mais incisivamente
na sua balança alimentar diária são o pão, o leite e os refrigerantes. Tal
como apurado, a amostra populacional referiu consumir, em termos
médios, pão e leite predominantemente uma vez ao dia (38,7% e 44,0%),
seguida de um consumo destes alimentos várias vezes ao dia (27,3%
e 25,3%). No que trata aos refrigerantes, a maioria da população refere
ingeri-los maioritariamente várias vezes ao dia (26,7%) ou uma vez por
dia (25,7%). O consumo de carne e de peixe aponta especialmente para
uma frequência que ocorre várias vezes por semana (49,3% e 58,7%
respectivamente), no entanto, enquanto a segunda frequência mais
Inês Martins Andrade
215
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
significativa de consumo de carne é uma vez ao dia (27,3%), o de peixe é
uma vez por semana (19,3%). A frequência do consumo de fruta e legumes entre a população imigrante é, na sua maioria, a de várias vezes por
semana, enquanto a alimentação tipo fast food e os alimentos enlatados
são claramente os menos preferidos por esta população, pois a sua frequência é em ambos os casos maioritariamente mensal (41,0% e 35,0%).
Tabela 39 – Frequência Habitual de Consumo de Alimentos
pela População Imigrante (%), 2006
Frequência Habitual do Consumo de Alimentos
Alimentos
Uma vez
por dia
Várias vezes Uma vez Várias vezes
ao dia
por semana por semana
Não
consome
Total Geral
Mensal
Pão
38,7
27,3
09,0
17,7
03,3
04,0
100,0
Leite
44,0
25,3
07,7
11,3
05,3
06,3
100,0
Carne
27,3
14,7
07,7
49,3
00,3
00,7
100,0
Peixe
15,3
02,0
19,3
58,7
02,7
02,0
100,0
Fruta
24,3
17,3
11,3
38,3
04,0
04,7
100,0
Legumes
18,7
12,3
13,7
44,0
04,3
07,0
100,0
Fast Food
00,7
01,7
10,0
07,7
41,0
39,0
100,0
Alimentos Enlatados
02,7
03,7
18,0
22,3
35,0
18,3
100,0
Refrigerantes
25,7
26,7
06,7
17,7
10,0
13,3
100,0
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A dieta alimentar dos imigrantes africanos encontra-se profundamente
marcada pela alimentação tipicamente africana (40,0%), seguida de uma
alimentação tipicamente portuguesa (34,3%), ainda que 25,7% da população inquirida refira consumi-las com a mesma frequência.
Figura 59 – Tipo de Comida que a População Inquirida Consome
mais Frequentemente (N.o) 2006
25,7%
40,0%
Tipicamente Africana
Tipicamente Portuguesa
Tipicamente Portuguesa
e Africana
34,3%
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
216
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.1.2. Consumo de Álcool, Estupefacientes e Tabagismo
No que trata aos estilos de vida relacionados com o consumo de álcool,
constata-se que maioria da população imigrante não tem este hábito
(58,0%), ainda que a proporção dos que consomem seja bastante elevada (42,0%). De facto, em todos os grupos etários há proporções elevadas de consumo de álcool, o que deriva deste ser um hábito que se
encontra eminentemente associado à sua cultura. Ainda que relevante
o valor percentual de jovens que consomem este tipo de bebidas (19,0%),
é somente ao nível do grupo etário entre os 21 e os 64 anos que se
observa uma primazia dos indivíduos que consomem bebidas alcoólicas
(50,8%) comparativamente aos que não consomem (49,2%), ainda que a
diferença entre ambos no consumo de álcool seja mínima. Registando-se valores idênticos nos diferentes bairros, somente na Alta de Lisboa
mais de metade da população inquirida referiu consumir bebidas alcoólicas (56,7%).
Em relação aos hábitos tabágicos verifica-se uma total superioridade da
população imigrante que não fuma (84,3%) face à que fuma (15,7%). É no
topo da pirâmide etária que se encontram os valores percentuais mais
elevados da população que fuma (31,0%), sendo relevante notar-se que
entre a população com 65 ou mais anos ocorrem formas diferentes de
consumo tabaco. À prática de fumar cigarros, muito generalizada a nível
mundial, encontra-se também um hábito de aspirar pelo nariz os resíduos (rapé) do tabaco depois deste ser triturado, com a ideia subjacente
desta consistir numa prática terapêutica com benefícios para a saúde.
À medida que se desce na pirâmide etária, os valores percentuais dos
imigrantes que fumam decrescem. Uma análise locativa revela que a
Alta de Lisboa, o Bairro Amarelo e a Quinta da Serra, apresentando valores semelhantes, são as áreas geográficas onde um maior número de
indivíduos afirma ter este hábito, embora a Quinta da Princesa e Santa
Filomena não apresentem valores muito díspares.
Relativamente ao consumo de estupefacientes, regista-se maioritariamente uma não prática, uma vez que 95,7% da população refere não consumir e somente uma minoria de 3,7% dos imigrantes assume ter esta
prática. No grupo etário dos indivíduos com 65 ou mais anos nenhum imigrante referiu consumir estupefacientes de qualquer tipo, mas à medida
que descemos na pirâmide etária, o valor percentual de indivíduos que
tem este tipo de prática aumenta. Assim sendo, entre a população adulta,
apenas 3,6% refere consumir drogas, enquanto que ao nível da população jovem esse valor ascende para 6,3%. Embora a repartição de respostas afirmativas a esta prática denotem uma forte semelhança entre os
Inês Martins Andrade
217
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
diferentes casos de estudo, verifica-se que a Quinta da Serra, seguida da
Alta de Lisboa e finalmente do Bairro Amarelo, representam os territórios onde o consumo de estupefacientes foi mais vezes confirmado.
Destes três tipos de comportamentos, o consumo de bebidas alcoólicas
emerge nitidamente como aquele que assume maior expressividade percentual global, transversal a todos os grupos etários, aproximando-se
a globalidade do seu consumo a quase metade do universo da nossa
amostra, o que denota a prevalência de práticas associadas à cultura
africana face aos novos estilos de vida das sociedades modernas.
Tabela 40 – Práticas Comportamentais entre a População Inquirida (%), 2006
Consumo de Álcool
Hábitos Tabágicos
Consumo de Estupefacientes
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não Resp.
Total
Geral
15-20 anos
19,0
81,0
09,5
90,5
6,3
093,7
0,0
19,0
21-64 anos
50,8
49,2
14,4
85,6
3,6
095,4
1,0
50,8
65 ou mais anos
35,7
64,3
31,0
69,0
0,0
100,0
0,0
35,7
42,0
58,0
15,7
84,3
3,7
095,7
0,7
42,0
Grupos Etários
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
2.1.3. Utilização do Preservativo
O uso do preservativo apresenta-se como uma prática que divide a população imigrante de origem africana, pois 49,0% destes cidadãos residentes na AML nunca o utiliza, enquanto que 49,7% utiliza-o, ainda que com
uma regularidade diversificada. O facto das práticas contraceptivas não
serem bem aceites, em geral, no contexto da cultura africana, explica-se
a elevada percentagem de não utilização, como todos os impactes directos que possam ter, sobretudo, em matéria da propagação das doenças
sexualmente transmissíveis.
Ao nível do género, são as mulheres que revelam uma maior não utilização do preservativo (61,9%), enquanto que nos homens este comportamento não ultrapassa os 38,1%. A maior rotatividade de parceiras
sexuais entre os homens ajuda a compreender que estes denotem uma
maior preocupação com a possível infecção de doenças sexualmente
transmissíveis.
Os resultados da frequência da utilização do preservativo pela população
imigrante africana e seus descendentes comprovam assim uma reluInês Martins Andrade
218
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
tância no uso deste método contraceptivo. Ainda que se tenha verificado
a existência de um acentuado equilíbrio entre os que utilizam e os que
não utilizam, a leitura da frequência de utilização permite concluir que
de entre os que têm esta preocupação, somente 19,3% o utiliza sempre
(19,0% utiliza-o às vezes e 5,3% utiliza-o raramente).
2.2. Características da Sociedade de Acolhimento: Factores Ambientais
As especificidades do país de destino e, dentro destes, dos territórios de
inserção (residencial, de trabalho e de lazer) com que os imigrantes se
deparam representam também uma determinante da sua saúde. Na
análise desta determinante de saúde é dada particular ênfase às condições habitacionais e ao nível de cobertura de redes de equipamentos/
/instituições, uma vez que estes concorrem para a compreensão dos
estados de saúde das populações imigrantes.
2.2.1. Ambiente Físico
As condições de habitação, quer ao nível das infra-estruturas básicas
quer no que trata às condições mais vastas de habitabilidade, variam
consideravelmente em função de se tratar de um bairro de realojamento
ou de um aglomerado de barracas e outros tipos de alojamentos não
clássicos. De facto, o realojamento permite às populações melhorarem
consideravelmente as suas condições de habitação, na medida em que,
não obstante as críticas comuns às suas frágeis construções, possibilita
a existência de infra-estruturas básicas.
Deste modo, verifica-se que nos três bairros residenciais de realojamento, todos os indivíduos inquiridos têm electricidade, água, esgotos
e casa de banho completa (com duche e sanita). Nos bairros abarracados em estudo, embora a grande maioria da população africana também
disponha destas condições, verifica-se que em nenhum deles a totalidade da população beneficia de cada uma destas infra-estruturas. Uma
análise comparativa realça a existência de uma realidade menos positiva
na Quinta da Serra, apesar dos investimentos realizados pela Autarquia
a este nível.
A situação mais gritante reside no facto de apenas 53,3% da população
residente na Quinta da Serra dispor de uma casa de banho completa,
seguida da existência de esgotos em apenas 65,0% das residências dos
indivíduos inquiridos. De salientar a existência de água em apenas 93,3%
Inês Martins Andrade
219
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
das residências dos imigrantes africanos residentes na Quinta da Serra
ou de 98,3%, o que é indicativo de que nestas habitações todo um conjunto de actividades quotidianos ficam condicionadas, não podendo estas
serem desenvolvidas na sua normalidade, destacando-se situações tão
banais como tomar banho, lavar os dentes ou até mesmo a limpeza da
própria habitação.
Tabela 41 – Condições de Habitação da População Inquirida,
segundo os Bairros de Residência (%), 2006
Condições de Habitação
Unidade
de Análise
Electricidade
Água
Esgotos
Casa de Banho
Completa
Alta de Lisboa
100,0
100,0
100,0
100,0
Bairro Amarelo
100,0
100,0
100,0
100,0
Quinta da Princesa
100,0
100,0
100,0
100,0
Quinta da Serra
096,7
093,3
065,0
053,3
Santa Filomena
098,3
098,3
085,0
083,3
099,0
098,3
090,0
087,3
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A existência de electricidade, apesar de ser uma infra-estrutura tão
banal e existente em lugares tão recônditos no país e no mundo, constata-se que em pleno coração da AML há pessoas que continuam a não
beneficiar dela (96,7% na Quinta da Serra e 98,3% em Santa Filomena
dispõem de electricidade). No que trata ainda à electricidade é necessário ter em conta que muitos imigrantes africanos embora dispondo desta
infra-estrutura, tratam-se de puxadas efectuadas clandestinamente.
A juntar-se às condições de habitação, as condições de higiene e salubridade dos bairros são também um factor relevante, que concorrem para
a determinação de estados de saúde da população imigrante. Nos bairros de alojamentos não clássicos é frequente a existência de lixo e destroços espalhados pelas ruas, resultantes das sucessivas demolições de
barracas ou devido à acumulação de ferro-velho, que se misturam com
águas estagnadas, ao que acresce a presença de animais vadios, fomentando assim um ambiente fértil para a proliferação de algumas patologias. Todavia, esta realidade não se esgota nestes bairros, pois também
nos bairros de realojamento as diminutas condições de higiene são um
traço marcante, o que entre muitos outros factores evidencia o desgosto
pelo bairro.
Inês Martins Andrade
220
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A dimensão média das habitações nas áreas residenciais consideradas
aponta para uma preponderância de quatro assoalhadas por habitação
(39,7%), seguida pelas de três assoalhadas (30,3%).
O Bairro de Santa Filomena é o que melhor ilustra este retrato de conjunto, no entanto, detém a maior percentagem de pequenas habitações
(6,7% tem apenas uma assoalhada), o que corresponde a mulheres
jovens que vivem sozinhas geralmente com um filho, ou a indivíduos do
sexo masculino reformados ou solteiros.
Na Quinta da Serra a dimensão média das habitações oscila entre três
(28,3%) e quatro assoalhadas (25,0%), mas constata-se que é neste
bairro que existem mais habitações de elevada dimensão, uma vez que
10,0% tem seis ou mais assoalhadas. Este padrão habitacional resulta
da progressiva ampliação das habitações, com a construção de anexos,
à medida que se dava o processo de reunificação familiar ou a chegada
de patrícios e conterrâneos, facto este que também se verifica em Santa
Filomena.
Nos bairros de realojamento da Margem Sul há uma primazia total das
habitações com uma dimensão média de quatro assoalhadas (Bairro
Amarelo, 51,7% e na Quinta da Princesa 66,7%). Na Alta de Lisboa
domina a dimensão média das habitações de três assoalhadas (35,0%),
constatando-se que, no conjunto dos bairros sociais em análise, este
regista o maior valor relativo de habitações com cinco assoalhadas
(28,3%) e o único que apresenta algumas com seis ou mais (1,7%).
Tabela 42 – Número de Assoalhadas da Habitação da População Inquirida,
por Bairros de Residência (%), 2006
Unidade
de Análise
Número de Assoalhadas
1
2
3
4
5
6 ou +
Total
Geral
Alta de Lisboa
0,0
08,3
35,0
26,7
28,3
01,7
100,0
Bairro Amarelo
1,7
06,7
30,0
51,7
10,0
00,0
100,0
Quinta da Princesa
0,0
01,7
30,0
66,7
01,7
00,0
100,0
Quinta da Serra
0,0
23,3
28,3
25,0
13,3
10,0
100,0
Santa Filomena
6,7
20,0
28,3
28,3
08,3
08,3
100,0
1,7
12,0
30,3
39,7
12,3
07,9
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
221
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Relativamente à composição do agregado familiar, a Quinta da Serra
apresenta a dimensão média mais reduzida (4,1%), dada a elevada presença de imigrantes do sexo masculino que imigram sozinhos para
Portugal, na expectativa de aqui estabelecerem as condições necessárias antes de mandarem chamar a família ou com a finalidade de imigrarem para outro país europeu. Este factor, ilustra a contínua chegada de
imigrantes com fins laborais dos PALOP, indicando assim que este não
se encontra ainda numa fase de amadurecimento ou estabilização. No
pólo oposto encontra-se o Bairro Amarelo onde se regista a dimensão
média do agregado familiar mais elevada (4,5%), habitualmente composto entre quatro e cinco indivíduos (48,3%), mas também com a maior
proporção de famílias com 6 e 7 elementos (23,3%), dada a coabitação
do agregado original (mãe e pai) e dos respectivos agregados e filhos dos
seus descendentes (filhos com marido/mulher e netos).
O Bairro de Santa Filomena aparece com a segunda dimensão média
mais elevada ao nível do agregado familiar, resultando da conjugação de
diversas situações, nomeadamente, famílias com um elevado número
de filhos, chegada de sobrinhos dos PALOP para estudarem, chegada
de avós e sogros para fazerem tratamentos médicos e coabitação com
familiares menos directos (primos) que vêm procurar melhores condições de vida. A Alta de Lisboa e a Quinta da Princesa apresentam a
mesma dimensão média (4,1%).
Tabela 43 – Número de Elementos do Agregado Familiar e Dimensão Média
dos Agregados da População Inquirida, por Bairro de Residência (%), 2006
Unidade
de Análise
N.o de Elementos do Agregado
Entre 1 e 3 Entre 4 e 5 Entre 6 e 7
8 ou mais
Dimensão
Média
Total
Geral
Alta de Lisboa
33,3
50,0
16,7
0,0
4,2
100,0
Bairro Amarelo
26,7
48,3
23,3
1,7
4,5
100,0
Quinta da Princesa
35,0
48,3
15,0
1,7
4,2
100,0
Quinta da Serra
36,7
46,7
13,3
3,3
4,1
100,0
Santa Filomena
38,3
38,3
16,7
6,7
4,3
100,0
34,0
46,3
17,0
2,7
4,3
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A dimensão média do agregado familiar manifesta importantes impactes
no âmbito dos factores ambientais enquanto determinantes de saúde,
uma vez que em agregados familiares de dimensão média elevada, com
Inês Martins Andrade
222
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
sobreocupação dos alojamentos (em que há um número de elementos
do agregado familiar superior ao número de assoalhadas) perante a
existência de patologias cuja transmissão ocorre por contágio, o aumento
exponencial dos imigrantes com essa mesma doença encontra-se facilitado. Assim explica-se, que face ao aparecimento de uma doença
infecto-contagiosa se tenham sucedido surtos relativamente rápidos
dessa mesma doença, sendo disso bom exemplo os surtos de tuberculose que afectaram o Bairro Amarelo ou a Quinta da Serra num passado recente. A própria cultura africana e a vivência destas comunidades, onde a interacção e o contacto entre os indivíduos é intensa,
constituem um factor de relevância nesta questão.
A leitura da figura seguinte demonstra que é na Quinta da Princesa que
uma maior proporção de indivíduos afirmou ter familiares a residirem na
mesma habitação com alguma patologia diagnosticada (50,0%). Posteriormente, surge o Bairro Amarelo e Santa Filomena, com 41,7% de indivíduos que responderam afirmativamente. Estas duas unidades de análise correspondem precisamente a dois dos casos de estudo com maior
dimensão média do agregado. Todavia, embora as doenças infecto-contagiosas não registem uma incidência significativa entre esta população,
importa assim notar a existência das condições propícias à sua difusão
espacial em caso de aparecimento.
Figura 60 – Familiares Directos e Próximos com Patologias Identificadas
que Residem na mesma Habitação da População Inquirida, por Bairro (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Têm doenças
Não têm doenças
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
223
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.2.2. Ambiente Social
No contexto do ambiente social, a presença nas áreas de residência ou a
proximidade de redes de equipamentos colectivos, bens e serviços sociais
e entidades e instituições de âmbito social apresentam uma grande relevância, porque ao proporcionarem uma panóplia de condições de apoio
social promovem uma melhoria da qualidade de vida desta população,
o que se reflecte necessariamente no seu estado de saúde.
Por conseguinte, importa analisar o papel de diversas entidades e instituições que há vários anos se encontram no terreno a trabalhar para
franjas da população marginalizadas, como é o caso dos imigrantes africanos económica e socialmente desfavorecidos, e tentar estabelecer
possíveis relações com a informação apurada através dos inquéritos,
de modo a avaliar a dimensão do impacte do trabalho desenvolvido por
estas instituições na saúde destes imigrantes.
Tal como foi possível apurar segundo a metodologia qualitativa, na
Quinta da Serra no âmbito da saúde, os Médicos do Mundo têm desempenhado um papel determinante na melhoria do estado de saúde desta
comunidade. Os Médicos do Mundo, uma Organização Não Governamental de ajuda humanitária e cooperação para o desenvolvimento, cujo
trabalho tem por finalidade assegurar o direito de todos os homens ao
acesso a cuidados de saúde. O estabelecimento dos Médicos do Mundo
na Quinta da Serra surgiu em 2001, com a criação do projecto O Bairro
Feliz, perante a necessidade de fazer um acompanhamento dos casos
notificados de tuberculose. Actualmente são desenvolvidas várias actividades, tais como a prestação de cuidados de saúde primários, actividades de informação e educação para a saúde e actividades lúdico-culturais. Embora estas visem sempre a prevenção do VIH/SIDA, o apoio
prestado extravasa consideravelmente este domínio patológico, tocando
todas as áreas onde são identificadas claras necessidades de saúde.
Embora em alguns dos restantes casos de estudo tenham sido efectuadas, de forma mais ou menos directa, campanhas de prevenção do
VIH/SIDA e de promoção de comportamentos sexualmente saudáveis,
é de facto na Quinta da Serra que este domínio é tocado de forma mais
ampla e profunda, onde o carácter de continuidade no terreno durante
anos consecutivos lhe confere uma total singularidade.
Os impactes deste trabalho manifestam-se na avaliação da repartição
da utilização do preservativo segundo a frequência por casos de estudo,
onde se verifica que a Quinta da Serra é a área residencial que apresenta
Inês Martins Andrade
224
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
uma maior proporção de indivíduos que utiliza sempre preservativo nas
suas relações sexuais (23,3%). Ainda na Quinta da Serra apurou-se uma
não utilização, independentemente da situação, em 48,3% dos imigrantes africanos inquiridos, o que constitui naturalmente uma percentagem
muito elevada, no entanto, representa no contexto desta frequência, uma
das mais baixas observadas.
As restantes unidades territoriais de análise denotam tipologias de frequência de utilização muito disformes entre si. A Alta de Lisboa apresenta concomitantemente as proporções mais reduzidas de uma utilização em todas as situações (16,7%) e não utilização (38,3% referem nunca
utilizar preservativo), sendo na frequência de às vezes, a que regista
maior percentagem (30,0%).
O Bairro de Santa Filomena surge neste contexto com a realidade que
apresenta os contornos mais preocupantes, na medida em que é aí que
se regista a menor proporção de indivíduos que utiliza sempre o preservativo (16,7%) e a segunda mais elevada de imigrantes que nunca o utilizam (48,3%). Este é provavelmente um dos resultados mais expressivos
do facto deste ser, no conjunto dos bairros em análise, o que tem beneficiado de menores investimentos na promoção da saúde e prevenção
das doenças, onde o apoio comunitário se resume quase exclusivamente
ao Programa Escolhas, que no âmbito do projecto orientado para o combate ao abandono escolar e fomento da educação e formação, como
forma de inserção na comunidade, tem desenvolvido algumas acções de
formação no domínio da saúde. Os restantes casos de estudo assumem
posições intermédias.
Inês Martins Andrade
225
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 61 – Frequência de Utilização do Preservativo
pela População Imigrante, por Bairro (%), 2006
N
QUINTA DA SERRA
SANTA FILOMENA
ALTA DE LISBOA
BAIRRO AMARELO
QUINTA DA PRINCESA
Sempre
Às vezes
Raramente
Nunca
Não se aplica/
/não responde
0
10 km
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Na Quinta da Princesa e na Alta de Lisboa, os respectivos centros de
saúde têm também desenvolvido nos anos mais recentes um vasto trabalho ao nível da promoção da saúde e incentivo à prática de vigilância
da saúde.
Actuando em moldes distintos, no caso da Alta de Lisboa, o projecto aplicado pelo Centro de Saúde do Lumiar, denominado «Projecto de Intervenção Especial em Saúde Materno Infantil e Planeamento Familiar»,
é um projecto de intervenção comunitária destinado a bolsas de pobreza,
que foi iniciado em 2001, no Bairro das Galinheiras, Quinta da Pailepa e
Ameixoeira e que posteriormente alargou a sua intervenção aos bairros
de realojamento da Alta do Lumiar e Cruz Vermelha. Este projecto utiliza
como recurso, unidades móveis (cedidas pela Direcção Geral de Saúde
à Sub-Região de Saúde de Lisboa) que permitem a esta população um
acesso mais fácil à informação e prestação de cuidados de saúde, prefeInês Martins Andrade
226
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
rencialmente no âmbito da saúde materna, da vigilância na gravidez, no
planeamento familiar, mas igualmente transversal a outro domínios.
O projecto desenvolvido pelo Centro de Saúde da Amora, na Quinta da
Princesa, denominado «Saúde Sobre Rodas», assenta igualmente numa
unidade móvel que se desloca ao bairro procurando contornar um défice
de utilização do equipamento de saúde. Vários profissionais de saúde
prestam assim no próprio bairro um conjunto de serviços no âmbito da
saúde, como sendo a realização de consultas, a subsequente afectação
de receita médica aos utentes, a vacinação da população, o fornecimento
de alguma medicação, procurando sempre efectuar o seu encaminhamento para o centro de saúde, de modo a que não se crie o hábito perverso de ser a assistência médica a deslocar-se até às populações, mas
antes promovendo a supressão de barreiras que afastam esta população
dos cuidados de saúde.
Com base nos resultados dos inquéritos, constata-se que é precisamente nestes dois casos de estudo, onde ocorrem intervenções directas
dos respectivos centros de saúde já há alguns anos e com continuidade
na actualidade, que se identificam as percentagens mais elevadas de
imigrantes africanos que referiram utilizar o centro de saúde para consultas de planeamento familiar e consultas de saúde infantil, dois dos
objectivos centrais do projecto do Centro de Saúde do Lumiar, e embora
no caso do Centro de Saúde da Amora não constituam prioridades centrais, são domínios também aí incluídos. Assim, verifica-se que o desenvolvimento destes projectos acaba por criar hábitos de consumos de
saúde.
Note-se que estes projectos são orientados para franjas da população
em situação de pobreza e socialmente excluídas por motivos vários, relacionados também com a saúde, como é o caso da gravidez na adolescência ou violência doméstica, ou potencialmente marginalizadas, como por
exemplo as portadoras de algumas doenças infecto-contagiosas. Como
tal, saliente-se que não se tratam de projectos direccionados exclusivamente para a população imigrante, não obstante o esforço dos técnicos
que se deslocam ao terreno na compreensão e sensibilidade demonstrada para com as questões multiculturais.
Inês Martins Andrade
227
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CAPÍTULO IV – SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
No presente capítulo procurar-se-á avaliar a percepção global dos imigrantes africanos relativamente aos vários cuidados de saúde prestados
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para este fim, o inquérito
aplicado continha um conjunto de questões que procuravam compreender quais os factores mais positivos e negativos do SNS que, segundo a
opinião do nosso grupo alvo, mais caracterizam estes cuidados médicos.
Foi assim possível obter um conjunto de indicações de satisfação com os
cuidados de saúde primários e diferenciados relativamente ao desempenho e atitudes dos profissionais de saúde, qualidade geral dos equipamentos de referência, organização dos serviços, capacidade de resposta
do SNS, informação e apoio da população, entre outros.
1. A (IN)SATISFAÇÃO COM OS CUIDADOS DE SAÚDE DO SNS
Diversos autores e organizações internacionais têm realçado a importância da realização de processos participativos no sector da saúde,
o que na prática se traduz em ouvir a opinião dos utentes dos serviços de
saúde, porque na verdade são eles quem melhor conhece os resultados
dos investimentos realizados e, por isso, são eles quem melhor poderá
dar indicações para possíveis reorientações das políticas a adoptar ao
nível dos sistemas de saúde. A contínua readaptação dos sistemas de
saúde é, cada vez mais, uma necessidade, o que numa sociedade cada
vez mais exigente com a qualidade dos serviços que lhe são prestados,
só se alcança através de uma efectiva participação da população.
Quando se trata de populações imigrantes, os processos participativos
assumem um carácter determinante, na medida em que se trata de uma
população com especificidades inerentes distintas da população autóctone. Ao nível da população imigrante oriunda dos PALOP e seus descendentes, a recolha de informação sobre a satisfação com os cuidados de
saúde revela um papel essencial, na medida em que se trata de uma
população sem hábitos acentuados de utilização dos cuidados de saúde.
Logo, a forma de fomentar o acesso e a utilização aos mesmos passa
essencialmente por conhecer a sua percepção, reflectir sobre os obstáculos mais apontados ao acesso e utilização dos cuidados de saúde,
de modo a que se possam reorientar as políticas de gestão do Sistema
Nacional de Saúde com vista a resultados mais eficazes na prática.
De acordo com os resultados obtidos, a maioria da população imigrante
de origem africana residente na AML encontra-se satisfeita com os
Inês Martins Andrade
228
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
cuidados de saúde em geral do SNS, (69,7%) enquanto que 30,3% se
revela insatisfeita com os mesmos. A leitura dos resultados obtidos por
unidades de análise denota percepções muito diversificadas, embora em
todos eles a maioria da população se encontre satisfeita.
Assim sendo, é na Quinta da Serra que os imigrantes africanos se revelam mais satisfeitos com o SNS (80,0%) e na Alta de Lisboa, onde a satisfação com os mesmos regista as proporções mais reduzidas (56,7%).
Entre os três restantes casos de estudo, o Bairro Amarelo e Santa
Filomena apresentam percentagens de indivíduos satisfeitos com os
cuidados de saúde do SNS superiores e relativamente equitativos entre
si (70,0% e 73,3% respectivamente), comparativamente à Quinta da
Princesa, que apresenta o segundo valor percentual mais reduzido de
imigrantes satisfeitos com os cuidados médicos do SNS (68,3%).
Uma leitura desagregada por género revela que homens e mulheres
imigrantes provenientes dos PALOP se encontram maioritariamente
satisfeitos com os cuidados de saúde dos SNS (70,7% e 68,9%, respectivamente). Porém, as mulheres africanas apresentam uma ligeira superioridade na insatisfação com estes cuidados de saúde. Não obstante
este aspecto, trata-se assim de um padrão geral de satisfação bastante
homogéneo quanto à variável género.
Figura 62 – Satisfação da População Inquirida com os Serviços de Saúde
em Geral, por Sexo (%), 2006
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Satisfação
Insatisfação
Feminino
Masculino
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Contudo, quando a variável em questão é a idade, registam-se notáveis
disparidades, pois à medida que se desce na estrutura etária, a insatisfação com os cuidados de saúde do SNS regista um acréscimo. De facto,
é entre a população idosa que se regista um maior número de indivíduos
Inês Martins Andrade
229
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
satisfeitos com estes serviços (85,7%). Comparativamente ao grupo etário seguinte (população com idades compreendidas entre os 21 e os 64
anos) dá-se uma queda abrupta da percentagem de respostas de satisfação, ainda que também a este nível a maioria da população se encontre
satisfeita (69,2%). Ao nível da população jovem, ainda que a percepção
seja relativamente idêntica à do grupo etário anterior, revela ainda uma
maior insatisfação (60,3% dos indivíduos com esta idade estão satisfeitos
com os cuidados de saúde).
Este padrão de satisfação reproduz, em muito, a experiência de vida individual dos imigrantes. Com efeito, são as populações mais idosas que,
em geral, mais anos viveram nos PALOP, onde a escassez de recursos
humanos e físicos ao nível dos cuidados de saúde é um traço marcante.
Como tal, as populações mais idosas têm uma referência que lhes permite efectuar uma avaliação comparativa e, por isso, consideram muito
positivos os cuidados de saúde prestados no âmbito do SNS. Assim compreende-se a existência de uma percentagem tão elevada de indivíduos
neste grupo etário satisfeitos com os serviços de saúde prestados.
Contrariamente a esta situação, os imigrantes mais jovens assumem
uma postura avaliativa mais crítica e registam uma maior insatisfação com os cuidados de saúde prestados no âmbito do SNS. Este facto
resulta, em parte, porque são as populações mais jovens as que residiram durante um menor período de tempo nos PALOP e que, por isso,
têm menos recordações e conhecimentos da realidade do seu país de
origem, mas também porque chegaram a Portugal mais recentemente
e já conheceram cuidados de saúde mais desenvolvidos ou ainda porque
simplesmente são naturais de Portugal e, portanto, não possuem qualquer tipo de referência. Por outro lado, note-se ainda que os grupos etários mais jovens são tendencialmente mais sensíveis à assimilação da
opinião pública perante uma ausência maioritária de conhecimento prático, uma vez que é nestes grupos que ocorre uma menor utilização dos
cuidados de saúde, o que de algum modo poderá explicar estes valores
de insatisfação.
Inês Martins Andrade
230
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Figura 63 – Satisfação da População Inquirida com os Serviços de Saúde em Geral,
por Grandes Grupos Etários (%), 2006
65 ou mais anos
21 aos 64 anos
15 aos 20 anos
0,0
20,0
40,0
Satisfação
60,0
80,0
100,0
Insatisfação
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
A prevalência da satisfação com os cuidados de saúde do SNS entre
a população imigrante de origem africana na AML explica que não se
registem situações estatisticamente significativas de transnacionalismo
para a obtenção dos cuidados de saúde. De facto, verifica-se que no conjunto da nosso universo populacional, somente em duas situações houve
utilização dos cuidados de saúde no estrangeiro, uma para a obtenção de
uma consulta particular com vista à obtenção de um serviço de melhor
qualidade e outro, de carácter ocasional, em que a deslocação ao país
de origem coincidiu com uma situação de urgência.
Efectivamente, através das entrevistas desenvolvidas com os mediadores
sócio-culturais locais percebeu-se que ocorrem essencialmente outros
dois tipos de situações de transnacionalismo para a obtenção de cuidados de saúde. Uma, claramente de transnacionalismo, ocorre com a procura, sobretudo, de medicinas tradicionais e particularmente de curandeiros no país de origem, e outra, que não poderemos considerar de
verdadeiro transnacionalismo, ocorre aquando de situações de doença
ou de acidente nos imigrantes, sobretudo, do sexo masculino quando se
encontram a trabalhar temporariamente num país estrangeiro.
Deste modo, a população oriunda dos PALOP residente na AML não
regista maioritariamente uma procura de cuidados de saúde para lá
das fronteiras, uma prática comum, por exemplo, entre a comunidade
cabo-verdiana residente na Holanda. De facto, na Holanda, apesar de
terem sido criados serviços específicos para imigrantes, como um centro
para a promoção de conhecimento sobre a saúde imigrante com mediadores culturais, tal como uma investigação recente concluiu, a interligação de factores relacionados com as características organizacionais
e estruturais do sistema de saúde holandês com factores derivados do
Inês Martins Andrade
231
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
desfasamento entre as expectativas da comunidade cabo-verdiana e dos
profissionais de saúde relativamente à forma pela qual os cuidados de
saúde são prestados, leva muitas vezes a que a comunidade cabo-verdiana não poupe esforços para procurar cuidados de saúde em outros
países europeus, entre os quais Portugal e França (FREITAS, 2006).
À escala da AML, o transnacionalismo para a obtenção de cuidados de
saúde entre a população imigrante dos PALOP não é muito comum, pois
a maioria se encontra satisfeita com os cuidados de saúde e, por outro
lado, no que concerne aquela que encontra-se insatisfeita, uma interligação de factores, constrói uma barreira que os impede de procurarem cuidados de saúde no estrangeiro. Considerando que se trata de
uma população que tem uma multiplicidade de contactos dispersos por
vários países europeus, como resultado das diásporas que marcam o
seu povo, a ausência de pontos de referências e contactos em outros países europeus não assume qualquer tipo de significado. Por conseguinte,
considera-se que os factores determinantes do não transnacionalismo
entre esta população são, sobretudo, a reduzida capacidade económica
e a diminuta capacidade de mobilidade, resultante de se tratar de uma
população, em geral, pouco informada. As barreiras económicas levam
usualmente a que a população imigrante, após a obtenção do cartão de
utente, circunscreva a sua utilização aos cuidados de saúde do sistema
de saúde português.
Do mesmo modo, pôde-se constatar através das entrevistas realizadas que, muitos imigrantes africanos que se encontram a trabalhar em
vários países europeus, mas com autorização de residência em Portugal,
optem por vir ao nosso país para receberem cuidados de saúde, uma vez
que nesses países os custos inerentes à assistência médica são muito
superiores e porque em Portugal como têm cartão de utente, podem
beneficiar desses mesmos cuidados a preços muito inferiores com uma
qualidade que consideram satisfatória.
2. FACTORES EXPLICATIVOS DA PERCEPÇÃO DE (IN)SATISFAÇÃO
A avaliação da percepção dos imigrantes africanos reveste-se de elevado
interesse, na medida em que permite identificar as fragilidades e potencialidades que marcam o Sistema Nacional de Saúde e que fomentam ou
limitam o seu acesso e utilização aos serviços médicos.
Inês Martins Andrade
232
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.1. Factores Positivos dos Cuidados de Saúde do SNS
Segundo uma análise desagregada à escala do bairro, é possível identificarem-se os principais factores positivos e negativos do SNS, de
acordo com a opinião da população inquirida. No que trata aos factores
positivos, uma visão de conjunto, remete para a preponderância de dois
aspectos, isto é, o profissionalismo e a competência dos profissionais de
saúde (39,0%) e a existência de cuidados médicos de qualidade e substancialmente diversificados (12,0%). Embora tenham sido apontados
vários outros factores, todos eles registam uma diminuta relevância
estatística (amabilidade e disponibilidade dos profissionais de saúde,
3,0%, distribuição gratuita de medicação a população carenciada, 4,7%,
existência de muita medicação e facilidade de acesso, 3,0%, proximidade
dos equipamentos colectivos de saúde às respectivas áreas residenciais,
2,7%, a própria qualidade geral das instalações, 2,3%).
Uma leitura mais minuciosa permite identificar três padrões gerais. Por
um lado, a Alta de Lisboa e o Bairro de Santa Filomena reflectem precisamente o padrão geral de respostas obtidas, com uma preponderância do factor profissionalismo/competência dos profissionais de saúde
(40,0% e 55,0%), seguida do factor existência de cuidados médicos e com
qualidade (11,7% e 13,3%, respectivamente). Os dois casos de estudo
da Margem Sul apresentam como traço comum o facto de registarem
a primazia dos dois factores anteriores, mas pautados por uma elevada
proximidade estatística de um terceiro factor, a distribuição gratuita de
medicação a população carenciada (Quinta da Princesa 10,0% e Bairro
Amarelo 8,3%). A Quinta da Princesa tem ainda a particularidade de
apresentar um quarto factor estatisticamente próximo, que consiste na
existência de muita medicação e respectiva facilidade de acesso (8,3%).
A Quinta da Serra regista um carácter singular, porque embora tenha
como factores preponderantes o profissionalismo/competência dos profissionais de saúde e a existência de cuidados médicos e com qualidade
(41,7% e 8,3%, respectivamente), é a única unidade de análise onde surgem dois factores em terceiro lugar, com a mesma expressividade estatística e muito próximos do segundo factor. Tratam-se da amabilidade
e disponibilidade dos profissionais de saúde (6,7%) e a qualidade geral
das instalações (6,7%).
Inês Martins Andrade
233
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 44 – Aspectos Positivos do SNS em geral segundo a População Inquirida,
por Bairro de Residência (%)
Unidades de Análise
Unidade de Análise
Alta
Bairro
Quinta
Quinta
de Lisboa Amarelo da Princesa da Serra
Santa
Filomena
Total
Geral
Amabilidade e Disponibilidade
dos Profissionais de Saúde
001,7
001,7
000,0
006,7
005,0
003,0
Profissionalismo/Competência
dos Profissionais de Saúde
040,0
030,0
028,3
041,7
055,0
039,0
Cuidados médicos diversificados
e com qualidade
011,7
013,3
013,3
008,3
013,3
012,0
Distribuição gratuita de medicação
a população carenciada
001,7
008,3
010,0
003,3
000,0
004,7
Existência de muita medicação
e facilidade de acesso
003,3
000,0
008,3
001,7
001,7
003,0
Proximidade dos equipamentos
de saúde
003,3
005,0
003,3
001,7
000,0
002,7
Qualidade geral das instalações
000,0
003,3
001,7
006,7
000,0
002,3
Outra
001,7
000,0
000,0
000,0
000,0
000,3
Não se aplica/Não responde
036,7
038,3
035,0
030,0
025,0
033,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
2.2. Factores Negativos dos Cuidados de Saúde do SNS
Quanto aos factores negativos, de um modo geral, o aspecto mais referido no conjunto dos casos de estudo foi o tempo de espera na marcação
de consultas, pequenas cirurgias ou operações, bem como o atendimento
médico e nos mais diversificados tipos de consultas, o que vai desde as
consultas dos médicos de família até às consultas de urgência (31,3%).
Com uma grande margem estatística deste factor preponderante posteriormente, surgem o atendimento médico, o que engloba um conjunto de
críticas que vão desde negligência médica, à falta de sensibilidade dos
profissionais de saúde até ao facto destes serem considerados pouco
explícitos (15,3%) e o facto dos recursos humanos assim como os cuidados de saúde, em geral, serem insuficientes (11,3%). Estes dois factoInês Martins Andrade
234
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
res negativos apresentam-se fortemente interligados entre si, a ideia
subjacente a estas críticas são também transversais à sociedade portuguesa e resultam de que face à incapacidade de resposta perante a
procura, os profissionais de saúde acabam muitas vezes por atender
os utentes com alguma brevidade, não podendo fazer um conjunto paralelo de questões, explicar de forma mais detalhada ao utente as causas
e consequências da sua situação de doença, etc. Esta atitude, fomenta
um conjunto de críticas aos profissionais de saúde, como sendo, a sua
pouca sensibilidade, serem pouco explícitos e, subsequentemente, em
caso de ocorrência de um agravamento do seu estado de saúde, destes
serem negligentes. Estes factores relativos ao atendimento dos profissionais de saúde adquirem grande dimensão, pelo facto da população
de origem africana, se encontrar habituada nos seus países de origem
a um contacto mais informal com os profissionais de saúde ou indivíduos
que tratam deles em situação de doença.
Uma abordagem espacializada evidencia que na Alta de Lisboa, no Bairro
Amarelo, Quinta da Serra e em Santa Filomena o principal aspecto negativo dos cuidados de saúde do SNS é o tempo de espera na marcação
de consultas e no atendimento médico (48,3%, 35,0%, 25,0% e 33,3%,
respectivamente), seguido do atendimento médico (11,7%, 23,3%, 16,7%
e 16,7%, respectivamente). Na Quinta da Princesa não há nenhum factor
negativo que registe grande expressividade, observa-se antes uma pulverização de aspectos negativos com proporções de respostas muito
próximas entre si, como é o caso do tempo de espera na marcação de
consultas e no atendimento médico (15,0%), do mau atendimento médico
(11,7%) e da distância elevada aos cuidados de saúde diferenciados
(8,3%), o que se compreende na medida em que é neste caso de estudo
que é maior a distância geográfica ao hospital de referência.
Inês Martins Andrade
235
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Tabela 45 – Aspectos Negativos do SNS em geral da População Inquirida,
por Bairro de Residência (%), 2006
Unidades de Análise
Unidade de Análise
Alta
Bairro
Quinta
Quinta
de Lisboa Amarelo da Princesa da Serra
Santa
Filomena
Total
Geral
Excesso de burocracias
e falta de informação
010,0
000,0
003,3
000,0
005,0
003,7
Custos elevados
(taxas moderadoras e medicação)
000,0
011,7
000,0
003,3
000,0
003,0
Distância elevada aos cuidados
de saúde diferenciados
000,0
000,0
008,3
005,0
001,7
003,0
Horário de funcionamento restritivo
000,0
001,7
000,0
006,7
003,3
002,3
Tempo de espera na marcação
de consultas/atendimento
048,3
035,0
015,0
025,0
033,3
031,3
Mau atendimento
do pessoal administrativo
000,0
001,7
001,7
001,7
000,0
001,0
Atendimento médico
(pouco sensíveis e explícitos)
011,7
023,3
011,7
016,7
013,3
015,3
Recursos humanos/cuidados
de saúde insuficientes
006,7
005,0
036,7
005,0
003,3
011,3
Não se aplica/Não responde
023,3
021,7
023,3
036,7
040,0
029,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total Geral
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
2.3. Assimetrias na Prestação de Cuidados de Saúde
entre Portugal e os PALOP
A percepção da população imigrante de origem africana quanto às diferenças que marcam os cuidados de saúde no país de origem e no país
de destino revela-se essencial na compreensão da questão do acesso
e utilização, pois são indicativas de factores que podem ajudar a compreender a sua maior ou menor utilização desses serviços.
Por conseguinte, verifica-se que quase metade da população inquirida
que nasceu num país africano refere que a maior assimetria entre os
dois países consiste no facto de existirem melhores condições médicas
em geral em Portugal (43,7%).
Inês Martins Andrade
236
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Embora de um modo geral, os factores referidos apontem para diferenças típicas entre países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, há
dois factores que não se integram neste tipo de abordagem e são específicas da própria cultura africana. Trata-se da menor utilização de plantas
tradicionais com fins terapêuticos por oposição a um recurso limitado
aos produtos farmacêuticos, muito recorrentes de químicos (1,7%), factor apresentado especialmente por uma população mais envelhecida, e a
menor proximidade entre o utente e o profissional de saúde (4,0%), o que
não se verifica no país de origem, onde geralmente estas duas posições
se encontram interligadas por laços de parentesco.
Figura 64 – Maiores Diferenças na Prestação dos Cuidados de Saúde
entre Portugal e o País de Origem Sentidas pela População Inquirida (%), 2006
2% 2%
Menor utilização de plantas
para fins terapêuticos
4%
9%
34%
Hábito de se ir ao médico
com regularidade
Maior diversidade de medicação
e facilidade de acesso
Mais profissionais de saúde,
com mais formação e especialização
Melhores condições médicas em geral
Menor proximidade utente-profissional
de saúde e menor sensibilidade
do 2.o para o 1.o
2%
4%
43%
Não existem diferenças
Não se aplica/Não responde
Fonte: Apuramentos do Questionário, 2006
Inês Martins Andrade
237
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do presente trabalho foi possível evidenciar como a Área Metropolitana de Lisboa se afirmou, no decurso das últimas décadas, enquanto
uma Geografia de destino de imigrantes no contexto das migrações
internacionais, particularmente provenientes das antigas colónias portuguesas em África. A mudança abrupta de papel de saída de populações
para a emergência de um protagonismo associado ao de local de chegada não tem, no entanto, sido acompanhada das medidas e políticas
de saúde mais adequadas, por forma a promover a sua integração na
sociedade portuguesa. A escassez de investigação científica centrada na
saúde da população imigrante, associada a uma subvalorização da temática da saúde da população imigrante, têm relegado para segundo plano
a adopção de políticas multiculturais de saúde e de diplomas legais que
estabeleçam o direito das comunidades imigrantes em beneficiarem da
prestação de cuidados de saúde e assistência médica. O presente trabalho permitiu ainda validar um conjunto de hipóteses que demonstram
como inúmeras ideias pré-concebidas sobre o acesso e a utilização dos
imigrantes aos cuidados de saúde assim como sobre a sua própria saúde
se encontram desfasadas da realidade, acentuando assim a necessidade
de aprofundar e aumentar os níveis de conhecimento científico e prático
nesta matéria.
A primeira hipótese de investigação colocada encontrava-se centrada
na ideia de que os imigrantes africanos utilizam os cuidados de saúde,
embora em resultado de um conjunto de factores, a utilização dos mesmos seja efectuada essencialmente em quadros de urgência médica.
Quanto a esta questão, foi possível obter um conjunto de conclusões pertinentes, designadamente as seguintes:
– Independentemente dos níveis de cuidados de saúde em questão (primários ou diferenciados), os imigrantes africanos na
sua grande maioria utilizam-nos, ao que acresce que no caso
dos cuidados de saúde primários, maioritariamente esta população está inscrita e tem médico de família.
– Existe uma forte propensão para a utilização dos cuidados de
saúde, primários e diferenciados, em situação de urgência, tal
como foi possível constatar pela análise dos principais motivos para a utilização dos cuidados de saúde. De facto, a população imigrante africana e seus descendentes não apresenta
acentuados hábitos de cultura preventiva na saúde e, portanto,
só recorre à assistência médica geralmente quando tem sintomas de doença ou quando se trata mesmo de uma urgência
Inês Martins Andrade
239
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
médica. Esta constatação deriva não só da primazia da utilização dos cuidados de saúde por razões de urgência/doença em
detrimento das consultas de rotina, como também pela diminuta expressividade que as consultas de planeamento familiar, para realização de meios complementares de diagnóstico
ou para consultas de saúde materna assumem. Importante é
também a constatação de que com o aumento do número de
anos vividos em Portugal, esta tendência tende a esbater-se,
pois os imigrantes tendem a adquirir maiores hábitos de promoção da sua saúde.
Relativamente à segunda hipótese de investigação, de que o acesso e
utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde são influenciados por
variáveis transversais à sociedade portuguesa em igual posição sócio-económica, pelas próprias características inerentes ao Sistema Nacional de Saúde, e ainda influenciada pela sua própria condição de imigrante, foi possível obter as seguintes conclusões:
– A tipologia de acesso e utilização dos cuidados de saúde resulta
da interligação de um conjunto de factores que evidenciam
similaridades com o padrão que caracteriza a população portuguesa, mas que esboçam particularidades associadas à condição de imigrantes.
– À semelhança do que se constata com a população portuguesa,
na sua generalidade, também entre a população africana as
características ditas imutáveis (ser-se homem ou mulher, ser
jovem, adulto ou idoso, ter-se nacionalidade portuguesa ou
estrangeira) e as denominadas de imutáveis (os baixos níveis
de instrução, o desempenho de actividades profissionais fisicamente exigentes, mal remuneradas, socialmente desvalorizadas) geram padrões de utilização dos serviços médicos
distintos. Neste contexto, destaque-se que as mulheres utilizam mais os cuidados de saúde do que os homens, ainda que
estes recorram a um padrão mais amplo de serviços; os idosos
constituem o grupo etário que mais utiliza e com maior frequência os cuidados de saúde, porque com o aumento da idade
há um acréscimo das necessidades de consumo de cuidados
de saúde; os imigrantes com menores níveis de escolaridade
ou com profissões mais exigentes em termos de horário e de
mobilidade geográfica, apresentam menores utilizações dos
cuidados de saúde e tendem, de forma mais incisiva, a fazê-lo
em situação de urgência.
Inês Martins Andrade
240
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
– Do mesmo modo que para a população portuguesa, também
para os imigrantes africanos as características inerentes ao
Serviço Nacional de Saúde constituem aspectos relevantes na
compreensão do seu acesso e utilização. De facto, tal como
se pode validar pela análise comparativa dos cinco casos de
estudo, em contextos de boa oferta de cuidados de saúde,
por exemplo, proximidade entre a área de residência e os
equipamentos colectivos de saúde, que possibilite, sobretudo,
deslocações a pé, e um número de profissionais de saúde
satisfatório face à população inscrita nessa unidade de saúde,
promovem utilizações dos cuidados de saúde mais elevadas.
A situação contrária, gera uma perda de confiança nos cuidados médicos, que contribui para a opção pela não utilização dos mesmos. Deste modo compreende-se que na Quinta
da Serra, cujo centro de saúde apresenta uma boa relação
número de utentes por médicos, as proporções de imigrantes
inscritos e que utilizam os cuidados de saúde primários sejam
tão elevados, do mesmo modo que o Bairro Amarelo, o caso de
estudo que apresenta a maior proximidade ao respectivo centro de saúde, seja aquele que detém as percentagens de utilização destes serviços mais elevadas, enquanto que o caso de
estudo da Quinta da Princesa, que apresenta o maior número
de utentes por médico, registe as menores proporções de imigrantes que não utilizam o centro de saúde e que não têm
médico de família.
– No âmbito das características do Serviço Nacional de Saúde,
percebe-se que a principal barreira ao acesso e utilização dos
cuidados de saúde apresentada pela população imigrante
sejam as listas de espera, para além de outras relativas ao
SNS, como sendo, a falta de informação, as burocracias inerentes, ou o horário de funcionamento.
– Todavia, para além destes dois grandes domínios, percebeu-se
que as especificidades inerentes à condição de imigrante contribuem também de forma muito relevante para os padrões de
acesso e utilização registados. Entre as principais barreiras
apuradas, destaque-se a ausência de hábitos de promoção da
saúde e prevenção da doença, típica nos seus países de origem, as dificuldades ao nível da língua e a situação de indocumentado. Estes aspectos, em determinadas situações, constituem importantes barreiras que explicam que os imigrantes
africanos não utilizem os cuidados de saúde.
Inês Martins Andrade
241
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A última hipótese que sustentou a investigação remete para o estado da
saúde da população imigrante, isto é, considerou-se que estes imigrantes à chegada a Portugal apresentam-se, em geral, saudáveis, não constituindo pontes para a introdução de patologias típicas ou frequentes dos
seus contextos territoriais de partida na sociedade de acolhimento. No
entanto, as más condições de vida, em geral, a que são sujeitos nessa
mesma sociedade, promovem o aparecimento de diversas patologias,
que conduzem à fragilização do seu estado de saúde.
– A primeira constatação de validação desta hipótese consiste
em notar que a grande maioria dos imigrantes africanos que
chegam ao nosso país não apresentam doenças. Trata-se
de uma população que imigra por fins laborais, à procura de
melhores condições de vida. Pelas dificuldades que se colocam
a todo o processo imigratório, aqueles que efectivamente conseguem alcançar o sonho de imigrar, são em geral populações
fortes e saudáveis, com níveis de saúde bastante positivos.
– Decorridos alguns anos ou décadas de inserção numa determinada sociedade de acolhimento (neste caso a AML), os imigrantes africanos apresentam maioritariamente um quadro
epidemiológico marcado pela ausência de doenças, no entanto,
quando estas existem tratam-se essencialmente de patologias
idênticas às da população portuguesa. Com efeito, as doenças
infecto-contagiosas ou as doenças típicas do seu país de origem assumem uma fraca expressividade. Identificam-se algumas patologias comuns entre esta população, ainda que estatisticamente diminutas como sendo as hemoglobinopatias, as
quais promovem uma redução da sua esperança média de vida
e sua qualidade de vida.
– Como consequência do processo imigratório e do próprio contexto de integração na sociedade de acolhimento, pautados
por más condições de vida em geral, a saúde dos imigrantes
africanos é fragilizada. Os impactes psicológicos de imigrar,
muitas vezes sozinho, caindo nas teias das redes de tráfico
de seres humanos, o facto de se integrar numa sociedade e
num mundo metropolitano muito diferente da sua terra natal,
as dificuldades económicas, as más condições de habitação,
assim como de alimentação e de trabalho, constituem um processo muito complicado, com fortes repercussões no estado
de saúde destas populações. Mais concretamente, constata-se
que todo este processo gera situações de perturbações mentais, que vão desde as mais simples depressões até a compliInês Martins Andrade
242
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
cações graves do foro psiquiátrico, assim como comportamentos de risco, que podem conduzir ao aparecimento de doenças
infecto-contagiosas, desenvolvem-se problemas de estômago,
de coluna e reumatismo, entre muitas outras.
– O estado de saúde dos imigrantes encontra-se fortemente
associado às suas características pessoais, aos seus comportamentos e atitudes, mas também às características da sociedade de acolhimento, quer relativas ao ambiente físico quer
social. Naturalmente nos casos de estudo onde as condições
habitacionais são degradadas e reduzidas face ao número de
residentes e o ambiente do próprio bairro regista uma importante insalubridade (nomeadamente, Quinta da Serra e Santa
Filomena), existem condições mais propícias ao aparecimento
e rápida difusão de determinadas doenças, do mesmo modo
que nos casos de estudo onde é mais incidente a presença de
equipamentos e parceiros sociais, o estado de saúde das populações é também influenciado positivamente, pois estes contribuem para a mudança de comportamentos da população imigrante. Esta constatação na prática traduz-se, por exemplo,
numa maior utilização do centro de saúde e numa maior utilização do preservativo.
Acrescendo a estas conclusões que permitiram testar e validar as hipóteses de investigação, a partir do trabalho de campo desenvolvido foi
também possível obter outras importantes conclusões, que pela especificidade que se lhes encontra subjacente, registam uma centralidade
nas acções de promoção de saúde destas populações e que, como tal,
importa salientar.
– Qualquer trabalho desenvolvido com vista à promoção da
saúde e prevenção da doença dos imigrantes africanos terá de
atender às múltiplas especificidades culturais desta população. O conhecimento das particularidades culturais de cada
indivíduo é fundamental para a compreensão das suas atitudes face à sua própria saúde e, subsequentemente, para o
desenvolvimento de um trabalho profícuo. Deste modo, se
explica que duas das principais barreiras ao acesso e utilização dos cuidados de saúde mencionados tenham sido o facto
de não haver o hábito nos seus países de origem em se efectuar uma promoção da saúde, daí a que recorram à assistência médica principalmente em situações de urgência/doença,
e o facto dos imigrantes considerarem que a prestação de
assistência médica em Portugal está desadaptada à cultura
Inês Martins Andrade
243
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
africana. O factor cultura sustenta também as diminutas utilizações dos cuidados de saúde primários por motivos de planeamento familiar ou saúde infantil no caso dos indivíduos do
sexo masculino e para por razões de realização de consultas
de vigilância na gravidez no caso das mulheres, assim como a
relutância na utilização do preservativo ou o elevado consumo
de álcool.
– A maioria dos imigrantes africanos residentes na AML encontra-se satisfeita com os cuidados de saúde do SNS. O profissionalismo e a competência dos profissionais de saúde e a
existência de mais recursos, humanos e físicos, para a assistência à saúde em Portugal, comparativamente ao cenário
existente nos seus territórios de origem, são a principal razão
desta satisfação. Todavia, entre os vários grupos etários registam-se avaliações da satisfação com estes cuidados de saúde
assimétricos, observando-se um decréscimo da insatisfação
com o aumento da idade. Perante as situações de insatisfação com os cuidados de saúde, os motivos apresentados são
factores comuns também à sociedade portuguesa, designadamente, as listas de espera e a insuficiência de recursos humanos, no entanto, associado à sua cultura, alguns indivíduos
consideraram ainda o atendimento médico, isto é, a prestação
de assistência médica demasiado rápida, dando uma reduzida
atenção ao utente.
– Forte associação entre os baixos níveis de instrução e as actividades profissionais mais desqualificadas com a frequência
e tipologia de utilização dos cuidados de saúde. Por outras
palavras, verifica-se que quanto mais reduzidos são os primeiros, menores são as taxas de utilização dos cuidados de saúde,
por motivos tão diversificados como sendo a menor consciencialização para a importância de uma cultura preventiva até
à menor disponibilidade económica para consumos de cuidados de saúde e maiores interdições da entidade patronal para
a dispensa do trabalhador imigrante para ir ao médico.
A partir de todas as constatações efectuadas e da sensibilidade adquirida, compreende-se que a verdadeira integração dos imigrantes na
sociedade portuguesa implica a adopção de um conjunto de comportamentos e medidas ao nível da saúde que visem esse mesmo fim. Assim,
consideram-se quatro medidas como fundamentais para o alcance de
uma estratégia de integração efectiva.
Inês Martins Andrade
244
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Antes de mais é essencial que a saúde dos imigrantes seja perspectivada a nível político como um benefício para a sociedade portuguesa,
para o crescimento da economia nacional e para o orçamento de Estado.
Portanto, exige-se a necessidade de adopção de políticas de saúde multiculturais, isto é, a adopção de medidas e estratégias de promoção da
saúde e prevenção da doença desta população tendo em consideração
as suas especificidades culturais. A sua concretização prática passa pela
integração de tradutores em serviços de saúde muito utilizados pelos
imigrantes, pelo desenvolvimento de campanhas de vacinação, de prevenção de doenças infecto-contagiosas, de educação nutricional orientadas especificamente para uma população com défices de cultura preventiva e hábitos de utilização sobretudo em situações de urgência/doença.
Em segundo lugar há a necessidade urgente de fazer cumprir a legislação adoptada em matéria de direitos dos imigrantes na utilização dos
cuidados de saúde, como condição essencial para um sistema de saúde
verdadeiramente equitativo. Embora estes já se encontram legislados,
na prática continuam a levantar-se inúmeras barreiras à sua efectivação, o que afasta frequentemente os imigrantes dos cuidados de saúde.
Para a concretização deste objectivo, é necessário continuar a apostar
na formação multicultural dos profissionais de saúde e do pessoal administrativo, pois a existência de uma sensibilidade cultural promove a
compreensão e o apoio daqueles que têm maiores dificuldades em compreender o funcionamento de um serviço que, mesmo para a população
portuguesa, se revela demasiado burocrático. Por outro lado, é também
importante rever determinados diplomas legais que, não obstante as
suas boas intenções, revelam-se demasiado complexos, ambíguos ou
simplesmente de aplicação difícil. Disto são exemplo, os diplomas que
exigem que o imigrante apresente todo um conjunto de determinados
documentos para que possa aceder aos cuidados de saúde, quando muitas vezes tal é impossível, o que na prática se traduz na impossibilidade
de utilização dos cuidados de saúde, isto é, a negação de um dos mais
importantes direitos humanos e agravamento de estados de saúde que
podem colocar em risco a saúde pública ou a vida de um ser humano.
Há a necessidade urgente em aumentar a investigação e o conhecimento
científico na temática do acesso e utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde assim como do seu estado de saúde. O verdadeiro conhecimento dos factos constitui condição essencial para a resolução dos
problemas: dos problemas resultantes de ideias pré-concebidas, dos
problemas resultantes da exclusão e marginalização dos imigrantes face
aos cuidados de saúde, dos problemas resultante da sua não integração
na sociedade de acolhimento.
Inês Martins Andrade
245
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Por fim, importa que, independentemente do objectivo central dos estudos, se dê alguma primazia às dimensões de análise geográfica, isto é,
importa ter em conta o território de residência, de trabalho e lazer dos
imigrantes em estudo. De facto, tal como evidenciado neste trabalho,
o acesso, utilização, satisfação e estado de saúde dos imigrantes é fortemente influenciado pelo espaço geográfico em que estes se encontram inseridos, como tal, a sua verdadeira compreensão terá de passar
pela análise das especificidades dos territórios em que os imigrantes
se encontram inseridos.
Recentemente, começam a esboçar-se os primeiros sinais de mudança,
pois está em curso o primeiro inquérito nacional às populações imigrantes, no âmbito de um estudo denominado «Acesso aos Cuidados
de Saúde e Nível de Saúde das Comunidades Imigrantes Africana e
Brasileira em Portugal», por iniciativa da Direcção-Geral da Saúde, aplicado pelo Instituto de Medicina Preventiva, da Faculdade de Medicina de
Lisboa. Assim, espera-se que estes sejam ventos de mudança na compreensão e subsequente integração de uma população que há muito faz
parte da nossa história, contribui para o equilíbrio dos nossos saldos
naturais e migratórios assim como para o crescimento económico e é
parte integrante das dinâmicas que se processam na metrópole multi-étnica que é a AML, bem como um pouco por todas as cidades e áreas
rurais do país e da própria União Europeia.
Inês Martins Andrade
246
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTUNES, M. (2001) – A Doença da Saúde – Serviço Nacional de Saúde:
ineficiência e desperdício, Quetzal Editores, Lisboa.
ARBACI, S. (2002) – Patterns of Ethnic and Sócio-spatial Segregation
in European Cities: are welfare regimes making a difference?, in Immigration And Place in Mediterranean Metropolises, Metropolis Portugal,
Lisbon.
ARROZ, M. (1979) – Difusão espacial da hepatite infecciosa, in Finisterra,
Revista Portuguesa de Geografia, Volume XIV, N.o 27, Centro de Estudos
Geográficos, Lisboa.
BAGANHA, M. e RIBEIRO, J. (2002) – O sector da saúde em Portugal: funcionamento do sistema e caracterização sócio-profissional, Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
BAILLY, A., BERNHARDT, M., GABELLA, M. (2006) – Pour une Santé de
Qualité en Suisse, 2.a édition, Economica.
BAILLY, A. (1999) – Médicométrie: Une nouvelle approche de la santé,
Economica, Paris.
BAPTISTA, A. (1995) – Rede Urbana Nacional: Problemas, Dinâmicas e
Perspectivas. In Ciclo de Colóquios A Política Urbana e o Ordenamento
do Território, Lisboa.
BARBOSA, A. (2003) – Pensar a morte nos cuidados de saúde. Análise
Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa, N.o 166.
BARRETO, A. (1996) – Portugal 1960/1995: Indicadores Sociais, Cadernos
do Público, Lisboa.
BARTON, H. & TSOUROU, C. (2000) – Healthy Urban Planning, Published
on behalf of the World Health Organization Regional Office for Europe by
Spon Press, Londres e Nova York.
BEAGLEHOLE, R., BONITA, R., KJELLSTROM, T. (2003) – Epidemiologia
Básica, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
BRANCO, A. E RAMOS, V. (2001) – Cuidados de Saúde Primários em
Portugal, in Revista Portuguesa de Saúde Pública, Lisboa.
Inês Martins Andrade
247
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
CALADO, P.; CRISTÓVÃO, N. (2001) – Bairro da Quinta da Princesa –
Diagnóstico, Programa Escolhas, Lisboa.
CALADO, P.; CRISTÓVÃO, N. (2003) – Bairro Amarelo – Diagnóstico, Programa Escolhas, Lisboa.
CAMPOS, A (2004) – A rede de prestação de cuidados continuados de
saúde e a Entidade Reguladora da Saúde: a continuação da reestruturação no sector da saúde, Revista Portuguesa de Saúde Pública, Direito da
Saúde, Volume 22, N.o 1, Janeiro/Junho.
CAMPOS, A. (2002) – Despesa e défice na saúde: o percurso financeiro
de uma política pública. Análise Social – Revista do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, N.o 161.
CAMPOS, A. (1996) – Notícias do Leste: As Reformas dos Sistemas de
Saúde, in As Reformas dos Sistemas de Saúde, APES, Lisboa.
CARREIRA, H. (1996) – O Estado e a Saúde, Cadernos do Público, Lisboa.
CARVALHO, Jorge (2003), Ordenar a Cidade, Editora Quarteto, Coimbra.
CICCO, J. (1920) – Como se higienizaria Natal, Natal, Brasil.
COSME, A. (2000) – A Oferta Privada de Serviços de Saúde na Região de
Lisboa e Vale do Tejo, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
COSTA, E. (2000) – Cidades Médias e Ordenamento do Território – O Caso
da Beira Interior, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
COSTA e TEIXEIRA (1999) – The concept of space in epidemiological
research, Cadernos de Saúde Pública, Volume 15, N.o 2, Abril/Junho, Rio
de Janeiro.
DGOTDU – Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (1997) – Sistema Urbano Nacional – Cidades Médias e
Dinâmicas Territoriais, Volume 1 e 2, Lisboa.
DGOTDU (2002) – Normas de Programação de Equipamentos Colectivos,
Lisboa.
Inês Martins Andrade
248
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
DIAS, S., GONÇALVES, A., LUCK, M., FERNANDES, M. (2004) – Risco de
Infecção por VIH/SIDA, Utilização-acesso aos Serviços de Saúde numa
comunidade migrante, Unidade de Sistemas de Saúde, Centro de Malária
e Outras Doenças Tropicais, Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
EDUARDO, A., FERREIRA, A. (2004) – As topografias médicas no Brasil
do inicio do Século XX: aportes históricos ao estudo da relação meio
ambiente e sociedade (o caso de Natal – RN), paper apresentado no
II Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa em
Ambiente e Sociedade.
ESTEVES, A. (2004) – Imigração e Cidades: Geografias de Metrópoles
Multi-Étnicas – Lisboa e Washington D.C., Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
FERNANDES, S; QUEIROZ, J. (2003) – Bairro de Santa Filomena – Diagnóstico, Programa Escolhas, Lisboa.
FERRÃO, J. (2003) – Sistema Urbano Nacional, Síntese, Direcção Geral
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Lisboa.
FERREIRA, A. (2004) – Do que falamos quando falamos de regulação em
saúde? Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, N.o 171.
FERREIRA, P. et al. (2001) – Determinantes da Satisfação dos Utentes
dos Cuidados Primários: o caso de Lisboa e Vale do Tejo, II Volume
Temático.
FERREIRA, P; LOURENÇO, O. (2003) – Avaliações subjectivas sobre qualidade em saúde: um contributo para o estudo da equidade. Revista Portuguesa de Saúde Pública, Volume Temático 3, Escola Nacional de Saúde
Pública, Lisboa.
FONSECA, L. (2005) – Migrações e Território, Programa. Estudos para o
Planeamento Regional e Urbano n.o 64, Centro de Estudos Geográficos,
Universidade de Lisboa, Lisboa.
FONSECA, L. (2005) – Reunificação Familiar e Imigração em Portugal,
N.o 15 Colecção Estudos Observatório da Imigração, Lisboa.
FONSECA, L., MALHEIROS, J. coord. (2005) – Social Integration And
Mobility: Education, Housing And Health – IMISCOE Cluster B5 State of
Inês Martins Andrade
249
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Art Report, Estudos para o Planeamento Regional e Urbano, Centro de
Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa.
FONSECA, L. et al. (2002) – Immigrants in Lisbon, Routes of Integration,
Universidade de Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, Estudos para o
Planeamento Regional e Urbano N.o 56, Lisboa.
FONSECA, L. (1990) – População e Território – Dissertação de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
FREITAS, C. (2005) – Health has no Borders’: Cape Verdean Immigrants
in the Netherlands and the Transnational Quest for Health Care Across
Europe, Internacional Journal of Migration, Health and Social Care,
Volume I, Issue I.
FREITAS, C. (2005) – Good Pratice in Mental Health and Social Care for
Refugees and Asylum Seekers, Part A. Identification Study Report on
Portugal.
FREITAS, C. (2005) – Em Busca de um Bom Médico, Quando a «Saúde
Não Tem Fronteiras» – Percepções dos cabo-verdianos sobre os profissionais de saúde na Holanda, dissertação de mestrado na International
School for Humanities and Social Sciences, Universidade de Amesterdão.
GALEA, S., FREUDENBERG, N., VLAHOV, D. (2005) – Cities and Population
Health, Social Science Medicine, Volume 60, Issue 5, Págs. 1017-1033.
GARDETE, M, ANTUNES, M. (1992) – Tuberculose em Imigrantes: estudo
preliminar em sete Serviços de Tuberculose e Doenças respiratórias dos
Distritos de Lisboa e Setúbal, Saúde em Números 8 (4): 30-32.
GASPAR, J. et al. (2006) – Expansão, Reabilitação e Renovação Urbana:
Lições de Experiência, in Volume IV da Geografia de Portugal – Planeamento e Ordenamento do Território, Circulo de Leitores, Lisboa.
GASPAR, J. (1993) – Reordenamento Urbano em Portugal, in Actas do
Seminário Internacional, Serviços e Desenvolvimento numa Região em
Mudança, CCRC, Coimbra.
GASPAR, J.; JENSEN-BUTTLER, C. (1992) – Social Economic and Cultural Transformation in the Portuguese Urban System. In International
Journal of Urban and Regional Research, Volume 16, N.o 3.
Inês Martins Andrade
250
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
GIRALDES, M. (1997) – Equidade e Despesa em Saúde. Editorial Estampa,
Temas de Sociologia, Lisboa.
GIRALDES, M. (2005) – Despesa privada em saúde das famílias – desigualdades regionais e sócio-económicas em Portugal, 1994-1995/2000.
Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa, N.o 174.
GONÇALVES, S. (2005) – Saúde, Documento de enquadramento Preliminar, in Norte 2015, Grupo de Prospectiva: As Pessoas, Atelier Temático:
Saúde, Porto.
GRAÇA, L. (1996) – Evolução do Sistema Hospitalar: Uma perspectiva
Sociológica. Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde
Pública, Lisboa.
GRAÇA, L. (2000) – Representações Sociais da Saúde, da Doença e dos
Praticantes da Arte Médica nos Provérbios em Língua Portuguesa, Textos sobre Saúde e Trabalho, Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
GRAÇA, L. (2000) – Hospitais e Outros Estabelecimentos Assistenciais
até ao Final do Século XV, Textos sobre Saúde e Trabalho, Universidade
Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
GRAÇA, L. (2000) – The Royal Hospital of All the Santos. Part One. Textos
sobre Saúde e Trabalho, Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional
de Saúde Pública, Lisboa.
GRAÇA, L. (2000) – O Hospital Tradicional Português: um «Locus Religiosus et Infectus». Parte I. Textos sobre Saúde e Trabalho, Universidade
Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
GRAÇA, L. (2000) – Proto-história do hospital: os asclepions dos gregos
e os valetudinaria dos romanos. Textos sobre Saúde e Trabalho, Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
GRAÇA, L. (2002) – History of the Portuguese Holy Houses of Charity.
Textos sobre Saúde e Trabalho, Universidade Nova de Lisboa, Escola
Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
GUIMARÃES, R. (2001) – Saúde urbana: velho tema, novas questões.
Terra Livre 17, Paradigmas da Geografia, Parte II.
Inês Martins Andrade
251
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
HAGERSTRAND, T. (1967) – Innovation difusion as a spatial process.
Chicago: University of Chicago Press,
HARVEY, D. (1973) – Social Justice and the City. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press.
INGLEBY, D. (2005) – Transcultural mental health care: the challenge to
positivist psychiatry, Utrecht University, The Netherlands.
JONES, K., MOON, G. (1987) – Health, Disease and Society – An Introduction to Medical Geography, Routledge & Kegan Paul, Londres e Nova
Cork.
JOSEPH, A., PHILLIPS, D. (1984) – Accessibility & Utilization – Geographical, Perspectives on Health Care Delivery, Harper & Row, Publishers,
Nova York.
LACAZ, C. et al. (1972) – Introdução à Geografia Médica no Brasil, São
Paulo.
LE GRAND, J. (1989) – Equidade, saúde e cuidados de saúde. Revista
Portuguesa de Saúde Pública, Volume 7, N.o 3 – Julho/Setembro, Escola
Nacional de Saúde Pública, Lisboa.
LEARMONTH, A. (1988) – Disease Ecology, Oxford, Basil Blackwell.
LEMOS, J., LIMA, S. (2002) – A Geografia Médica e as Doenças Infecto-Parasitárias, Caminhos de Geografia-Revista on line, Volume 6, ano 2,
Junho, Programa de pós-graduação em Geografia, Instituto de Geografia.
LUCK, M., et al. (1999) – Vigilância da gravidez numa comunidade imigrante africana: necessidades elevadas, baixa utilização, Volume 14,
N.o 1 Saúde em Números.
LYNCH, K. (1999), A Boa Forma da Cidade, Edições 70 m, Lisboa.
LOPES, J. (2000) – A Cidade e a Cultura – Um estudo sobre práticas culturais urbanas, Edições Afrontamento e Câmara Municipal do Porto.
MAIA, J. (2000) – Transição epidemiológica, infra-estruturas urbanas e
desenvolvimento: a cidade do Porto. Análise Social – Revista do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, N.o 156.
Inês Martins Andrade
252
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
MALHEIROS, J. (2001) – Arquipélagos Migratórios, Transnacionalismo e
Inovação, Lisboa, faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dissertação de doutoramento em Geografia.
MALHEIROS, J. (2001) – Segregação socioétnica na região metropolitana
de Lisboa, N.o 30 da Revista Sociedade e Território, Lisboa.
MALHEIROS, J. (2006) – Migrações, in Volume II da Geografia de Portugal
– Sociedade, Paisagens e Cidades, Circulo de Leitores, Lisboa.
MARQUES, T. (2006) – Sistema Urbano e Territórios em Transformação,
in Volume II da Geografia de Portugal – Sociedade, Paisagens e Cidades,
Circulo de Leitores, Lisboa.
MARQUES, T. (2003) – Sistema Urbano Nacional – Rede Complementar,
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano,
Lisboa.
MARQUES, T. (2004) – Portugal na Transição do Século – Retratos e
Dinâmicas Territoriais, Edições Afrontamento.
MARTINS; J. (1996) – A Reforma do Sistema de Saúde Português, in As
Reformas do Sistema de Saúde, APES, Lisboa.
MARTINS, O. (2003) – O Envelhecimento Populacional e a Procura de
Cuidados de Saúde: O caso da área de influência do Centro de Saúde da
Reboleira, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.
MATTSON, K. (1978) – Una Introducción a La Geografia Radical. Cuadernos Crítticos de Geografía Humana, Universidad de Barcelona.
MENESES, M. (2000) – Medicina Tradicional, Biodiversidade e Conhecimentos Rivais em Mozambique, Publicações da Oficina do Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
MIGUEL, J.; BUGALHO, M. (2002) – Economia da Saúde: novos modelos.
Análise Social – Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa, N.o 166.
NOSSA, P. (2001) – Geografia da Saúde – O caso da Sida, publicações
Celta Editora, Oeiras.
Inês Martins Andrade
253
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
OIM (2005) – World Migration 2005: Costs and Benefits of International
Migration, International Organization for Migration.
OIM (2005) – Health And Migration: Bridging The Gap, International Dialogue on Migration, International Organization for Migration.
PORTAS, N. et al. (2004) – Políticas Urbanas – Tendências, Estratégias e
Oportunidades, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
PORTUGAL, S. (2005) – Quem tem amigos tem saúde: O papel das redes
sociais no acesso aos cuidados de saúde, Publicações da Oficina do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
REMOALDO, P. (2003) – Geografia da Saúde – Relatório do Programa,
Conteúdos e Métodos de Ensino Teórico e Prático, Instituto de Ciências
Sociais da Universidade do Minho, Guimarães.
RIBEIRO, O. (1979) – Notas e Recensões – Geografia, Ecologia, Ciências
do Ambiente, in Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia, Volume XIV,
N.o 27, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa.
RIBEIRO, O. (1976) – Silva Telles, introdutor do ensino da Geografia em
Portugal, in Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia, Volume XI,
N.o 21, Centro de Estudos Geográficos, Lisboa.
RIFES, G., VILLAR, M. (2003) – Imigração e Tuberculose. Experiência de
cinco anos, Revista portuguesa de Pneumologia, Volume IX, N.o 3.
SALGUEIRO, T. (2006) – A Cidade Como Espaço de Vida e Lugar de Produção, in Volume II da Geografia de Portugal – Sociedade, Paisagens e
Cidades, Circulo de Leitores, Lisboa.
SALGUEIRO, T. (2001) – Lisboa, Periferia e Centralidades, Oeiras, Celta.
SALGUEIRO, T. (1998) – Cidade Pós-Moderna, Espaço Fragmentado,
in InforGeo 12&13 – A Interdisciplinaridade na Geografia Portuguesa:
Novos e Velhos Desafios, Edição Associação Portuguesa de Geógrafos.
SALGUEIRO, T. (1996) – Do Comércio à Distribuição – Roteiro de uma
mudança. Celta Editora, Oeiras.
SALGUEIRO, T. (1992) – A Cidade em Portugal – Uma Geografia Urbana,
2.a Edição, Edições Afrontamento.
Inês Martins Andrade
254
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
SAKELLARIDES, C. (2005) – De Alma a Harry. Crónica da Democratização
da Saúde, Almedina, Lisboa.
SANTANA, P. (1992) – Sistemas de saúde na Europa – Estudo comparativo em oito países da Comunidade Europeia. Cadernos de Geografia,
n.o 11, Revista do Centro de Estudos Geográficos de Coimbra.
SANTANA, P. (1993) – Acessibilidade e Utilização dos Serviços de Saúde –
Ensaio Metodológico em Geografia da Saúde, Dissertação de Doutoramento em Geografia Humana apresentada à Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.
SANTANA, P. (1994) – Modelação do comportamento dos utilizadores
dos serviços de saúde. Cadernos de Geografia, n.o 13, Revista do Centro
de Estudos Geográficos de Coimbra.
SANTANA, P.; CORREIA, A. (1997) – Situação do sector da saúde em
Portugal (Evolução entre 1985 e 1994). Cadernos de Geografia, n.o 16,
Revista do Centro de Estudos Geográficos de Coimbra.
SANTANA, P. (2000) – Contribuição da Geografia da Saúde para o conhecimento das desigualdades em saúde e bem-estar no mundo. Cadernos de Geografia, n.o 19, Revista do Centro de Estudos Geográficos de
Coimbra.
SANTANA, P. (2005) – Geografias da Saúde e do Desenvolvimento – Evolução e Tendências em Portugal, Almedina, Lisboa.
SANTARELLI, S.; CAMPOS, M. (2003) – Corrientes epistemológicas,
metodologia y práticas en Geografia. Propuestas de estúdio en el espacio
local. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Volume VIII,
N.o 421, Janeiro, Universidad de Barcelona.
SANTINHO, C. (2005) – Os Determinantes Socioculturais da Saúde e os
Contextos Específicos da Pobreza, Minorias Étnicas e Imigrantes, Universidade Lusófona, Lisboa.
SANTOS, M. (1979) – Difusão de inovações ou estratégia de vendas?
in Milton Santos: Economia espacial: críticas e alternativas. São Paulo,
Hucitec. Série Economia & Planeamento.
SIMÕES, A. (2003) – Topografia Médica das Cinco Vilas e Arega – ou dos
concelhos de Chão de Couce e Maças de D. Maria em 1848 – Edição FAC-Similada, Minerva-Coimbra.
Inês Martins Andrade
255
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
SIMÕES, J. (2004) – Retrato Político da Saúde. Dependência do Percurso
e Inovação em Saúde: Da Ideologia ao Desempenho, Almedina, Lisboa.
SIMÕES, J. M. et al. (2006) – As Redes de Equipamentos Colectivos,
in Volume IV da Geografia de Portugal – Planeamento e Ordenamento
do Território, Circulo de Leitores, Lisboa.
SIMÕES, J. M. (1989) – Saúde: O Território e as Desigualdades, Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
SMITH, D. (1979) – Where the Grass is Greener: Living in an Unequal
World. Harmondsworth: Penguin.
SORRE, M. (1955) – Fundamentos Biológicos de La Geografia Humana.
Barcelona, Editorial Juventud.
SOUSA, J. (2006) – Os Imigrantes Ucranianos em Portugal e os Cuidados
de Saúde, Colecção Teses, N.o 4, Alto Comissariado para a Imigração e
Minorias Étnicas, ACIME, Lisboa.
TAVARES, A. (1992) – Métodos e Técnicas de Planeamento em Saúde,
Cadernos de Formação, Ministério da Saúde, Departamento de Recursos
Humanos da Saúde, Lisboa.
URTEAGA, L. (1980) – Miséria, miasmas y micróbios. Las topografias
medicas y el estúdio del médio ambiente en el siglo XIX, Revista Geo
Critica, n.o 29, Setembro, Barcelona.
VICTORINO, R. (2003) – A SIDA e as novas pestes, Análise Social – Revista
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, N.o 166.
Inês Martins Andrade
256
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
Lei n.o 48/90, de 24 de Agosto
Lei de Bases da Saúde.
Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro
Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.
Decreto-Lei n.o 10/93, de 15 de Janeiro
Lei Orgânica do Ministério da Saúde.
Decreto-Lei n.o 156/99, de 10 de Maio
Estabelece o regime dos Sistemas Locais de Saúde.
Despacho n.o 25 360/2001
Define o relacionamento entre os cidadãos estrangeiros e o Serviço
Nacional de Saúde, esclarecendo eventuais dúvidas quanto ao acesso
de cidadãos estrangeiros aos serviços e estabelecimentos do Serviço
Nacional de Saúde.
Decreto-Lei n.o 185/2002, de 20 de Agosto
Define o regime jurídico das parcerias em saúde com gestão e financiamentos privados.
Decreto-Lei n.o 60/2003, de 1 de Abril
Cria a rede de cuidados de saúde primários.
Decreto-Lei n.o 32/2003, de 30 de Julho
Aprova o acordo sobre a concessão de visto temporário para tratamento
médico a cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa entre
os Estados membros de países da Comunidade de Língua Portuguesa.
Decreto-Lei n.o 36/2003, de 30 de Julho
Aprova o acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa sobre o Combate ao HIV/SIDA.
Decreto-Lei n.o 173/2003, de 1 de Agosto
Sistematiza e compila a informação dispersa quanto às taxas moderadoras.
Decreto-Lei n.o 67/2004, de 25 de Março
Cria o registo nacional de menores estrangeiros em situação irregular
no território nacional.
Inês Martins Andrade
257
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Portaria n.o 219/2006, de 7 de Março
Aprova as alterações às taxas moderadoras em vigor no Serviço Nacional de Saúde, tendo por base a diferenciação positiva dos grupos mais
carenciados.
Carta dos Direitos fundamentais da União Europeia
LINKS DE REFERÊNCIA
www.min-saude.pt/portal
www.dgsaude.pt
www.observaport.org
www.sida.pt
www.dgies.min-saude.pt
www.insarj.pt
www.igif.min-saude.pt
www.onsa.pt
www.euro.who.int/observatory
www.who.int
www.arsc.online.pt
www.arsnorte.min-saude.pt
www.ine.pt
www.infarmed.pt
www.anf.pt
www.dmrs.min-saude.pt/novidades.asp
www.acs.min-saude.pt/acs
www.acime.gov.pt
www.oi.acime.gov.pt
www.programaescolhas.pt
www.sef.pt
Inês Martins Andrade
258
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
SIGLAS FREQUENTEMENTE UTILIZADAS
ACIDI
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
AML
Área Metropolitana de Lisboa
AMP
Área Metropolitana do Porto
EPI MIGRA Núcleo de Estudo Epidemiológico de Doenças Transmissíveis
em Populações Migrantes
INE
Instituto Nacional de Estatística
NUT
Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos
OI
Observatório da imigração
ONG
Organizações Não Governamentais
PALOP
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PER
Programa Especial de Realojamento
SNS
Serviço Nacional de Saúde
UE
União Europeia
Inês Martins Andrade
259
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
QUESTIONÁRIO
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
GEOGRAFIA DA SAÚDE DOS IMIGRANTES
NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Entrevistador: _______________________________
Data: _____ /_____ /_____
Local de Realização: ________________________
N.o Inquérito: _______________
I. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DO INDIVÍDUO
1.1. Sexo (assinale com um 쎹 a opção adequada):
Masculino
Feminino
1.2. Idade: _____
1.3. Estado Civil (assinale com um 쎹 a opção adequada):
Casado
Solteiro
Viúvo
Divorciado
Vive Junto
Outra, Qual? _____________________________________________________________
1.4. Nível de Instrução: ______________________________________________________
1.5. Nacionalidade: __________________________________________________________
1.6. Naturalidade: ___________________________________________________________
1.7. Se nasceu em Portugal, indique qual a naturalidade das suas duas
gerações anteriores.
Grau de Parentesco
Pai
Mãe
Avó Materna
Avô Materno
Avó Paterna
Avô Paterno
Naturalidade
II. EPIDEMIOLOGIA E RESPECTIVAS DETERMINANTES
A. PROCESSO MIGRATÓRIO
2.1. Ano de Chegada a Portugal? __________
2.2. Motivo da imigração para Portugal? ____________________________________
Inês Martins Andrade
261
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.3. Tinha alguma doença diagnosticada quando chegou a Portugal?
Sim
Não
2.4. Se sim, qual? ____________________________________________________________
2.5. Quanto tempo decorreu entre a chegada a Portugal e a 1.a utilização
dos cuidados de saúde (assinale 쎹 a opção adequada)?
Dias
Alguns meses
1 Ano
Vários Anos
Outra
Qual?
2.6. Como avalia o seu estado de saúde à chegada a Portugal (assinale
com um 쎹 a opção adequada)?
Bom
Médio
Mau
2.7. Algum dos seus parentes próximos que não viva na sua casa tem
alguma doença?
Sim
Não
2.8. Se sim, preencha o quadro seguinte.
N.o de
Indivíduo
Grau de
Parentesco
Efectua tratamento
Doença
Tipo de Tratamento
Sim
Não
1
2
B. ÂMBITO PROFISSIONAL
2.9. Qual a sua situação perante o trabalho (assinale com um 쎹 a opção
adequada)?
Activo
Doméstica
Estudante
Reformado
Serviço Militar
Desempregado
Outra
Qual?
2.10. Qual a sua situação na Profissão (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
Assalariado
Trabalhador
por Conta Própria
Trabalhador Familiar
Não Remunerado
Patrão
Inês Martins Andrade
262
Outra
Qual?
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.11. Qual a sua Profissão? _________________________________________________
2.12. Qual o seu local de trabalho (freguesia, concelho ou região)?
__________________________________________________________________________
2.13. Já teve algum tipo de acidente profissional? Sim
Não
2.14. Se sim, de que tipo/consequências? __________________________________
2.15. Beneficiou de subsídio de doença? Sim
Não
2.16. Porquê? ________________________________________________________________
C. CONTEXTO HABITACIONAL
2.17. Qual o seu tipo de habitação (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
Andar
Próprio
Andar
PER
Andar PER
Famílias
Barraca
própria
Barraca
alugada
Parte de Casa/
/Quarto alugado
Outra
Qual?
2.18. Quantas assoalhadas tem a sua casa? _______________________________
2.19. N.o de pessoas que residem na sua habitação? ______________________
2.20. Das infra-estruturas seguintes, assinale com um 쎹 aquelas que a
sua habitação possui.
Electricidade da Rede Pública
Água da Rede Pública
Casa de banho só com sanita
Esgotos ligados à Rede Pública
Casa de banho com duche e sanita
Casa de banho sem duche nem sanita
Fossa
Casa de banho só com duche
Não tem casa de banho
2.21. Algum dos indivíduos que residem na sua casa tem alguma doença?
Sim
Não
2.22. Se sim, preencha o quadro seguinte.
N.o de
Indivíduo
Grau de
Parentesco
Efectua tratamento
Doença
Tipo de Tratamento
Sim
1
2
Inês Martins Andrade
263
Não
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
D. ESTILOS DE VIDA (Alimentação, Higiene, Comportamentos de Risco)
2.23. Das seguintes refeições assinale com um 쎹 aquelas que costuma
efectuar diariamente.
Pequeno-almoço
Almoço
Lanche
Jantar
2.24. Dos alimentos seguintes, assinale com um 쎹 a frequência com
que os consome tendencialmente.
Diário
Alimentos
Uma vez
por dia
Semanal
Várias vezes
ao dia
Uma vez
por semana
Várias vezes
por semana
Mensal
Pão
Leite
Carne
Peixe
Fruta
Legumes
Fast Food
Alimentos enlatados
Refrigerantes
2.25. Qual o tipo de comida que consome mais frequentemente (assinale
com um 쎹 a opção adequada)?
Tipicamente portuguesa
Tipicamente africana
Fast Food
2.26. Dos seguintes comportamentos assinale com um 쎹 os que pratica
e com que frequência.
Prática
Padrões
Comportamentais
Sim
Não
Regularidade
Diária
Várias vezes
por semana
Consumir bebidas alcoólicas
Hábitos Tabágicos
Consumo de drogas
Prática de actividade física
Inês Martins Andrade
264
Uma vez
por semana
Mensalmente
Outra
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
2.27. Com que frequência toma banho (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
Diariamente
Várias vezes por semana
Uma vez por semana
Mensalmente
Outra
2.28. Costuma efectuar a sua higiene oral? Sim
Não
2.29. Se sim, com que frequência (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
A seguir às refeições
Uma vez por dia
Várias Vezes ao dia
Às vezes
Outra
2.30. Se já teve relações sexuais, costuma utilizar preservativo nas suas
relações sexuais?
Sempre
Às vezes
Raramente
Nunca
III. ACESSO E UTILIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
A. ESTADO DE SAÚDE
3.1. Tem alguma doença diagnosticada? Sim
Não
3.2. Se sim, qual? ____________________________________________________________
3.3. Segue algum tipo de tratamento? Sim
Não
3.4. Se sim, de que tipo? ____________________________________________________
3.5. Se sim, onde é acompanhado (serviço de saúde)? _____________________
3.6. Como se desloca para efectuar o tratamento (assinale com um 쎹
a opção adequada)?
A pé
Transportes Carro
Carro
Carro de amigos/
Ambulância
públicos próprio de Familiares
/vizinhos
Táxi
Outra
Qual?
3.7. Como avalia a evolução do seu estado de saúde desde a chegada a
Portugal (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
Melhorou
Manteve-se estável
Piorou
Inês Martins Andrade
265
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
3.8. Porquê? __________________________________________________________________
3.9. Onde recorre habitualmente para a obtenção de cuidados de saúde
(assinale com um 쎹 a opção)?
Extensão de Saúde
Hospital
Ervanário
Consultório Médico/Clínica Privada
Centro de Saúde
Farmácia
Curandeiro
Outra
Qual?
3.10. Quem costuma ajudá-lo para se dirigir ao médico (assinale com
um 쎹 as opções adequadas)?
Familiares directos
Vizinhos
Entidade Religiosa
Profissionais do SNS
Outros familiares
Entidade Patronal
Associação do Bairro
Outra
Amigos
Colegas de Trabalho
Organização Não Governamental
Qual?
3.11. Qual a forma predominante de obtenção de medicação (assinale
com um 쎹 a opção adequada)?
Recurso ao médico do SNS
Uso de medicação de amigos
Recurso a remédios de curandeiros
Aquisição na farmácia
Uso de medicação de vizinhos
Outra
Uso de medicação de familiares
Aquisição na ervanária
Qual?
3.12. Costuma tomar as doses de medicação que o médico lhe recomenda?
Sim
Não
3.13. Tem boletim de vacinas? Sim
3.14. Tem as vacinas em dia? Sim
Não
Não
B. ACESSO E UTILIZAÇÃO DA EXTENSÃO/CENTRO DE SAÚDE
DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (SNS)
3.15. Está inscrito em algum Centro ou Extensão de Saúde do SNS?
Sim
Não
3.16. Se não, porquê? _______________________________________________________
3.17. Se sim, em qual? ______________________________________________________
Inês Martins Andrade
266
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
3.18. Porque se inscreveu aí? _______________________________________________
3.19. Utiliza-o? Sim
Não
3.20. Se não, porquê? _______________________________________________________
3.21. Se sim, com que frequência (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
Diário
Semanal
쏜 Uma vez Só uma vez Várias vezes
por mês
por mês
durante o ano
Uma vez
por ano
Outra
Qual?
3.22. Se sim, como se desloca (assinale com um 쎹 a opção adequada)?
A pé
Transportes Carro
Carro
Carro de amigos/
Ambulância
públicos próprio de Familiares
/vizinhos
3.23. Tem médico de família? Sim
Táxi
Outra
Qual?
Não
3.24. Se não, porquê? _______________________________________________________
3.25. Quais as principais razões para a utilização do Centro Saúde (assinale com um 쎹 as opções adequadas)?
Consulta de rotina
Tratamento
Acidente de viação
Realização de meios complementares de diagnóstico
Vacinação
Acidente doméstico
Consulta de especialidade
Doença/Urgência
Violência doméstica
Consulta de planeamento familiar
Obter receita médica
Agressão
Consulta de saúde materna
Acidente de trabalho
Alcoolismo
Consulta de saúde infantil
Atropelamento
Outra
Qual?
C. ACESSO E UTILIZAÇÃO AOS HOSPITAIS DO SERVIÇO NACIONAL
DE SAÚDE (SNS)
3.26. Já utilizou o hospital? Sim
Não
3.27. Se sim, a qual se costuma dirigir? ____________________________________
Inês Martins Andrade
267
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
3.28. Quando utiliza o hospital, qual o motivo dominante (assinale com
um 쎹 as opções adequadas)?
Urgência
Tratamentos
Operação
Consultas externas
Internamento
Outra
Realização de meios complementares de diagnóstico/imagiologia
Pequena cirurgia
Qual?
3.29. Quais os serviços clínicos, segundo a especialidade, que já utilizou
no Hospital (assinale com um 쎹 as opções adequadas)?
Cardiologia
Ginecologia
Neurologia
Pneumologia
Dermatologia
Hematologia
Oftalmologia
Psiquiatria/Saúde Mental
Diabetes
Infecciologia
Ortopedia
Reumatologia
Endocrinologia
Infecto-Contagiosas
Otorrinolaringologia
Transplantação
Estomatologia
Medicina Física e Reabilitação
Obstetrícia
Urologia
Gastrenterologia
Noeplasias/Oncologia
Pediatria
Outra
Qual?
3.30. Com que frequência costuma utilizar o hospital (assinale com um 쎹
a opção adequada)?
Várias vezes
por mês
Só uma vez Várias vezes
por mês
durante o ano
Uma vez
Entre
쏜 A 3 anos
por ano 1 a 3 anos
Outra
Qual?
3.31. Como se desloca quando utiliza o hospital (assinale com um 쎹
a opção adequada)?
A pé
Transportes Carro
Carro
Carro de amigos/
Ambulância
públicos próprio de Familiares
/vizinhos
Táxi
Outra
Qual?
D. SATISFAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE
3.32. Está satisfeito com os serviços de saúde em geral em Portugal?
Sim
Não
Inês Martins Andrade
268
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
3.33. Dos seguintes factores quais os que mais dificultam/limitam o seu
acesso e utilização aos cuidados de saúde (assinale com um 쎹 as
opções adequadas)?
No país de origem não era usual ir ao médico
Horário de funcionamento dos serviços do SNS
Prestação de cuidados de saúde diferente do país de origem
Listas de espera
Dificuldades na língua
Burocracias inerentes ao SNS
Desadaptação à sua cultura
Dificuldades de mobilidade
Desadaptação aos princípios religiosos
Distância dos serviços do SNS
Falta de informação sobre o funcionamento do SNS
Estatuto Regular/Indocumentado
Desconhecimento dos seus direitos e deveres
Dificuldades económicas
Discriminação pelos profissionais do SNS
Outra
A entidade patronal não o deixa faltar/sair mais cedo
Qual?
3.34. Indique quais os aspectos mais positivos e negativos dos serviços
de saúde em geral em Portugal.
Positivos
Negativos
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
E. O PAPEL DE AGENTES LOCAIS E DAS ENTIDADES
3.35. Quando chegou a Portugal, quem ou que Entidade, o informou
sobre o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde?
__________________________________________________________________________
3.36. No seu bairro já foram desenvolvidas campanhas ou programas de
saúde?
Sim
Não
3.37. Se sim, quem/que entidade a(s) desenvolveu? _______________________
3.38. Se sim, quais as actividades desenvolvidas? _________________________
__________________________________________________________________________
Inês Martins Andrade
269
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
F. TRANSNACIONALISMO PARA OBTENÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
3.39. Costuma utilizar serviços de saúde fora de Portugal?
Sim
Não
3.40. Se sim, complete o quadro seguinte.
País
a que costuma recorrer
para utilização de cuidados
de saúde
Serviço Procurado
Motivo/Porquê?
Porque utiliza esses serviços de saúde
nesses países
3.41. Quais as maiores diferenças sentidas na prestação de cuidados de
saúde em Portugal comparativamente ao seu país de origem (pergunta só dirigida a indivíduos nascidos num País Africano)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Obrigado pela sua Colaboração
Inês Martins Andrade
270
09/02/25
10:10
Página1
T E S E S
EDIÇÃO CO-FINANCIADA PELO FUNDO SOCIAL EUROPEU
GEOGRAFIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
I NÊS MARTI NS AN DRADE
21
21
DEZEMBRO 2008
179_08_Tese_21_Capa:acidi
GEOGRAFIA DA SAÚDE
DA POPULAÇÃO IMIGRANTE
NA ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA
I NÊS MARTI NS AN DRADE
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS