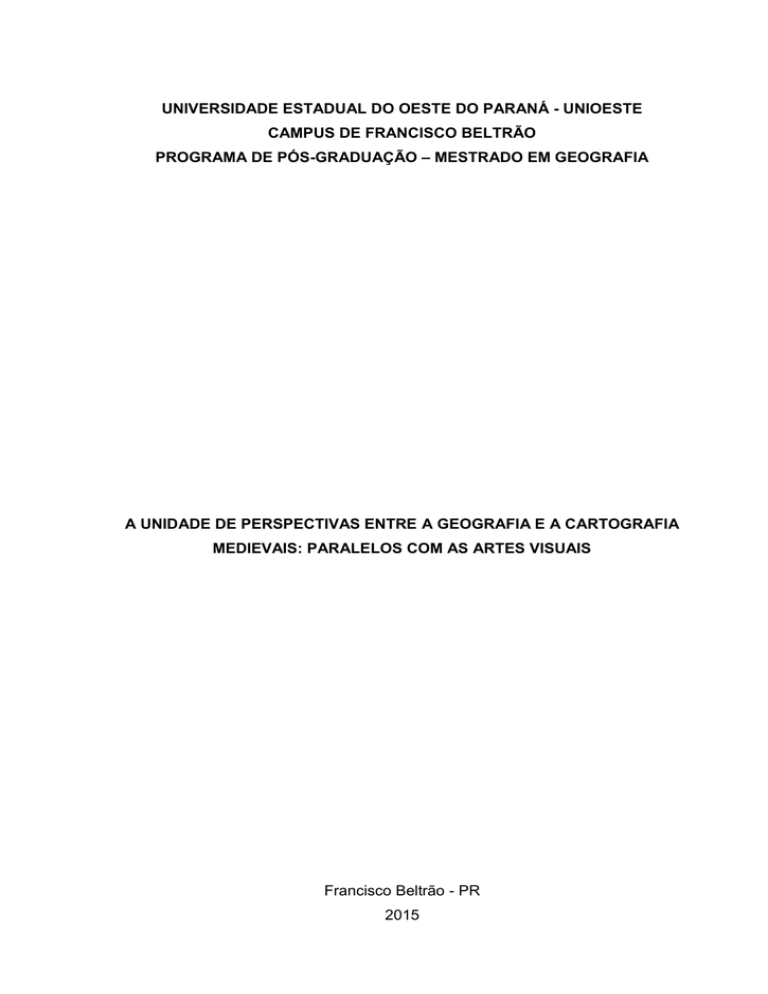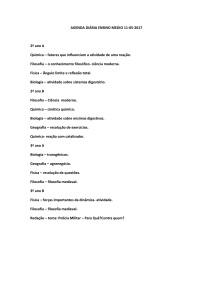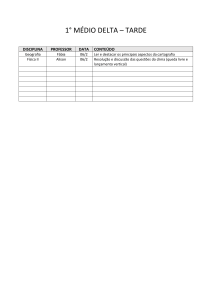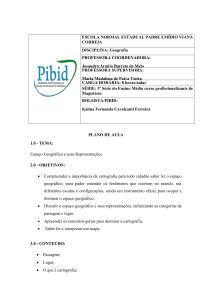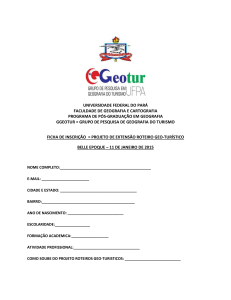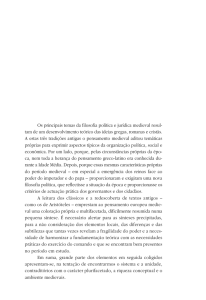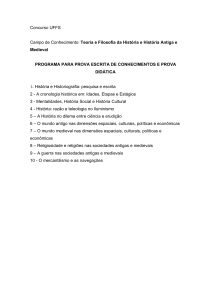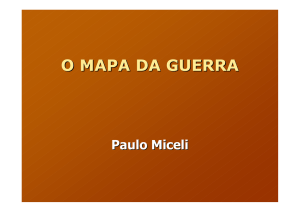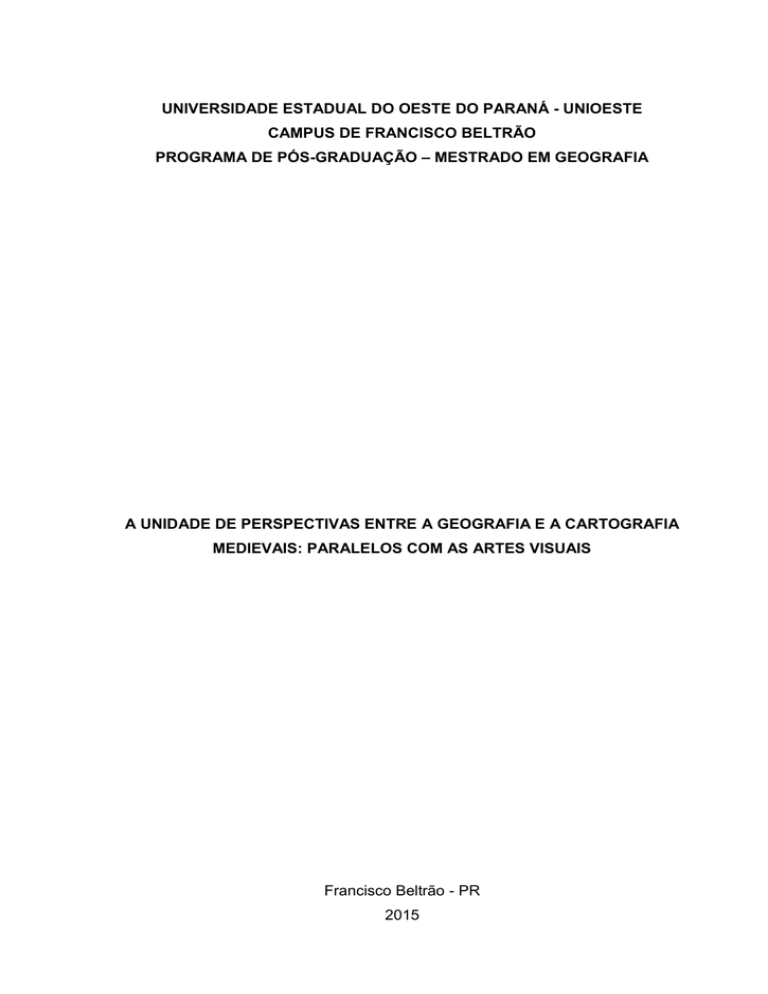
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE
CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM GEOGRAFIA
A UNIDADE DE PERSPECTIVAS ENTRE A GEOGRAFIA E A CARTOGRAFIA
MEDIEVAIS: PARALELOS COM AS ARTES VISUAIS
Francisco Beltrão - PR
2015
1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE
CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO EM GEOGRAFIA
DOUGLAS COLAÇO
A UNIDADE DE PERSPECTIVAS ENTRE A GEOGRAFIA E A CARTOGRAFIA
MEDIEVAIS: PARALELOS COM AS ARTES VISUAIS
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação (stricto sensu) em
Geografia (Área de concentração: Produção do
Espaço e Meio Ambiente – Linha de Pesquisa:
Educação e Ensino de Geografia) da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Campus de
Francisco Beltrão, como requisito para a obtenção
do título de Mestre em Geografia
Orientador: Prof. Dr. Fabrício Pedroso Bauab
Francisco Beltrão - PR
2015
2
3
4
AGRADECIMENTOS
Muitos colaboraram para a elaboração desta Dissertação. A todos, o meu
sincero agradecimento e gratidão.
A meus pais, irmãos e amigos; meu infinito agradecimento.
Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Fabrício Pedroso Bauab, pelas
valiosas contribuições e ensinamentos. Um grande profissional e ótima pessoa, com
o coração tão grande quanto seu conhecimento.
Agradeço o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.
Agradeço à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, bem como à Assistente
da Coordenação Andréia Zuchelli Cucchi.
Agradeço o Prof. Dr. Alexandre Domingues Ribas e à Profa. Dra. Sílvia
Regina Pereira, pela participação na Banca de Qualificação.
Agradeço o Prof. Dr. Alexandre Domingues Ribas e à Profa. Dra. Márcia
Siqueira de Carvalho, pela participação na Banca Examinadora desta Dissertação.
5
―Não há nada bom nem mau a não ser estas
duas coisas: a sabedoria que é um bem e a
ignorância que é um mal‖ (Platão).
6
A unidade de perspectivas entre a Geografia e a Cartografia medievais:
paralelos com as artes visuais
RESUMO
Neste trabalho procurou-se conhecer, compreender e sistematizar o conhecimento
geográfico e cartográfico produzidos na Idade Média. Mas também se buscou
relacionar tais conhecimentos com as artes visuais, especialmente a pintura
medieval. Desse modo, o elemento norteador da pesquisa esteve centrado na
tentativa de encontrar e apresentar as congruências e similitudes no processo de
produção e construção dos conhecimentos hora citados. Notadamente, ao estudar a
produção do conhecimento medieval, observa-se que a Geografia esteve voltada a
descrever lugares, espaços e seres irreais e fantasiosos que só existiram no
imaginário do homem cristão e medieval, e a Cartografia foi utilizada para
representar e localizar esses lugares e espaços utópicos. Isso porque a concepção e
a representação do espaço pelo erudito medieval estavam distante da acurácia
científica do período clássico, assim como da efervescência artística e cultural vivida,
sobretudo, na aurora da modernidade. É evidente que as grandes transformações
técnicas e conceituais ocorridas no campo da pintura a partir do século XIII parecem
influenciar
decisivamente
o
desenvolvimento
da
moderna
concepção
e
representação do espaço, caracterizada, sobretudo, pela geometrização da forma e
do movimento, mas também pela criação da técnica da perspectiva que nasce,
originalmente, na esfera da pintura renascentista para, depois, ser apropriada pela
Geografia e pela Cartografia.
Palavras-chave: Idade Média; Geografia; Cartografia; Pintura; Renascimento.
7
The unity of outlook between the Geography and the medieval Cartography:
parallel with the visual arts
ABSTRACT
This paper seeks to recognize, understand and systematize the geographic and
cartographic knowledge produced in the Middle Ages. But also sought to relate this
knowledge with the visual arts, especially the medieval painting. Thus, the guiding
element research has been focused on trying to find and display the similarities and
congruences in the production process and construction of the knowledge mentioned
hours. Notably by studying the production of medieval knowledge, it is observed that
geography was aimed at describing places, spaces and unreal and fanciful beings
who existed only in the imagination of the Christian and medieval man, and
Cartography was used to represent and locate these places and utopian spaces.
This is because the design and representation of space by the medieval scholar were
far from scientific accuracy of the classical period as well as the artistic and cultural
effervescence lived, especially at the dawn of modernity. Clearly, the great technical
and conceptual changes occurred in painting from the XIII century seem to decisively
influence the development of modern design and representation of space,
characterized mainly by the geometrization of form and movement, but also by the
technique of creation the perspective is born originally in the sphere of Renaissance
painting to then be appropriated by the Geography and Cartography.
Keywords: Middle Ages; Geography; Cartography; Painting; Renaissance.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Mapa-múndi babilônico, séc. VI a.c .......................................................... 19
Figura 2 - A concepção de mundo segundo Homero, séc. VI a.c. ............................ 21
Figura 3 - Reconstituição do mapa-múndi de Eratóstenes de Cirene, séc. II a.c. ..... 25
Figura 4 - As zonas climáticas da Terra, séc. V a.c. ................................................. 26
Figura 5 - Globo terrestre de Crates de Malos, sec. II a.c. ........................................ 27
Figura 6 - Mapa-múndi segundo Sstrabão ................................................................ 29
Figura 7 - Sistema ptolomaico em epiciclos, séc. I/II................................................. 31
Figura 8 - Mapa-múndi de Ptolomeu, 1486 ............................................................... 33
Figura 9 - O Sciapods – detalhe do mapa-múndi de Hereford, séc. XIII ................... 39
Figura 10 - O País da Cocanha, de Pieter Bruegel, séc. XVI .................................... 56
Figura 11 - As cinco zonas climáticas de Ambrósios Theodosius Macróbius............ 60
Figura 12 - O mundo na perspectiva de Cosmas Indicopleustes, séc. VI ................. 67
Figura 13 - Mapa-múndi no estilo TO ........................................................................ 74
Figura 14 - Mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII ............................................................ 79
Figura 15 – A ressureição de Cristo - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII ................... 80
Figura 16 - A arca de Noé no Monte Ararate - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII ..... 81
Figura 17 - O Paraíso, mapa-múndi de Ebstort, séc. XIII .......................................... 82
Figura 18 - Gog e Magog confinados na Ásia - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII .... 84
Figura 19 - Região da África - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII .............................. 85
Figura 20 - Região de Nuremberg, Alemanha - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII.... 86
Figura 21 - Mapa-múndi de Hereford, séc. XIII ......................................................... 89
Figura 22 - O Juízo Final - mapa-múndi de Hereford, séc. XIII ................................. 90
Figura 23 - Jardim do Éden - mapa-múndi de Hereford, séc. XIII ............................. 91
Figura 24 - A Torre de Babel, detalhe do mapa-múndi de Hereford, séc. XIII ........... 92
Figura 25 - Acampamento de Alexandre Magno - mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
............................................................................................................................ 93
Figura 26 - O Monoceros (Unicórnio) - mapa-múndi de Hereford, séc. XIII .............. 94
Figura 27 - Mapa-múndi em estilo TO ....................................................................... 99
Figura 28 - Planta do Mausoléu da Imperatriz......................................................... 100
Figura 29 - Moisés retirando água da rocha às doze tribos de Israel, séc. III ......... 101
Figura 30 - A coroação de Carlos Magno (ano 800) ............................................... 104
Figura 31 - A ressureição de Jesus Cristo em Jerusalém, ...................................... 106
Figura 32 - São Mateus Evangelista, pintura da corte palaciana, séc. IX ............... 107
Figura 33 - A Matança dos Santos Inocentes (Reichenau), séc. XI ........................ 110
Figura 34 - O Juízo Final - mapa-múndi de Hereford, séc. XIII ............................... 111
Figura 35 - Cristo a lavar os pés de São Pedro na Última Ceia, séc. XIII ............... 112
Figura 36 - Cristo em Majestade, pintura românica, séc. XII ................................... 118
Figura 37 - A construção da Torre de Babel - arte de estilo românico. ................... 119
Figura 38 - A nova fachada da igreja de Saint-Denis (Paris) .................................. 121
Figura 39- A Virgem em Majestade de Cimabue, séc. XIII ...................................... 122
Figura 40 - Anunciação da morte da Virgem de Duccio, 1308 ................................ 123
9
Figura 41 - Anunciação da morte da Virgem de Leonardo da Vinci de 1472-1475 . 125
Figura 42 - A Trindade, de Tommaso di Giovanni Guidi, em 1425.......................... 126
Figura 43 - Mulher em reclinação, de Albrecht Dürer, 1525 .................................... 129
Figura 44 - Roma em perspectiva clássica, em 1432.............................................. 130
Figura 45 - Mapa-múndi de MartinW, em 1507 ....................................................... 133
Figura 1 - A Monalisa, de Leonardo da Vinci (1503 - 1506).....................................134
10
SUMÁRIO
Lista de figuras ............................................................................................................ 8
Introdução ................................................................................................................. 11
Capítulo I - A Geografia e a Cartografia produzidas na Antiguidade: A contribuição
dos clássicos ............................................................................................................. 17
Capítulo II - Breves considerações sobre o período medieval .................................. 36
Capítulo III - O conhecimento geográfico produzido na idade média ........................ 48
Capítulo IV - A cartografia medieval .......................................................................... 71
Capítulo V - Congruências e similitudes entre a Geografia, a Cartografia e a pintura
no processo de construção e representação da noção de espaço durante a Idade
Média ........................................................................................................................ 96
Considerações finais ............................................................................................... 136
Referências ............................................................................................................. 140
11
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa visa apresentar uma análise geral a respeito dos
processos de construção e representação da noção de espaço durante a Idade
Média. Portanto, o foco do trabalho é a produção dos conhecimentos Geográfico e
Cartográfico ao longo da Idade Média.
Desse modo, observa-se que, no aludido período, tanto a Geografia como a
Cartografia estavam voltadas, predominantemente, a descrever e a representar
lugares e criaturas que só existiam no imaginário do homem medieval.
Por meio de um estudo teórico, e de revisão bibliográfica, procurou-se
demonstrar as congruências e as similitudes no processo de construção do
conhecimento geográfico e cartográfico, mas também, buscou-se identificar e
relacionar as artes visuais, especialmente a pintura, com a Geografia e a Cartografia
desenvolvidas ao longo da Idade Média. Isto porque, a princípio, elas se mostram
constituídas pelos mesmos elementos.
Contudo, para entender essa relação, foi necessário considerar o peso e a
importância desempenhada pelo pensamento analógico no processo de idealização
e sistematização dos conhecimentos científicos e artísticos.
O cenário verificado na Europa, sobretudo após a queda do Império Romano
do Ocidente em 476, era muito diferente daquele encontrado na Antiguidade
Clássica. Isto, obviamente, em termos de produção do conhecimento geográfico e
da percepção de mundo.
Na Idade Média, a atuação da Igreja Católica e o anseio por representações
de ordem eminentemente religiosa geram o distanciamento dos princípios práticos
que haviam sido característicos da Geografia e da Cartografia produzidas na
Antiguidade Clássica.
Evidentemente, a partir do século XIII, o novo padrão de pensamento levou a
uma onda de inovações técnicas, científicas, culturais, comerciais e políticas que
alteraram o domínio ideológico e a influência/pressão psicológica exercida,
principalmente, pela Igreja Católica.
Dentre essas inovações, cabe ressaltar, que o desenvolvimento da moderna
Cartografia, por exemplo, apresenta algumas similitudes com a moderna percepção
de espaço, que nasce, originalmente, na esfera da pintura, consequência direta da
12
invenção da técnica da perspectiva. Isto porque, ―A ideia moderna de espaço evoluiu
desde o berço na arte medieval da Baixa Idade Média até a física moderna de
Newton e a filosofia iluminista de Kant‖ (SANTOS, 2002, p.10). Evidentemente, há
um grau de relação entre o desenvolvimento das novas técnicas de pintura e o
nascimento de um novo sentido espacial.
Contudo, na Alta Idade Média, obras importantes, como a Geografia de
Claudio Ptolomeu, estiveram marginalizadas ou, no mínimo, subutilizadas. Pois, os
conhecimentos
geográfico
e
cartográfico
pautaram-se,
principalmente,
no
destacamento dos princípios, símbolos e orientações do cristianismo católico; e,
também, na busca e na representação das maravilhas presentes no universo mental
dos sujeitos medievais.
Essas tendências resultam na reinvenção discursivo-explicativa da Geografia,
que se justifica por meio de analogias à Sagrada Escritura. Desse modo, a presente
pesquisa objetiva analisar os aspectos e as características inerentes à discussão e à
produção dos conhecimentos geográfico e cartográfico, e destacar as similitudes e
as congruências que envolvem tais campos do saber e sua relação com as artes
visuais.
Para que se compreenda como eram os conhecimento geográfico e
cartográfico na Idade Média, antes se faz pertinente e necessário que se considere o
conhecimento geográfico produzido na Antiguidade Clássica. Só assim será possível
contrastar um período e outro, e encontrar as razões para a formação de diferentes
tipos de conhecimento geográfico.
Embora não seja o foco desta pesquisa, o nosso ponto de partida é a
Antiguidade Clássica. Desse modo, no capítulo I, realizar-se-á uma abordagem a
respeito da Geografia e da Cartografia produzidas na Antiguidade clássica. Isto
porque, pretende-se resgatar alguns traços do pensamento geográfico e do
cartográfico greco-romano, e tentar identificar e comparar as variações conceituais e
metodológicas mais significativas em relação ao conhecimento geográfico e
cartográfico produzidos no decorrer da Idade Média.
Sobre esse período, há muitos estudiosos que deram importantes
contribuições em relação à construção conceitual daquilo que estava mais próximo
de um conhecimento propriamente geográfico, tais como Heródoto, Eratóstenes de
Cirene, Hiparco de Niceia, Estrabão, Claudio Ptolomeu, entre outros.
13
Evidentemente, os pensadores gregos clássicos não foram os únicos, nem os
primeiros, a produzir um conhecimento geográfico, mas certamente, foram eles os
primeiros a sistematizar os conhecimentos geográficos. Tal pioneirismo foi facilitado
em grande parte pela localização geográfica, pelo desenvolvimento do comércio e
pelo crescimento da pólis.
Do ponto de vista conceitual, é necessário ressaltar que com os gregos logo
se delineiam duas perspectivas e/ou bifurcações de Geografia: uma geografia
regional, atribuída a Heródoto e a Estrabão, que, devido à baixa mobilidade espacial,
foi constituída a partir de fontes secundárias, narradas especialmente por
historiadores em viagens realizadas aos lugares e regiões desconhecidas; e uma
geografia geral, criada pelos filósofos naturalistas jônicos, cujo principal nome é
Tales de Mileto; esse ramo esteve mais preocupado com os problemas da física
terrestre, englobando as discussões a respeito da forma, extensão, posição e
movimento da Terra no espaço, além de elementos sobre astronomia (DE
MARTONNE, 1953; CARVALHO, 2006).
No capítulo II, apresentam-se algumas considerações conceituais e teóricas
a respeito da Idade Média. Na verdade, o objetivo consiste em refletir, discutir e
sistematizar conceitual e teoricamente a respeito do período citado. Pois, assim,
será possível compreender as razões pelas quais houve o predomínio de um
determinado tipo de construção e sistematização dos conhecimentos.
Geralmente, o positivismo clássico pretende atrelar uma perspectiva
negativista ao tempo medieval, como se esse fosse um período obscuro da história
da humanidade sem que nada tenha contribuído para a produção e melhoramento
dos conhecimentos científicos.
Contudo, procura-se apresentar novos elementos e abordagens que nos
levam para além do positivismo clássico. Pois, as leituras tomadas nos direcionam a
um novo conceito e entendimento de Idade Média.
Decifrar a Idade Média não é uma das mais fáceis, pois os conceitos são
muito confusos e pluralistas. Ainda assim, coube aos positivistas a interpretação e a
difusão das ideias mais pejorativas. Porém, recentemente surgiram novas
contribuições que apresentam a Idade Média numa outra perspectiva. E é
justamente nessa linha de pensamento que se concentra esta pesquisa.
Nesse sentido, merecem destaque as contribuições de Jacques Le Goff &
Jean-Claude Schmitt, Hilário Franco Júnior, Umberto Eco e G. H. T. Kimble. Por
14
intermédio desses autores, será possível demonstrar a evolução histórica do (pré)
conceito de Idade Média.
Primeiramente, é indispensável compreender que o pensamento analógico foi
o padrão dominante no que tange a construção dos conhecimentos durante a Idade
Média (FRANCO JÚNIOR, 2001). Pois, não havendo uma explicação racional e
razoável para um dado fenômeno da natureza, era frequente, na linguagem e no
cotidiano dos homens medievais, o recurso às analogias como forma de construção
e/ou projeção de imagens verbais e visuais significativamente articuladas com a
realidade. Isto porque, a estrutura mental e psicológica do homem medieval,
possibilitava a ―existência‖ de seres fantásticos, fabulosos e míticos que habitavam
lugares geograficamente desconhecidos e cartograficamente representados pelos
eruditos da época, sem que houvesse a necessidade da comprovação empírica.
Após a análise conceitual da Idade Média, no capítulo III busca-se ponderar e
analisar algumas questões referentes ao processo de construção do conhecimento
geográfico medieval.
Na Idade Média, assim como em cada época e em cada contexto, houve o
predomínio de uma determinada visão de mundo. Nesse sentido, percebe-se, de
imediato, que em relação à produção e organização dos conhecimentos geográficos
do período o saber partiu dos pensadores clássicos. Na realidade, ele foi apropriado
e adaptado pelos eruditos medievais que o usaram conforme os interesses do Clero.
Portanto, há uma sobreposição e não uma descontinuidade brusca em relação ao
conhecimento geográfico e cartográfico produzidos no período anterior (KIMBLE,
2005; CARVALHO, 2006).
De fato, na Idade Média, a construção dos conhecimentos geográfico e
cartográfico sofreu algumas alterações nos aspectos conceituais e metodológicos,
que apontam para novas formas de se interpretar, pensar e representar a realidade.
Nesse sentido, é primordial compreender o papel desempenhado pelo
pensamento analógico nesse processo. Isto porque, as relações e as conexões
entre o mundo divino e o mundo humano, entre o Modelo (Deus) e suas imagens
(Homens), acontece por meio do pensamento analógico.
Desse modo, tanto a observação empírica quanto a descrição perdem
importância frente à disseminação dos valores da doutrina cristã. Portanto, para o
erudito medieval, a experiência empírica não tinha grande importância, visto que ―[...]
os conteúdos do mundo seriam, necessariamente, derivações de Deus, resquícios
15
do que Nele plenamente se faz contido. Neste sentido, os conteúdos do mundo nos
(re) ligariam a Deus‖ (BAUAB, 2012, p.19).
Além disso, pensar a Geografia como uma disciplina autônoma e científica no
cenário medieval seria praticamente impossível, isto porque, nesse período, a
Sagrada Escritura é a principal fonte de embasamento para a construção dos
conhecimentos ditos geográficos.
Após a análise e caracterização da Geografia medieval, ponderam-se, no
capítulo IV, algumas questões e temáticas referentes à produção cartográfica
durante a Idade Média. Portanto, neste capítulo IV, procura-se apresentar os
aspectos conceituais e metodológicos que fundamentaram a construção dos mapas
ao longo da Idade Média.
A finalidade primeira de um mapa é servir à orientação e à localização, mas,
também, transmitir aspectos da realidade social e espacial. Contudo, essa premissa
nem sempre foi a razão principal de ser dos mapas na Idade Média. Pois, eles
manifestam vários elementos inerentes à cultura e à identidade do homem cristão
medieval,
na
medida
em
que
apresentam
e
representam,
entre
outras
características, a concepção de mundo numa perspectiva religiosa, tal qual a
geografia do período.
Na Alta Idade Média, em razão da ascensão do cristianismo como religião
oficial do Ocidente europeu, os mapas passaram a não primar mais pela precisão
geométrica, nem pela representação fiel da realidade. Desse modo, percebe-se,
algumas alterações em relação aos princípios cartográficos que haviam sido
formulados pelos matemáticos e cartógrafos clássicos.
Essa tendência se aprofunda ainda mais com a queda do Império Romano do
Ocidente, em 476. Posto que, no tempo do Império havia uma valorização do
conhecimento
geográfico
e
cartográfico,
devido
à
finalidade
prática
ser
preponderante aos objetivos militares e expansionistas do mesmo.
Desse modo, os sistemas cartográficos desenvolvidos na Antiguidade
Clássica por Hiparco de Niceia, Eratóstenes de Cirene, Claudio Ptolomeu, entre
outros, são, gradativamente, substituídos por outros sistemas pouco sofisticados.
Contudo, isso não significa dizer que os conhecimentos geográfico e
cartográfico tenham sido tratados sem nenhum cuidado. Na realidade, entre outros
motivos, sabe-se que eles foram instrumentalizados e manipulados para que
16
cumprissem os objetivos pré-determinados pelo Alto Clero. Isto porque, a
cartografia, ao longo da Idade Média, esteve presa à tradição cristã.
No capítulo V, pretende-se amarar e articular todo o trabalho. Desse modo,
nesta etapa, busca-se relacionar o conhecimento geográfico e cartográfico
medievais com o desenvolvimento da pintura europeia medieval. Haja vista que, ao
longo desse período, é possível identificar algumas congruências e similitudes entre
essas áreas do conhecimento, especialmente, no que diz respeito à construção e
representação da noção de espaço.
Em 1713, o geógrafo alemão Gottfried Gregorii afirma que: ―Ninguém pode
ser um bom cartógrafo se não for também um bom pintor‖ (DREYER-EIMBCKE
1992,
p.16).
Desse
modo,
acredita-se
haver
algumas
equivalências
de
características entre essas áreas do saber.
Essa relação é reflexo do próprio esquema de pensamento intrínseco ao
homem cristão e medieval, que, por meio da arte, especialmente da pintura busca
manifestar sua concepção e perspectivas de mundo.
Desse modo, através do estudo da arte medieval, especialmente da pintura,
pretende-se apresentar os principais aspectos e processos que envolvem o
nascimento de uma nova percepção do espaço.
Diga-se que a nova concepção de espaço que nasce, originalmente, na
esfera da pintura e, posteriormente, migra para o campo da Geografia e da
Cartografia, fica mais nítida a partir do Renascimento. Desse modo, nessa pesquisa
pretende-se chegar até o início das grandes transformações que se iniciam na
Europa ocidental a partir do século XV.
Portanto, por hora, se objetiva mostrar as congruências e similitudes entre a
pintura, a cartografia e a geografia medievais.
17
CAPÍTULO I
A GEOGRAFIA E A CARTOGRAFIA PRODUZIDAS NA ANTIGUIDADE: A
CONTRIBUIÇÃO DOS CLÁSSICOS
Sodré (1987) afirma que a Geografia é, talvez, a ciência de história mais
longa. E, como tal, desde os tempos mais remotos, já é possível identificar
manifestações de saberes de cunho geográfico.
O ser humano, precocemente, manifestou a tendência ao deslocamento
espacial. É provável que as primeiras migrações humanas, tenham apontado a
importância do reconhecimento e do registro de informações geográficas. Sendo
assim, as primeiras migrações foram significativas para o desenvolvimento de
conhecimentos relacionados a superfície terrestre e de suas populações.
Por mais que o conhecimento geográfico exista desde os primórdios da
história humana, se fazendo presente em toda e qualquer civilização, reza a
tradição, que os pensadores gregos foram os primeiros a sistematizar os
conhecimentos geográficos. As trocas comerciais e o desenvolvimento cultural
deram grande impulso ao desenvolvimento de conhecimentos propriamente
geográficos na Grécia Antiga (DE MARTONNE, 1953).
É pertinente destacar que, desse período já se delineiam duas perspectivas
de geografia: uma geografia regional, atribuída a Heródoto, cujas narrativas
realizadas por historiadores contavam algumas viagens realizadas a lugares e
regiões pouco conhecidas; e outra geografia geral, fundada pelos filósofos
naturalistas jônicos, cujo principal expoente é Tales de Mileto, esse ramo privilegiou
as discussões de temas relacionados com a física terrestre, como a forma, a
extensão, a posição e o movimento da Terra no espaço (CARVALHO, 2006; DE
MARTONNE, 1953).
Conforme Carvalho (2006), há que se atentar para os critérios utilizados
para se definir uma informação ou outra como sendo geográfica ou não. Assim, é
importante se conhecer as fontes dessas informações ditas ―geográficas‖ e,
especialmente, conferir e comparar quais delas, em cada época, foi considerado
geográfico; e, mais que isso, considerar em que tipo de concepção de mundo essa
―geografia‖ inseria-se (CARVALHO, 2006).
18
Portanto, voltar a atenção para a Antiguidade é resgatar as bases conceituais
e metodológicas daquilo que mais tarde, no século XIX, se configuraria como
Geografia Científica. Notadamente, a humanidade, muito antes do que se pense,
ainda que fortuitamente, já manifestava certo grau de preocupação com os
conhecimentos e informações geográficas.
A construção de um conhecimento propriamente geográfico é marcada pela
complexidade que envolve o processo de sistematização desta disciplina como
saber autônomo. Assim, na busca das origens de um saber propriamente
geográfico, nos debruçamos sobre um período da história da humanidade em que a
Geografia e a Cartografia conheceram relativa expansão e notoriedade.
Ainda que a nossa análise, nesse capítulo, se concentre na Antiguidade
Clássica, precisamos ressaltar que há todo um conhecimento geográfico (e
cartográfico) produzido anteriormente a essa época. Para Morales (2008), por
exemplo, a produção pictórica e cartográfica remonta à pré-história, época na qual
são encontrados indícios da prática artística e cartográfica.
Dentre os povos orientais, sabe-se que os babilônicos (do Oriente Próximo) e
os egípcios deram importante contribuição ao desenvolvimento da Cartografia. Eles
detinham conhecimentos de astronomia, matemática, agrimensura, agricultura etc. O
comércio, por sua vez, foi uma atividade importante para o desenvolvimento da
economia, mas também, colaborou para o crescimento cultural e científico desses
povos. Nesse sentido, conforme Dreyer-Eimbcke (1992), o comércio foi uma
atividade praticada, principalmente, pelos fenícios, que viajaram muito pelos mares
Mediterrâneo e Vermelho, contribuindo para o aumento do conhecimento do mundo.
Assim, segundo Dreyer-Eimbcke (1992, p.41):
São do Oriente Próximo os indícios cartográficos mais antigos que
conhecemos. Eles foram encontrados com maior frequência no sul
da Mesopotâmia. Uma pintura num vaso de argila de Tepe Gawra,
no norte do Iraque, datada da metade do século IV a.C., é
considerada o documento cartográfico mais antigo.
Nessa mesma região, foi encontrado um mapa-múndi em argila que indica
possivelmente a concepção de mundo dos babilônios. Esse mapa-múndi é, na
realidade, ―[...] um fragmento de tábula de argila com escrita cuneiforme do tempo
do novo império babilônico (626 a.C – 539 a.C), que hoje é guardado no Museu
Britânico, em Londres‖ (DREYER-EIMBCKE, 1992, p.41).
19
O referido mapa não primou pelos princípios toponímicos, nem de
identificação, orientação e localização; pois, na realidade, ele serve mais à fantasia e
a imaginação. Nele, a Terra ganha a forma de um disco e fica a flutuar sobre um
único e imenso oceano. No centro, há uma cidade, provavelmente, Babilônia; à
direita, está a Assíria; e, no topo, está a Armênia; próximo à Armênia, surge um rio,
provavelmente o Eufrates, que passa pela Babilônia e deságua no imenso oceano.
Na Figura 1, pode-se visualizar uma gravura que faz referência a um fragmento do
mapa-múndi babilônico.
Figura 2 - Mapa-múndi babilônico, séc. VI a.C
Fonte: <http://mdig.com.br> Acesso em: 05 de Outubro de 2014
Do ponto de vista histórico, tal mapa constitui um valioso documento, na
medida em que expressa o pensamento e o sentimento daquele povo a respeito do
mundo. Muitos povos, como os fenícios, também recorreram aos mapas como meio
de instrumentalizar a sua cosmovisão.
Não havia, na Antiguidade Clássica, muito bem definidos os conteúdos que
integravam o campo de estudo da Geografia. Contudo, conforme Carvalho (2006),
os temas que integravam o campo de estudo da Geografia eram:
A forma do mundo, a sua extensão e tamanho, a proporção entre as
águas e as terras;
Elementos de uma geografia matematizada, cuja base era a geometria,
por vezes ligada à astronomia;
20
Estudo dos astros e seus movimentos;
A descrição dos lugares e dos povos;
Formas de representação do espaço costeiro.
Embora, na Antiguidade Clássica, a experiência empírica e factual tivesse
certa relevância, o conhecimento espacial do mundo ainda era reduzido, razão que
limitava o desenvolvimento de um saber geográfico sob bases mais sólidas.
Mesmo assim, na Antiguidade Clássica, contribuições significativas do
conhecimento geográfico são encontradas em personalidades como Homero, Tales
de Mileto, Anaximandro de Mileto, Hecateu de Mileto, Pitágoras, Parmênides,
Aristóteles, Alexandre Magno, Cratos de Malo, Eratóstenes de Cirene, Heródoto,
Hiparco, Estrabão, Cláudio Ptolomeu, entre outros. Infelizmente, não será possível
se trabalhar com todos esses autores. Entretanto, suas pesquisas e contribuições,
por si só, já indicam as origens de uma discussão teórico-metodológica de caráter
puramente geográfico.
Homero (séc. VIII a.C.), um poeta grego, certamente é a personagem mais
emblemática e curiosa desse período (BULFINCH, 2009). Ele viveu entre os séculos
X e IX a.C., na Jônia, um distrito da Anatólia. Sua existência só reforça a ideia de
que não podemos buscar, na Antiguidade Clássica, uma Geografia nos padrões
modernos; pelo contrário, devemos analisar/resgatar uma imagem e/ou visão de
mundo contextualizada à sua época (CARVALHO, 2006).
Dentre as principais obras escritas, por Homero, estão a Ilíada e a Odisseia.
Nelas, a característica mais marcante é a forma poética e fantasiosa com que são
narrados e descritos os lugares e paisagens visitadas pelos personagens. Na
Odisseia, por exemplo, é contada uma viagem realizada por Homero ao redor da ilha
da Sicília, um lugar dominado por seres imaginários e de existência duvidosa
(DREYER-EIMBCKE, 1992).
Uma característica imanente aos gregos é a capacidade de sintetizar e
descrever os aspectos dos povos e das terras visitadas e/ou imaginadas. A
expansão grega às margens do mar Egeu e do mar Mediterrâneo reflete uma série
de incertezas e especulações quanto à forma e povoamento da Terra.
21
Indiscutivelmente, eles foram os primeiros a suspeitar e deduzir a respeito da
circunferência da Terra; além de criar a expressão ecúmeno1.
Homero defendeu que a Terra era um corpo esférico e, que o ecúmeno era
uma ilha cercada pelo grande e intransponível Mar Oceano. No centro da Terra
estava Hellas (a Grécia); o restante do mundo, a Trácia, a Fenícia, o Egito e a Líbia,
estava distribuído ao redor dessa grande ilha; no mundo de Homero também estão
representados os mares Egeu e Mediterrâneo e as Colunas de Hércules (DREYEREIMBCKE, 1992). Na Figura 2, observa-se uma ilustração que faz referência à
concepção de mundo na visão de Homero.
Figura 3 - A concepção de mundo segundo Homero, séc. VI a.C.
Fonte: <http://bwrzonajoven.blogspot.com.br>. Acesso em 15 de Outubro de 2014
Homero transmitiu uma visão de mundo muito fantasiosa (isso para os
padrões modernos), razão pela qual não escapou às criticas, principalmente aquelas
feitas por Heródoto. De acordo com Boorstin (1989, p.9), ―Heródoto ridicularizou o
conceito homérico de que a Terra era um disco circular rodeado pelo rio oceano‖.
A ideia homérica de que a Terra era um disco plano a flutuar sobre as águas
perde força a partir dos testemunhos de Pitágoras (570 - 495 a.C.), de Platão (427347 a.C.) e de Aristóteles (384 - 322 a.C.). Para estes, a Terra era uma esfera por
razões puramente de ordem estética e matemática:
1
Ecúmeno, do grego oikoumêne, significa Terra "habitada", ou seja, a área habitável ou já habitada
da Terra.
22
Os pitagóricos e Platão basearam a sua convicção em fundamentos
estéticos. Como uma esfera é a forma matematicamente mais
perfeita, claro que a Terra tinha essa forma. Discordar disso seria
negar a ordem da Criação. Aristóteles (384–322 a.C.) concordou por
razões de pura matemática e acrescentou algumas provas físicas
(BOORSTIN, 1989, p.98).
Heródoto (484-425 a.C.), por seu turno, foi um tipo culto, detentor de grande
conhecimento, razão pela qual se entende sua forte influência entre os gregos. De
acordo com Sodré (1987, p.15), Heródoto:
[...] viajou pelas ilhas do Egeu e ampliou seus horizontes conhecendo
o sul da Itália, a Cirenaica, o Egito, a Babilônia, o Mar Negro.
Heródoto subiu o Nilo e chegou à orla do Saara, tomando contato
com os caravaneiros que vinham do interior da África e de Cartago.
Suas descrições históricas são enxameadas de informações
geográficas.
Para Aristóteles, a Terra estava no centro do Universo e, desse modo, por
questões de ordem física, tornar-se-ia, consequentemente, uma esfera. Além das
causas matemáticas e físicas, a esfericidade da Terra poderia ser comprovada por
meio da observação. Conforme Boorstin (1989, p.98):
Ainda não tinham pormenores observado acerca da superfície da
Terra para desenhar um mapa do Mundo, mas usando matemática e
astronomia pura chegou a alguns cálculos surpreendentemente
exatos.
Outro célebre nome da Antiguidade Clássica foi Eratóstenes de Cirene (276 194 a.C.). Ele foi um importante matemático, astrônomo e ―geógrafo‖ do século III
a.C. Não se sabe muito a seu respeito, exceto por meio dos ataques que fizeram a
ele aqueles que mais lhe deveram (SODRÉ, 1987). Provavelmente, foi o primeiro a
utilizar o termo geografia.
Durante parte de sua vida esteve em Alexandria, onde foi nomeado diretor da
Biblioteca desta cidade. De acordo com Rocha (1997, p.2), as suas principais obras
são ―[...] As Medidas da Terra e Notas Geográficas, das quais apenas algumas
partes conseguiram ser conservadas e conhecidas nos dias atuais‖. Nelas, são
encontrados elementos que tratam das medidas e da forma da Terra.
Eratóstenes de Cirene, com a intenção de calcular a circunferência da Terra,
imaginou-a dividida em frações de igual tamanho. Deduziu que, se soubesse o
23
número de frações e o tamanho de uma delas, seria possível encontrar o tamanho
real da Terra. Ele sabia que uma circunferência possui 360 graus e, encontrando o
ângulo de uma dessas frações, seria possível encontrar o número total de frações
existentes.
Para
tanto,
concebeu
um
método
baseado
em
observações
astronômicas e em cálculos geométricos, que lhe possibilitaram calcular a
circunferência da Terra. Segundo Boorstin (1989, p.99-100):
Eratóstenes soubera, por viajantes, que ao meio-dia de 21 de junho o
Sol não projetava nenhuma sombra num poço de Siene (a moderna
Assuão), o que significava que se encontrava diretamente por cima.
Ele sabia que o Sol projetava sempre uma sombra em Alexandria.
Mediante conhecimentos ao seu alcance, considerou que Siene
devia ficar a sul de Alexandria. Teve então a ideia de que se
conseguisse medir o comprimento da sombra do Sol em Alexandria
na hora em que não havia nenhuma sombra em Siene, poderia
calcular a circunferência da Terra. Em 21 de Junho mediu a sombra
de um obelisco de Alexandria e, recorrendo a simples geometria,
calculou que o Sol estava a 7º 14` da vertical. Isto equivale a um
quinquagésimo dos 360º de um círculo completo. Esta medida era
notavelmente exacta, pois a diferença real de latitude entre Assuão e
Alexandria, pelos nossos melhores cálculos modernos, é de 7º 14`.
Assim, a circunferência da Terra era 50 vezes a distância de Siene a
Alexandria.
O raciocínio foi extremamente simples, mas eficaz. Sendo a distância de
Siene até Alexandria de um quinquagésimo, bastaria multiplicar essa distância por
cinquenta para se chegar à circunferência da Terra. Eratóstenes encontrou uma
circunferência de 250.000 estádios. Em termos modernos cada estádio equivale a
aproximadamente 185 metros. O que representa uma circunferência da grandeza de
46.200 km. Um número muito próximo das medidas atuais, que são da ordem de
grandeza de 40.075 km (SODRÉ, 1987).
Eratóstenes de Cirene se mostrou corajoso e inovador, pois ―[...] foi esse
geógrafo grego que, em lugar da Terra, declarou o sol como centro do universo‖
(DREYER-EIMBCKE, 1992, p.43). Foi ele, ainda, quem cartografou o mundo
conhecido em seu tempo (representou a Europa, parte da Ásia e uma pequena parte
da África). Segundo Rocha (1997, p.3):
[...] no campo da cartografia, este autor foi responsável pela
confecção de um mapa-múndi que continha sete paralelos e sete
meridianos, cada qual denominado pelo nome do lugar por onde
passava. Desenvolviam-se com ele sistemas de coordenadas tão
presentes hoje em nossos mapas.
24
Infelizmente, o mapa-múndi criado por Eratóstenes de Cirene se perdeu por
volta do ano 250 a.C. Entretanto, pode-se conhecê-lo através dos esforços de
Estrabão. Examinando-se o referido mapa-múndi, logo nota-se a existência de
algumas falhas, algo bem compreensível dado o conhecimento técnico e espacial do
mundo no período. Nele, por exemplo, os territórios da Sibéria e da Rússia não são
mencionados; as áreas próximas do mar Mediterrâneo aparecem bastante
deformadas; o mar Cáspio aparece como um golfo do grande oceano; e o continente
africano surge bastante limitado ao sul (DREYER-EIMBCKE, 1992).
Na Figura 3, é possível visualizar uma gravura colorida, reconstruída no
século XIX, apresentando o mapa-múndi de Eratóstenes de Cirene. Na realidade,
trata-se de uma representação do mundo conhecido na Antiguidade.
25
Figura 4 - Reconstituição do mapa-múndi de Eratóstenes de Cirene, séc. II a.C.
Fonte: <http://www.mapas-historicos.com> Acesso em: Abril de 2015
26
No conjunto de pensadores da Antiguidade Clássica, outro que se destaca é
Hiparco de Nicéia (190 - 120 a.C.). Ele foi um brilhante astrônomo, cartógrafo
e matemático grego. Devido à sua acurácia, é considerado, por muitos, o maior
astrônomo grego de toda a Antiguidade. Conforme Boorstin (1989, p.100), ―[...]
Hiparco descobriu a precessão dos equinócios, catalogou 1000 estrelas e é-lhe
geralmente atribuída a invenção da trigonometria‖.
Hiparco de Nicéia adotou a teoria das Zonas de Climata que havia sido
formulada por Parmênides no século V a.C. Esse sistema consistia na divisão da
Terra em cinco zonas climáticas. Conforme Randles (1994, p.14-15), a teoria das
Zonas de Climatas:
[...] dividia a esfera horizontalmente em cinco ―praias‖: duas geladas,
logo inabitáveis, perto dos polos e, de um lado e de outro sobre o
equador, a zona tórrida, também inóspita e intransponível, separando
as duas zonas temperadas, as únicas suscetíveis de acolher as
populações.
Na Figura 4, tem-se, em detalhe, as Zonas de Climata. Nela, é possível se
identificar a divisão da Terra em zonas/áreas conforme o tipo de clima dominante.
Figura 5 - As Zonas climáticas da Terra, séc. V a.C.
Fonte: http://consttype.tumblr.com/post/4256070728/the-climatezones-of-earth-with-the-projection-of. Acesso em 20 de Março de 2015.
A teoria das Zonas de Climata foi muito útil a Hiparco de Nicéia. Pois, ele
notou que qualquer local da superfície terrestre poderia ser localizado através de um
sistema de coordenadas geográficas. Desse modo, por sobre as Zonas de Climata
27
ele projetou um conjunto de linhas imaginárias que envolviam toda a Terra. Nesse
sentido, conforme Boorstin (1989, p.101):
As linhas de climata poderiam servir para mais do que descrever
simplesmente regiões da Terra que receberiam a luz solar em
ângulos similares. Se numeradas, proporcionariam um conjunto
simples de coordenadas para situar todos os lugares da Terra. Como
seria fácil, então, dizer a alguém onde podia encontrar qualquer
cidade, rio ou montanha do planeta.
Outro grego célebre foi Crates de Malos (século II a.C.). Ele teve uma
formação bem abrangente; afinal foi filósofo, físico, matemático, astrônomo e
gramático. Contudo, em seu tempo apenas uma pequena parte da superfície
terrestre era conhecida. Mas, isso não limitou a sua imaginação e sua capacidade
de construir o primeiro globo esférico da Terra. Conforme Dreyer-Eimbcke (1992,
p.43):
Mesmo considerando as viagens dos mercadores e dos povos de
vocação marítima da Antiguidade grega, só eram conhecidos mais
ou menos oito por cento da superfície terrestre quando Crates de
Malos criou, por volta de 150 a.C., seu globo hoje desaparecido.
Na Figura 5, tem-se, em detalhe, uma ilustração do globo esférico da Terra
construído por Crates de Malos. Nele, aparecem os continentes, distribuídos em
quatro ilhas; mais uma zona antípoda; e um suposto oceano Equatorial.
Figura 6 - Globo terrestre de Crates de Malos, sec. II a.C.
Fonte: < http://greciantiga.org>. Acesso em 22 de Outubro de 2014
28
Dentre todos os nomes da Antiguidade Clássica, Estrabão e Cláudio
Ptolomeu foram quem melhor sistematizaram os conhecimentos geográficos
produzidos no período (SODRÉ, 1987).
Estrabão (64 a.C. - 24 d.C.), foi um viajante e historiador que deu importante
contribuição à sistematização dos conhecimentos geográficos. Ele nasceu em
Amaseia (atual Turquia), uma região, à época, dominada pelo Império Romano. O
contato com a cultura greco-romana permitiu-lhe aprofundar os estudos sobre a
Geografia.
Contudo, a Geografia de Estrabão era mais descritiva, e se caracterizava pelo
distanciamento dos princípios e técnicas de mensuração da realidade (ROCHA,
1997). Isto porque, a sua Geografia regional se preocupava, sobretudo, com a
descrição dos aspectos e características dos lugares e dos povos. Assim, conforme
De Martonne (1953, p.3), ela é ―[...] muito mais humana, mais atenta à etnografia, às
migrações dos povos, aos costumes e às instituições, ao passo que a geografia
geral é mais física, mais exata, ou pelo menos, mais exigente de precisão
matemática‖.
Em muitos aspectos, a cosmovisão de Estrabão esteve fundamentada nos
princípios postulados por Homero. Desse modo, Carreira & Alves-Jesus (2011,
p.11), sustentam que:
Estrabão defende que o mundo seria uma espécie de ilha, rodeada
pelo Oceano e constituída por três continentes: Europa, Ásia e Líbia
(África). A prova de tudo isto vem do facto de, como o próprio autor
indica, sempre que o homem caminhou até aos confins da terra, ter
encontrado mar.
A obra mais importante de Estrabão é a Geographia, uma coletânea dividida
em 17 volumes. Nela, há espaço para o registro dos elementos que compõem a
natureza e a sociedade. Conforme Carreira & Alves-Jesus (2011), os dois primeiros
capítulos são introdutórios e tratam de questões mais conceituais, aproximando a
Geografia da discussão filosófica; os capítulos III ao X são destinados aos estudos
da Europa; os capítulos XI ao XVI são destinados aos estudos da Ásia; e o capítulo
XVII é destinado à África (Egito, Etiópia e Líbia).
Provavelmente, Estrabão tenha produzido um mapa-múndi. Contudo, esse
mapa se perdeu. Entretanto, em 1879, o britânico Edward Bunbury realizou uma
importante descrição desse mapa-múndi. Nele, o norte da Europa aparece
29
extremamente reduzido; o mesmo ocorre com o leste, sudeste e sul da Ásia; a África
se limita à Líbia, Etiópia e Egito. Mesmo assim, do ponto de vista cartográfico, ele é
um importante documento histórico.
Na Figura 6, tem-se, em detalhe, uma reconstituição do mapa-múndi de
Estrabão.
Figura 7 - Mapa-múndi segundo Estrabão
Fonte:<http://sopasdepedra.blogspot.com.br/2014/03/das-montanhas-erguidaspartir-dos.html>. Acesso em 07 de Março de 2015.
As contribuições de Estrabão transmitiram importante legado para o
desenvolvimento da Geografia. No entanto, elas foram eclipsadas por Cláudio
Ptolomeu (90 - 168 d.C.).
Conforme Boorstin (1989), Cláudio Ptolomeu tinha grande talento para
sintetizar, compilar, aprofundar e aperfeiçoar os trabalhos de seus predecessores.
Ainda que fosse um estudioso enclausurado, realizou estudos sobre astronomia,
geografia, música, óptica etc. Contudo, sua obra mais notável foi a Geografia, uma
coletânea que, mil anos mais tarde, viria a transformar a história da arte e da
cartografia; a essa obra, se somaram outras, de igual valor: a Grande Sintaxe
Matemática (conhecida por Almagesto) e o Tetrabiblos.
Na Geografia, Claudio Ptolomeu tentou reunir toda a geografia conhecida pelo
mundo greco-romano. Na realidade, essa obra é considerada o primeiro grande guia
sobre cartografia. Nesse sentido, de acordo com Boorstin (1989, p.102), ele, ―[...]
teve a coragem de enfrentar as consequências cartográficas da forma esférica da
Terra. E elaborou uma tabela de cordas, baseada na trigonometria de Hiparco, para
definir a distância entre os lugares‖.
30
Para muitos estudiosos da história da arte e da cartografia, Cláudio Ptolomeu
foi o inventor da técnica da perspectiva clássica2, isto é, de uma técnica que enfatiza
os princípios e métodos que dão a ilusão de profundidade aos desenhos.
Na astronomia, Cláudio Ptolomeu defendeu a teoria geocêntrica, isto é, a
concepção de que a Terra era o centro na ordenação do Universo. Nesse sistema,
os demais astros (como a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno) se
movem à volta da órbita da Terra.
A astronomia ptolomaica, em parte, integrava o sistema da física aristotélica.
Diga-se de passagem, que, esse sistema foi sustentado oficialmente pela Igreja, até
que foi substituído pela teoria copernicana.
Atento aos detalhes, Ptolomeu acerta ao declarar que a forma da Terra era
esférica; contudo, ele peca quando afirma que a Terra está estacionária no centro do
Universo, isto é, em repouso. Para Claudio Ptolomeu, os dias e as noites são, na
verdade, uma consequência direta do movimento de rotação executado pelo Sol em
torno da Terra, e não da Terra em volta do Sol, como se sabe ser atualmente.
Na realidade, Cláudio Ptolomeu desenvolveu um sistema astronômico
composto de oitenta epiciclos. Nesse sistema, um tanto quanto complexo, cada
astro se movimenta ao redor de um círculo pequeno (o epiciclo), cujo centro
continua a se mover ao redor do centro do Universo, a Terra. Entretanto, nesse
caso, a Terra aparece um pouco deslocada desse centro, mas mesmo assim,
permanece estática, pois não participa do ―movimento universal‖ (ROCHA, 1997). É
pertinente destacar, que Aristóteles havia proposto um sistema astronômico
composto por esferas homocêntricas, de modo que o Universo, em sua totalidade,
estaria organizado num conjunto de esferas sobrepostas a um único centro.
Na Figura 7, tem-se uma imagem que representa o sistema ptolomaico em
epiciclos.
2
Claudio Ptolomeu, no século II, desenvolveu uma nova técnica de projeção do espaço
usando um sistema de linhas de grade (latitude e longitude). Com essa técnica foi possível
criar uma perspectiva mais realista na representação do espaço. Para Thuillier (1994), há
certa ligação entre a técnica de projeção cartográfica ptolomaica e as técnicas de
perspectiva linear, desenvolvidas pela pintura renascentista.
31
Figura 8 - Sistema Ptolomaico em epiciclos, séc. I/II
Fonte: <http://ctxarly.blogspot.com.br/2010_04_01_archive.
html>. Acesso em 25 de Outubro de 2014
Ainda que tenha buscado subsídios em Eratóstenes de Cirene e Hiparco de
Niceia, os horizontes geográficos de Cláudio Ptolomeu eram extremamente
reduzidos. Na realidade, sua concepção de mundo se limita às medidas e distâncias
conhecidas do auge do Império Romano até a primeira metade do século II. Nesse
sentido, conforme Dreyer-Eimbcke (1992, p.44):
[...] o mundo conhecido por Ptolomeu, se estendia das ilhas Canárias
(meridiano zero) à Ásia oriental (180 graus de longitude) e da África
central (15º graus de latitude sul) ao norte da Europa e da Ásia (65º
de latitude norte).
Adepto dos métodos matemáticos, seus cálculos apresentam grande precisão
geométrica para os padrões da época. Na Geografia, chegou a indicar as latitudes e
as longitudes de mais de 8000 lugares.
Conforme Boorstin (1989, p.102):
Foi ele o primeiro a popularizar, e é possível que talvez as tenha
inventado, as expressões usadas para latitude e longitude. Para
Ptolomeu, no entanto, estas palavras parecem ter tido tonalidades,
agora perdidas, relacionadas com a largura e o comprimento do
mundo conhecido.
Contudo, o que é mais notável é que a sua cartografia estava associada aos
progressos técnicos e científicos da época. Tanto que a estrutura e o vocabulário
dos mapas atuais são moldados com base na ideia inicial formulada por ele.
32
Conforme Boorstin (1989, p.102), ―O sistema de grelha que ele adotou e aperfeiçoou
ainda continua a ser à base de toda a cartografia moderna‖.
No século II, usando da projeção cônica equidistante, ele foi capaz de
produzir um mapa-múndi dividido em 26 regiões. Infelizmente esse mapa se perdeu.
Contudo, um homem chamado Agatodemônio, em 1486, realizou uma reconstituição
muito semelhante ao mapa original (DREYER-EIMBCKE, 1992).
Naturalmente, há alguns erros nesse mapa, relativos à extensão, proporção e
localização do mundo habitado. Por exemplo, a América e a Oceania nem são
mencionadas no aludido mapa. Na verdade, Cláudio Ptolomeu nem sabia da
existência desses continentes, visto que a América só foi incorporada aos mapas no
início do século XVI.
Outro aspecto negativo nesse mapa diz respeito às distâncias e dimensões
do mundo conhecido. Por exemplo, a Ásia está muito deformada. Provavelmente,
esse continente foi ampliado até os 180º de longitude leste. Ao passo que a
superfície da Europa foi bastante reduzida e deformada, principalmente no norte do
continente. A África, inexplicavelmente, alcança o extremo sul, ligando-se a um
suposto continente austral.
Ainda ao analisar a superfície da Terra pode ser visto que a maior parte da
esfera terrestre é coberta de terra e não de água, como se sabe atualmente. Outro
equívoco é que os oceanos Atlântico e Índico aparecem fechados e isolados, sem
comunicação.
Na Figura 8, tem-se em detalhe, uma reconstituição do mapa-múndi de
Cláudio Ptolomeu, de 1486.
33
Figura 9 - Mapa-múndi de Ptolomeu, 1486
Fonte: <http://pime.org.br> Acesso em: Mar. 2014
34
O mapa-múndi ptolomaico tem um valor histórico imenso. Afinal, a ideia de
representar a superfície esférica da Terra por meio de um sistema de linhas de
grade, constituído de latitudes e longitudes é, notadamente, uma técnica
revolucionária para a época. Contudo, talvez, seu maior mérito e legado para a
Modernidade tenha sido a criação da perspectiva clássica, isto é, a noção de
profundidade espacial. Essa característica pode ser facilmente identificada no seu
mapa-múndi e, posteriormente, na pintura renascentista.
De fato, com o passar do tempo, se considerou que Claudio Ptolomeu
cometeu alguns erros ao calcular as medidas e extensões do mundo habitado. Na
realidade,
na
Antiguidade
Clássica,
o
horizonte
geográfico
era
muito
reduzido/limitado. Afinal, há mais de 2000 anos atrás, seria impossível imaginar as
dimensões, fronteiras e contornos reais do mundo.
No século XV, por exemplo, Cristóvão Colombo (1451-1506) traçou o seu
roteiro de viagem às Índias tomando emprestados os cálculos que haviam sido
formulados por Cláudio Ptolomeu. Contudo, séculos mais tarde, se reconheceu que,
para calcular a distância e as medidas da Terra, Ptolomeu se baseou nos cálculos
de Estrabão, que se sabe, atualmente, estavam incorretos.
Conforme Boorstin (1989, p.102):
Para a circunferência da Terra, Ptolomeu rejeitou o cálculo
surpreendentemente exato de Eratóstenes. Calculou que cada grau
da Terra mediria apenas 90 km, em vez de cerca de 112 km, e
depois, de acordo com o Polimato grego Posidónio (c. 135 –c. 51
a.C.) e com Estrabão, declarou que a Terra tinha cerca de 28960 km
de circunferência. A par desta subestimação providencial, cometeu o
erro de prolongar a Ásia para leste, muito para além das suas
verdadeiras dimensões, numa extensão de 180º em vez dos reais
130º. Nos mapas de Ptolomeu isto produziu o efeito de reduzir
grosseiramente a extensão das partes do Mundo desconhecidas
entre a ponta oriental da Ásia e a ponta ocidental da Europa.
Desse equívoco, o resultado inesperado foi a chegada de Cristóvão Colombo
em 1492, à América. Contudo, é pertinente destacar que nem o próprio Cristóvão
Colombo havia se dado conta de sua proeza. Nem mesmo o europeu mais sonhador
poderia ter imaginado um enredo com um desfecho tão surpreendente quanto o
encontro com o ―Novo Mundo‖.
35
Todos os pensadores aqui apresentados deram importantes contribuições
para o desenvolvimento da Geografia. Pois, ninguém, antes e depois deles,
transmitiu uma visão tão global e harmoniosa do mundo conhecido.
Certamente, o estudo dos autores e obras clássicas é de grande valia para
que se compreenda a sutileza com que se constrói o conhecimento geográfico ao
longo do tempo. Pois, de que outro modo seria possível compreender os atuais
desafios epistemológicos dessa disciplina senão por meio do estudo dos clássicos?
No entanto, com Cláudio Ptolomeu se encerra um ciclo de relativa expansão e
melhoramentos dos conhecimentos geográficos e cartográficos. Ao final da
Antiguidade Clássica, contudo, começam a surgir algumas transformações sociais,
políticas, técnicas e culturais que afetam a produção dos conhecimentos geográfico
e cartográfico.
É a partir do século V, que se assiste à longa crise do Império Romano; com
efeito, se inicia um processo de lutas sociais e políticas intensas que culmina com a
queda de Roma perante os povos bárbaros.
A partir desse momento, o patrimônio cultural e filosófico produzido pela
civilização greco-romana sofre forte abalo. Contudo, na Idade Média é possível
abordar algumas transformações nos processos de construção dos conhecimentos
geográfico e cartográfico.
Desse modo, no capítulo II, pretende-se estudar os elementos que
caracterizam as grandes transformações epistemológicas, técnicas, culturais,
políticas e científicas ocorridas na longa Idade Média. Contudo, antes, é necessária
a análise das diferentes concepções conceituais que envolvem a própria Idade
Média.
36
CAPÍTULO II
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERÍODO MEDIEVAL
Nesse capítulo, apresenta-se uma discussão sobre o mito da Idade Média,
não raro classificada como a ―Idade das Trevas‖. O termo e o assunto ganham
destaque e notoriedade na medida em que, alguns estudiosos têm apontado para
novas perspectivas e/ou leituras a respeito do tempo e das sociedades medievais.
Nesse sentido, busca-se construir um diálogo em relação à Idade Média, mas
também se pretende destacar e enfocar uma nova forma de ver e classificar esse
período, pois, só assim será possível entender e compreender o tipo peculiar de
construção dos conhecimentos geográfico e cartográfico.
Conceituar e definir o que se chama de Idade Média não é algo tão simples
quanto se costuma pensar. Algumas generalizações abusivas se cristalizaram ao
longo do tempo. Contudo, ao que tudo indica a imagem negativa da Idade Média
originou-se, em grande parte, do poeta italiano Francesco Petrarca, que viveu no
século XIV, mas ainda, coube ao Positivismo Clássico (século XIX) a difusão de
ideias mais elaboradas e pejorativas. Porém, no final do século XIX, também
surgiram novos estudos que apresentam a Idade Média numa outra perspectiva. E é
justamente nessa tendência de redefinição conceitual que se concentra este
capítulo.
Neste sentido, merecem destaque as contribuições de Jacques Le Goff &
Jean-Claude Schmitt (2002), Hilário Franco Júnior (2010), Umberto Eco (2014) e G.
H. T. Kimble (2005). Estes estudiosos apresentam a Idade Média numa outra
perspectiva, isto é, consideram outros elementos como constituintes do período.
Dessa forma, inicialmente recorreu-se à contribuição de Kimble (2005). O
autor faz algumas advertências quanto à tentativa de periodização da Idade Média.
Segundo ele:
O início exato da Idade Média é obscuro. Obviamente é impossível
assinalar uma data; em vários aspectos os Padres da Igreja podem
ser considerados como pioneiros dessa era, ainda que a civilização
clássica pagã continuasse por muitos séculos. Mesmo o fechamento
da Escola de Atenas em 529 d.C. não é um marco suficiente, até
porque nesse tempo as academias cristãs de Alexandria, Beirute e
Constantinopla serem certamente importantes (p. 3).
37
.
A respeito do período medieval em geral:
É deveras interessante pensar sobre essa época – como qualquer
outro período de tempo convencional – mais como uma sobreposição
à época anterior do que como uma descontinuidade (KIMBLE, 2005,
p. 3).
De fato, alguns acontecimentos se cristalizaram como marcas desse período.
Por exemplo: as inúmeras crises políticas; a queda do Império Romano do Ocidente;
a crise demográfica, com a polarização das relações feudais no campo; o
recrudescimento das relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente; a produção
do conhecimento articulado com os princípios da fé; a baixa mobilidade espacial etc.
Contudo,
as
características
citadas
anteriormente,
quando
descontextualizados dos elementos e causas filosóficas, sociológicas, religiosas e
psicológicas, são insuficientes para decifrar e caracterizar o homem europeu
medieval e sua visão de mundo (ECO, 2014). No mesmo sentido, ao se reconhecer
a importância e a interação desses elementos, pode-se falar que, há um novo
padrão de comportamento que resulta, na realidade, da mudança de mentalidade do
homem medieval.
Primeiro, é indispensável compreender que o caráter analógico do
pensamento foi comum, ao homem culto e néscio, pois, ele foi o padrão de
pensamento dominante durante toda a Idade Média (FRANCO JÚNIOR, 2001).
A Europa, após a queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida em 476
d.C., tornou-se um local de intensas metamorfoses (KIMBLE, 2005). Nesse sentido,
de acordo com Andrade (1987, p.29):
A destruição do Império Romano do Ocidente e sua divisão entre
reinos ―bárbaros‖, a expansão do islamismo, a pressão turca no
Oriente e o esfacelamento progressivo do Império de Bizâncio
provocaram uma rearrumação territorial na Idade Média, fazendo
com que surgissem novas fronteiras e que outras, consolidadas, se
desestabilizassem.
Após a morte de Teodósio, provavelmente em 395, a unidade do Império
Romano foi abalada definitivamente. A divisão, em dois reinos, desse colossal
Império, contribuiu para a desintegração do poder central. Assim, o Império Romano
38
do Ocidente não resistiu à pressão e aos ataques dos povos bárbaros3 e se
desintegrou. A título de informação, consta que o Império Romano do Oriente, com
sede em Bizâncio, suportou aos ataques dos turco-otomanos até meados do século
XIV.
A invasão germana mudou drasticamente o curso da história. De acordo com
Andrade (1987), eles:
[...] destruíram cidades, depredaram os campos, construíram novos
centros administrativos e comerciais e, convertidos ao cristianismo,
deram maior poder ao Papa e permitiram a formação de feudos
pertencentes à Igreja onde seriam feitos estudos que continuariam as
tradições culturais greco-romanas (p.29).
A partir desse acontecimento, a Europa ocidental passa por inúmeras e
intensas transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. Antigas fronteiras
são destruídas, ao passo que outras são construídas.
De fato, o período medieval foi marcado por grandes contrastes (ECO, 2014).
Trata-se de uma época que fascina por todo o patrimônio cultural e artístico
transmitido à Modernidade. Ao analisa-la, ao menos no caso do Ocidente, dada à
constituição do cristianismo como religião oficial, fica evidente que o homem
medieval se via inclinado a pensar a realidade como uma manifestação de algo que
transcendia o mundo dos homens.
Não havendo uma explicação racional para um dado fenômeno, era
frequente, na linguagem e no cotidiano dos homens medievais, o recurso à analogia
como forma de se construir e/ou projetar imagens verbais e visuais articuladas com
a realidade. A estrutura mental possibilitava a existência de seres fantásticos,
fabulosos e míticos que habitavam lugares geograficamente desconhecidos.
Portanto, no imaginário do homem medieval, era comum a existência dessas
criaturas, tais como Unicórnios, Dragões, Manticoras (criatura com cabeça de
homem e corpo de animal), etc.
Há um bom exemplo do recurso à analogia que vem da Cartografia. Na
realidade, trata-se de um mapa-múndi produzido no século XIII, provavelmente pelo
inglês Ricardo de Haldingham. Esse mapa foi construído com base no imaginário do
homem medieval, que acreditava piamente na existência desses seres fantasiosos
3
O termo ―bárbaro‖ foi largamente utilizado na Europa medieval para designar os povos de origem
germânica que habitavam as regiões norte e nordeste da Europa e o noroeste da Ásia, na época do
Império Romano.
39
que habitavam lugares geograficamente desconhecidos. Na Figura 9, tem-se, em
detalhe, uma folha do mapa-múndi de Hereford. Nela, há um Sciapods, um ser que
tem um pé enorme e que se acreditava existir em alguma parte do mundo não
conhecido.
Figura 10 - O Sciapods – detalhe do mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/>Acesso em 18 de
Novembro de 2014
A partir do século IX, a Escolástica4 também buscou reunir alguns princípios
filosóficos platônicos, aristotélicos e pitagóricos e a eles dosou vários elementos
inerentes da cultura judaico-cristã. A intenção era aparentemente simples: respaldar,
filosoficamente e teologicamente, as revelações e os princípios do cristianismo. No
entanto, isso não significa dizer que o estilo filosófico do período clássico tenha
desaparecido completamente. Na realidade, é importante salientar que os mosteiros
e as igrejas se tornaram oficialmente locais prediletos de estudo e de compilação
dos textos clássicos. Daí, pois, se dizer que a Idade Média foi uma amálgama de
diferentes estilos.
4
A escolástica é uma corrente filosófica nascida na Europa medieval a partir do século XI, que
procurava conciliar fé e razão. De acordo com Le Goff & Schmitt (2002, p.367), ―Às portas do século
XIII, um fato novo se produz na história das escolas: a emergência de uma instituição – a
Universidade – na qual mestres eclesiásticos especialistas da cultura se associam para formar um
corpo profissional segundo o modelo das corporações de ofício. Consagrado pelo papa, esse corpo é
englobado pela Igreja a título de instituição autônoma que, subtraída à jurisdição dos bispos e dos
senhores, está submetida unicamente ao poder pontifício e a seu controle doutrinário‖. Por essa
razão a Igreja guardou para si muitas obras da filosofia natural de Aristóteles.
40
Vale ressaltar, que os humanistas5 do século XIV, também contribuíram para
a formulação de um conceito depreciativo e preconceituoso em relação à Idade
Média. Não obstante, eles deram pouco crédito à forma de se pensar e de se fazer
ciência dos homens medievais. Provavelmente, entre outros aspectos, a intenção
dos humanistas tenha sido a supervalorização do que havia sido feito na
Antiguidade Clássica, como forma de se garantir coerência e respaldo ideológico à
nova classe social: a burguesia.
O termo Idade Média, cunhado pelos humanistas do século XIV, se
popularizou, principalmente, no século XVIII. Nesse sentido, de acordo com Le Goff
& Schmitt (2002, p.537):
A aparição de um conceito desvalorizamte de ―idade média‖, quer
dizer, literalmente, de ―época intermediária‖, é consequência de um
duplo fenômeno cultural e religioso. Resulta da vontade manifesta
dos humanistas italianos, desde o século XIV, de retornar às fontes
da Antiguidade Clássica [...].
Nesse sentido, os pensadores humanistas da Renascença se colocavam
como os legítimos herdeiros do pensamento greco-romano. A intenção era
descaracterizar o teocentrismo ortodoxo defendido pela Igreja.
Pode-se afirmar, portanto, que:
Se numa conversa com homens medievais utilizássemos a
expressão ―Idade Média‖, eles não teriam ideia do que estaríamos
falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles
viam-se na época contemporânea. De fato, falarmos em Idade Antiga
ou Média representa uma rotulação a posteriori, uma satisfação da
necessidade de se dar nome aos momentos passados (FRANCO
JÚNIOR, 2001, p.9).
Entre os séculos IV e XV, existiram, basicamente, duas formas para se obter
o conhecimento. Num plano, se encontram os consagrados mosteiros, um local
destinado ao estudo da filosofia clássica, da teologia e da natureza. Esse grupo era
formado, principalmente, por padres da Igreja católica e por nobres do alto escalão.
Inevitavelmente, o conhecimento ali desenvolvido era utilizado justificar e legitimar o
discurso e a ideologia da religião cristã. Num outro plano estavam os livrespensadores, que se dedicavam à observação e às experiências empíricas; por
5
Na filosofia humanista a preocupação central passa a ser o próprio homem e não Deus como na
escolástica. A explicação dos fenômenos deveria ser pautada na ciência e não na fé. De acordo com
Le Goff & Schmitt (2002, p.367), ―[...] o humanismo que se afirma a partir do século XV é uma cultura
livre, radicalmente antiescolástica e estranha à instituição universitária‖.
41
vezes, eles eram taxados de hereges pela Santa Inquisição. Em geral, não tinham
qualquer ligação com a Igreja. Contudo, estavam submissos ao seu julgamento.
Esse grupo era formado por médicos, curandeiros, alquimistas, físicos, etc.
Diante de tudo que foi exposto até agora, busca-se abordar a Idade Média
com base nos princípios e perspectivas da Nova História. Afinal de contas, esse
período se revela mais denso e rico do que outrora se pensava.
Há alguns séculos, graças aos esforços de Lucien Febvre (1878 - 1956) e
Marc Bloch (1886 - 1944), Fernand Braudel (1902 - 1985) e Jacques Le Goff (1924 2014), os métodos das Ciências Sociais exerceram forte influência na investigação
da História, rompendo, em certa medida, com a corrente positivista até então
hegemônica.
Vale lembrar, que, em 1929, foi criada a Revista Les Annales d´Histoire
Économique et Sociale. Esse foi o primeiro e importante passo para se romper com
a dominante corrente positivista6 (BIRARDI; CASTELANI; BELATTO, 2001). Lucien
Febvre e Marc Bloch ficaram conhecidos como os pensadores da primeira geração
da École des Annales. Por sua vez, Fernand Braudel como o representante da
segunda geração, e Jacques Le Goff como o representante da terceira geração.
Os integrantes da École des Annales são reconhecidos por ultrapassarem a
linha comum e tradicional positivista que envolve o estudo da História. Dessa forma,
vários
aspectos
passam
a
ser
considerados
e
incorporados
ao
estudo
historiográfico, de modo a se obter uma leitura significativamente mais ampla e
envolvente.
Diante disso, conforme Franco Júnior (2001, p.13):
Finalmente, passou-se a tentar ver a Idade Média com os olhos dela
própria, não com os daqueles que viveram ou vivem noutro
momento. Entendeu-se que a função do historiador é compreender,
não a de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se
ver a Idade Média é a própria Idade Média.
6
De acordo com Bottomore (2001, p.290), ―Auguste Comte (1798-1857), é geralmente reconhecido
como fundador do positivismo ou ―filosofia positiva‖. O projeto intelectual-político básico de Comte era
a extensão dos métodos científicos das ciências naturais ao estudo da sociedade: a criação de uma
―sociologia‖ científica. Sua concepção do método científico era evolucionista e empirista: todos os
ramos do conhecimento passam por três eságios históricos necessários: teológico, metafísico e,
finalmente, ―positivo‖ ou ―científico‖. Nesse estágio final, é abandonada a referência às causas
últimas, ou não-observáveis, dos fenômenos, em favor de uma busca de regularidades semelhantes
a leis entre os fenômenos observáveis. Do mesmo modo que os modernos filósofos da ciência
empiristas, Comte estava comprometido com um modelo de explicação baseado numa ―lei geral‖,
segundo o qual a explicação baseado numa ―lei geral‖, segundo o qual a explicação é simétrica com
a previsão.
42
A aproximação da História das demais Ciências Humanas inaugura uma nova
fase, no sentido de valorizar e considerar minuciosamente as manifestações mais
sensíveis e elementares da sociedade medieval. Nesse sentido, há uma mudança
de postura do cientista, que busca não mais julgar os fatos de forma isolada, mas
entende-los em sua integralidade e complexidade.
Na
perspectiva
da
Nova
História,
a
delimitação
cronológica
e
o
estabelecimento de datas não são mais um fato relevante. Portanto, nessa nova
perspectiva as grandes transformações sociais apresentam movimentos mais lentos
e suaves. Desse modo, Almeida (2010, p.7), entende que ―[...] as luzes surgidas, a
partir do final do século XVI, faziam parte da Idade Média‖.
Do ponto de vista da Nova História, realizar a análise dos fatos do passado
pela compreensão dos aspectos psicológicos, sociológicos, culturais, filosóficos,
religiosos, econômicos etc, nos fornecem novas leituras a respeito da mentalidade
inerente à essencia do homem medieval (ECO, 2014). Assim, consideram-se as
manifestações mais estáveis e mais imperceptíveis das sociedades, para que se
compreendam os seus reflexos na cultura, na produção do conhecimento, no
trabalho, na economia, na política etc.
Na Idade Média, para se compreender, por exemplo, o processo de produção
do conhecimento geográfico (e cartográfico) necessita-se considerar que o processo
de construção do conhecimento no Ocidente cristão foi respaldado pelo pensamento
analógico (FRANCO JÚNIOR, 2010).
O termo ―analogia‖ tem origem na língua grega e sua tradução para o
português seria: ―por meio de assemelhar‖. Seu uso é tão antigo quanto à
descoberta da razão e ―[...] sua preocupação remonta desde a filosofia clássica,
passando pela alquimia, até a ciência moderna‖ (RODRIGUES, 2007, p.2).
Desse modo, o termo pode nos indicar dois sentidos. No primeiro, tem-se um
conceito formulado pelos gregos matemáticos. Para eles, a analogia é uma razão de
proporcionalidade, isto é, uma razão de magnitude/grandeza/medida de alguma
coisa. No segundo, usado também pelos gregos, como uma figura de linguagem
muito semelhante à metáfora. Para eles, portanto, analogia é uma aproximação e/ou
comparação de dois ou mais termos passíveis dessa ação.
Dito isso, Abbagnano (1998, p. 55), afirma que:
43
Esse termo tem dois significados fundamentais: 1º o sentido próprio
e restrito, extraído do uso matemático (equivalente à proporção) de
igualdade de relações; 2º- o sentido de extensão provável do
conhecimento mediante o uso de semelhanças genéricas que se
podem aduzir entre situações diversas. No primeiro significado, o
termo foi empregado por Platão e por Aristóteles e é até hoje
empregado pela lógica e pela ciência. No segundo significado, o
termo foi e é empregado na filosofia moderna e contemporânea. O
uso medieval do termo é intermediário, entre um e outro significado.
Ainda que os humanistas do Renascimento não tenham dado à devida
importância a essa forma de construção do conhecimento, é possível afirmar que, na
atualidade, algumas áreas do saber, inclusive as ciências ditas exatas, têm recorrido
as potencialidades do pensamento analógico.
Deveras, o homem medieval não se via atraído a pensar sob os termos da
moderna lógica, caracterizada pela precisão e pela busca de verdades absolutas e
incontestes. Para eles, importava mais a verdade revelada e sustentada pela Fé.
Isto porque, o homem medieval sentia forte apreço pelo semelhante, mas
nunca pelo idêntico. De acordo com Foucault (1999, p.23):
Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel
construtor no saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande
parte, conduziu a exegese e a interpretação dos textos: foi ela que
organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas
visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. O mundo
enrolava-se sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos
mirando-se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os
segredos que serviam ao homem. A pintura imitava o espaço. E a
representação —fosse ela festa ou saber— se dava como repetição:
teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de toda
linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular seu direito de
falar.
A partir disso, em relação a nós, modernos, implica-se uma diferença
elementar no processo de construção do pensamento e de abstração da realidade.
Como ressalta Bauab (2012), onde nós, modernos, vemos ―quantidade‖, uma razão
do pensamento lógico, os homens medievais viam ―qualidades‖. Assim, na
alteridade, isto é, a partir das interações e interdependências, é possível apreender
as qualidades e estados do outro na sua plenitude.
De acordo com Gomes (2005, p.67):
44
As ciências grega e medieval tinham a preocupação de sempre
alcançar uma verdade suprema, seja relativamente a uma ordem
teológica, seja relativamente a uma ordem ontológica. A questão era,
pois, da essência das coisas, das causas primeiras, imutáveis, ideais
e totais. Este caminho levava sempre a um mundo conceitual, onde a
ciência poderia conduzir a verdades definitivas, a uma metafísica.
Assim, o Universo era visto, na Idade Média, como uma grande rede de
analogias; isso porque a religião cristã realçou um mundo harmonioso e ordenado
segundo os princípios contidos na mente de Deus (FRANCO JÚNIOR, 2010). De
fato, havia uma linha muito tênue que estreitava ainda mais a relação entre o mundo
físico e o mundo transcendental/espiritual.
A população da Europa Ocidental, entre os séculos V e XVI, estava
condicionada a viver sob a forte influência da religião cristã católica. Portanto, para
se evidenciar a importância do sagrado e da religião na vida das pessoas, basta
recordarmos que, nesse período, as fronteiras entre o mundo físico e o mundo
sobrenatural não eram bem definidas.
O homem medieval vivia, efetivamente, em um mundo povoado de
significados, referências, suprassentidos, manifestações de Deus nas
coisas, em uma natureza que falava continuamente uma linguagem
heráldica, na qual um leão não era só um leão, uma noz não era só
uma noz, um hipogrifo era real como um leão porque, como este, era
signo, irrelevante existencialmente, de uma verdade superior (ECO,
2014, p.104).
Ademais, durante a Idade Média, a natureza e os homens, frequentemente,
eram concebidos como análogos a Deus. Portanto, o pensamento analógico foi a
modalidade de raciocínio determinante para o reconhecimento dessas relações.
Desse modo, a produção do conhecimento geográfico e cartográfico também
foi influenciada por essa modalidade de pensamento. Basta recordarmos que
Cristóvão Colombo, no século XV, quando chegou à nascente do rio Orinoco na
Venezuela, por analogia, deduziu ter encontrado o rio Pisom na porta do Paraíso.
Algum tempo depois, numa carta endereçada à rainha Isabel, confirmou a
veracidade do que vira. Hoje, no entanto, se sabe que Cristóvão Colombo estava
equivocado. Na realidade, ele tirou essa conclusão por analogia ao conteúdo contido
na Bíblia. Isso porque, a Sagrada Escritura, ―[...] dava livre força para o trânsito do
invisível, do imensurável, do não findado no empírico‖ (BAUAB, 2012, p.13).
Assim, de acordo com Le Goff & Schmitt (2002, p.497):
45
O pensamento analógico medieval esforça-se especialmente para
estabelecer um vínculo entre alguma coisa aparente e alguma coisa
oculta; e, mais particularmente ainda, entre o que está presente no
mundo terreno e o que tem seu lugar entre as verdades eternas do
além. Uma palavra, uma forma, uma cor, uma matéria, um número,
um gesto, um animal, um vegetal e mesmo uma pessoa podem ser
revestidos de função simbólica e por isso mesmo evocar, representar
ou significar outra coisa além do que pretendem ser ou mostrar.
Evidentemente, o pensamento analógico é aquele que busca construir
analogias, isto é, semelhanças e correspondências, entre domínios e coisas
heterogêneas. Nesse sentido, de acordo com Franco Júnior (2008, p.3):
Analogia é isomorfismo que leva à transferência de propriedades de
algo conhecido para outro menos conhecido, isto é, gera
conhecimento conectado com outros, e não apenas cumulativo. [...]
Ele busca similitudes entre seres, coisas e fenômenos, todos
conectados em uma totalidade que os ultrapassa e é comum a cada
elemento.
Na Idade Média, o mundo físico, incluindo a vida, está intimamente
relacionado com a realidade supranatural, isto é, com as determinações contidas na
mente do Criador. Portanto, pensar por meio de analogias ―[...] significava
estabelecer conexões entre o mundo divino e o mundo humano, entre o Modelo e
suas imagens‖ (FRANCO JÚNIOR, 2010, p.103).
Portanto, há um princípio de unidade básica entre tudo e todos que, a priori,
nos (re)ligariam ao protótipo, Deus. Isso porque, o mundo acolhe e manifesta os
sinais e a presença de Deus por meio de palavras, sinais e obras. Por isso, o
pensamento analógico se torna uma ferramenta útil, capaz de fornecer uma visão
abrangente e harmoniosa do mundo numa perspectiva cristã.
A fim de entender a relação entre o macrocosmo e o microcosmo, os homens
medievais procuraram estabelecer algumas similitudes. Desse modo, na concepção
do homem medieval, Deus simboliza o universo, isto é, o macrocosmo, e o homem
e/ou as partes de seu corpo simbolizam o microcosmo. Nesse sentido, a cabeça foi
comparada ao céu, o peito ao ar, o ventre ao mar, e os pés a terra.
A liturgia e a leitura cristã refletem muito bem essa perspectiva. Pois, a
palavra registrada na Bíblia foi, ao longo da Idade Média o grande modelo da
literatura, da iconografia e, em larga medida, de toda a cultura cristã. Há uma
46
passagem bíblica do Livro da Sabedoria (13:1-5), que exemplifica muito bem essa
tendência:
1
São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus,
e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer Aquele que é,
nem reconhecer o Artista, considerando suas obras. 2 Tomaram o
fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água
impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. 3
Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza,
saibam, então, quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o
criador da beleza que fez estas coisas. 4 Se o que os impressionou é
a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas,
que seu criador é mais forte; 5 pois é a partir da grandeza e da beleza
das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor (BÍBLIA,
2003).
Nessa época, não havia uma diferença muito clara entre a ciência e a religião.
Nesse sentido, muitas vezes, os valores e ideais da Igreja foram amalgamados com
os conhecimentos técnicos e empíricos.
Na Cartografia, por exemplo, há um esquema muito difundido na Idade Média,
que procura expressar uma síntese do Universo. A idealização dessa representação
relaciona os quatro pontos cardeais com o nome do primeiro homem, Adão. Nesse
sentido, de acordo com Franco Júnior (2010, p.105), ―- A (de Anatolé, ―Leste‖ em
grego), D (de Diesis, ―Oeste‖), A (de Arktis, ―Norte‖), M (de Mésembria, ―Sul‖) – para
os meio judaicos alexandrinos e cristãos primitivos‖.
A Cartografia, evidentemente, era subjetiva e denotava uma configuração
cristã do mundo conhecido. Nesse sentido, na Idade Média, ao analisar as
representações do espaço, o que se destaca são os mapas de estilo T-O ou O-T
(orbis terrarum).
Nesse tipo de representação, o ―O‖ indica o mundo em forma de círculo, pois
essa era a forma geométrica perfeita; o ―T‖, por sua vez, indica a divindade
humanizada e crucificada no seio do mundo (FRANCO JÚNIOR, 2013). Mas,
também, representa a divisão do mundo entre os três continentes conhecidos: a
Ásia, a Europa e a África.
Nesses mapas, a Ásia está orientada para o cimo, pois, segundo a Sagrada
Escritura, é dali que emana a luz que ilumina o mundo.
Outro exemplo de analogia é aquele em que as quatro estações do ano foram
associadas
ao
ciclo
natural
da
vida
humana.
Assim,
a
primavera
tem
47
correspondência com o nascimento; o verão, com a juventude; o outono, com a
maturidade; e o inverno, com a velhice (FRANCO JÚNIOR, 2010).
Assim, à luz de autores respeitados e renomados, como Jacques Le Goff,
Umberto Eco e Hilário Franco Júnior, foi possível pontuar algumas considerações a
respeito da produção do conhecimento na Idade Média.
Fica, pois, evidente, que a Idade Média não foi a ―Idade das Trevas‖, mas,
sim, a ―Idade da Fé‖ por excelência. Portanto, a relação estreita com o cristianismo é
fundamental para a compreensão do pensamento e da mentalidade do homem
medieval.
Ora, é justamente nesse ponto que se entende a importância que o
pensamento analógico teve na Europa medieval. Para que se compreenda a
produção do conhecimento geográfico e cartográfico, é necessário, antes, entender
a maneira de sentir e de pensar do homem medieval.
Ao longo do capítulo foi possível demonstrar as novas perspectivas e leituras
acerca das temáticas que envolvem a produção do conhecimento geográfico e do
cartográfico ao longo da Idade Média.
Na Idade Média europeia, o pensamento geográfico parece se distanciar dos
princípios que haviam sido idealizados por Cláudio Ptolomeu. Portanto, a
supremacia da utopia e do imaginário, combinada aos valores do cristianismo,
configura um novo tipo de se construir o conhecimento geográfico.
Desse modo, no capítulo III, pretende-se relatar algumas questões que dizem
respeito à produção do conhecimento geográfico na Idade Média. Será, assim,
possível pontuar alguns contrastes e/ou algumas descontinuidades entre o
conhecimento geográfico produzido na Antiguidade Clássica e o conhecimento
geográfico produzido na Idade Média.
48
CAPÍTULO III
O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO PRODUZIDO NA IDADE MÉDIA
Após a queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida em 476, a Europa
vivenciou inúmeras e profundas transformações. Algumas, inclusive já foram citadas
no Capítulo II.
Neste período, assim como em cada época e em cada contexto histórico,
houve o predomínio de uma determinada visão de mundo. Contudo, fundamental é
considerar que, em relação à Geografia (e a Cartografia), o saber partiu dos autores
clássicos e foi apropriado e adaptado pelos eruditos medievais. Assim, ocorreu uma
sobreposição e não uma descontinuidade em relação ao conhecimento geográfico
produzido no período anterior (KIMBLE, 2005; CARVALHO, 2006).
Sem desconsiderar outras formas de construção do conhecimento geográfico,
é possível afirmar que:
O fato do saber no período medieval partir dos clássicos e ser
reproduzido com certas liberdades, de acordo com o autor ―copista‖,
levou mais à manutenção do que à inovação do conhecimento
geográfico. Uma outra característica dessa época foi considerar a
Geografia importante para sustentar a existência de lugares bíblicos
[...] (CARVALHO, 2006, p.24-25).
Nesse sentido, na Idade Média, a reformulação no processo de construção
dos conhecimentos geográfico e cartográfico, em relação ao período anterior,
constitui-se de novas formas de pensar, interpretar e representar a realidade. Tanto
a observação quanto a descrição a partir das experiências empíricas perdem
importância frente à disseminação dos valores da doutrina cristã. Isso porque, a
Igreja não tardou em apropriar-se e a transmitir os conhecimentos geográfico e
cartográfico numa perspectiva religiosa, visto que ―[...] os conteúdos do mundo
seriam, necessariamente, derivações de Deus, resquícios do que Nele plenamente
se faz contido. Neste sentido, os conteúdos do mundo nos (re)-ligariam a Deus‖
(BAUAB, 2012, p.19).
Contudo, reforça-se, mais uma vez, o papel desempenhado pelo pensamento
analógico nesse processo de construção dos conhecimentos hora citados. Uma vez
49
que as relações e as conexões entre o mundo divino e o mundo humano, entre o
Modelo e suas imagens, acontece por analogia.
Imaginar a Geografia como uma disciplina autônoma e científica no cenário
medieval era praticamente impossível; isso porque, nesse período, a Bíblia foi,
certamente, uma fonte de inspiração para a construção dos conhecimentos ditos
geográficos.
Portanto, de acordo com Boorstin (1989, p.103):
A Geografia não tinha lugar no catálogo medieval das <<sete artes
liberais>>. De certo modo, não se ajustava no quadrívio das
disciplinas matemáticas (aritmética, música, geometria e astronomia)
nem no trívio das disciplinas lógicas e linguísticas (gramática,
dialética e retórica).
Desse modo, como não podia ser incluída em nenhum dos dois grupos de
disciplinas, ―[...] a Geografia colocou-se entre as coisas estranhas e nos confins do
conhecimento, deslocada pelas sete artes liberais‖ (KIMBLE, 2005, p.1). Aliás, o
termo ―geografia‖ sequer fazia parte do vocabulário do homem medieval. Isso
porque, ―[...] durante 1000 anos de Idade Média, não teve uso corrente nenhum
sinónimo comum de geografia, e a palavra só entrou em uso na língua inglesa em
meados do século XVI‖ (BOORSTIN, 1989, p.103).
No entanto, os conteúdos propriamente geográficos não ficaram esquecidos.
Pois, os teólogos medievais foram os grandes responsáveis pela leitura e pela
compilação dos autores e textos clássicos. De acordo com Carvalho (2006, p.22):
Nas enciclopédias originárias dos monastérios encontrava-se uma
seção geográfica, ou melhor, cosmográfica, independente desse
termo significar coisas distintas para diferentes pessoas. Desde a
descrição da criação do mundo e da distribuição da humanidade na
sua superfície, na parte cosmográfica estavam reunidas as
informações sobre os fenômenos do tempo e do clima, das plantas,
dos animais, das pedras preciosas e das ―maravilhas‖, além do que
hoje classificamos de ―história política‖.
Contudo, as grandes transformações culturais, políticas, sociais e econômicas
ocorridas na Europa durante a Idade Média, tiveram grande impacto na maneira de
pensar e de fazer ciência no período. Portanto, a Geografia também sofreu essas
consequências, uma vez que ela também passou a reunir os preceitos e valores do
cristianismo, bem como os elementos do imaginário medieval.
50
De acordo com Bauab (2007, p.4):
Há, claramente, uma diversidade de temas e perspectivas que
formam o conhecimento geográfico surgido no cenário medieval.
Contudo, a fé cristã foi a unidade por detrás desta diversidade e, com
toda certeza, o elemento delimitador das possibilidades de toda e
qualquer conclusão a respeito do assunto. É o que demonstram os
primeiros padres da Igreja.
No Ocidente europeu medieval, por distintos motivos, a descrição e a
explicação dos fenômenos naturais e sociais se deu pela abordagem qualitativa, isto
é, pela valorização dos dados não mensuráveis, tais como: sentimentos,
pensamentos, sensações, percepções, comportamentos etc. Pois, ―Onde vemos
quantidade, a transcendência do pensamento abstrato, o homem medieval via
qualidades‖ (LENOBLE apud BAUAB, 2012, p.15).
De fato, na Idade Média, no modelo existente de estrutura social, mental e
psicológica, não havia razão e nem meios de se mensurar a realidade, pois esta
última era indissociável do sujeito, ou seja, uma continuação do que nele estava
contido (CROSBY, 1999).
A Filosofia Patrística, dos Padres da Igreja, em nada era experimental, tão
pouco matemática. Na realidade, seu objetivo principal era consolidar o poder da
Igreja e difundir os ideais cristãos. Portanto, nessa perspectiva, ―Tudo se inicia e se
encerra na religião‖ (BAUAB, 2012, p.19).
A visão cosmológica que predominou no Ocidente europeu medieval foi
denominada, por Crosby (1999), de Modelo Venerável. O aludido modelo está
alicerçado na física de Aristóteles e na Astronomia de Ptolomeu.
Esse modelo foi rapidamente aceito pelo senso-comum, pois ele era
harmonioso e cosmograficamente condizente com a mentalidade do homem
medieval; tal modelo, por muito tempo, alimentou a imaginação de milhares de
pessoas e foi capaz de explicar o mundo através de um sistema não muito
complexo.
Na realidade, de acordo com Crosby (1999, p.34):
51
O Modelo Venerável preservou o quase monopólio do senso comum
europeu por muitas gerações, porque tinha o cunho da civilização
clássica e, o que é mais importante, coadunava-se em linhas gerais
com a experiência factual. Ademais, atendia à necessidade de uma
descrição do universo que fosse clara, completa e apropriadamente
assombrosa, sem causar estupefação.
O tempo e o espaço, também foram interpretados e concebidos longe da
acurácia científica e matemática dos pensadores Clássicos. Pois, os medievais,
construíram uma perspectiva espaço-temporal harmoniosa e condizente com a
estrutura mental, intelectual e social do período. Alias, neste contexto, não havia
qualquer reflexão ou movimento no sentido da mensuração do tempo ou do espaço.
Em relação ao tempo, para os medievais, o que efetivamente importava era o
tempo destinado as orações diárias, isto é, o tempo ―de‖ Deus e ―para‖ Deus. Desse
modo, está ideia de tempo indica separação e externalidade em relação ao homem.
De acordo com Crosby (1999), as reflexões empreendidas a respeito do
tempo apontam que:
Nenhum ocidental bem conceituado da Idade Média ou do
Renascimento sugeriria que o número de anos decorridos desde o
alvorecer dos tempos, desde a Criação até o presente, passando
pela Encarnação, pudesse chegar a 7.000 (p.34).
A pluralidade de perspectivas e concepções levou Santo Agostinho (354430), uma das autoridades mais respeitadas da Igreja, em suas Confissões, Livro XI,
a realizar uma emblemática analise a respeito do tempo:
Que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com
brevidade? Quem poderá apreendê-lo, mesmo com o pensamento,
para proferir uma palavra acerca dele? Que realidade mais familiar e
conhecida do que o tempo evocamos na nossa conversação? E
quando falamos dele, sem dúvida compreendemos, e também
compreendemos, quando ouvimos alguém falar dele. O que é, pois, o
tempo? Se ninguém mo pergunta, sei o que é; mas se quero explicálo a quem me pergunta, não sei: no entanto, digo com segurança que
sei que, se nada passasse, não existiria o tempo passado, e, se nada
adviesse, não existiria o tempo futuro, e, se nada existisse, não
existiria o tempo presente (AGOSTINHO, 2008, p.111-112).
Certamente, para o homem medieval, o tempo não tinha significado em si
mesmo, mas tão somente em Deus. Portanto, a vivência do tempo, na Idade Média,
estava condicionada às orientações da religião. Igualmente, a construção da noção
de espaço se deu a partir da influência da religiosidade.
52
A respeito do conhecimento da superfície terrestre, em termos geográficos
pouco se avançou em relação àquilo que se conhecia na Antiguidade Clássica. Na
Idade Média, a experiência do espaço era feita apenas da ideia da experiência
(NOVAES, 1998). Portanto, o conhecimento empírico do espaço perde importância.
Na realidade, o homem medieval percebia o espaço como uma extensão do
―além‖; como uma manifestação direta daquilo que estava contido nos planos do
Criador. Pode-se afirmar, que o conhecimento e as representações do espaço se
encaixava na lógica dogmática cristã graças ao exercício do pensamento analógico.
De acordo com Parmegiani (2012, p.2 - 3):
[...] para o homem e a mulher da Alta Idade Média, o espaço não era
algo a ser possuído ou uma extensão que se pudesse conquistar, já
que ao estruturar-se como elemento da Criação, terra [...], era um
dom de Deus. Como tal estava dotado de um sentimento simbólico,
mantido de forma estável no seio da Criação.
Em razão da reduzida mobilidade espacial, o homem medieval não tinha uma
visão precisa a respeito da real configuração do mundo. Apenas se imaginava que
ele era grande; mas, naquele contexto, ninguém seria capaz de imaginar e
descrever assertivamente o real tamanho e configuração da Terra.
Ainda assim, eles foram capazes de construir sistemas cosmológicos que
representavam o espaço conhecido e/ou imaginado, idealizado. Em um dos casos, o
mundo foi representado por um sistema composto de esferas concêntricas. Esse
modelo cosmológico adotado e amplamente difundido na Idade Média é o Modelo
Venerável. Na realidade, não se sabe muito a seu respeito, exceto, por meio de
relatos de Crosby (1999, p.45):
O espaço da Idade Média e do Renascimento era tão assertivamente
finito quanto um aquário de peixinhos, esférico e de estrutura
qualitativa. Dentro de sua esfera mais externa havia diversas outras,
inseridas com precisão umas nas outras. Não havia nenhum vazio
entre elas: a natureza abominava ainda mais os vazios naquela
época do que agora. As esferas, perfeitamente transparentes,
sustentavam os corpos celestes. Mais externa das que tinham uma
carga visível carregava as estrelas fixas, cujas posições em relação
às outras não se alteravam (pelo menos, não com rapidez suficiente
para que alguém pudesse notá-la durante uma vida, ou várias).
Apenas elas seriam definidas, em termos exclusivos, como estrelas.
Dentro de sua esfera ficavam as que carregavam os planetas.
53
Ao longo da Idade Média, a figura do sábio viajante, astuto e atento à
observação e à descrição dos detalhes do espaço, praticamente desaparece.
Evidentemente o declínio do comércio entre a Europa e a Ásia corroborou nesse
sentido.
Contudo, as expedições medievais tinham um caráter puramente religioso.
Esse é o caso do peregrino, uma espécie de viajante muito atuante nesse sentido.
De acordo com Bauab (2012, p.20):
Se na Antiguidade tivemos o surgimento de certo modelo de viajante,
normalmente astuto na obtenção e descrição de informações
geográficas, exaltadas quase sempre ao lado dos fatos históricos –
Heródoto e Estrabão são referências neste aspecto -, durante boa
parte da Idade Média, inexistiu a figura do sábio viajante. Pelo menos
no que se refere à descrição de eventos empíricos oriunda de uma
experiência pessoal.
A peregrinação aos lugares sagrados não foi algo exclusivo aos cristãos
europeus. Mas, sem dúvida, segundo o costume e a crença dos homens cristãos
medievais, foi o meio predileto para a cura e a libertação das doenças, dos vícios, e,
também, para a penitência.
Independentemente da condição social e cultural, os peregrinos medievais
viam no esforço e no sacrifício da longa viagem uma oferenda a Deus, uma ação
que os aproximava ainda mais da salvação, tal como Cristo no Calvário.
O deslocamento de pessoas se constitui como uma verdadeira prova de
devoção espiritual. Pois, ―Ao fim da jornada, o peregrino encontra o sobrenatural
num lugar preciso, participando ritualmente de uma realidade diferente da profana‖
(LE GOFF & SCHMITT, 2002, p. 353).
No século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano do
Ocidente. Consequentemente, as peregrinações aos lugares da Paixão de Cristo e
ao seu túmulo aumentaram consideravelmente (LE GOFF & SCHMITT, 2002). Logo,
a busca por lugares lendários e sagrados se tornou um objeto de grande desejo do
homem cristão medieval. Por exemplo: Santa Helena, mãe do Imperador
Constantino, foi a primeira a visitar o Santo Sepulcro.
A convicção na existência de lugares imaginários e utópicos era tamanha que
eles aparecem representados nos mapas-múndi medievais de Ebstorf e de Hereford.
Contudo, no Capítulo IV, trabalhar-se-á especificamente com tais mapas. De acordo
com Le Goff & Schmitt (2002, p.358):
54
Na Alta Idade Média, é para Roma que ia o maior número de
peregrinos. Ela era a única cidade do Ocidente que podia pretender
possuir túmulos de apóstolos e mártires. Os de Pedro e Paulo já
eram secretamente visitados por fieis pouco após suas mortes.
Desse modo, vários peregrinos adeptos do cristianismo católico foram
estimulados a trilhar os caminhos perigosos até Roma. Em muitos casos, inclusive,
―Certos peregrinos célebres queriam morrer em Roma: segundo a tradição, seis reis
anglo-saxões teriam deposto suas coroas entre os séculos VII e IX para realizar sua
derradeira peregrinação‖ (LE GOFF & SCHMITT, 2002, p.358).
A região da Palestina, especialmente a cidade de Jerusalém, também estava
no itinerário a ser visitado pelos peregrinos, ainda que:
Os riscos físicos que apresentava, seja devido à distância e às
condições naturais, seja devido à hostilidade das populações lá
encontradas, faziam-na a mais difícil das peregrinações do Ocidente.
O objetivo que orientava os peregrinos –colocar seu corpo em
―aventura de morte‖ para ir aos mesmos lugares da Paixão de Cristo
e entrar com ele na vida da Salvação- fazia com que sua significação
espiritual e escatológica fosse a mais importante (LE GOFF &
SCHMITT, 2002, p.358).
Ao final da peregrinação, para o cristão, vencer todas as dificuldades,
intempéries e riscos de morte, significava estar mais próximo do (e merecedor da
vida eterna no) Paraíso.
Na Idade Média, foi muito comum a difusão e a busca de lugares místicos e
imaginários. Na realidade, a existência dessas utopias7 está relacionada ao
imaginário do homem medieval.
De acordo com Carvalho (2006, p.14):
Mesmo significando a não-existência geográfica e real, o desejo de
encontrar esses lugares paradisíacos, miraculosos ou de poderes
sobrenaturais levou não só os pobres iletrados como os religiosos e
aristocratas a buscarem estes sob diferentes nomes e lugares.
A lenda do País da Cocanha evidancia muito bem essa tendência. De fato, se
trata de uma grande produção literária anônima, escrita em francês arcaico num
poema de 188 versos, inicialmente difundida por via oral no século XII. No entanto,
só a partir do século XIII, é que o poema começou a ser difundido na forma escrita
7
De acordo com Carvalho (2006, p.11), ―A definição de utopia foi criada por Thomas Morus (14801535) pela reunião dos elementos gregos óu (não) e tópus (lugar), para designar um projeto
irrealizável, uma quimera, uma fantasia‖.
55
em diversos idiomas, incluindo o inglês, o alemão, o italiano e o espanhol (FRANCO
JÚNIOR, 2010).
De acordo com Caravalho (2006, p.16):
Caracterizada principalmente pela abundância de comidas, bebidas e
vida descansada, a Cocanha ainda apresentava uma repetição de
dias de festas, cujos meses eram formados por seis semanas, além
de nela estar lozalizada a Fonte da Juventude.
Toda utopia ou lenda é um produto histórico e, como tal, para que se
compreendam os arranjos sociais, há que se considerar o homem na sua
integralidade e complexidade. Pois, o comportamento coletivo é resultado das
relações entre a realidade vivida externamente e a realidade onírica (MACHADO,
1999).
De acordo com Machado (1999, p.43):
A Cocanha é o mundo do excesso e da gratuidade; seus habitantes
são sempre jovens e completamente livres. Em linguagem freudiana
[...], poderíamos dizer que se trata de um mundo conduzido pelo
―princípio do prazer‖ e pela negação do princípio de realidade...da
dura realidade medieval. Uma negação que atua através da inversão
da realidade imediata, mas não visa uma ruptura, pois não pretende
destruir os fundamentos da sociedade ocidental e sim reformá-la ou
restaurá-la, eliminando as ameaças de um cotidiano inóspito ou das
incertezas provenientes de um mundo novo em franca ascensão no
século XIII: o mundo urbano, com as suas tendências laicas e
liberalizantes, que se tentavam quebrar as resistências do mundo
rural, aristocrático e religioso.
O pintor Pieter Bruegel, no século XVI, representou o País da Cocanha. Na
Figura 10, vê-se em detalhe tal obra.
56
Figura 11 - O País da Cocanha, de Pieter Bruegel, séc. XVI
Fonte:http://www.viaggio-in-germania.de/monaco-vecchia-pinacoteca5.html.
Acesso em 21 de Maio de 2015.
Nesse cenário contrastante entre a realidade vivida e o imaginário, a viagem
de São Brandão (484 - 578) também ilustra esse processo de misticismo e fabulação
temporal e espacial.
Reza a lenda, que São Brandão estava em busca das Ilhas das Delícias,
onde se acreditava localizar o Paraíso. Essa narrativa ficou conhecida por Navigatio
Sancti Brendani Abbatis e esteve presente no imaginário medieval por muitos
séculos.
De acordo com Boorstin (1989, p.106), São Brandão:
Estava convencido de que o paraíso ficava algures no oceano
Atlântico, navegou para ocidente até que, após aterradoras
aventuras, chegou a uma bela ilha de inultrapassável fertilidade.
Confiantemente, S. Brandão afirmou tratar-se do Paraíso << Terra
Prometida dos santos >>.
Encontrando tal ilha, descreve-a com tempos e espaços encontrados na
Bíblia. Ainda assim, faz menção à existência de seres exóticos e imaginários.
Conforme Bauab (2012, p.21):
57
[...] São Brandão conta que partiu rumo a tal ilha com outros
dezessete monges. Passando por muitas provações e experiências
fabulosas – São Brandão conta que chegou a encontrar Judas no
inferno, se apiedando dele, que estava em carne viva sobre uma
rocha – chegaram até o Paraíso, que era protegido por uma imensa
muralha incrustada de pedras preciosas. Entraram nele orientados
por um anjo, ficando lá somente uma hora. Após três meses de
navegação, estavam de volta para a Irlanda.
Essa história já vinha sendo contada, por tradição oral, desde o século VI. No
entanto, a sua difusão de forma escrita só ocorreu a partir do século X. Conforme
Boorstin (1989, p.106), ―A história deste heroico monge foi contada e recontada em
latim, francês, inglês, saxão, flamengo, irlandês, galês, bretão e gaélico escocês‖. O
prestígio de São Brandão era tão grande que, ainda no século XVIII, a Ilha por ele
descrita aparece representada nos mapas (CARVALHO, 2006).
Na verdade, as narrativas das peregrinações religiosas não tinham por
objetivo descrever os aspectos e características geográficas. Na realidade, esses
elementos eram suprimidos em razão de uma descrição de cenários e tempos
contidos na Bíblia.
Para Bauab (2012, p.74):
Na Idade Média, as peregrinações ocorridas levando cristãos até a
Palestina expressaram um contexto em que os olhos da fé,
construídos nos valores absorvidos nas Escrituras, recitados
rotineiramente, desarticulavam espaço e tempo, descrevendo formas
e situações que, em verdade, remetiam-se somente aos tempos e
espaços contidos na Bíblia, fazendo dos lugares retratados nada
mais do que meras marcas, símbolos de um passado ainda
desenrolado sobre um mundo afastado de sua atualidade.
Evidentemente, as obras de cunho geográfico produzidos pelos autores
medievais estavam distantes princípios dos trabalhos produzidos pelos autores da
Antiguidade Clássica. Na busca pelo saber, estes foram mais objetivos e metódicos
do que aqueles.
De acordo com Kimble (2005, p.3 - 4), na Idade Média:
Eram muito limitados os horizontes mesmo dos homens mais cultos,
em comparação com os da época anterior - e para apreciarmos a
naiveté da mente que não questionava a existência real de dragões e
homens sem cabeça, devemos lembrar, acima de tudo, do mundo
esboçado no final da época clássica.
58
A geografia medieval era assistemática e ametódica, pois fora envolvida em
uma miscelânea de fábulas e contos míticos. Assim o conhecimento geográfico
medieval mais encantava do que informava. Nesse sentido:
A Europa cristã não continuou o trabalho de Ptolomeu. Em vez disso,
os dirigentes da cristandade ortodoxa ergueram uma grande barreira
contra o progresso do conhecimento acerca da Terra. Os geógrafos
cristãos da Idade Média consumiram as suas energias a elaborar um
quadro hábil e teologicamente atraente do que já era conhecido, ou
supostamente conhecido (BOORSTIN, 1989, p.103).
Na Alta Idade Média, muitas obras e métodos desenvolvidos pelos
pensadores clássicos gregos, como Heródoto, Eratóstenes, Hiparco, Estrabão e
Ptolomeu, foram esquecidos ou pouco utilizados. Obviamente, a Igreja Católica
manteve as obras clássicas muito bem guardadas, inclusive limitando a sua difusão
ao grande público. Contudo, as obras de Pomponius Mela (séc. I) e de Plínio (séc. I),
apesar de serem produções menos sofisticadas, foram mais reproduzidos.
Conforme Carvalho (2006, p.32):
Podemos afirmar que as referências geográficas, desde o século VI
até o século XI, tiveram uma base comum na Antiguidade Clássica,
expurgada paulatinamente de elementos gregos, com raras
exceções que ultrapassassem a mera compilação de maneira a
―comprovar‖ opiniões da Igreja, mesmo que elas fossem sendo
estruturadas dentro de um debate com as ideias clássicas.
Da Idade Média, restaram poucos materiais e obras; e isso se deve a um
duplo motivo. Primeiro, em razão do confisco realizado pela Igreja. Segundo, porque
essas obras não resistiram às intempéries do tempo. Contudo, algumas cópias
chegaram até nós.
Deste período, merece destaque o Itinerarium provinciarium Antonini Augusti,
datado do século III; o Bordeaux – Jerusalém Itinerary, escrito em 333 d.C., de
autoria desconhecida; e a Peregrinação de Etheria, que narra uma viagem de
Aquitânia até Jerusalém e que data do ano 385 d.C. (KIMBLE, 2005).
Outra importante referência do período é a Collectanea Rerum Memorabilium
(―Coletânea de coisas maravilhosas‖), de Julius Solinus (o contador de histórias).
Essa obra foi lida e contada do século IV até o século XI (BOORSTIN, 1989). De
acordo com Kimble (2005, p.6-7), Solinus ―[...] reuniu, das mais variadas fontes,
59
contos maravilhosos – contos de estranhos animais, raças monstruosas, pedras
curiosas e maravilhas naturais da terra e do mar‖.
Obras de destaque também foram produzidas por Ambrósios Theodosius
Macróbius (séc. IV), Ammianus Marcellinus (320 - 390) e Martianus Capella (séc.V).
Ambrósios Theodosius Macróbius criou um modelo cosmográfico que foi
referência durante a Alta Idade Média. Conforme Kimble (2005, p.9-10), ele havia
postulado ―[...] uma Terra redonda estacionária no centro do universo e limitada
pelas águas, diversamente chamada de Atlântico, Grande Mar e Oceano [...]‖.
Assim, ele imaginou que as águas oceânicas seriam grandes obstáculos à expansão
das fronteiras do mundo conhecido.
Através do estudo das latitudes, tal qual fez Parmênides no século V,
Macróbius postulou um mundo dividido em cinco zonas climáticas. De acordo com
Randles (1994, p.15), as cinco zonas climáticas da Terra foram divididas do seguinte
modo:
[...] duas geladas, logo inabitáveis, perto dos polos e, de um lado e
de outro sobre o equador, a zona tórrida, também inóspita e
intransponível, separando as duas zonas temperadas, as únicas
suscetíveis de acolher as populações.
A crença na existência de uma raça humana antípoda8, que habitava uma das
regiões temperadas, esteve viva no imaginário do homem medieval. Sua existência,
inclusive, foi representada nos mapas-múndi da época.
Segundo Kimble (2005, p.10):
Na sua divisão territorial, Macrobius adota as cinco zonas
convencionais e, enquanto mantém a ideia da existência da raça
humana dos Antípodas, ainda sustenta que não há forma de
obterem-se informações sobre eles, devido à intransponível Zona
Tórrida – uma teoria que não pode ser conciliada com o catálogo de
lugares no hemisfério sul de Ptolomeu.
Na Figura 11, vê-se, em detalhe, uma gravura que retrata as cinco zonas
climáticas conforme a ideia de Ambrósios Theodosius Macróbius.
8
O termo antípoda foi muito empregado na Europa cristã e medieval para designar uma
raça que não descendia diretamente do patriarca Adão. Segundo a crença, eles habitavam
uma região diametralmente oposta ao ecúmeno cristão.
60
Figura 12 - As Cinco Zonas Climáticas de Ambrósios Theodosius Macróbius
Fonte:<http:.ub.edu/geocrit>. Acesso em 10 de Junho de 2014
Contudo, a tradição medieval logrou maior destaque a outros dois modelos
cosmológicos. Ambos expressam uma síntese do Universo. De acordo com Randles
(1994), são elas: a síntese bíblico-cratesiana, inspirada em Crates de Malo (180-150
a.C.); e a síntese bíblico-aristotélica, inspirada em Aristóteles (384-322 a.C).
Martianus Capella foi o grande responsável por defender e difundir a síntese
bíblico-cratesiana. Seguindo o exemplo de Ptolomeu e de Eratóstenes, ele sustenta
que o mundo se encontrava disposto sobre uma esfera em sua maior parte,
dominada pelo imenso oceano. Ao todo, o mundo estava dividido em quatro ilhas;
contudo, apenas numa delas se localizariam os descendentes diretos de Adão.
Desse modo, de acordo com Randles (1994, p.12-13):
Sobre uma esfera, coberta em sua maior parte por água,
representavam-se quatro pequenas ―ilhas‖ [...] diametralmente
opostas. A vasta extensão do Oceano impossibilitava qualquer
comunicação entre os habitantes dessas ―ilhas‖. Em virtude da
unicidade da humanidade oriunda de Adão e resgatada por Cristo,
principal fundamento da doutrina cristã, os padres da igreja, e em
consequência, a maioria dos clérigos medievais, entre os quais João
de Sacrobosco, em seu Traité de la Sphère (início do século XIII) [...]
foram levados a confinar a espécie humana em uma dessas ―ilhas‖ e
a negar que outras fossem habitadas, já que o acesso a elas parecia
impossível (RANDLES, 1994, p.12-13).
61
Para Martianus Capella, o imenso e tenebroso oceano não seria uma fronteira
intransponível. Essa concepção se justifica a partir dos testemunhos de Augusto
Cezar pelos mares do norte, bem como das viagens dos macedônios da Índia ao
Mar Cáspio e das viagens aos mares do sul e do oeste por Hanno e Eudoxus,
respectivamente (KIMBLE, 2005).
Ainda que uma pequena parte da superfície terrestre fosse conhecida em seu
tempo, na Satyricon, obra mais importante de Martianus Capella, é possível termos
uma noção do quão limitada era a sua visão a respeito dos limites e das extensões
do mundo. Nesse sentido, observe-se que:
A parte sul da África, indicada por Ptolomeu (e talvez por Heródoto),
era ignorada e o Nilo é novamente disposto cruzando o Continente
de oeste para leste numa linha paralela ao Oceano Meridional. O
Egito é lembrado como parte da Ásia e a África começa a partir do
Nilo. O Ganges se lança no oceano oriental e o Cáspio [...] é uma
vez mais considerado como golfo oceano. (KIMBLE, 2005, p.14).
Por sua vez, a síntese bíblico-aristotélica, que originalmente criada a partir
das ideias de Platão (428-348 a.C.) e de Aristóteles (385-322 a.C.), procurava unir a
tradição judaico-cristã com a tradição filosófica grega. A intenção da Igreja consistia
em unir alguns elementos da filosofia grega com os princípios da religião católica.
João Sacrobosco, em o Tratado da Esfera, escrito no século XIII, foi o grande
responsável por difundir a teoria bíblico-aristotélica. De acordo com Randles (1994,
p.13), ―[...] João Sacrobosco, sobretudo, dava ao cosmos a forma de quatro esferas
concêntricas, construídas pelos quatro elementos, e ordenando-se segundo suas
respectivas importâncias‖.
Embora fosse simples e pouco sofisticado, o Tratado da Esfera serviu como
modelo para grandes tratados de astronomia. Nessa obra, o mundo é visto como
uma grande máquina, e dividido em duas regiões: a região dos elementos e a região
do éter:
62
A máquina universal do Mundo divide-se em duas regiões, a região
do éter e a região dos elementos. A região dos elementos, que está
sujeita a uma contínua alteração; divide-se por sua vez em quatro
partes. A terra é como que o centro do mundo; está situada no meio
de todas as coisas. Em torno da terra está a água; em torno da água,
o ar; em torno do ar, está o fogo puro e isento de agitação que, como
diz Aristóteles no livro dos Meteoros, atinge o orbe da Lua [...] Cada
um dos três últimos elementos envolve a Terra sob a forma de uma
camada esférica (orbiculariter), salvo onde a seca da terra coloca
obstáculo à umidade da água, a fim de conservar a vida dos seres
animados. (SACROBOSCO apud RANDLES, 1994, p.13-14).
Na visão dos aristotélicos, o Universo seria composto de cinco substâncias
fundamentais: o éter, o fogo, o ar, a água e a terra. Entretanto, as quatro últimas
estariam localizadas no mundo sublunar (uma esfera localizada abaixo da esfera da
Lua), e estariam sujeitas a alterações, pois eram facilmente corrompidas.
De acordo com Crosby (1999, p.45):
Tudo o que havia abaixo da Lua era mutável e ignóbil, ou seja,
composto dos quatro elementos. Logo abaixo da Lua ficava a esfera
do fogo, abaixo desta, a do ar, depois, a da água e, por último, no
centro, a Terra, que era ―o fundamento do universo‖.
O quinto elemento (ou quinta essência) estaria localizado na região
supralunar, uma esfera que compreendia a lua, os planetas e as estrelas. Nessa
região, se encontraria o éter, uma substância perfeita, pura e imaculada, visto que
não se misturava com as demais substâncias existentes no Universo.
A respeito da quinta essência, Crosby (1999, p.45) afirma que:
Os corpos celestes e suas esferas eram todos compostos do quinto
elemento, perfeito, que era imutável, imaculado, nobre e inteiramente
superior aos quatro elementos com os quais os seres humanos
tinham contado.
Por conta da influência da Teoria das Zonas de Climatas, a que foi discutida
no Capítulo I desta Dissertação, a síntese bíblico-cratesiana sofreu algumas
alterações. Segundo Randles (1994, p.15), ―[...] as quatro ilhas foram reduzidas a
duas, o ecúmeno na zona temperada boreal, e um continente antípoda na zona
temperada austral‖.
63
Contudo, no imaginário medieval, haviam grandes incertezas a respeito da
zona temperada austral. Inclusive, ao longo da Idade Média, se acreditou que essa
região era habitada pelos antípodas9.
Por razões puramente teológicas, a Igreja se posicionou contrária à existência
dos Antípodas. Assim, conforme Boorstin (1989, p.109), ―Para evitar possibilidades
heréticas, os cristãos fiéis preferiam acreditar que não havia antípodas, ou mesmo,
se necessário, que a Terra não era nenhuma esfera‖.
Essa posição foi assumida e difundida por um padre chamado Lactâncio (240320) e por Santo Agostinho (354-430). Na opinião de Lactâncio, eram tolos e
extravagantes aqueles que admitissem a existência de uma raça que não
descendesse diretamente de Adão. Assim, ele questiona:
Os que defendem a existência dos antípodas tem um sentimento
razoável? Há alguém tão extravagante para se persuadir de que há
homens que tenham os pés no alto e a cabeça embaixo? Que tudo o
que está deitado neste país esteja suspenso naquele lá; que as
gramas e árvores lá cresçam descendo, e que a chuva e o granizo lá
cresçam subindo? [...] Então, como eles puderam sustentar que
existam antípodas? (LACTÂNCIO apud RANDLES, 1994, p.16).
O referido padre também refutou veementemente a noção de esfericidade da
Terra. Nesse sentido, Bauab (2012, p.28) argumenta que:
No princípio da Idade Média, por exemplo, Lactâncio (240–320 d.C.)
é uma personagem sempre lembrada por rejeitar, em suas
Instituições Divinas, o argumento da esfericidade da Terra defendido
por autores como Aristóteles (384–322 a.C.), Ptolomeu (90–168 d.C.)
e Plínio (23–79 d.C.).
Outra personagem que muito influenciou o saber geográfico produzido na
Idade Média, foi Santo Agostinho (354-430).
Em cosmografia, assim como Aristóteles, Santo Agostinho chegou a admitir a
possibilidade da esfericidade da Terra. Diz ele: ―[...] mesmo crendo ou demonstrando
com alguma razão que o mundo é redondo e esférico, não é lógico dizer que a terra
9
Conforme Boorstin (1989, p.109), ―Teorias clássicas dos antípodas descreviam uma intransponível
zona abrasadora que rodeava o equador e que nos separava de uma região habitada do outro lado
do globo. Isto suscitou sérias dúvidas na mente cristã quanto à esfericidade da Terra. Os que viviam
na parte de baixo dessa zona não podiam ser, claro, da raça de Adão, nem contar-se entre os
redimidos pela morte de Cristo. Se uma pessoa acreditava que a Arca de Noé fora parar no monte
Ararat a norte do equador, então não havia nenhuma maneira de criaturas vivas terem chegado a um
antípoda‖.
64
não é coberta de água por este lado‖ (AGOSTINHO apud SANTOS, 2002 p.37).
Contudo, ele refutou a existência dos antípodas:
Quanto à fábula dos antípodas, quer dizer, de homens cujos pés
pisam o reverso de nossas pegadas na parte oposta da terra, onde o
Sol nasce, quando se oculta de nossos olhos, não há razão que nos
obrigue a dar-lhe crédito (AGOSTINHO apud SANTOS, 2002 p.37).
Na realidade, conforme Santos (2002), quando Santo Agostinho afirma tais
hipóteses, fica evidente que ele está jogando com as possibilidades, pois, ele vê
razão em algumas partes e não em outras.
Em relação à Geografia, Santo Agostinho ―[...] confirmou que a Ásia, o
continente mais importante e poderoso, ocupava a metade do mundo‖ (DREYEREIMBCKE, 1992, p. 46). Entretanto, Santo Agostinho acreditava que no ponto mais
extremo da Ásia, num lugar inacessível aos homens por conta do pecado original
cometido por Adão e Eva, estava localizado o Paraíso.
Essa tendência às fantasias e à criação de espaços míticos e imaginários se
justifica na medida em que:
Por não existir naquela época diferença entre ciência e religião, para
esses eruditos, acreditar que o Paraíso estava num lugar do Oriente,
além das terras conhecidas, era um fato tão reconhecido como a
existência de elefantes na África (CARVALHO, 2006, p.28).
Considerado o último erudito do mundo antigo, Isidoro de Sevilha (560-636)
foi uma figura muito importante durante a Idade Média. Natural de Cartagena, na
Espanha, ele serviu à Igreja Católica como arcebispo da cidade de Sevilha. Em vida,
participou ativamente da política e da ordem religiosa da Espanha visigoda.
Muito influente, Isidoro de Sevilha foi lembrado desde os primeiros séculos da
era cristã até a Baixa Idade Média. Suas obras foram impressas e lidas até o século
XV. A mais importante delas foi a Etymologiae, uma obra composta de 20 livros,
sendo dois deles dedicados, exclusivamente, à Geografia: o décimo terceiro e
décimo quarto conforme Kimble (2005, p.28):
65
Esse trabalho – intitulado Etimologia ou Etymologiae - é composto
por vinte livros, sendo que o décimo-terceiro e o décimo-quarto
tratam de aspectos geográficos. O décimo-terceiro trata do mundo
como um todo, tal qual o Oceano, os mares abertos e fechados, as
marés, os rios, os ventos etc., i. e., como a geografia física. No
décimo quarto livro, Isidoro enumera e descreve brevemente a
divisão política da Terra.
Excelente compilador, Isidoro de Sevilha reuniu textos de diversas fontes; por
vezes, ele chegou a ser acusado ―[...] de não ter uma teoria, uma filosofia própria‖
(AMARAL, 2013, p.43). Nesse sentido, segundo Kimble (2005, p.34), ―[...]
ocasionalmente, parágrafos inteiros foram simplesmente extraídos dessas fontes e
empregados como se fossem do próprio autor‖.
No que diz respeito à produção de novos conhecimentos geográficos, Isidoro
de Sevilha pouco agregou. Na realidade, ele se valeu de todos os recursos e
saberes produzidos na Antiguidade Clássica e os adaptou conforme o seu interesse.
Segundo Kimble (2005, p.33 - 34), sua obra Etymologiae ―[...] é feita nos moldes
antigos e não contém nada mais do que já não tenha sido identificado anteriormente,
quer direta ou indiretamente, com as fontes latinas populares escritas‖.
Em cosmografia, não se sabe, ao certo, qual forma Isidoro atribuiu à Terra.
Contudo, para representá-la, ele se utilizou dos mapas-múndi em estilo TO (Orbis
Terrarum). Assim, conforme Boorstin (1989, p.111), Isidoro de Sevilha:
[...] explicou que a Terra era conhecida como orbis terrarum por
causa da sua redondez (orbis) como a de uma roda. É perfeitamente
evidente, observou, que as duas partes Europa e África ocupam
metade do Mundo e que a Ásia ocupa sozinha a outra metade. As
primeiras foram divididas em duas partes, porque o grande mar
chamado Mediterrâneo penetra vindo do oceano entre elas e as
separa.
Merecedor de um destaque especial dentro do pensamento geográfico
medieval, encontra-se Cosmas Indicopleustes. Provavelmente, ele viveu no século
VI.
Seu verdadeiro nome é uma incógnita; contudo, chamavam-no de Cosmas
em alusão aos seus conhecimentos a respeito do Cosmo. Já o sobrenome,
Indicopleustes, é uma referência ao fato de que, antes de sua conversão ao
cristianismo, em 548, ele havia sido um mercador às voltas do Mar Vermelho e do
Oceano Índico (BOORSTIN, 1989; BAUAB, 2012).
66
Sua principal obra data de meados do século VI, a Topographia Christiana.
Nela, o autor cria uma representação peculiar da Terra. Conforme Kimble (2005,
p.41), sua representação é ―[...] uma rude caricatura de cosmografia‖.
Ao contrário de Ptolomeu e de Aristóteles, para quem a Terra era uma esfera,
Cosmas Indicopleustes negou tal esfericidade, e sustentou a noção de uma Terra
plana e estacionária no centro do Universo.
Como já havíamos adiantado no Capítulo II, na Idade Média, o pensamento
analógico foi predominante no processo de construção dos conhecimentos
geográfico (e cartográfico). Nesse sentido, descartando os textos clássicos e os
conhecimentos empíricos de seu tempo, Cosmas Indicopleustes, por analogia a
Sagrada Escritura, elaborou um modelo cosmológico um tanto quanto curioso.
De acordo com Carvalho (2006, p.28):
[...] ao escrever Topografia Cristã, no século VI, descartou tanto a
forma esférica quanto a redonda e plana da Terra, criando uma outra
em que as extremidades do céu estavam ligadas às extremidades da
Terra, que seria retangular e plana.
Desse modo, inspirado na Epístola de São Paulo aos Hebreus10, por analogia
ao Evangelho de Cristo, Cosmas representou o mundo em forma de um Baú
indicando que esta era a real forma da Terra.
Conforme Boorstin (1989, p.110):
No atraente plano de Cosmas, a Terra inteira era uma imensa caixa
retangular, muito semelhante a uma arca com tampa arqueada – a
abóbada de céu – por cima da qual o Criador observava as suas
obras. No Norte havia uma grande montanha, à volta da qual o Sol
se movia e cujas obstruções à luz solar explicavam as durações
variáveis dos dias e das estações. As Terras do Mundo eram,
evidentemente, simétricas: no Oriente, os Indianos; no Sul, os
Etíopes; no Ocidente, os Celtas, e no Norte, os Citas. E do Paraíso
fluíam os quatro grandes rios: o Indo ou Ganges, para a Índia; o Nilo,
através da Etiópia, para o Egito, e o Tigre e o Eufrates, que
banhavam a Mesopotâmia.
Na Figura 12, vê-se, em detalhe, uma gravura que ilustra o mundo em forma
de Baú conforme a ideia de Cosmas Indicopleustes. De acordo com Bauab (2012,
10
1
na Epístola aos Hebreus (9:1-3): Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, e um
2
santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro,
3
e a mesa, e os päes da proposiçäo; ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu
estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos [...] (BIBLIA, 2003).
67
p.29), ―[...] o mundo conhecido estava, nesta perspectiva, disposto no piso da arca,
sendo, portanto, um repositório do simbolismo cristão‖.
Figura 13 - O mundo na perspectiva de Cosmas Indicopleustes, séc. VI
Fonte <http:// iadrn.blogspot.com.br>. Acesso em 22 de Junho de 2014
Cosmas Indicopleustes construiu esse modelo em defesa da fé e da religião
cristã. A Terra era plana, pois não havia testemunhos nos evangelhos que
indicassem outra forma a não ser essa.
De acordo com Boorstin (1989, p.110):
Quando o apóstolo Paulo declarou na Epístola aos Hebreus (9:1-3)
que o primeiro tabernáculo de Moisés era o modelo deste mundo
inteiro, deu a Cosmas, de bandeja, o seu plano, com todos os
pormenores necessários. Cosmas não teve dificuldade nenhuma em
traduzir as palavras de S. Paulo para a realidade física.
Para Cosmas Indicopleustes, não havia argumentos suficientes para
sustentar uma concepção de mundo esférica; afinal, como seria possível a chuva
cair para cima? Ou, ainda, existirem homens do outro lado do mundo de cabeça
para baixo?
A respeito da teoria dos antípodas, conforme Carvalho (2006, p.28), Cosmas
afirmava que era:
68
[...] antinatural e irracional homens viverem de cabeça para baixo e
não via meios de ficarem em pé, argumentando que por não haver
referência à pregação dos Evangelhos para essa região, logo, ela
inexistia.
Outro representante da geografia medieval foi Osório ou Orosius, um ―[...]
padre hispânico do século V que escreveu uma enciclopédia famosa, a Historiaum
adversum paganos” (BOORSTIN, 1989, p.110). Contudo, de acordo com Kimble
(2005, p.24), essa obra “[...] é um documento controvertido e é radicalmente ahistórico no método‖.
Ainda que tenha incorporado informações extraídas de textos clássicos, o
pensamento analógico foi o recurso utilizado por Orosius, por exemplo, para
representar o mundo numa perspectiva cristã. Pois, seguindo o modelo da Cruz de
Cristo, ele defendeu a tripartição do mundo em três continentes, respectivamente:
Ásia, Europa e África.
Orosius descreve os climas dos três continentes nos seguintes termos:
Muito mais terra permanece por amanhar e explorar em África por
causa do calor do Sol que na Europa por causa da intensidade do
frio, pois com certeza quase todos os animais e plantas se adaptam
mais depressa e mais facilmente a grande frio do que a grande calor.
Existe uma razão óbvia para que a África, no que respeita o contorno
e população, apareça pequena em todos os aspectos (isto é, quando
comparada com a Europa e a Ásia). Devido à sua localização
natural, o continente tem menos espaço, e, devido ao mau clima, tem
mais terra deserta (OROSIUS apud BOORSTIN, 1989, p.111).
Escrita do ponto de vista cristão, sua obra serviu de modelo até meados do
século XIV.
A Cosmographia, obra escrita no século VII por Anônimo de Ravena, se
destaca por apresentar vários elementos geográficos. Essa obra foi compilada por
um clérigo anônimo que residia em Ravena, Itália.
De acordo com Kimble (2005, p.36):
Mesmo sendo cristão devoto, não teve remorso em usar obras de
Porfírio, Iamblichus, Aristarco e Bollianus, todos filósofos pagãos.
Certamente, a maior parte de seu material topográfico foi retirado de
fontes não-cristãs: com destaque entre eles estava os itinerários das
estradas imperiais (incluída a Tabela de Peutinger), os Trabalhos de
Jordanis (Jornandes) sobre a história dos vândalos, Castorius
(desconhecido em sua história, mas presumivelmente um
cosmógrafo romano do século III) e mesmo Ptolomeu, a quem ele
nomeia erroneamente de ―rei da Macedônia no Egito.
69
Na Cosmographia, é mencionada uma listagem com o nome de vários
lugares, desde a Índia à Irlanda. E, por muito tempo, inúmeros viajantes utilizaram
essa obra como guia para a definição dos itinerários de viagem por terra.
Anônimo de Ravena só ocasionalmente se baseava nas Escrituras Sagradas
para justificar algumas opiniões mais emblemáticas em relação aos controversos
debates entre religião e ciência.
De acordo com Kimble (2005, p.36):
[...] o geógrafo de Ravena considerava a Terra como
aproximadamente redonda e circundada pelo oceano, mas o oceano
não era inteiramente contínuo e não se estendia após a Índia, que
era o limite oriental de seu oikoumené.
Contudo, ainda que ele considerasse a Terra redonda, o aspecto mais curioso
envolve a discussão a respeito dos segredos para além dos limites do mundo
conhecido. Não é novidade alguma que o pensamento geográfico na Idade Média
expressa o fervor religioso. Nesse sentido, para Anônimo de Ravena:
Além da Índia, localizava-se um deserto intransponível. Tentar
levantar os segredos desses limites orientais era uma grande
blasfêmia para os cristão, pois as Escrituras falavam que nenhum
homem mortal poderia penetrar no Paraíso secreto de Deus, que
estava no Extremo Oriente. Para as partes setentrionais da Terra,
estava claro na fala dos filósofos que além do oceano, existiam altas
montanhas erigidas pela vontade de Deus. Elas faziam a noite e o
dia (como Cosmas havia afirmado) ao formar uma tela atrás da qual
o Sol e a Lua desapareciam durante seu curso (KIMBLE, 2005, p.36)
A Idade Média legou-nos uma importante herança cultural e científica ao
estudo da epistemologia da Geografia.
Ao contrário das associações pejorativas engendradas pelos positivistas da
Renascença, conclui-se que a Idade Média transmitiu um valioso patrimônio ainda
que por se descobrir.
Para tanto, basta voltar a atenção para a Europa cristã medieval, que se
perceberá, certamente, a construção de um tipo peculiar e específico de saber
geográfico capaz de representar lugares sagrados e lendários que só existiram no
pensamento e no imaginário do homem medieval.
Cabe ressaltar, que, na Idade Média, dada à baixa mobilidade espacial, pouco
se conhecia da superfície terrestre e das populações do globo. Nesse sentido,
70
percebe-se que o conhecimento geográfico foi construído a partir das fontes antigas
e pagãs, e, principalmente, por meio do pensamento analógico, amparado,
sobretudo, numa dimensão judaico-cristã.
É nítido que, naquele contexto histórico e cultural, o saber geográfico
produzido e capitaneado pelo poder dirigente da Igreja Católica respondia aos
questionamentos do homem numa perspectiva religiosa, pois tudo se iniciava e se
encerrav na religião. Essa tendência só se modifica a partir dos séculos XIII e XIV,
quando se inicia o processo de quantificação e mensuração da realidade.
Neste capítulo, estudou-se a geografia medieval. Na sequência, no capítulo
IV, analisar-se-á a cartografia medieval. Pois, sabe-se que os mapas não servem
apenas à orientação e à localização. Na realidade, eles (os mapas) são instrumentos
de poder para quem os controla e os produz; e também expressam a visão de
mundo hegemônica de uma determinada sociedade.
Na Idade Média, os mapas se constituíram em mecanismo de expressão
social, cultural, artístico e filosófico de toda uma sociedade. Desse modo, no próximo
capítulo, concentrar-se-á a atenção na tentativa de caracterizar a produção
cartográfica medieval. Assim, será possível analisar e comparar os mapas-múndi de
Claudio Ptolomeu e de Eratóstenes, produzidos na Antiguidade Clássica, por
exemplo, com os mapas-múndi de Ebstorf e de Hereford, produzidos na Idade
Média. Isso porque, a concepção de mundo desses sujeitos é intrínseca à sua
representação cartográfica.
Um mapa nunca é neutro, pois ele expressa uma determinada visão de
mundo, que, a priori está relacionada com o sistema de pensamento e com o
conhecimento do próprio mundo. No próximo capítulo, vamos ao estudo da
cartografia medieval.
71
CAPÍTULO IV
A CARTOGRAFIA MEDIEVAL
A finalidade primeira de um mapa é servir à orientação e à localização;
todavia, o mapa também transmite as características da realidade social e espacial
que representa. Contudo, essa premissa nem sempre foi a razão de ser principal
dos mapas. Nessa perspectiva, se admite que, ao longo da história, a produção
cartográfica propicia uma análise mais profunda dos processos de construção da
própria noção de espaço.
Em geral, os mapas que foram construídos durante a Idade Média
representam vários elementos inerentes à cultura e à identidade do homem
medieval. Desse modo, através do estudo deles, é possível se identificar a
concepção de mundo dominante na referida época.
Na Alta Idade Média, a Filosofia Patrística11 exerceu forte influência na
produção cartográfica. Portanto, já nos primeiros séculos da era cristã houve um
distanciamento frente aos princípios matemáticos dos pensadores clássicos. Assim,
vale lembrar, que, em razão da ascensão do cristianismo como religião oficial no
Ocidente, os mapas do período passaram a não primar mais pela precisão
geométrica, nem pela representação realística do espaço.
Essa tendência se aprofundou ainda mais com a queda do Império Romano
do Ocidente, em 476. Posto que, no Império, havia uma valorização dos
conhecimentos geográfico e cartográfico em razão dos seus objetivos militares e
expansionistas.
É pertinente destacar que, os sistemas cartográficos desenvolvidos na
Antiguidade clássica por Hiparco de Nicéia, Eratóstenes de Cirene e Cláudio
Ptolomeu vão sendo, gradativamente, sobrepostos por outros sistemas (pouco
sofisticados) desenvolvidos pelos eruditos medievais.
Nesse sentido, de acordo com Kimble (2005, p.219), os mapas medievais:
11
O termo Patrística é utilizado em alusão à filosofia cristã dos primeiros séculos da Idade média. Ela
foi elaborada pelos primeiros Padres ou Pais da Igreja, daí o nome ―Patrística‖. Notadamente, seu
objetivo era transmitir as verdades da fé cristã. Conforme Reale & Antiseri (1990, p.400), ―O momento
da Patrística propriamente dita, que vai do século III ao início da Idade Média e no qual o elemento
filosófico, especialmente platônico, desempenha papel bastante considerável. Os ―Padres da Igreja‖,
portanto, são todos aqueles homens que contribuíram de modo determinante para construir o edifício
doutrinário do cristianismo, que a Igreja acolheu e sancionou‖.
72
[...] refletiam ideias comuns da época, inclusive as teorias quase
científicas dos gregos, as mitologias pagãs e os sistemas de
cosmografia cristã. Pouquíssimos deles – quase nenhum antes do
ano de 1.400 – refletiram a extensão real do conhecimento da época.
Portanto, a cartografia medieval esteve distante dos princípios matemáticos e
geométricos que haviam sido idealizados pelos pensadores clássicos. Em
contrapartida, ela sofreu grande influência da Igreja Católica; daí, pois, o seu foco
passar a ser outro: a representação dos ícones da religião cristã.
Segundo Santos (2002, p.35):
[...] os mapas produzidos e reproduzidos na Europa Ocidental,
durante a maior parte do feudalismo, não tinham por objetivo
qualquer tipo de precisão geométrica, isto é, não foram feitos para
indicar lugares, caminhos ou qualquer outro tipo de referência
toponímica que objetivasse esclarecer um leitor sobre a sua real
distribuição territorial.
Contudo, isso não significa dizer que o conhecimento cartográfico tenha sido
tratado sem nenhum cuidado. Na realidade, ele foi instrumentalizado para que
cumprisse os objetivos pré-determinados pelo Alto Clero. Isto porque, a cartografia,
ao longo da Idade Média, esteve presa à tradição cristã.
A esse respeito, é possível dizer que:
Na Idade Média europeia, a combinação entre o imaginário popular e
a difusão dos valores e das ideias da Igreja deu resultados mais
variados, desde a tentativa de substituir os valores pagãos até as
heresias. No imaginário popular existiam representações antigas que
em parte receberam a superposição de representações cristãs
(CARVALHO, 2006, p.13).
Usando de sua autoridade, a Igreja buscou construir modelos cosmológicos
em conformidade com a narrativa bíblica. Contudo, essa determinação nem sempre
foi seguida, visto que, apesar da apropriação e do controle sobre a produção
artística e cultural do período, surgiram outras interpretações e representações
realizadas por pensadores que não estavam vinculados e nem orientados pelo Alto
Clero.
Ainda assim, vale dizer que os mapas medievais são extremamente
contrastantes com aqueles produzidos na Antiguidade Clássica, na medida em que
diminuiu a preocupação com os princípios geométricos.
73
A concepção religiosa foi a dominante na Idade Média, pois os conceitos e
ideias da Bíblia orientavam a leitura e a representação do espaço conhecido e
imaginado. Assim, conforme Kimble (2005, p.14), ―Do século IV em diante, muitos
escritores consideraram a geografia importante somente para localizar os lugares
bíblicos e a cartografia apenas para representá-los‖.
Partindo desse pressuposto, Bauab (2012, p.30) salienta que: ―[...] na mesma
perspectiva da Geografia Medieval, pode ser dito que a cartografia da época
também deixou de operar tendo como princípio o realismo e a utilidade prática‖.
Nessa perspectiva, se encaixam os mapas TO ou OT. Trata-se de um tipo de
mapa que foi muito utilizado pelos autores e pensadores medievais. Nesses mapas,
o mundo está disposto num círculo achatado; o que denota a ideia de uma Terra fixa
e estacionária no centro do Universo. Conforme Santos (2002, p.35), ―Com o uso do
mapa TO não seria possível ir ou vir a qualquer lugar e, portanto, pode-se inferir que
seus criadores romperam com toda a tradição cartográfica até então disponível‖.
Nesse tipo de mapa, o mundo é representado em forma de um círculo
formado pelo O, o qual é cortado pela Cruz de Cristo; está última representada pelo
T, que, por analogia a doutrina cristã, remete à Santíssima Trindade.
Na Idade Média, esse tipo de mapa foi muito utilizado para representar os três
continentes conhecidos: a Ásia, a África e a Europa. Os principais rios presentes nos
aludidos mapas são o Nilo, o Eufrates, o Danúbio e o Don. Por sinal, tais rios têm
grande significado para os povos cristãos primitivos.
Dreyer-Eimbcke (1992), oferece uma interessante descrição a respeito dos
mapas TO. Conforme o autor em pauta:
A letra T, ou Tau, em grego, já tinha um valor simbólico especial no
Antigo Testamento, e Isidoro a interpretou expressamente como
símbolo da cruz. A haste do T é formada pelo mar Mediterrâneo
entre a Europa e a África ou ―Líbia‖. O braço setentrional da trave é
representado pelo rio Don, pelo de Azov, pelo mar Negro e pela
porção oriental do Mediterrâneo entre a Ásia e a Europa. O braço
meridional é constituído pelo rio Nilo, que separa a Ásia da ―Líbia‖
(p.47).
Na Figura 13, vê-se, em detalhe, uma gravura com o mapa-múndi na
perspectiva TO, um dos mais conhecidos tipos de mapa medievais.
74
Figura 14 - Mapa-múndi no estilo TO
Fonte:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27336
>. Acesso em 05 de Março de 2015.
Nos mapas medievais, o leste aparece orientado para o cimo, isto é, na parte
superior do mapa, uma vez que no Oriente, segundo a crença cristã, estaria
localizado o Paraíso, um lugar de onde emanava a luz que iluminava o mundo.
De acordo com Dreyer-Eimbcke (1992, p.16):
Na Idade média, os mapas mostravam com frequência uma
orientação inversa. A própria palavra orientação quer dizer,
originalmente, posicionamento em relação ao leste, ao oriente, de
onde surge a luz.
Outra característica dos mapas TO se refere às similitudes com as narrativas
bíblicas. A divisão tripartite do mundo, por exemplo, foi realizada com base no Livro
do Gênesis. Igualmente, os três continentes foram divididos entre os três filhos de
Noé: a Europa foi herdada por Jafé; a Ásia por Sem; e a África por Cam, o
amaldiçoado. Conforme Araújo (2012, p.6), tal divisão estava:
75
[...] assentada pelos exegetas a partir da passagem do livro do
Gênesis na qual Nóe abençoou seus filhos mais velhos (Sem e Jafé)
e amaldiçoou o caçula (Cam) por este último ter zombado da
embriagada nudez paterna. Os exegetas atribuíram a Ásia ao
primogênito Sem, a Europa a Jafé e a África a Cam, o amaldiçoado
(talvez por isso o espaço africano esteja repleto de criaturas e raças
fantásticas).
Evidentemente,
a
visão
de
mundo
do homem
medieval,
não era
correspondente com a experiência empírica e factual. Os horizontes geográficos
eram extremamente limitados e reduzidos. Mas, isso não impediu os eruditos
medievais de declararem que:
[...] a metade superior do orbe era ocupada pela Ásia (já reconhecida
como a maior massa continental por eles conhecida), enquanto que a
metade inferior era dividida entre a Europa (à esquerda) e a África (à
direita) (ARAÚJO, 2012, p.6).
Essa divisão foi amplamente aceita, uma vez que ―Agostinho confirmou que a
Ásia, o continente mais importante e poderoso, ocupava a metade do total‖
(DREYER-EIMBCKE, 1992, p.46). O crédito atribuído a Santo Agostinho se deve ao
fato de que ele era uma autoridade religiosa de grande prestígio; por isso, tal
afirmação foi largamente difundida durante a Idade Média.
Desse modo, fica evidente que, para o homem medieval, a experiência
empírica era pouco relevante. Vê-se, pois, que naquele contexto histórico-social, a
religião desempenhou um papel importantíssimo no processo de construção dos
conhecimentos geográfico e cartográfico.
Nesse sentido, destaca-se o caráter pedagógico-educativo dos mapas TO na
perspectiva da tradição judaico-cristã. Por isso, Isidoro de Sevilha compilou,
elaborou e difundiu as primeiras informações sobre a forma e as medidas da Terra
com base nesses mapas. Para Dreyer-Eimbcke (1992, p.46) ―Os mais antigos
mapas desse tipo que se conservaram até os nossos dias datam do século VIII. Eles
podem ser encontrados nas suas duas enciclopédias universais De Rerum Natura e
Etymologiae”.
A cartografia medieval, embora distante das fontes e dos princípios técnicos
que haviam sido idealizados na Antiguidade Clássica, foi reconhecidamente um dos
instrumentos prediletos utilizados pelo Santo Clero para expressar os valores
cristãos. A saber, essa foi uma das razões para que os mosteiros e as catedrais se
especializassem no estudo, na produção e na difusão de mapas. E é, justamente,
76
neste nível simbólico, que o poder do mapa realmente se faz sentir, na medida em
que representam a concepção de mundo de quem os produziu.
A partir de agora, nossa atenção se voltará à análise de dois mapas-múndi
característicos do período, justamente porque eles refletem a concepção de mundo
do homem medieval. São eles: os mapas-múndi de Ebstorf e de Hereford.
Iniciamos a análise pelo mapa-múndi de Ebstorf. É provável que o seu autor
tenha sido um inglês, cujo nome era Gervásio de Tilbury. Ele foi um clérigo e um
professor de direito canônico de grande prestígio na Europa medieval (DREYEREIMBCKE, 1992; CROSBY, 1999; BAUAB, 2012).
Esse mapa foi produzido na primeira metade do século XIII, na região da
Saxônia (atualmente, um Estado pertencente à Alemanha), onde se manteve no
anonimato até 1830 (DREYER-EIMBCKE, 1992). Ao que tudo indica, inicialmente, o
aludido mapa foi utilizado como retábulo para o altar de uma Igreja. Quando
descoberto, ele já apresentava sinais de deterioração em vários pontos.
Em 1834, o mapa-múndi de Ebstorf foi transferido para Hanôver, na
Alemanha. Contudo, em 1943, provavelmente ele tenha sido destruído em razão de
um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Felizmente, após
findado o conflito, foi possível se produzir duas cópias desse mapa em pergaminho.
De acordo com Dreyer-Eimbcke (1992, p.54), o mapa-múndi de Ebstorf é
uma:
[...] obra monumental, composta de trinta folhas de pergaminho,
mostra toda a história da salvação segundo a Bíblia e tem como
fundo o próprio Cristo, como senhor do mundo. Sua cabeça
sobressai na parte superior (leste), enquanto os pés aparecem
embaixo (oeste) e as mãos nos lados (norte e sul). No centro do
mapa está Jerusalém. Mais embaixo, na direção de Jerusalém,
ergue-se a torre de Babel com um arrojado andar superior e uma
altura de 4.000 passos, conforme diz o texto que acompanha o
mapa. Através dos cruzados era sabido que tanto essa torre quanto
o farol de Alexandria e os muros de Tróia já não continuavam de pé.
Nesse mapa, o mundo conhecido e/ou imaginado está distribuído sobre o
corpo de Jesus Cristo, que está figurado em forma de uma cruz. Ao que tudo indica,
se trata de uma analogia à morte e à crucificação do filho de Deus; mas, também,
denota o forte sentimento religioso que permeou a produção cartográfica do período.
O mapa-múndi de Ebstorf segue o estilo dos mapas TO, pois ele está distante
do realismo e da utilidade prática; ademais, nele, há uma completa desarticulação
77
espaço-tempo, uma vez que os temas e personagens abordados e representados
são emprestados das Escrituras Sagradas. Portanto, é pertinente destacar que,
durante a Idade Média, a Bíblia se constituiu como a principal fonte de inspiração
para a produção literária, artística, cultural e científica. Além do mais, o imaginário do
homem medieval dava livre transito à idealização de um mundo perfeito
(evidentemente, na perspectiva do cristianismo).
Certamente, o aspecto mais evidente no aludido mapa é a ausência de
preocupação com os princípios de toponímia, de geometrização das formas, de
mensuração do espaço, de orientação e de localização geográfica. Em
contrapartida, se destacam, nele, a representação de muitos lugares e criaturas
míticas e fabulosas, que só existiam no imaginário do homem medieval.
Nesse sentido, Dreyer-Eimbcke (1992, p.54), salienta que o mapa-múndi de
Ebstorf:
[...] não visa representar a configuração física da superfície terrestre,
uma vez que as características topográficas ficam em segundo
plano. Nota-se imediatamente um traço típico dos mapas medievais:
a falta de preocupação com as dimensões e distâncias reais.
Na realidade, o mapa-múndi de Ebstorf representa uma síntese dos dogmas e
princípios do cristianismo católico. Portanto, parece-nos que o objetivo central do
seu autor tenha sido a valorização dos aspectos que fundamentam a religião cristã.
Por isso, ver o mapa é vislumbrar toda a trama da criação e da salvação ou danação
da alma.
Como salienta Crosby (1999, p.49):
Seu mapa era uma tentativa não quantificatória e não geométrica de
fornecer informações sobre o que ficava perto e o que ficava longe –
e sobre o que tinha ou não tinha importância. Parecia-se mais com
um retrato expressionista do que com uma fotografia de carteira de
identidade. Era destinado a pecadores, não a navegadores.
É pertinente destacar, que os mapas medievais, diferentemente dos mapas
clássicos e modernos, tinham outras finalidades e utilidades. De acordo com Araújo
(2012, p.4), a [...] acurácia científica, alicerce da moderna cartografia, era irrelevante.
Ao
invés
disso,
os
mapas medievais
objetivavam
essencialmente monástica a entender seu lugar no mundo.
ajudar sua
audiência
78
Embora desgastado pelo tempo, a análise atenta e detalhada do mapa-múndi
de Ebstorf nos fornece elementos importantes e detalhados que versam sobre a
concepção de mundo, bem como das ideias, mitos e fantasias que dominavam o
imaginário do homem medieval.
Desse modo, na Figura 14, tem-se, em detalhe, o mapa-múndi de Ebstorf. Na
verdade, se trata de uma cópia realizada por um autor desconhecido antes da
destruição do original durante a Segunda Guerra Mundial.
79
Figura 15 - Mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<http://8kunst.tumblr.com>. Acesso em 12 de Março de 2015
80
Na sequência, discorremos sobre algumas folhas do mapa-múndi de Ebstorf,
nos quais é possível perceber, detalhadamente, os temas e os aspectos que
compunham o pensamento (geográfico e) cartográfico medieval. De início, há que se
destacar o peso do pensamento analógico nesse processo. Aliás, o recurso à
analogia foi o exercício intelectual predominante na busca da formalização e/ou da
justificação dos conhecimentos construídos ao longo da Idade Média.
Na Figura 15, vê-se, em detalhe, uma gravura da parte central do mapamúndi de Ebstorf. Nela, está representada uma narrativa bíblica que trata da
Ressurreição de Jesus Cristo12; ocorrida, supostamente, em Jerusalém, considerada
o centro do mundo, o palco da redenção e da salvação humana. Na realidade, essa
Figura confirma que a produção cartográfica do período foi marcadamente
influenciada pela religião cristã.
Figura 16 - A Ressureição de Cristo - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<http://bartholomew.stanford.edu.>. Acesso em 12 de Março de 2015
12
1
Segundo a Bíblia (2003), no Livro de Marcos (16:1-6): ― Quando terminou o sábado, Maria
Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de
2
Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro,
3
perguntando umas às outras: "Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? "
4
Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida.
5
Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram
6
amedrontadas. "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi
crucificado. Ele ressuscitou! Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto‖.
81
Como já se destacou anteriormente, o aspecto mais relevante do mapa-múndi
de Ebstorf é a completa desarticulação espaço-tempo. Pois, os fatos e personagens
representados não condizem com a realidade, nem com os conhecimentos espaciais
do período em que o mapa foi produzido.
Na Figura 16, por exemplo, tem-se, um detalhe do mapa-múndi de Ebstorf:
uma gravura que faz referência à Arca de Noé13, provavelmente situada na Armênia,
no Monte Ararat. Claramente, há uma discrepância espaço-temporal, pois a cena
não está preocupada com o realismo ou com a utilidade prática. Ela cumpre na
medida em que cumpre uma finalidade pedagógica monástica, pois sustenta uma
concepção de mundo dominada pela presença simbólica e imaginária de
personagens que transcendem as épocas histórias, relembrando narrativas e
passagens bíblicas.
Figura 17 - A Arca de Noé no Monte Ararate - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<http://www.landschaftsmuseum.de>. Acesso em 12 de Abril de 2015.
13
13
Segundo a Bíblia (2003) no Livro do Gênesis (6:13-19): Deus disse a Noé: "Darei fim a todos os
seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a
14
terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste; divida-a em compartimentos e revista-a
15
de piche por dentro e por fora. Faça-a com cento e trinta e cinco metros de comprimento, vinte e
16
dois metros e meio de largura e treze metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de
quarenta e cinco centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça
17
um andar superior, um médio e um inferior. "Eis que vou trazer águas sobre a terra, o Dilúvio, para
18
destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas
com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as
19
mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea,
para conservá-los vivos com você.
82
No imaginário do homem medieval, também esteve muito viva a crença na
existência do Paraíso14, igualmente denominado de Jardim do Éden. Segundo a
tradição cristã, Deus havia plantado um Jardim a algures no Oriente, em que
abundavam alimentos e todo tipo de delícias; nesse lugar, não havia dor ou
sofrimento. Esse lugar, seria inacessível aos homens por conta do Pecado Original,
que havia sido cometido por Adão e Eva.
Na Figura 17, vê-se, em detalhe um recorte do mapa-múndi de Ebstorf que
ilustra o Paraíso Terrestre. Nela, estão representados Adão e Eva se alimentando do
fruto proibido, simbolizado pela maçã. Fica, aqui, novamente, o indicativo de que a
temática norteadora dessa obra é a religião.
Na realidade, esse recorte simboliza o início da narrativa que o mapa tenta
realizar, tendo por base a Bíblia. Durante a Idade Média, a crença na existência de
lugares utópicos e imaginários alçou a Geografia à condição de localizá-los e a
cartografia à função de representá-los.
Figura 18 - O Paraíso, mapa-múndi de Ebstort, séc. XIII
Fonte:<http://www.landschaftsmuseum.de/Seiten/Museen/Ebstorf-7.htm>.
Acesso em 12 de Abril de 2015
14
8
Segundo a Bíblia (2003) no Livro do Gênesis (2:8-17): Ora, o Senhor Deus tinha plantado um
9
jardim no Éden, para os lados do leste; e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez
nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do
10
jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um
11
rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pisom. Ele percorre
12
toda a terra de Havilá, onde existe ouro.
O ouro daquela terra é excelente; lá também existem o
13
14
bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxe, é o Giom. O terceiro, que
15
corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o
16
homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
E o Senhor Deus ordenou ao homem:
17
"Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem
e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá".
83
Ao longo de toda a Idade Média, existiram muitas histórias que permearam o
imaginário dos homens. Nesse sentido, merece destaque a lenda ou a crença na
existência dos malignos Gog e Magog, que estão representados no mapa-múndi de
Ebstorf. Na realidade, é mais uma relação que o mapa procura estabelecer com a
Bíblia.
Os homens medievais, por muito tempo acreditaram que Alexandre, o
Grande, havia sido o responsável por ter aprisionamento Gog e Magog nos confins
da Terra. Contudo, conforme narra o Livro de Ezequiel (38:15-21)15 esses seres
malígnos foram libertados do confinamento e causariam grandes danos ao Povo de
Deus.
Na Figura 18, em outro detalhe de uma das folhas do mapa-múndi de Ebstorf,
estão representados Gog e Magog aprisionados no confinamento, devorando outros
seres, provavelmente humanos. Novamente, é nítido que o autor do aludido mapa
não estava preocupado com o realismo, tampouco com as técnicas de
geometrização e mensuração do espaço; de fato, ele tinha por intenção transmitir
uma verdade que se encaixava nos dogmas cristãos postulados pela Igreja.
15
Segundo a Bíblia (2003) no Livro de Ezequiel (38:15-21): Você virá de seu lugar, do extremo norte,
você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um
16
exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra.
Nos dias vindouros, ó Gogue, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam
17
quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. " ‗Assim diz o Soberano
Senhor: Acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os
18
profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. É
isto que acontecerá naquele dia: Quando Gogue atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra
19
do Soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um
20
grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura
que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os
montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros
21
cairão.
Convocarei a espada contra Gogue em todos os meus montes, palavra do Soberano
Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão).
84
Figura 19 - Gog e Magog confinados na Ásia - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<https://medievalfragments.wordpress.com>. Acesso em 12 de Abril de 2015
Outra característica que se destaca no aludido mapa, é que a geografia da
África está adornada por uma peculiar ―fantasia espacial‖. Nesse continente,
segundo a crença dos eruditos medievais, habitavam todos os tipos de seres e
criaturas estranhas; ali se localizava o Jardim das Hespérides, que seria dominado
pela serpente, e povoado por criaturas estranhas: répteis gigantes, pessoas
disformes e anômalas, com muitas bocas e dedos e até cabeça de cão.
Desse modo, a fim de exemplificar esse entendimento, resgatamos de uma
das folhas do mapa-múndi de Ebstorf uma gravura que faz referência às criaturas
estranhas e fantásticas que se acreditava existir na África, como dragões, serpentes
e seres alados. Na Figura 19, tem-se um fragmento do aludido mapa que ilustra a
região da África.
85
Figura 20 - Região da África - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<http://blog.oak-tree.us.>. Acesso em 12 de Novembro de 2014
O homem medieval, conforme a sua visão de mundo, considerava a Europa
como o único continente capaz de reunir todas as condições adequadas para
suportar o desenvolvimento da vida humana, dos animais e dos vegetais.
De acordo com a crença do homem medieval, a Europa abrigaria somente as
gentes que descendessem de Adão, bem como aquelas criaturas que haviam se
salvado na Arca de Noé. Na Figura 20, tem-se, um detalhe, do mapa-múndi de
Ebstorf que faz menção à região de Nuremberg, na Alemanha.
86
Figura 21 - Região de Nuremberg, Alemanha - mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<http://www.landschaftsmuseum.de>. Acesso em 12 de Janeiro de 2015
Diante do que foi exposto, é nítido que a análise do mapa-múndi de Ebstorf
nos fornece várias pistas a respeito da concepção de mundo do homem medieval.
Os
conhecimentos
espaciais
do
mundo
eram
reduzidos
e
limitados.
Consequentemente, a estrutura de pensamento (aliada a esta ausência de dados
mais consistentes e precisos sobre o mundo) reforçava a crença na existência da
ligação entre o mundo dos homens e o mundo sobrenatural/espiritual.
Nesse sentido, pode-se inferir que o mapa-múndi de Ebstorf não apresenta
qualquer tipo de preocupação com os princípios de toponímia, de geometrização, de
mensuração, e de localização geográfica. O aludido mapa é preenchido e adornado
por lugares e criaturas utópicas e imaginárias, é por representações de narrativas
contidas na Bíblia. Desse modo, é reconhecido o caráter religioso e pedagógico
dessa obra.
Por isso, o mapa-múndi de Ebstorf pode ser considerado uma verdadeira obra
de arte, na medida em que denota a concepção de mundo da época numa
perspectiva judaico-cristã, que se justifica, principalmente, por meio do pensamento
analógico.
87
Ainda tratando da cartografia, traz-se à discussão e à análise outra obra muito
importante também produzida e difundida na Baixa Idade Média. Trata-se de um
mapa-múndi confeccionado, provavelmente, no século XIII, na Inglaterra, por um
sujeito chamado Ricardo de Haldingham. Essa obra ficou conhecida como mapamúndi de Hereford.
Esse mapa-múndi foi produzido em papel vegetal e suas medidas são de
1,59m de altura por 1,40m de largura. Atualmente, ele está guardado na Catedral de
Hereford, na Inglaterra (SOARES DE DEUS, 2006).
O mapa-múndi de Hereford apresenta e representa a concepção de mundo
do homem medieval numa perspectiva cristã. Portanto, tal qual o mapa-múndi de
Ebstorf, o mapa-múndi de Hereford segue a mesma tradição em estilo TO. Desse
modo, para lê-lo, é fundamental que se compreenda a estrutura de pensamento que
vigorou na Europa no contexto da Baixa Idade Média.
Esse mapa mural também apresenta uma completa desarticulação espaçotempo. Não há, nele, qualquer preocupação com o realismo ou com a utilidade
prática, na medida em que cumpre uma finalidade pedagógica monástica; ou seja,
ele expressa uma concepção de mundo dominada pela presença simbólica e
imaginária de personagens, que transcendem as épocas histórias e relembram
narrativas e passagens bíblicas. Na verdade, os fatos e personagens narradosrepresentados são extremamente complexos e contraditórios.
Tem-se a impressão de que o mapa-múndi de Hereford tenha sido produzido
para cumprir, a princípio, duas funções primordiais. A primeira se manifesta no seu
caráter eminentemente religioso e pedagógico; afinal, esse mapa informa as
verdades e os fatos narrados pela Bíblia. A segunda se manifesta em seu caráter
decorativo; afinal, ele pode ter sido utilizado para o embelezamento dos ambientes
religiosos (SOARES DE DEUS, 2006).
As principais cenas representadas no mapa revelam toda a trama da criação
e da salvação na perspectiva judaico-cristã. Assim, com base nos elementos que
compõem, o mapa é possível entendermos os aspectos e as características que
envolviam o imaginário do homem medieval.
O mapa-múndi de Hereford também foi construído com base numa visão
tripartite do mundo conhecido, indicando, assim, a separação dos três continentes:
Europa, Ásia e África. Naquele tempo, Santo Agostinho já havia confirmado que a
88
Ásia tomava a metade do orbe terrestre, e que a outra metade era dividida entre a
Europa e a África.
Outro aspecto que se destaca no aludido mapa é a existência de um erro de
escrita envolvendo os continentes europeu e africano. De acordo com Soares de
Deus (2006), os nomes dos respetivos continentes estão invertidos. Assim, sobre o
continente europeu está escrito, equivocadamente, África, e sobre o continente
africano está escrito Europa.
Como já se destacou anteriormente, o aspecto mais notório nesse mapa é a
ausência de preocupação com os princípios de toponímia, de geometrização das
formas, de mensuração do espaço, de orientação e de localização geográfica. Em
contrapartida, se destacam as representações de muitos lugares e criaturas irreais e
fabulosas, que só existiam no imaginário dos homens medievais. Na Figura 21, temse, em detalhe, o mapa-múndi de Hereford.
89
Figura 22 - Mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://geografoss.blogspot.com.br>. Acesso em 14 de Março de 2015
90
A análise atenta e detalhada do mapa-múndi de Hereford é extremamente
reveladora. Por exemplo, na parte externa superior do mapa, há uma cena
representando o dia do Juízo Final16, isto é, o episódio da salvação ou da danação
das almas. No centro da imagem está Cristo, entronizado em majestade com os
punhos erguidos (como quem queira mostrar as feridas da crucificação). Cristo, o
Juíz justo, surge imponente e decisivo sob o destino final das almas. À sua direita,
caminham os bons; à sua esquerda, os maus.
De acordo com Ribeiro (2010, p.12):
A cena conhecida tem, no centro, Cristo em majestade, cercado
pelas muralhas de Jerusalém Celeste. À direita, as portas se abrem
aos bons que, enfileirados, seguem o anjo; à esquerda, as portas se
fecham aos maus puxados por uma corda pelo demônio. Abaixo,
Maria intervém junto ao seu filho, pelos pecadores.
Na Figura 22, tem-se os pormenores da cena fazendo referência ao dia do
Juízo final. Na verdade, ela demonstra como a cartografia do período estava distante
do realismo e da utilidade prática; haja vista que a cena representada visa promover
uma reflexão pautada, sobretudo, nos moldes do cristianismo católico.
Figura 23 - O Juízo Final - Mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://ahistoriaemfoco.blogspot.com.br>. Acesso em 14 de Novembro de 2014
16
31
De acordo com a Bíblia (2003) no Livro dos Atos dos Apóstolos (17:31): Pois estabeleceu um dia
em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a
36
todos, ressuscitando-o dentre os mortos". No Livro de Mateus (12:36): Mas eu digo que, no dia do
juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou ainda, em
16
Romanos (2:16): Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante
Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho.
91
Há que se destacar, que os mapas do período são uma clara demonstração
do papel desempenhado pela religião no processo de construção dos saberes
geográfico e cartográfico. Isso porque, eles (os mapas) representam a concepção de
mundo do homem medieval na perspectiva do cristianismo católico.
Nesse sentido, há uma cena, extraída da parte superior do mapa-múndi de
Hereford, que ilustra uma narrativa da Bíblia encontrada no Livro do Gênesis (2:817), já citada anteriormente, Deus havia plantado um Jardim no Éden, a algures no
Oriente. Segundo a crença cristã, nesse lugar há abundância de alimentos e todo
tipo de delícias. Contudo, tal lugar seria inacessível aos homens, por conta do
pecado original cometido por Adão e Eva. Na Figura 23, tem-se os pormenores do
mapa-múndi de Hereford que ilustram o Jardim do Éden a algures no Oriente.
Figura 24 - Jardim do Éden - Mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/>. Acesso em:
14 de Novembro de 2014.
Em outra folha do mapa-múndi de Hereford, há uma cena que faz menção a
uma passagem bíblica contada no Livro do Gênesis (11:4-9)17: a história da
construção da Torre de Babel.
17
4
De acordo com o Livro do Gênesis (11:4-16): ― Depois disseram: ―Vamos construir uma cidade,
com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela
5
6
face da terra‖. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E
disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve
7
nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam,
8
para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e
92
Segundo a tradição cristã, na região da Mesopotâmia, numa cidade chamada
Babilônia, os descendentes de Noé, logo após o dilúvio, tentaram construir uma torre
tão alta que fosse possível alcançar o céu. Mas, Deus considerou isto uma
arrogância por parte dos homens e lhes impôs um severo castigo, confundiu a língua
dos homens e destruiu a torre. Na Figura 24, tem-se, em detalhe, essa cena retirada
do mapa-múndi de Hereford.
Figura 25 - A Torre de Babel, detalhe do Mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/>. Acesso em: 14 de Novembro
de 2014.
Na Idade Média, os feitos heroicos de Alexandre Magno (356 - 324 a.C),
também conhecido como Alexandre, o Grande, foram contados e recontados nos
quatro cantos do mundo conhecido.
Alexandre Magno, filho de Filipe II, foi alçado à condição de imperador de
toda a Macedônia. E, logo, desenvolveu um projeto expansionista muito ambicioso,
que culminou na conquista do Império Persa, no século IV a.C.
A fama de Alexandre Magno era tamanha, que o autor do mapa-múndi de
Hereford o julgou digno de ser representado em seu mapa. Obviamente, a cena
apresenta uma total desarticulação espaço-tempo, uma vez que o aludido imperador
havia vivido no século IV a.C., enquanto o mapa só foi produzido em meados do
século XIII. Na Figura 25, tem-se o fragmento do mapa em que está representado o
acampamento de Alexandre, o Grande, em algum lugar do continente europeu.
9
pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua
de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra.
93
Figura 26 - Acampamento de Alexandre Magno - mapa-múndi de Hereford, Séc. XIII
Fonte:<http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/>. Acesso em: 14 de Abril de 2015.
Na Idade Média, foi muito comum a crença na existência de criaturas
mitológicas e fabulosas, e também, de lugares utópicos. Naquele contexto
sociocultural, era natural se dar crédito às narrativas que confirmavam,
independentemente da constatação empírica, a existência de lugares e criaturas
imaginárias e mitológicas.
O mapa-múndi de Hereford apresenta vários fragmentos que indicam essa
tendência. Na realidade, trata-se de uma tentativa dos eruditos explicarem e
representarem o espaço (vivido e imaginado). Isso porque, esses lugares e essas
criaturas estavam vivos no imaginário do homem medieval, apesar de sua existência
nunca ter sido comprovada empiricamente.
Na Figura 26, vê-se o detalhe do mapa-múndi de Hereford em que o autor
desenha um Monoceros (Unicórnio), uma criatura de existência duvidosa. Fica, pois,
evidente, que a ausência de conhecimentos empíricos mais detalhados sobre
lugares longínquos abria precedentes para que esses espaços fossem preenchidos
e representados, cartograficamente, por elementos e criaturas irreais.
94
Figura 27 - O Monoceros (Unicórnio) - mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/>. Acesso em: 14 de Abril de 2015
Diante de tudo o que foi exposto, vê-se que a análise dos aspectos
iconográficos que envolvem o mapa-múndi de Hereford nos permite compreender
um pouco da percepção e da representação do espaço por parte do homem
medieval. Como os conhecimentos espaciais do mundo eram reduzidos e limitados
a desarticulação espaço-tempo se faz visível, tanto que personagens e cenas de
épocas passadas e de existência duvidosa se misturam num mesmo ambiente.
Todo este debate em relação aos mapas-múndi de Ebstorf e de Hereford,
legítimos testemunhos da cartografia medieval, serviu-nos para perceber a
importância que teve o pensamento analógico no processo de construção e
delegitimação de uma concepção de mundo dominante na época. Nesse sentido,
delineia-se uma cartografia distante do realismo e da utilidade prática, e marcada
pela supervalorização dos conhecimentos justificados pelo crivo da fé.
Contudo, a Cartografia medieval, tanto quanto a Geografia, expressam
significações mais amplas. Elas manifestam os padrões de pensamento e
sentimentos do homem medieval diante da vida e do mundo. Portanto, elas são a
expressão direta do mundo material sobre os sentidos; mas, também, dos sentidos
sobre o material.
No campo da pintura medieval, essa tendência se tornou ainda mais nítida e
perceptível. Isso porque, a sua temática principal foi a exaltação da grandeza de
Deus. Em suma, tal qual a Geografia e a Cartografia, a arte medieval, em especial a
pintura, teve uma temática norteadora: o cristianismo católico.
95
Aliás, há algumas congruências e similitudes que justificam a relação entre a
Geografia, a Cartografia e a Pintura medievais. Desse modo, no capítulo V, tem-se o
propósito de realizar uma análise a respeito dessa suposta relação, destacando,
sobretudo, os pormenores da pintura medieval e sua influência na criação da
moderna concepção do espaço.
Desse modo, no capítulo V, pretende-se relacionar a Geografia, a Cartografia
e a Pintura no processo de construção e de representação da noção de espaço
durante a Idade Média, bem como chegar até o início das grandes transformações
sociais, culturais e científicas que foram desencadeadas, sobretudo, a partir do
advento do Movimento Renascentista do séc. XV.
96
CAPÍTULO V
CONGRUÊNCIAS E SIMILITUDES ENTRE A GEOGRAFIA, A CARTOGRAFIA E A
PINTURA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE ESPAÇO NA
IDADE MÉDIA
Neste Capítulo, procura-se caracterizar a Pintura medieval e relacioná-la com
a Geografia e a Cartografia produzida no período. Acreditamos que há congruências
e similitudes entre essas áreas do conhecimento, sobretudo no tocante à construção
da noção de espaço predominante na época.
Em 1713, o alemão Gottfried Gregorii apud Dreyer-Eimbcke (1992, p.16)
afirma que: ―Ninguém pode ser um bom cartógrafo se não for também um bom
pintor‖. Essa afirmação indica a proximidade que existe entre o saber geográfico, o
cartográfico e a pintura.
No Capítulo II, afirmamos que o pensamento analógico foi a forma intelectual
predominante no processo de construção dos conhecimentos geográfico e
cartográfico no Ocidente, durante a Idade Média. Além do mais, os princípios
postulados pela Igreja Católica, o simbolismo religioso, os conflitos entre
―sobrenatural‖ e ―natural‖, a pouca preocupação com o empírico e com a
representação realística, foram pontos comuns à Geografia e a Cartografia (e a
pintura) produzidas no período.
Nos primeiros séculos da Alta Idade Média, é possível perceber alguma
relação entre esses planos do conhecimento, especialmente no que diz respeito à
temática abordada. Essa relação se torna mais nítida e clara a partir do século XV,
sobretudo, a partir do Movimento Renascentista, no qual se evidenciam novas
perspectivas e tendências socioculturais e científicas que estimulam um novo
sentido espacial; este último nasceu, originalmente, na esfera da pintura e que,
posteriormente, migrou para o campo da Geografia e da Cartografia.
Isto posto, pretende-se caracterizar a Pintura medieval e relacioná-la com o
desenvolvimento da Geografia e da Cartografia do período.
A pintura medieval divide-se em vários grupos e estilos. Contudo, vamos
destacar apenas quatro deles: a carolíngia, a otoniana, a românica e a gótica.
97
Mesmo que cada um destes tipos guarde suas peculiaridades, é possível apontar os
limites e as interações entre eles.
Na Idade Média, a arte se constituiu num meio pelo qual se expressava os
sentimentos, mas, também, as concepções do homem diante da vida e do mundo.
No caso do homem medieval, por meio da arte, especialmente da pintura, buscavase (re)-ligar ao trânsito do invisível, do imensurável, do não findado no empírico.
Portanto, as imagens/pinturas cumpriam uma função mediadora na
construção de uma relação que transcendia o mundo natural e alcançava o mundo
do sobrenatural/espiritual. Desse modo, conforme Gombrich (2006, p.99), ―Em finais
do século V a.C., os artistas já haviam adquirido plena consciência de seu poder e
mestria, e o mesmo se passava com o público‖.
No ano de 313, após quase trezentos anos de perseguição ao cristianismo, o
imperador Constantino (272-337) permitiu a prática do culto cristão em algumas
regiões do Império. Logo depois, em 391, o imperador Teodósio (347-395)
promulgou um decreto reconhecendo o cristianismo como religião oficial do Império
(BECKETT, 2006).
Naturalmente, os líderes da religião cristã não tardaram em perceber a
importância da arte como forma de comunicação e como um instrumento de
dominação ideológica e psicológica. Além disso, observe-se que:
Até a Alta Idade Média, o grande público analfabeto tirava seus
conhecimentos das imagens que encontrava, sobretudo nos vitrais
das igrejas e nas peças de tapeçaria. Havia também escultores
capazes de transmitir no capitel de uma única coluna as mensagens
de um capítulo inteiro da Bíblia (DREYER-EIMBCKE, 1992, p.17).
A queda do Império Romano do Ocidente, no século V, desencadeou todo um
processo de reestruturação social, política, científica e cultural na Europa Ocidental.
Apesar disso, a produção artística desse período reflete vários princípios da cultura
greco-romana tardia. Isso porque, conforme Beckett (2006, p.24), ―A arte cristã
primitiva diferia da tradição greco-romana mais nos temas que no estilo‖.
É importante destacar, que o Império Romano do Oriente, com sede em
Constantinopla (atual Istambul), herdeiro direto da tradição greco-romana, de certo
modo, no tangente à construção do conhecimento científico e artístico, afastou-se do
padrão clássico, para desenvolver um estilo novo, que ficou conhecido como arte
bizantina. Embora os motivos e as temáticas também remetam à tradição cristã,
98
esse estilo é repleto de técnica e cor, especialmente o dourado. Mais tarde, traços
marcantes da técnica bizantina vão ser encontrados na arte de estilo românico e
gótico.
As pinturas da fase inicial da Idade Média fornecem um espaço agregado, ou
seja, os objetos e as pessoas estão justapostos sobre um plano no qual as relações
e as ilusões espaciais não são enfatizadas ou destacadas. Portanto, o espaço
representado era fechado, finito e estático, isto é, não havia a ilusão de
profundidade.
Dessa maneira, a representação da realidade era suprimida, pois a pintura
medieval, assim como a Geografia e a Cartografia, servia como fonte de instrução e
guia
espiritual.
O
seu
principal
objetivo
era
transmitir
uma
mensagem
significativamente sacra aos irmãos de fé. Assim:
Para a cristandade medieval – até o século XII – a natureza do
universo era imutável, atributo divino. Nas representações,
interessava a posição que as coisas, seres e pessoas ocupavam na
esfera divina, para que se fizessem relações entre tamanhos e
justaposições de suas formas (LEMOS, 2010, p.43).
A arte medieval nos revela vários aspectos e características da sociedade da
época. Alias, ela representa a própria Idade Média, na medida em que exprime a
capacidade intelectual e a estrutura moral e religiosa da sociedade medieval.
Contudo, sabemos, por meio das palavras de Hauser (1998, p.123), que:
A maioria dos aspectos que são usualmente considerados
característicos da arte medieval, como o desejo da simplificação e
estilização, a renúncia à produtividade espacial e à perspectiva, o
tratamento arbitrário das proporções e funções corporais, só são
típicos, na verdade, da fase inicial da Idade Média; logo que a
economia monetária urbana e o modo de vida burguês passaram a
predominar, tais características declinaram substancialmente.
Assim, conforme Cappellari (2011, p.1):
O Cristianismo, apesar de manter vínculos com o Antigo Testamento,
superou esta tendência, ganhando força e arrebatando fiéis através
de uma narrativa construída não apenas em cima da fé, mas,
principalmente através da força do visível.
Na arquitetura, por exemplo, tanto no estilo românico como no gótico, a maior
parte das igrejas, em seu contorno externo, eram erguidas seguindo o modelo da
99
cruz de Cristo. Essa tendência demonstra o quanto, na cultura medieval, a
simbologia religiosa fazia parte da estrutura mental e psicológica dos sujeitos. Para o
homem medieval, a cruz representava uma proximidade maior da humanidade com
Deus. Tal como foi citado no Capítulo IV, a cartografia do período, nos mapas TO,
também faz esse tipo de associação.
Nesse tipo de mapa, o mundo, representado na forma de um círculo, é
cortado pela cruz de Cristo (representada pelo T), que, por analogia à teologia cristã,
remete à Santíssima Trindade. No mapa-múndi de estilo TO, é possível perceber
que os três continentes conhecidos estão separados pelo T, que representa a
Divindade humanizada e crucificada no seio do mundo.
Figura 28 - Mapa-múndi em estilo TO
Fonte:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br>. Acesso em 14 de Março
de 2015.
O Mausoléu da Imperatriz Gala Placídia, em Ravena, na Itália, construído no
século V segue a mesma orientação. Sua planta, por exemplo, no contorno externo,
tem a forma de uma cruz, indicando uma analogia à Santíssima Trindade. Na Figura
28, vê-se, em detalhe, a planta do Mausoléu da Imperatriz Gala Placídia.
100
Figura 29 - Planta do Mausoléu da Imperatriz
Gala Placídia
Fonte:<http://historyofarchitecture.weebly
.com>. Acesso em 08 de Agosto de 2014
Convém acrescentar, que, na Pintura Medieval, assim como na Geografia e
na Cartografia, não há uma preocupação com as técnicas de geometrização e
mensuração do espaço, pois o realismo não era a sua preocupação central.
A técnica da perspectiva era desconhecida, ou melhor, ainda não era
largamente utilizada pelos pintores e cartógrafos medievais. Contudo, no Capítulo I,
apurou-se que Cláudio Ptolomeu (90 -168) já havia indicado, seu mapa-múndi, o
desenvolvimento de uma ―quase-perspectiva‖.
Há uma pintura da arte cristã primitiva, datada do século III, e que foi
encontrada em Dura-Europos, na Mesopotâmia (à época controlada pelos romanos),
cujo autor é desconhecido, que mostra o quanto a arte estava inclinada à concepção
e à estrutura religiosa.
Efetivamente, ao pintar esse quadro, o artista realizou uma analogia com a
tradição judaico-cristã, pois, ele é muito significativo do ponto de vista religioso. Ele
representa Moisés retirando água da rocha e distribuindo-a igualmente entre as doze
tribos de Israel. Na Figura 29, tem-se, em detalhe, tal pintura.
101
Figura 30 - Moisés retirando água da rocha às doze Tribos de Israel, séc. III
Fonte:<http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Article.aspx?art=12>.
Acesso em 10 de Março de 2015
Essa pintura buscava legitimar a visão de mundo na crescente perspectiva do
cristianismo. Nesse sentido, sabe-se que as pinturas cumprem outros papéis além
da pura ornamentação. Conforme Cappellari (2011, p.2) ―[...] durante a Idade Média,
e mesmo no princípio da Renascença, a Igreja começou a estimular e financiar a
produção artística de painéis e esculturas que remetessem à tradição cristã‖.
Desse modo, ao artista medieval, não bastava somente pintar. Era necessário
e fundamental, antes, imaginar e interpretar a Sagrada Escritura, indicando ―[...] aos
homens um caminho que os conduz dos fenômenos visíveis aos mistérios ocultos
sob as aparências‖ (GRIMME, 1968, p.9).
Para Grimme (1968, p.9) ―A pintura da Idade Média esta impregnada de
espírito cristão. É a expressão de um sentimento religioso que procura, nas suas
representações artísticas, a forma que corresponda à verdade revelada‖.
Essa visão transcendental não aflorou, de imediato, no nascimento do
cristianismo. Na verdade, foi necessário um longo período para o aprimoramento
dessa orientação. Nessas circunstâncias, conforme Hauser (1998, p.124), ―A arte da
época cristã primitiva nada tinha daquela transparência metafísica que é da própria
essência dos estilos românicos e gótico‖.
102
Isso significa dizer, que nem toda produção artística medieval esteve
essencialmente envolvida por essa latente atitude espiritual. Até porque, muitas das
características da primitiva arte cristã já se manifestavam antes do surgimento do
próprio cristianismo.
De acordo com Hauser (1998, p.124):
As formas da antiga arte cristã, assim como as da romana tardia, são
expressivas do ponto de vista psicológico, e não metafísico; são
expressionistas, mas não reveladoras. Os olhos arregalados dos
retratos romanos tardios expressam intensidade de alma, tensão
espiritual, uma vida que é fortemente emocional; trata-se, porém, de
uma vida sem qualquer substrato metafísico e, como tal, sem
qualquer relação íntima com o cristianismo. É, de fato, o produto de
condições existentes muito antes de surgir o cristianismo.
O formidável nisso tudo, é que o desenvolvimento de uma identidade
puramente cristã. É, a priori, o resultado do embate filosófico, cultural e religioso
travado num contexto temporal de transitoriedade da Antiguidade Clássica para a
Idade Média.
Nesse cenário de transitoriedade e de grandes metamorfoses, há um clima
conflituoso, estimulado, sobretudo, pelos esforços de interação e aproximação, mas,
também, de distanciamento e de negação de alguns valores, conceitos e princípios
pré-existentes; embora a integração das múltiplas experiências seja fundamental
para a constituição de um autêntico desenvolvimento da unicidade identitária do
cristianismo.
Todo esse processo, pode ser sentido e percebido através da arte do período.
Nesse sentido, conforme Hauser (1998, p.125):
Nas obras do período do final do Império, sobretudo as do período de
Constantino, as características essenciais da primitiva arte cristã já
se deixam prenunciar – o impulso para a espiritualização e
abstração, a preferência por formas planas, incorpóreas, diáfanas, a
exigência de frontalidade, solenidade e hierarquia, a indiferença pela
vida orgânica de carne e sangue, a falta de interesse pelo
característico, pelo individual e pela espécie.
Os conhecimentos geográfico e cartográfico produzidos durante a Idade
Média são ametódicos e assistemáticos, uma vez que os mesmos foram construídos
com base numa relação transcendental subordinada e justificada, sobretudo, pela
103
Fé. Na verdade, o homem medieval percebia o espaço como uma, manifestação
direta daquilo que estava contido na mente do Criador.
Nessas condições, há uma ausência de realismo e de utilidade prática, traços
que haviam sido característicos da Geografia e da Cartografia da Antiguidade
Clássica.
Do ponto de vista da história da arte, no período de tempo que vai da queda
do Império Romano do Ocidente (em 476) até, aproximadamente, o século X, é
possível apontar que não houve a afirmação de qualquer estilo artístico claro e
uniforme. Na realidade, o que sobreveio à Europa Ocidental foi ―[...] o conflito de um
grande número de estilos diferentes que só começaram a amalgamar-se em fins
desse período‖ (GOMBRICH, 2006, p.157).
Esse panorama apresentou os primeiros sinais de mudança com o reinado de
Carlos Magno (742–814), que foi declarado rei dos francos em 768 e que foi,
reconhecidamente, a figura política de maior imponência e notoriedade de toda a
Alta Idade Média.
No início dos anos 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno o imperador
dos territórios que, atualmente correspondem à França e à Alemanha. Devido ao
seu caráter expansionista, Carlos Magno não tardou em conquistar imensos
territórios localizados, sobretudo, no norte da Europa.
Conforme Beckett (2006, p.29) ―Graças a essa força militar, Carlos foi o
responsável pela imposição do cristianismo ali e pelo ressurgimento daquela arte
antiga que, havia mais de trezentos anos, florescera antes do colapso do Império
Romano do Ocidente‖.
Na Figura 30, tem-se, em detalhe uma pintura do início do século IX, que
retrata a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. Infelizmente, não se sabe
quem foi o autor desta obra.
104
Figura 31 - A coroação de Carlos Magno (ano 800)
Fonte:<http://www.sohistoria.com.br>. Acesso em 21 de Julho de 2014
No reinado de Carlos Magno, há um processo de retomada e/ou redescoberta
de alguns princípios da cultura greco-romana. Desse modo, por conta do
financiamento e incentivo ao desenvolvimento artístico, ele recebeu o título de
patrono das artes. Contudo, deve-se observar, que os artistas palacianos da corte
imperial tinham dois objetivos principais a serem atingidos. Conforme Beckett (2006,
p.29), Carlos Magno ―Queria que os artistas a seu serviço expressassem não só a
mensagem cristã, mas também o esplendor e importância do império que criara, o
Carolíngio (adjetivo que vem da forma latina do nome Carlos)‖.
A intenção de Carlos Magno era restaurar o Império do Ocidente nos moldes
do antigo Império Romano. De acordo com Facillon (1993, p.30), os intelectuais
palacianos aproveitaram a ocasião para:
[...] ressuscitar um título e uma fórmula a que se ligavam tantas
recordações de esplendor, recompensando os brilhantes serviços
prestados por uma grande família à cristandade, inclinava
naturalmente os espíritos a voltarem-se para os exemplos da Roma
antiga e a sentir a emulação do Império bizantino. Sobre um fundo de
hábitos já muitas vezes seculares, na trama dum estilo compósito,
oriental e bárbaro, duas dominantes caracterizam a arte deste
período: o regresso à qualidade monumental e o renascimento da
figura humana.
105
Evidentemente, o objetivo principal de Carlos Magno era vivificar a arte do
antigo Império Romano, como forma de garantir esplendor e pujança ao seu reinado.
Para tanto, ele enviou muitos artistas carolíngios para o estrangeiro a fim de se
especializarem no estudo das artes mais sofisticadas. Ainda assim, contratou
diversos outros eruditos, pintores e escultores (entre eles ingleses, gregos e
bizantinos), a fim de fortificar a nascente arte carolíngia.
De Acordo com Grimme (1968, p.19), no Palácio de Aix:
Sabemos que houve pinturas murais realizadas com leite de cal,
decorações de abóbadas em mosaico de vidro, e até vitrais
coloridos. Segundo o modelo dos conjuntos de mosaicos Justinianos,
os pintores empreenderam, nos palácios de Aix e de Ingelheim, a
criação de séries de quadros com temas extraídos do Antigo e do
Novo Testamento, com heróis cristãos, e até pagãos, e a
representação das Sete Artes Liberais.
Entre os séculos VIII e X, a produção artística, em especial a pintura, foi muito
influenciada pela técnica da arte carolíngia. Contudo, por distintos motivos, a maior
parte das pinturas murais, mosaicos e baixos relevos, desapareceu. Ainda assim, se
conservou uma boa quantidade de manuscritos iluminados, que trazem consigo
algumas características do aludido estilo.
Evidentemente, existe a possibilidade de se realizar algumas associações
entre a pintura carolíngia, a cartografia e a geografia. Pois, além da temática
religiosa comum aos três planos, é nítida a ausência da técnica da perspectiva e, da
geometrização do espaço e do ambiente representado e/ou cartografado. Conforme
Kimble (2005, p.14) ―Do século IV em diante, muitos escritores consideraram a
geografia importante somente para localizar os lugares bíblicos e a cartografia
apenas para representá-los‖.
A seguir na Figura 31, em detalhe, uma gravura da parte central do mapamúndi de Ebstorf. Nela está representada uma narrativa biblica do Livro de Marcos
(16:1-6) que trata da Ressurreição de Jesus Cristo, supostamente em Jerusalém, na
época considerada o centro do mundo, palco da redenção e da salvação humana.
106
Figura 32 - A Ressureição de Jesus Cristo em Jerusalém,
mapa-múndi de Ebstorf, séc. XIII
Fonte:<http://bartholomew.stanford.edu.>. Acesso em 15 de Março de 2015
Para entendermos melhor as similitudes e as congruências entre a Pintura
carolíngia e a Cartografia medieval (e a Geografia) selecionamos uma pintura
encontrada num manuscrito carolíngio do século IX (da corte palaciana de Carlos
Magno). Na Figura 32, em detalhe, está São Mateus, escrevendo/lendo o Evangelho
de Cristo. Evidentemente, trata-se de uma pintura bidimensional, pois ela apresenta
o espaço numa perspectiva finita, isto é, sem profundidade. Porém, o foco central
dessa pintura é revelar uma preocupação fundamentalmente religiosa.
107
Figura 33 - São Mateus Evangelista, pintura da corte palaciana, séc. IX
Fonte:<http://recursostic.educacion.es>. Acesso em 21 de Julho de 2014
Após a morte de Carlos Magno, ocorrida em 814, seu reino foi disputado
pelos seus três netos. Não tardou até que essa disputa estimulasse o processo de
desintegração do reino carolíngio.
De acordo com Janson (1977, p.255):
Em 870, na altura em que a capa do Evangeliário de Lindau foi
executada, os restos do império de Carlos Magno eram governados
pelos dois netos sobreviventes: Carlos o Calvo, o rei franco ocidental,
e Luís o Germânico, o rei franco-oriental, cujos Estados
correspondiam, mais ou menos à França e à Alemanha atuais.
O poder imperial foi enfraquecendo gradativamente, em razão dos ataques
externos. Por exemplo, os muçulmanos atacavam pelo sul, os eslavos e os magiares
avançavam pelo leste, e os vikings da Escandinávia pelo norte e oeste (JANSON,
1977). Em razão destes ataques, o território europeu foi se assemelhando a uma
colcha de retalhos, completamente fragmentado em reinos menores.
Os normandos, desde o século VIII, promoveram campanhas militares às
regiões da Irlanda, da Inglaterra, e da França. Depois de estabelecidos nessas
108
região, converteram-se à religião então dominante, o cristianismo. Na arte, por
exemplo, passaram a adotar os preceitos da civilização carolíngia.
Conforme Janson (1977, p.256):
Durante o século XI, os normandos assumiram um papel de grande
importância na estruturação política e cultural da Europa, quando
Guilherme o Conquistador se tornou rei de Inglaterra, enquanto
outros Normandos expulsavam os Islamitas da Sicília e os Bizantinos
do sul da Itália.
Na Alemanha, logo após a morte do último monarca carolíngio, ocorreram
mudanças significativas, motivadas por disputas territoriais e rivalidades religiosas.
Um das consequências disto foi o deslocamento do centro político para a região da
Saxônia, ao norte do país, haja vista que, ―Após o reinado de Carlos Magno, a corte
deixou de ser o centro cultural e intelectual do Império‖ (HAUSER, 1998, p.170).
Todos esses fatores colaborara para a derrocada do Império Carolíngio, bem
como da arte palaciana. Evidentemente, a desintegração do poder central trouxe
como consequência direta a estagnação do desenvolvimento da arte carolíngia.
Contudo, tal conjuntura se modificou após os reis saxões darem início a um
processo de centralização do poder político. Isso ocorreu no final do século X,
quando os duques germânicos realizaram o antigo sonho de unificar todo o reino, e
coroaram Henrique I (876 - 936) imperador do Sacro-Império Romano-Germânico do
Ocidente.
De acordo com Grimme (1968), Henrique I foi sucedido pelo seu filho, Otão I
(912-973). O reino unificado a um poder central favoreceu o fortalecimento do
Estado, que, a partir desse momento, foi considerado o mais poderoso de toda a
Europa.
Otão I se notabilizou pelo incentivo e pelo desenvolvimento de um novo estilo
artístico: o otoniano. Na Igreja de São Jorge de Oberzell, localizada na Ilha de
Reichenau, no sul da Alemanha, encontra-se uma série valiosa de afrescos da
pintura monumental alemã, quase sempre indicando os milagres de Cristo
(GRIMME, 1968).
De tudo o que examinamos até o presente momento, não causa surpresa a
existência de similitudes e congruências, entre os temas abordados, envolvendo a
Pintura, a Cartografia e a Geografia. É evidente, que há uma mesma lógica no
109
processo de construção dos conhecimentos citados, uma vez que a fundamentação
religiosa é comum a eles.
Conforme Janson (1977, p.259), na pintura otoniana ―[...] se combinam
elementos carolíngios e bizantinos num estilo novo, de alcance e força
extraordinários‖. Assim, a herança carolíngia e a presença da arte bizantina são
notável nesse processo.
Na pintura de estilo otoniano, as cores são modeladas com suavidade,
destacam, nela, outras características, como a ausência da técnica da perspectiva, e
a distorção e a supressão da realidade (uma vez que os artistas procuram transmitir
uma ênfase maior à representação das divindades e dos milagres de Cristo).
Portanto, o ―aqui‖ e o ―agora‖ perdem importância, na medida em que se valoriza
aquilo que possui valor eterno (GRIMME, 1968). Portanto, além do aspecto
ornamental, a arte otoniana estava concentrada na construção de associações entre
o mundo espiritual e o natural, entre Deus e os homens.
Há um exemplar da pintura otoniana, provavelmente do século XI, encontrado
nos Códice de Egbert em Reichenau, Alemanha. Essa pintura ilustra a narrativa do
Livro de Mateus (2:1-16)18, na qual é contada a matança dos Santos Inocentes em
Belém. Na Figura 33, tem-se, em detalhe, a matança dos Santos Inocentes.
18
1
Segundo a Bíblia Sagrada (2003) no Livro de Mateus (2:1-16) E, tendo nascido Jesus em Belém
2
de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, Dizendo:
Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a
3
4
adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados
todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o
5
6
Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia; porque assim está escrito pelo profeta: E tu,
Belém, terra de Judá,De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá;porque de ti sairá o
7
Guia que há de apascentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos,
8
inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a
Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino e, quando o achardes, participai-mo, para
9
que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela, que tinham
visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
10
11
E, vendo eles a estrela, regoziram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o
menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe
12
dádivas: ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não
13
voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E, tendo eles se
retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino
e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga; porque Herodes há de procurar o
14
menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito.
15
E esteve lá, até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo
16
profeta, que diz: Do Egito chamei o meu Filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos
magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus
contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos.
110
Figura 34 - A Matança dos Santos Inocentes (Reichenau), séc. XI
Fonte:<http://cms.bistum-trier.de/bistum-trier/Integrale?MODULE=Frontend&
ACTION=ViewPageView&Filter.EvaluationMode=standard&PageView. PK=1&
Document.PK =29983> Acesso em 28 de Abril de 2015
Na mesma perspectiva da pintura, a cartografia do período manifesta vários
elementos inerentes à cultura e à identidade do homem medieval. Pois, ela
apresenta e representa, entre outras características, a concepção de mundo
daqueles sujeitos. Portanto, ela esteve dominada pela figura de Deus e distante dos
princípios realísticos e geométricos que haviam sido iniciados pelos gregos
matemáticos. Desse modo, a concepção religiosa, bem como os conceitos e ideias
encontrados na Bíblia, passaram a orientar toda a produção artística e cartográfica.
Nesse sentido, conforme Kimble (2005, p.14), ―Do século IV em diante, muitos
escritores consideraram a geografia importante somente para localizar os lugares
bíblicos e a cartografia apenas para representá-los‖.
Partindo desse pressuposto, Bauab (2012, p.30), salienta que, ―[...] na mesma
perspectiva da Geografia Medieval, pode ser dito que a cartografia da época
também deixou de operar tendo como princípio o realismo e a utilidade prática‖.
Contudo, o mesmo princípio que fundamenta a produção dos conhecimentos
geográfico e cartográfico fundamenta também a prática da pintura medieval. Isto,
111
porque, a temática religiosa bem como a completa desarticulação espaço-tempo é
comum aos três planos do conhecimento.
Nesse sentido, a fim de exemplificar a relação temática e técnica entre a
cartografia e a pintura medieval, buscamos um fragmento da parte superior do
mapa-múndi de Hereford que ilustra o dia do Juízo Final, Figura 34. Logo na
sequência, temos um exemplar da pintura otoniana que ilustra Jesus Cristo a lavar
os pés de São Pedro na Última Ceia, Figura 35.
Figura 35 - O Juízo Final - Mapa-múndi de Hereford, séc. XIII
Fonte:<http://ahistoriaemfoco.blogspot.com.br>. Acesso em: Nov. 2014
Os Códices Otonianos (manuscritos iluminados) continham todas as
passagens dos quatro Evangelhos da Bíblia Cristã. ―Estes livros são considerados
como objetos sagrados, caráter este proveniente do seu emprego no ofício divino‖
(GRIMME, 1968, p.32). Em geral, os pintores otonianos decoravam as letras
capitulares e algumas passagens desses Evangelhos.
A arte otoniana se destaca por estabelecer forte conexão com os princípios
da religião cristã. Nesse sentido, a relação com a Geografia e a Cartografia medieval
se torna ainda mais evidente. Isso, porque, os elementos são padronizados com
vista a legitimar a ideologia da Igreja Católica.
Na Figura 35, tem-se, uma pintura otoniano do século XI, reproduzida com
base no Livro dos Evangelhos (GOMBRICH, 2006). Essa obra de autoria
112
desconhecida esta imbuída de forte sentimento religioso, pois representa Cristo a
lavar os pés dos discípulos na Última Ceia. Na realidade, tem-se, mais um elemento
que reafirma a existência de similitudes e congruências entre a pintura, a geografia e
a cartografia medieval.
Figura 36 - Cristo a lavar os pés de São Pedro na Última Ceia, séc. XI
Fonte:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br>. Acesso em 12 de Agosto de 2014
A arte otoniana é um estilo transitório em direção à arte românica. Na
realidade, não chega a ser um encontro, mas, sim, um processo em direção à
construção de um novo estilo. Isso porque, os primeiros efeitos da arte românica
podem ser sentidos já no século X, ―[...] quando, sob a influência do movimento de
Cluny, uma nova espiritualidade e uma nova intransigência intelectual se fazem
sentir‖ (HAUSER, 1998, p.185).
O movimento de Cluny parte de uma ordem religiosa monástica católica, que
representa o processo de renovação da vida religiosa. Haja vista que, do começo do
113
século XI até meados do século XIII, se avolumam algumas intransigências políticas
e intelectuais entre o clero e a nobreza, que até então eram grandes aliados.
Esse período e esse processo caracterizam o início da grande crise do
sistema feudal, visto que representam os primeiros sinais de derrocada desse
sistema.
Contudo, a Igreja continou soberana no território europeu por muito tempo.
Inclusive, ela continuou a controlar a produção cultural e artística do período, uma
vez que, ―Os valores supremos são inquestionáveis e estão contidos em formas
eternamente válidas; o desejo de mudá-los, só por mudá-los, seria pura presunção‖
(HAUSER, 2006, p.184).
Portanto, a Igreja, em nenhum momento, renunciou à primazia da fé sobre o
conhecimento; inclusive, de forma autoritária e arbitrária, ela se julgou a única fonte
capaz de determinar os limites e as fronteiras do conhecimento.
Nesse sentido, merece destaque a obra de Cosmas Indicopleustes. Ao
contrário de Ptolomeu e de Aristóteles, para quem a Terra era uma esfera, Cosmas
Indicopleustes negou tal esfericidade, e sustentou a noção de uma terra plana e
estacionária no centro do Universo.
Desse modo, descartando os textos clássicos e os conhecimentos empíricos
que se acumularam ao longo do tempo, Cosmas Indicopleustes, por analogia a
Epístola de São Paulo aos Hebreus (9:1-3)19, elaborou um modelo cosmológico que
apresentava uma total desarticulação espaço-tempo.
Conforme Boorstin (1989, p.110):
No atraente plano de Cosmas, a Terra inteira era uma imensa caixa
retangular, muito semelhante a uma arca com tampa arqueada – a
abóbada de céu – por cima da qual o Criador observava as suas
obras. No Norte havia uma grande montanha, à volta da qual o Sol
se movia e cujas obstruções à luz solar explicavam as durações
variáveis dos dias e das estações. As Terras do Mundo eram,
evidentemente, simétricas: no Oriente, os Indianos; no Sul, os
Etíopes; no Ocidente, os Celtas, e no Norte, os Citas. E do Paraíso
fluíam os quatro grandes rios: o Indo ou Ganges, para a Índia; o Nilo,
através da Etiópia, para o Egito, e o Tigre e o Eufrates, que
banhavam a Mesopotâmia.
19
1
Segundo a Bíblia Sagrada (2003) na Epístola aos Hebreus (9:1-3): Ora, também a primeira tinha
2
ordenanças de culto divino, e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o
primeiro, em que havia o candelabro, e a mesa, e os päes da proposiçäo; ao que se chama o
3
santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos [...].
114
Na Figura 12, na página 66, vê-se, em detalhe, uma gravura que ilustra o
mundo em forma de Baú conforme a ideia de Cosmas Indicopleustes. De acordo
com Bauab (2012, p.29), ―[...] o mundo conhecido estava, nesta perspectiva,
disposto no piso da arca, sendo, portanto, um repositório do simbolismo cristão‖.
Cosmas Indicopleustes formulou essa teoria e esse modelo em prol da defesa
da religião cristã. Pois, para ele, não havia testemunhos nos evangelhos de Cristo
que indicassem outra forma a não ser essa.
De acordo com Boorstin (1989, p.110):
Quando o apostolo Paulo declarou na Epístola aos Hebreus (9:1-3)
que o primeiro tabernáculo de Moises era o modelo deste mundo
inteiro, deu a Cosmas, de bandeja, o seu plano, com todos os
pormenores necessários. Cosmas não teve dificuldade nenhuma em
traduzir as palavras de S. Paulo para a realidade física.
O poder da Igreja Católica, na Idade Média, se fez sentir em todas as
dimensões da vida humana. Desse modo, por meio da fé, foi possível influenciar a
produção cartográfica, haja vista os mapas-múndi de Ebstorf e de Hereford,
construídos sem qualquer preocupação toponímica ou de localização geográfica.
Conforme Hauser (1998, p.184):
A cultura em cujo âmbito todos os setores da vida estavam em
relação direta com a fé e com as verdades do Evangelho levou a que
toda a vida intelectual da sociedade, toda a ciência e arte, todo o
pensamento e a vontade dependessem da suprema autoridade da
Igreja.
Muito da arte de estilo otoniano se faz presente no estilo românico. Um estilo
artístico que vigorou na Europa entre os séculos XI e XIII.
O termo românico foi criado em alusão ao período em que prevaleceu, na
Europa, a cultura difundida pelo Império Romano do Ocidente. De acordo com
Shaver-Grandell (1982, p.3), ―A designação ‗Românico‘ é uma invenção do século
XIX, e significa ‗semelhante ao romano‘ [...]‖. Desse modo, o movimento iniciado a
partir do século XI tinha a intenção de resgatar a base cultural do tempo do Império
Romano.
Ainda que o território europeu estivesse bastante fragmentado em vários
reinos menores, há de se considerar que a Igreja valorizou a arte de estilo românica
na intenção de forjar um sentimento de unidade, mesmo que simbolicamente.
115
Portanto, o resgate da tradição pictural romana expressa o retorno às simples e
estilizadas formas geométricas.
Para Hauser (1998, p.187):
A arte do período românico é mais simples e homogênea, menos
eclética e diferenciada do que a arte da época bizantina ou
carolíngia, porque já não é uma arte palaciana e porque as cidades
ocidentais sofreram mais um retrocesso após a era de Carlos Magno,
sobretudo em resultado da penetração árabe na região mediterrânea
e da interrupção do comércio entre o Ocidente e o Oriente.
É importante observar, que o movimento românico partiu, inicialmente, de
dentro dos mosteiros. Provavelmente, os líderes da Igreja estimularam a sua difusão
na intenção de conseguir maior penetração e acessibilidade ao grande público leigo.
Porém, é verdade que o aumento do intercâmbio comercial entre as regiões
europeias favoreceu essa tendência.
De acordo com Janson (1977, p.261), a arte românica:
[...] consiste numa ampla variedade de estilos regionais, com
numerosos pontos comuns, mas sem uma fonte central. Sob esse
aspecto, é mais parecido com a arte da Europa bárbara que com os
estilos de corte, embora nele se incluam a tradição carolino-otoniana
juntamente com muitas outras, menos evidentes, como os elementos
tardo-romanos, paleocristãos e bizantinos, algumas influências
islamíticas e a herança céltico-germânica.
A arte românica é resultado da mescla oriunda de outros estilos préexistentes. Ainda assim, há que se destacar que, entre os séculos X e XI, o
cristianismo se impusera, definitivamente, na Europa como religião dominante.
Desse modo, o crescente entusiasmo religioso do novo Papado e a revitalização do
comércio foi decisivo para sacramentar e dinamizar o novo estilo por todo o
Ocidente europeu.
Portanto, segundo Janson (1977, p.262):
[...] a Europa Ocidental entre 1050 e 1200 tornou-se muito mais
―românica‖ do que fora desde o século VI, recuperando algumas das
formas do comércio internacional, a vida urbana e a força militar dos
tempos imperiais antigos.
Nesse sentido, a arte vai servir como parâmetro, visto que expressa o
sentimento e o imaginário do homem cristão e medieval, assim como os mapas e as
narrativas geográficas do período.
116
Contudo, quer se examine as artes de estilo carolíngio, otoniana, românica ou
gótica, elas se mostram constituídas pelos mesmos elementos e princípios da
Cartografia e da Geografia medieval, isto é, pela forte presença do simbolismo
cristão.
Na Idade Média, eram muito comuns as associações entre a cartografia e a
mística religiosa envolvendo o número 3 (três). Por exemplo, as representações da
superfície terrestre nos mapas-múndi em estilo TO eram esquemas idealizados sem
qualquer correspondência com a realidade, uma vez que não havia nenhuma
preocupação toponímica e nem geométrica; tanto que, nesses mapas, estão
representados o Paraíso Terrestre ―no cimo‖ e a cidade de Jerusalém ao centro
indicando que essa era o coração do mundo.
Ademais, nos mapas TO, o tipo de planisfério concilia-se à tripartição cristã,
isto é, com a ideia bíblica da partição do mundo na qual a Cruz que separa os três
continentes conhecidos indica uma analogia às três pessoas da Santíssima Trindade
(Pai, Filho e Espírito Santo).
Também essa tripartição do mundo traz uma analogia com o Livro do
Gênesis, que narra a divisão dos continentes entre os três filhos de Noé. Nesse
sentido, segundo a tradição bíblica, a Ásia foi herdada pelo primogênito Sem, a
Europa por Jafé e a África por Cam, o amaldiçoado.
Portanto, a teologia cristã parece fundamentar as produções artística,
cartográfica e geográfica medieval. Pois, tanto as pinturas quanto os mapas,
basicamente produzidos pelos eclesiásticos medievais, transmitem o espaço numa
visão religiosa.
Desse modo, devido à orientação eminentemente religiosa, toda a produção
artística e cartográfica medieval remete-se a um contexto espacial e temporal
contido na Bíblia, isto é, que não apresenta correspondência com o momento ―atual‖.
Nesse sentido, pode-se inferir que a mensagem religiosa está subentendida
nos mapas e nas pinturas medievais. Isso porque, a partir da contemplação
dessas representações, se sobressaem vários elementos oriundos da Sagrada
Escritura (como vimos no mapa-múndi de Ebstorf que representa a Ressureição de
Jesus Cristo em Jerusalém; no recorte do mapa-múndi de Hebstorf que mostra o dia
do Juízo Final; no exemplar da pintura otoniana que reproduz a passagem do Livro
de Mateus (2:1-16) que trata da morte dos Santos Inocentes).
117
Evidentemente, a intenção dos pintores e geógrafos/cartógrafos era tornar
suas obras mais inteligíveis a um grande número de apreciadores. Por isso, a
pintura de estilo românica foi muito utilizada para decorar o interior das igrejas; uma
ideia que havia sido herdada da tradição bizantina. Isso porque, conforme ShaverGrandell (1982, p.22):
Os arquitetos de algumas igrejas preferiam concentrar as decorações
dos edifícios em seus interiores, e as grandes e lisas paredes e
abóbadas da arquitetura românica certamente convidavam ao
embelezamento.
As igrejas românicas, em sua grande maioria, foram decoradas com a técnica
do afresco20. Em geral, esses murais narravam passagens bíblicas muito conhecidas
do público cristão. As pinturas desse estilo se destacam pelo emprego de cores
puras, fortes e vivas, e também pela deformação dos objetos desenhados. A técnica
da perspectiva, que ilustra a profundidade do espaço, não era empregada pelos
artistas românicos.
Na Figura 36, vê-se, em detalhe, um afresco do século XII, da Igreja
Românica de San Clemente de Tahull, na Catalunha, Espanha. Essa pintura cujo
autor é desconhecido representa Cristo em Majestade. Contudo, por meio dela é
possível perceber que tanto os pintores como os cartógrafos utilizavam as mesmas
técnicas e as mesmas fontes para expressar as suas concepções e sentimentos a
respeito do homem e do mundo.
20
Conforme Santos (2003, p.61) ―Nesse tipo de pintura, a preparação da parede é muito importante.
Sobre a superfície da parede é aplicada uma camada de reboco à base de cal, que por sua vez, é
coberta com uma camada de gesso fina e bem lisa. É sobre essa última camada que o pintor executa
sua obra. Ele deve trabalhar com a argamassa ainda úmida, pois com a evaporação da água, a cor
adere ao gesso, o gás carbônico do ar combina-se com a cal e a transforma em carbono de cálcio,
completando assim a adesão do pigmento à parede‖.
118
Figura 37 - Cristo em Majestade, pintura românica, séc. XII
Fonte:<http://professoraalicebotelho.blogspot.com.br>.
Acesso em 17 de Outubro de 2014.
Outro afresco de estilo românico foi encontrado na Igreja da Abadia, em
Saint-Savin-Sur-Gartempe, na França. Essa pintura mural do século XII ilustra uma
narrativa bíblica do Livro do Gênesis (já citada anteriormente) que trata da
construção da Torre de Babel. Os elementos que constituem essa pintura
apresentam certa desarticulação espaço-tempo, pois as cenas representadas são
narrativas contidas na Bíblia, portanto, sem correspondência com os conhecimentos
empíricos da época. Na Figura 37, vê-se, em detalhe, tal afresco.
119
Figura 38 - A construção da Torre de Babel - arte de estilo românico.
Fonte:<http://www.zazzle.com.br/a_construcao_da_torre_de_babel_posteres228738186480062366>. Acesso em 17 de Outubro de 2014
Contudo, o aspecto mais marcante dessa pintura é a similitude com o mapamúndi de Hereford, especialmente com uma de suas folhas que representa como
temática a construção da Torre de Babel (como vimos na Figura 24).
A fim de tornar mais nítidas as relações entre a Pintura, a Cartografia e
Geografia medieval, pretende-se dar atenção ao notável desenvolvimento da arte de
estilo gótico. Inclusive, a cartografia moderna apresenta muitos aspectos estéticos,
técnicos e conceituais que são originários do Movimento Gótico.
De acordo com Beckett (2006, p.37):
O estilo gótico teve início com a arquitetura do século XII, no auge da
Idade Média, quando a Europa estava deixando para trás a
lembrança da ―Idade das Trevas‖ e dirigindo-se para uma nova e
radiante era de prosperidade e confiança.
Esse novo estilo arquitetural e artístico se desenvolveu, inicialmente, dentro
das igrejas. As primeiras manifestações góticas são sentidas nas catedrais de
Chartres, Reims e Amens, localizadas no norte da França (BECKETT, 2006).
Não há consenso quanto à origem do termo gótico. Contudo, acredita-se que,
primeiramente, esse termo tenha sido empregado para expressar “à moda francesa”.
Com o tempo, o termo foi sendo utilizado em alusão aos godos, um povo bárbaro
que havia invadido o Império Romano do Ocidente.
120
De acordo com Janson (1977, p.283), ―O termo gótico foi cunhado para a
arquitetura e é nesta que as características do estilo podem ser reconhecidas com
maior facilidade‖. Ao contrário da arquitetura, a pintura gótica não alcançou destaque
imediato; foram necessários muitos anos para o aprimoramento do estilo.
Foi em Paris, na França, que o gótico encontrou as condições ideais para o
seu desenvolvimento, embora não tenha sido nessa cidade que o estilo tenha
aparecido pela primeira vez, ―[...] é ali que nas mãos dos construtores vai até o fim
das conclusões que implica e que, de expediente de reforço, se torna geradora de
toda uma arte‖ (FACILLON, 1993, p.161).
Ainda assim, foi só em meados do século XIII, que os princípios góticos se
sobressaem, definitivamente, a arte de estilo românico das grandes igrejas de
tribunas e de abóbodas pesadas.
Em Paris, graças aos esforços de um monge chamado Suger que esse estilo
realmente se destacou e se valorizou com a reforma da nova Igreja de Saint-Denis
em 1140. De acordo com Shaver-Grandell (1982, p.31-32):
Diversamente das fachadas românicas, de um só portal, [...] a
fachada de Saint-Denis tem três portais, que correspondem às três
principais divisões longitudinais da igreja, a nave central e as naves
laterais.
A Figura 38 ilustra a nova fachada da Igreja de Saint-Denis nos moldes
técnicos da arquitetura gótica. Os principais aspectos observados são a maior
profundidade e a penetração espacial, mas também a geometrização da forma e o
teto apontando em direção ao céu.
121
Figura 39 - A nova fachada da Igreja de Saint-Denis (Paris)
Fonte:<www.skyscrapercity.com> Acesso em 21 de Julho de 2014
As pinturas tipicamente medievais, como, a carolíngia, a otoniana e a
românica, foram concebidas numa perspectiva bidimensional, isto é, elas
representavam a altura e a largura. Desse modo, os objetos e corpos se sobrepõem
uns aos outros, sem que as relações espaciais sejam enfatizadas. Com isso, não é
possível representar e nem visualizar o espaço em perspectiva, isto é, em
profundidade.
As novas técnicas empregadas pela arquitetura gótica passaram a influenciar
o
campo
da
pintura.
Contudo,
tais
características
só
se
manifestaram,
definitivamente, a partir do final do século XIII, principalmente através das obras dos
ilustres mestres florentinos Cenni di Petro Cimabue (1240-1302) e Duccio de Siena
(1255-1319). Esses dois artistas assinalam o processo de nascimento do gótico e de
ruptura com os estilos que o precederam.
No final do século XIII, Cenni di Petro Cimabue, ainda que tímidamente,
apresentou o gótico por meio de duas características espetaculares e de longo
alcance para o desenvolvimento da pintura renascentista. A primeira delas diz
respeito à tentativa de geometrização do espaço, que aparece numa sutil
perspectiva tridimensional, isto é, altura, largura e profundidade. A segunda
característica, diz respeito à tentativa de humanização da Virgem ali representada.
Na Figura 39, tem-se, em detalhe, a Virgem em Majestade de Cimabue, uma obra
122
produzida em 1280. Obviamente, a temática norteadora é a religião cristã. Isso
porque, ali está representada a Virgem em Majestade com o Menino Jesus.
Evidentemente, o artista não estava preocupado com o realismo, uma vez
que quase todas as personagens representadas possuem o mesmo rosto; além do
mais, a parte superior da pintura em forma de triângulo, bem como o desenho das
catedrais menores, apontam para o alto, ou seja, para o céu.
Figura 40- A Virgem em Majestade de Cimabue, séc. XIII
Fonte:http://www.auladearte.com.br/historia_da_arte/cimabue.htm
Acesso em 21 de Abril de 2015
As inovações e tendências picturais manifestadas a partir do século XIII são
consideradas um divisor de águas para o nascimento e o desenvolvimento da teoria
moderna da percepção do espaço geográfico.
Porém, certamente, quem melhor conseguiu expressar o sentimento de
geometrização do espaço foi Duccio de Siena, numa obra produzida, provavelmente,
no início do século XIV. Nela, o artista procurou combinar os elementos góticos e
bizantinos, dando origem a um novo modelo de percepção do espaço pictural. Além
disso, é possível perceber que há uma relevância espacial que resulta na criação da
profundidade arquitetônica. Na Figura 40, conforme o Evangelho de São Lucas
123
(1:26-38)21, tem-se, a Anunciação da Morte da Virgem, pintura de Duccio de Siena
datada de 1308.
Figura 41 - Anunciação da morte da Virgem de Duccio, 1308
Fonte:<https://www.studyblue.com/notes/note/n/l-italy-1200-1400/deck/9874547>
Acesso em 24 de Abril de 2015
Todos os estudiosos da história da arte concordam num ponto: em Florença,
na Itália, a partir do século XV, ocorreram as mudanças mais significativas nas
técnicas de representação do espaço pictural. De acordo com Thuillier (1994, p.58),
a natureza dessas inovações se deve, em particular, ―[...] aos novos métodos da
perspectiva linear, os artistas tornaram-se capazes de dar ‗profundidade‘ a seus
afrescos e baixos-relevos‖.
21
26
Segundo a Bíblia Sagrada (2003) no Evangelho de São Lucas (Lucas 1:26-38): E, no sexto mês,
27
foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, A uma virgem
desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria.
28
E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu
29
entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que
30
saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de
31
Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.
32
Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu
33
34
pai; E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo:
35
Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe:
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso
36
também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel,
tua prima, concebeu um filho em sua velhice; e é este o sexto mês para aquela que era chamada
estéril;
124
Os artistas florentinos desenvolveram uma noção de espaço-sistema, ou seja,
uma representação pictórica mais realística, na medida em que o espaço é figurado
em perspectiva, evidentemente, auxiliado pelo emprego da matemática. Segundo
Thuillier (1994, p.58), nessa concepção:
[...] o espaço é uma espécie de receptáculo transparente, que se
pode caracterizar como tridimensional, homogêneo, isótropo e
infinito. Para representa-lo corretamente, convém recorrer à
―geometria‖, ao estudo das ―proporções‖, ao cálculo das ―dimensões
aparentes‖.
Para
que
a ciência
moderna, baseada
nos princípios matemáticos
e
experimentais, pudesse se desenvolver plenamente, era necessário e fundamental
que a percepção do espaço e do tempo estivessem bem avançadas. Portanto, pode
ser dito que os pintores europeus facilitaram o trabalho daqueles que promoveram a
Revolução Científica entre os séculos XVI e XVIII. Isso porque, eles (pintores) foram
os primeiros a construírem a moderna noção de espaço por meio da técnica da
perspectiva.
Numa obra de arte do século XV, há uma pintura a óleo sobre tela que
também ilustra a Anunciação da Morte da Virgem; ela é de autoria de Leonardo da
Vinci (1452-1519). Na Figura 41 pode ser visto o amadurecimento da técnica da
perspectiva, pois a imagem possibilita a representação e a percepção dos objetos
numa realidade tridimensional, isto é, em altura, largura e profundidade. Além do
mais, até a natureza apresenta contornos geométricos perfeitos; basta observar o
desenho das árvores. Ainda na aludida obra, percebe-se que o ponto de fuga se
estende até o infinito.
125
Figura 42 - Anunciação da Morte da Virgem de Leonardo da Vinci de 1472-1475
FONTE:<http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2012/11/08/980667/conhecaanunciaco-leonardo-da-vinci.html>. Acesso em 07 de Maio de 2015.
Nesse sentido, graças ao emprego da matemática foi possível criar a ilusão
do espaço em profundidade e da distancia numa superfície plana. Possivelmente,
essa tenha sido a razão para Galileu Galilei (1564-1642) ter se dedicado, primeiro,
ao estudo da pintura e só depois ter mergulhado no estudo da física (THUILLIER,
1994).
Certamente, os aspectos mais relevantes da arte Renascentista são o
desenvolvimento e o amadurecimento da técnica da perspectiva e o processo de
geometrização do espaço e das formas.
Apesar das inovações de ordem técnica, a temática norteadora ainda
continuou sendo a exaltação dos ícones do cristianismo católico. Por exemplo, na
Capela de Santa Mara de Florença, na Itália, há uma pintura em afresco do século
XV de autoria de Tommaso di Giovanni Guidi (1401-1428), o Masaccio. Essa obra
ficou conhecida como A Santíssima Trindade (ver a Figura 42).
É evidente, que o Masaccio usou de forma consciente e sistemática a
perspectiva linear que parece concentrar-se num ponto de fuga comum ao desenho.
Embora o tema dessa pintura represente ser uma analogia à Santíssima Trindade
(tal qual o mapa-múndi de Ebstorf, que traz o mundo disposto sobre o corpo do
Cristo crucificado) é nítido que essa obra apresenta algumas inovações técnicas,
como a sistematização, a geometrização e o ponto de fuga.
126
Figura 43 - A Trindade, de Tommaso di Giovanni Guidi, em 1425
Fonte:<https://camel76.wordpress.com/tag/masaccio/>. Acesso em Abril de 2015
Estudar a moderna concepção de espaço é, antes de tudo, estudar a história
da arte. Conforme aponta Thuillier (1994, p.60), os ―Pintores, escultores e arquitetos
operaram de fato uma espécie de revolução silenciosa, ao imaginar e representar
um espaço homogêneo e, depois, ao geometrizá-lo‖.
A evolução da arte renascentista é um dos elementos de maior profundidade
em relação ao nascimento e ao desenvolvimento da Ciência Moderna no século XVI.
Para a Geografia e a Cartografia, é evidente que essa nova organização e/ou
concepção do espaço pictórico foi fundamental uma vez que o novo sentido espacial
passa a ser considerado homogêneo, infinito, dotado de unidade e, portanto,
suscetível de ser quantificado e mensurado.
Na atualidade, em razão da especialização do saber científico, que representa
a fragmentação/compartimentação dos conhecimentos, o estudo da arte é
subjugado, quando não desprezado, pelas ciências ditas humanas e exatas. Além
disso, a arte e o seu ensino nas escolas são completamente descontextualizados de
outras áreas do conhecimento, mas a geometrização e a mensuração do espaço,
ocorridas a partir do século XIV, pertencem a todas.
Embora a geometrização do espaço esteja relacionada, de imediato, com a
invenção da técnica de perspectiva e esta com a invenção do ponto de fuga (onde
as linhas paralelas se unem no infinito), há que se tomar cuidado para não se cair no
127
exagero abusivo das generalizações puramente matemáticas. Afinal, nessa nova
leitura/percepção do espaço, havia também alguma coisa de espontâneo e mais
intuitivo, que poderia ser:
Uma nova maneira de olhar o mundo, de ―sentir‖ sua organização, de
imaginar suas estruturas. Se as questões puramente geométricas se
revestiram de tanta importância, foi em função de preocupações
extremamente variadas, que iam da estética e da óptica à artilharia e
à teologia...(THUILLIER, 1994, p.61).
A suposição de Thuillier (1994) merece destaque, pois possibilita considerar
outros aspectos totalmente diversos daqueles sob os quais se considera,
essencialmente, uma revolução matemática.
O maior legado transmitido pelo Renascimento foi a noção de espaço
absoluto, isto é de, um espaço que existe em si mesmo e por todo o sempre. O
pensamento renascentista, pois, foi determinante para a criação de uma nova ordem
espacial, que resulta, na verdade, da própria vivência/experiência do homem.
Na realidade, é uma transformação que ocorre na própria natureza da
racionalidade
humana
e
que
torna
a
representação
do
espaço
mais
racional/quantificável/mensurável. Nesse sentido, o que é o ponto de fuga senão
uma realidade física suscetível de ser calculada matematicamente? Não é a própria
expressão de linhas paralelas se encontrando no infinito tal qual A Trindade, de
Tommaso di Giovanni Guidi?
Na Antiguidade Clássica, Claudio Ptolomeu, um dos pioneiros a estudar os
temas propriamente geográficos, já havia proposto, mesmo que fortuitamente, no
seu mapa-múndi citado no capítulo I, uma geometrização sugestiva. Ainda que sem
a rigorosidade absoluta, ele apresenta uma ―perspectiva clássica‖, isto é, uma
―quase-perspectiva‖.
A Europa cristã e medieval, conforme já exposto nos capítulos anteriores, não
continuou o trabalho dos clássicos. Contudo, ainda que se leve em consideração as
estruturas sociais e políticas que perduraram durante a Idade Média, os homens
medievais, salvo algumas exceções, não reconheceram aquela herança científica e
intelectual.
Apenas no século XII, em termos de Europa, as principais obras de Euclides
de Alexandria e de Cláudio Ptolomeu começam a ser lidas e debatidas novamente.
Conforme Thuillier (1994, p.78), ―É bem provável que a Geografia de Ptolomeu, que
128
os florentinos conheceram no início do século XV, tenha estimulado as pesquisas
sobre a representação do espaço‖. Todavia, é pertinente destacar, que, a partir
desse momento, tem início uma série de transformações de ordem técnica,
econômica, social e cultural que corrobora para o nascimento de um novo tempo e
de um novo espaço.
As transformações mais importantes ocorreram a partir do século XV e foram
extremamente significativas para que se criasse uma nova concepção de espaço. E
é, nesse sentido, que o desenvolvimento do capitalismo florentino ajudou, embora
não tenha sido o único fator.
Na
Baixa
Idade
Média,
a
sociedade
se
torna
mais
dinâmica
e,
correlativamente, vai se desenvolvendo uma nova mentalidade, que se caracteriza,
principalmente, pelo realismo e pela racionalização da natureza, bem como pela
mensuração do espaço e do tempo.
Convém ainda assinalar, que os princípios matemáticos, de fato, estavam
mais presentes na Baixa Idade Média do que haviam estado na Alta Idade Média.
Por conseguinte, ela (a matemática) se tornou indispensável para responder às
novas demandas práticas (comerciais, bancárias, contábeis etc,).
Portanto, conforme salienta Crosby (1999, p.159):
À medida que esses incentivos se modificaram, o mesmo se deu
com a percepção da luz, da extensão e do espaço e com a
representação apropriada de cenas tridimensionais em superfícies
bidimensionais.
O matemático, pintor, ilustrador e teórico de arte alemão Albrecht Durer (1471
- 1528), num tratado de 1525, intitulado Instrução de Medição, ensinou vários
métodos sobre a arte da representação gráfica em três dimensões, ou seja, altura,
largura e profundidade espacial. Até então, ele foi quem melhor ofereceu uma visão
memorável na busca pela geometrização do espaço; além disso, utilizou-a de forma
sem precedentes numa xilogravura22 ao desenhar um artista pintando uma mulher
seminua em reclinação. Na Figura 43, vê-se, em detalhe, a obra de Albrecht Durer.
22
Xilogravura é uma técnica de gravura na qual se emprega a madeira como matriz que possibilita a
reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte.
129
Figura 44 - Mulher em Reclinação, de Albrecht Dürer, 1525
Fonte:<http://lucyvivante.net/tag/camera-obscura/>. Acesso em Abr. 2015
Sem dúvida, o Renascimento Cultural e Científico tornou-se o fio condutor
dessa aproximação simétrica entre a arte da pintura, a geografia e a cartografia, haja
vista o nascimento de um novo sentido espacial. Ainda assim, é pertinente destacar,
que os autores clássicos, entre eles o respeitado Cláudio Ptolomeu, já haviam
indicado essa aproximação.
Desse modo, o mapa-múndi de Cláudio Ptolomeu já propunha os conceitos
de projeção cartográfica e de geometrização. Na realidade, o aludido mapa pode ser
considerado como um protótipo na tentativa de elucidação da técnica em
perspectiva.
A importância da cartografia ptolomaica foi exaltada pelo arquiteto, artista e
humanista italiano Leon Battista Alberti (1404-1472). Na sua estada em Roma,
Alberti se dedicou ao estudo da Geografia de Ptolomeu. Em 1432, ele elaborou um
mapa da cidade italiana com base nos princípios geométricos que haviam sido
postulados na Geografia de Cláudio Ptolomeu, visto que ―A ideia de utilizar
sistematicamente um ‗quadriculado‘ para decompor, medir e representar o espaço já
estava praticamente expressa naquela obra (paralelas e meridianos) [...]‖
(THUILLIER, 1994, p.80).
Na Figura 44, vê-se, o mapa de Roma, de 1432, em perspectiva clássica, de
autoria de Leon Battista Alberti. Provavelmente, ele, tenha utilizado as técnicas de
130
projeção que haviam sido idealizadas por Claudio Ptolomeu ainda na Antiguidade
Clássica.
Figura 45 - Roma em perspectiva clássica, em 1432
Fonte:<https://f12arch531project.wordpress.com/2012/10/>
Acesso em 27 de Maio de 2015.
Cabe ressaltar, que as ideias e as obras dos autores clássicos,
frequentemente taxadas como pagãs, foram extremamente úteis para o Movimento
Renascentista, haja vista o processo de geometrização e de mensuração do espaço.
Embora isso não implique afirmar que a redescoberta, por exemplo, de Ptolomeu
tenha sido a razão principal das grandes transformações científicas, ocorridas,
sobretudo, aquelas do século XV em diante. Na realidade, foi um conjunto de fatores
e elementos que, combinados, implicaram em grandes mudanças sociais, culturais,
científicas, políticas e econômicas.
Ainda neste sentido, a arte e a cartografia moderna parecem emergir de um
mesmo ponto e convergir numa mesma direção, isto é, à invenção da noção da
perspectiva clássica e das projeções cartográficas.
Quanto à Geografia, se levarmos em consideração a percepção e a
representação do espaço, e estabelecermos algumas comparações entre o saber
131
geográfico clássico e aquele produzido durante a Idade Média e ainda levarmos em
conta as grandes transformações técnicas e conceituais oriundas do Movimento
Renascentista europeu é possível identificar vários níveis de conhecimentos e
estilos de Geografia.
Desse modo, seguramente, se confrontarmos o saber geográfico e
cartográfico greco-romano com aquele da Idade Média, nos parece que se delineiam
diferenças significativas no modo de produção e sistematização dos conhecimentos
acerca da superfície terrestre. Basta recordarmos do mapa-múndi de Cláudio
Ptolomeu, e compará-lo com os mapas-múndi de Ebstorf e de Hereford.
Contudo, é possível estabelecer uma relação mais clara entre o Movimento
Renascentista a Antiguidade Clássica. Isso porque, voltaram a ser empregados, de
maneira mais eficiente, os conhecimentos científicos e matemáticos para reproduzir
a realidade com maior fidelidade. Na pintura, por exemplo, as técnicas da
perspectiva e da geometrização das formas foram largamente utilizadas para
representar a ilusão da profundidade espacial.
A natureza das grandes transformações sociais e científicas ocorridas na
Europa Ocidental, na Alta Idade Média, não pode ser atribuída unicamente à crise
do sistema feudal. De fato, elas são o resultado de uma mudança mais profunda,
especialmente na mentalidade do homem medieval, que, de forma mais dinâmica e
processual, desenha uma nova representação do mundo que corresponde, a
princípio, aos anseios e as perspectivas da sociedade mercantilista.
Portanto, o Movimento Renascentista incita a criação de uma nova
mentalidade, que foi capaz de provocar mudanças epistemológicas fundamentais
para o avanço dos conhecimentos artísticos, geográficos e cartográficos.
Como o objetivo dessa Disertação consiste em chegar até o início do
Movimento Renascentista europeu e apresentar alguns traços e características que
delinearam essas grandes mudanças, especialmente àquelas vinculadas ao
processo de sistematização, mensuração e geometrização do espaço geográfico,
apresenta-se um mapa-múndi confeccionado em 1507, pelo alemão Martin
Waldseemüller (1470-1520).
No aludido mapa, além do resgate das linhas de grade (latitude e longitude),
bem como do aspecto realístico no tratamento das distâncias e contornos, pela
primeira vez aparece representado um suposto quarto continente, a América. Mas,
não se sabia, ao certo, se era ou não um continente. Sim, é verdade que o
132
continente aparece bastante deformado; contudo, o que mais nos chama a atenção
é o distanciamento da visão religiosa e o nascimento de uma nova concepção do
espaço mundial. Na Figura 45, vê-se, o mapa-múndi de Martin Waldseemüller.
133
Figura 46 - Mapa-múndi de Martin Waldseemüller, em 1507
Fonte:<http://coligacaopoetica.blogspot.com.br/2012/02/planisferio-de-martinwaldseemuller.html>. Acesso em 27 de Maio de 2015
134
A partir da confecção do mapa-múndi de Martin Waldseemüller, em 1057,
assiste-se a um relativo processo de distanciamento dos princípios aristotélicos e
religiosos que haviam fundamentado a visão de mundo do homem medieval. Desse
modo, pintores, cartógrafos, geógrafos, arquitetos, engenheiros, filósofos, entre
outros, empreenderam esforços consideráveis na tentativa de tornar o mundo mais
inteligível, isto é, de acordo com as novas demandas surgidas com o mercantilismo.
Na pintura, como exemplo de decadência da inclinação ao sentimento
religioso, apresenta-se a Monalisa, também conhecida como Gioconda (a
sorridente), uma obra do artista renascentista Leonardo da Vinci. Na realidade, essa
pintura contrasta com o mapa-múndi de Waldseemüller. Portanto, ela representa a
criação da harmonia entre a humanidade e a natureza. Na Figura 46, vê-se, em
detalhe, tal obra.
Figura 47 - A Monalisa, de Leonardo da Vinci (1503 - 1506)
Fonte:<http://falacultura.com/curiosidades-sobre-leonardo-da-vinci/>.
Acesso em 01 de Junho de 2015
135
Pois, a partir do século XV, o Ocidente processou uma mudança na
percepção do espaço, muito em razão da mudança da mentalidade. Mas, também,
nesse processo, corroboraram as inovações técnicas e científicas, bem como o
aumento do intercâmbio comercial, populacional e cultural.
Diante de tudo o que foi exposto, entendemos que foi possível demonstrar as
relações e similitudes entre a pintura, a produção cartográfica e a geração dos
conhecimentos geográficos durante a Idade Média. A esse respeito, é possível dizer
que a moderna concepção de espaço nasce, inicialmente, na esfera da pintura,
para, posteriormente migrar, para a cartografia e a geografia.
136
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa pesquisa, procurou-se discorrer sobre a unidade de perspectivas entre a
Geografia e a Cartografia medievais, relacionando-as com as artes visuais.
Contudo, antes, foi necessário voltar-se o olhar à Antiguidade Clássica. Desse
modo, foi possível compreender que os gregos foram os pioneiros na produção de
conhecimentos geográficos e cartográficos mais sistematizados e organizados.
Basta se lembrar dos mapas-múndi de Eratóstenes de Cirene e de Claudio
Ptolomeu, construídos com base em técnicas sofisticadas e com um realismo sem
precedentes até então.
Em seguida, antes de entrar na discussão que envolve a produção geográfica
e cartográfica medieval, foi necessário promover algumas reflexões acerca da
própria Idade Média. Ou seja, procurou-se desconstruir o discurso teórico-discursivo
que caracteriza esse período com a nada lisonjeira alcunha de ―Idade das Trevas‖.
Posteriormente, pudemos ver a importância do papel desempenhado pelo
pensamento analógico no processo de construção dos conhecimentos geográfico e
cartográfico, bem como na idealização das representações artísticas, na Idade Média.
Com a crise do Império Romano, a partir do século V, delineia-se uma nova
tendência no processo de construção dos conhecimentos geográfico e cartográfico.
Essa tendência se caracteriza pelo distanciamento ante os valores e princípios
matemáticos e realísticos que havia fundamentado a produção do saber na
Antiguidade clássica.
Ficou evidente, que o homem medieval se via inclinado a pensar a realidade
como uma manifestação de algo que transcendia o mundo natural. Nesse sentido,
para bem compreender o processo de desenvolvimento do conhecimento, é
necessário considerar o papel desempenhado pelo pensamento analógico. Pois, o
homem medieval não se via atraído a pensar em termos da moderna lógica,
caracterizada pela precisão e pela busca de verdades absolutas e incontestes. Para
eles, importava mais a verdade revelada e sustentada pela fé.
A população da Europa Ocidental, entre os séculos V e XVI, estava
condicionada a viver sob a forte influência da religião cristã católica. Pois, a palavra
registrada na Bíblia foi, ao longo da Idade Média, o grande modelo da literatura, da
iconografia e, em larga medida, de toda a cultura cristã.
137
Durante a Idade Média, as reformulações no processo de construção dos
conhecimentos geográficos e cartográficos, em relação ao período anterior, apontam
para novas formas de se pensar, interpretar e representar a realidade. Portanto,
esses saberes em nada eram experimentais, tão pouco matemáticos. Basta
lembrarmo-nos dos mapas-múndi de Ebstorf e de Hereford para se compreender a
percepção espacial que tinha os homens medievais. Neles, fica evidente a total
desarticulação espaço-tempo, na medida em que personagens e cenas de épocas
passadas e de existência duvidosa se misturam confusamente num mesmo
ambiente.
Desse modo, a Geografia e a Cartografia medievais estiveram distantes do
realismo e da utilidade prática, em razão da supervalorização dos conhecimentos
justificados pelo crivo da fé. Contudo, devemos observar que ambos os saberes
expressam significações mais amplas. A propósito, elas manifestam os padrões de
pensamento e sentimentos do homem cristão e medieval diante da vida e do mundo.
Nessa pesquisa, foi possível demonstrar como em várias situações e
ocasiões, foi possível identificar as congruências e similitudes entre a Geografia, a
Cartografia e a Pintura medievais, principalmente no que tange à construção e
representação da noção de espaço.
Essa relação se manifesta já nos primeiros séculos da Alta Idade Média.
Embora essa ligação seja mais perceptível na Baixa Idade Média, com o inicio das
grandes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que estimulara o
nascimento de um novo sentido espacial, sobretudo no Renascimento.
As pinturas da fase inicial da Idade Média fornecem um espaço-agregado, ou
seja, os objetos e as pessoas estão justapostos sobre um plano no qual as relações
e as ilusões espaciais não são enfatizadas ou destacadas. Desse modo, a
representação da realidade era suprimida, pois a Pintura medieval, assim como a
Geografia e a Cartografia, serviam como fonte de instrução e guia espiritual, uma
vez que o principal objetivo era transmitir uma mensagem significativamente sacra
aos irmãos de fé.
O único elemento que se faz presente desde a primitiva arte cristã até o
nascimento do gótico, foi a cosmovisão apoiada em bases metafísicas. Portanto, na
pintura, assim como na Geografia e na Cartografia, predominou uma mesma lógica,
na medida em que representa temas e personagens bíblicos totalmente desconexos
138
com a experiência espacial. Basta lembrarmo-nos dos mapas-múndi de Ebstorf e de
Hereford, construídos sobre o primado religioso.
Na realidade, o homem medieval percebia o espaço como uma extensão do
além, uma manifestação direta daquilo que estava contido na mente do Criador.
Desse modo, a concepção religiosa, bem como os conceitos e ideias encontradas
na Bíblia, passam a orientar toda a produção artística e científica.
As inovações técnicas e conceituais apresentadas pela arte de estilo gótico a
partir do século XII/XIII, são consideradas um divisor de águas no tangente ao
desenvolvimento da noção moderna de espaço.
Os artistas florentinos desenvolveram uma noção de espaço-sistema, ou seja,
uma representação pictórica mais realística, na medida em que o espaço é figurado
em perspectiva, isto é, em profundidade, indicando a geometrização das formas e
das distâncias.
A evolução da arte renascentista é um dos elementos de maior profundidade
em relação ao nascimento e desenvolvimento da Ciência Moderna no século XVI.
Para a Geografia e a Cartografia, ficou evidente que essa nova organização e/ou
concepção do espaço pictórico foi, portanto, essencial para o seu desenvolvimento.
Visto que, o novo sentido espacial passa a ser considerado homogêneo, infinito,
dotado de unidade e, portanto suscetível de ser mensurado.
Com o mapa-múndi de Martin Waldseemüller produzido em 1507, procura-se
apresentar o início das grandes mudanças técnicas e conceituais que estavam por
desabrochar em toda a Europa. Portanto, o Renascimento se apresenta com novas
perspectivas para a Geografia e a Cartografia.
Desse modo, pintores, cartógrafos, geógrafos, arquitetos, engenheiros,
filósofos, entre outros, empreenderam esforços consideráveis na tentativa de tornar
o mundo mais inteligível, isso é, em acordo com as novas demandas surgidas com o
mercantilismo.
Pois, a partir do século XV, o Ocidente processou uma mudança na
percepção do espaço, muito em razão da mudança da mentalidade. Mas também,
nesse processo, corroboraram as inovações técnicas e científicas bem como o
aumento do intercâmbio comercial e cultural.
Diante de tudo o que foi exposto, entendemos que foi possível demonstrar as
relações e similitudes entre a pintura medieval e a produção dos conhecimentos
geográfico e cartográfico na Idade Média. Pois, a moderna concepção de espaço,
139
nasce inicialmente na esfera da pintura, para posteriormente migrar para a
cartografia e a geografia.
Por hora, não será possível analisar o papel desempenhado pelas mudanças
do novo padrão de pensamento que se desenvolveram na Europa ocidental,
sobretudo a partir do século XV. Contudo, podemos afirmar que essas alterações
foram extremamente significativas para o desenvolvimento da Geografia e da
Cartografia modernas. Sendo assim, pretendemos resgatar esse estudo em outro
momento exatamente de onde paramos, na aurora da Modernidade.
140
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO. N. Dicionário de Filosofia. Tradução Alfredo Bosi. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
AGOSTINHO. S. Confissões, Livros VII, X e XI. Tradutores: Arnaldo do Espírito
Santo / João Beato / Maria Cristina / Castro-Maia de Sousa Pimentel. Colecção :
Textos Clássicos de Filosofia. Direcção da Colecção : José M. S. Rosa & Artur
Morão. Design da Capa : António Rodrigues Tomé. Composição & Paginação : José
M. S. Rosa. Universidade da Beira Interior. Covilhã, 2008.
ALMEIDA, A. C. L. Pensando o fim da Idade Média: a longa Idade Média de Le Goff
e a colonização da América de Bacshet. In: Revista tempo de conquista. Vol. 7, p.
1 – 15, 2010.
AMARAL, R. Isidoro de Sevilha: Natureza e valoração de sua cultura pela Hispânia
tardo antiga. In: Revista Brathair. Vol. 8, n. 1, p. 40–49, 2008.
ANDRADE, M. C. de. Geografia, ciência da sociedade: uma introdução à análise
do pensamento geográfico. São Paulo: Editora Atlas, 1987.
ARAUJO. V. C. D. Imago mundi, imago Christi – o mappa mundi de Ebstorf e a
localização da Germânia imperial na Geografia simbólica da Idade Média Central.
Editorial Brathair 12 (1), 2012: 3-24. ISSN 1519-9053.
BAUAB, F. P. Idade média e conhecimento geográfico. In: Revista Faz Ciência. Vol.
9, n. 9. 2007.
BAUAB, F. P. Do conhecimento geográfico medieval à geografia geral (1650) de
Varenius: uma contribuição ao estudo da história e da epistemologia da
geografia. Cascavel: EDUNIOESTE, 2012. 163 p.
BECKETT. W. História da Pintura. Tradução Mário Vilela. Editora Ática. São Paulo,
2006.
BIRARDI. A.; CASTELANI. G. R.; BELATTO. L. F. B. O Positivismo, Os Annales e
a Nova História. ANO II; Klepsidra: Revista virtual, 2001- dialnet.unirioja.es / Nº 7,
Abril-Maio de 2001. Acesso em 18 de Fevereiro de 2015.
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução Monges de Maredsous (Bélgica)
revisada por Frei João José Pedreira de Castro. São Paulo - Brasil: Editora Ave
Maria, 2003. Edição Pastoral-Catequética.
BOORSTIN, D. J. Os descobridores: de como o homem procurou conhecer-se a
si mesmo e ao mundo. Tradução de Fernanda Pinto Rodrigues. Civilização
Brasileira, Rio de Janeiro, 1989.
141
BOTTOMORE. T. Dicionário do Pensamento Marxista. Tradução Waltensir Dutra.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
BULFINCH. T. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis.
Tradução David Jardim. – Rio de Janeiro: Pocket Ouro, 2009.
CAPPELLARI. M. S. V. A Arte da Idade Média como construtora de um conceito
visual de mal. Mirabilia Journal: Revista Eletrônica da Antiguidade Idade & Mídia.
Espanha, Jan-Jun 2011/ISSN 1676-5818. Acesso em 06/07/2014.
CARVALHO. M. S. A geografia desconhecida. Londrina: Eduel, 2006.
CARREIRA. P. & ALVES-JESUS. S. Ideias de Europa na Antiguidade Clássica: A
Geographia de Estrabão na Roma de Augusto. DEBATER A EUROPA. Periódico
do CIEDA e do CIEJD, em parceria com GPE, RCE e o CEIS20. N.4
Janeiro/Junho 2011 – Semestral. ISSN 1647-6336. Disponível em:
http://www.europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/. Acesso em: 04/04/2014.
CROSBY, A. W. A mensuração da realidade: a quantificação e a sociedade
ocidental, 1250 – 1600. Tradução Vera Ribeiro. – São Paulo: Editora UNESP, 1999.
(UNESP/Cambridge).
DREYER-EIMBCKE, O. O descobrimento da Terra: história e histórias da
aventura cartográfica. São Paulo: Melhoramentos: Edusp, 1992.
DE MARTONNE, E. Panorama da Geografia. v. 1. Lisboa: Cosmos, 1953. 979p.
ECO. U. Arte e Beleza na estética medieval. Tradução de Mário Sabino Filho. Rio
de Janeiro: Record, 2014.
FRANCO JÚNIOR. H. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. 2. ed. São Paulo:
Brasiliense, 2001.
FRANCO JÚNIOR. H. Modelo e imagem: O pensamento analógico medieval.
Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre I BUCEMA Hors-série n° 2
(2008) Le Moyen Âge vu d‘ailleurs.
FRANCO JÚNIOR, H. Os três dedos de Adão: Ensaios de Mitologia Medieval.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.
FRANCO JÚNIOR. H. Similibus simile cognoscitur. O pensamento analógico
medieval. Medievalista [Online], 14 | 2013, posto online no dia 01 Julho 2013,
consultado no dia 15 Junho 2014.URL : http://medievalista.revues.org/344.
FACILLON. H. Arte do ocidente: a Idade Média românica e gótica. Tradução José
Saramago. - 2 ed. Editorial Estampa, Lisboa, 1993.
FOUCAULT. M. As Palavras e as Coisas: Uma arqueologia das ciências
humanas. Tradução Salma Tannus Muchail. - 8ª ed. - São Paulo: Martins Fontes,
1999. - (Coleção tópicos).
142
GOMBRICH. E. H. A história da arte. Tradução Álvaro Cabral. – Rio de Janeiro:
LTC, 2006.
GOMES. P. C. da C. Geografia e Modernidade. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2005.
GRIMME. E. G. Pintura medieval. Editorial Verbo: Lisboa, 1968.
HAUSER. A. História social da Arte e da Literatura. Tradução Álvaro Cabral.– São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
JANSON. H. W. História da Arte: Panorama das Artes Plásticas e da Arquitetura
Da Pré-História à Actualidade. Tradução Ferreira de Almeida J. A. Colaboração
Maria Manuela Rocheta Santos. 3ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa,
1977.
KIMBLE, G. H. T. A Geografia na Idade Média. Tradução Márcia Siqueira de
Carvalho. – 2 ed. rev. – Londrina: Eduel, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo, 2005.
LE GOFF. Jacques. SCHMITT, Jean-Claude (orgs). Dicionário temático do
Ocidente Medieval. Coordenação da tradução Hilário Franco Júnior. Bauru, SP:
EDUSC; São Paulo, 2002. 2 v.
LEMOS. J. C. F. Para uma história da designalidade. Tese de doutorado. UFRGS,
Porto Alegre, 2010.
MACHADO. H. G. Resenhas: Franco Júnior, Hilário: Cocanha: a história de um
país imaginário. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998. 313p. Preparada pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 4,
n. 5, p. 43-52, dez. 1999.
MORALES. M. R. A evolução dos mapas através da história. Subdelegación del
Gobierno de Granada; Universidad de Granada. Tradução e ampliação: Iran Carlos
Stalliviere. Corrêa; Museu de Topografia Prof. Laureano Ibrahim Chaffe;
Departamento de Geodésia – Instituto de Geociências – UFRGS Porto Alegre-RS,
Brasil, Setembro de 2008.
NOVAES. A. Experiência e destino. In: Novaes, Adauto (org). A Descoberta do
Homem e do Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (Col. Brasil 500
anos).
PARMEGIANI. R. F. A geografia do além nas iluminuras dos beatus – alta idade
média. In: VI Simpósio Nacional de História Cultural. Escritas da História: Ver Sentir – Narrar. Universidade Federal do Piaui - UFPI. Teresina – PI. 2012.
RANDLES. W. G. L. Da Terra plana ao globo terrestre: uma mutação
epistemológica rápida (1480 – 1520). Tradução de Maria Carolina F. de Castilho. –
Campinas, SP: Papirus, 1994.
143
REALE. G. ANTISERI. D. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. São
Paulo: PAULUS, 1990.- (Coleção filosofia).
RIBEIRO. M. E. B. A cartografia medieval. O mundo dos homens e o mundo de
deus. OPSIS, Catalão, v. 10, n. 2, p. 27-42 - jul-dez 2010.
ROCHA, G. O. R. da. Geografia clássica – uma contribuição para historia da
ciência geográfica. Revista de educação, cultura e meio ambiente- Dez.-N° 10, Vol
I, 1997.
RODRIGUES. L. P. Analogias, modelos e metáforas na produção do
conhecimento em ciências sociais. Pensamento Plural | Pelotas [01]: 11 – 28,
julho/dezembro 2007.
SANTOS. D. A reinvenção do espaço: diálogos em torno da construção do
significado de uma categoria. São Paulo: Editora UNESP, 2002.
SANTOS. M. G. V. P. dos. História da arte. São Paulo: Ática, 2003.
SHAVER-GRANDELL. A. História da arte da Universidade de Cambridge: A Idade
Média. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Círculo do Livro, 1982.
SODRÉ. N. W. Introdução à Geografia: Geografia e ideologia. Petrópolis: Vozes,
1987.
SOARES DE DEUS. P. R. Usos, Autoria e Processo de Confecção do mapamúndi de Hereford, século XIII. Revista de História e Estudos Culturais.
Janeio/Fevereiro/Março de 2006. Vol. 3, Ano III, nº 1, ISSN 1807-6971. Disponível
em: http:revistafenix.pro.br. Acesso em: 01/07/2014.
THUILLIER. P. De Arquimedes a Einsten: a face oculta da invenção científica.
Tradução Maria Inês Duque-Estrada.- Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; 1994.