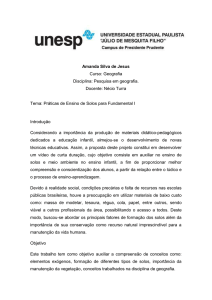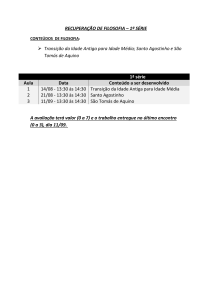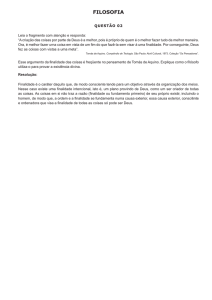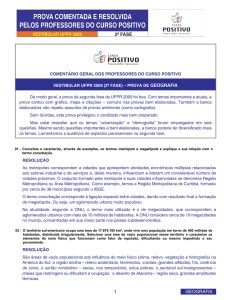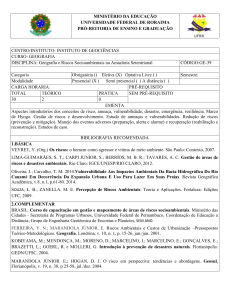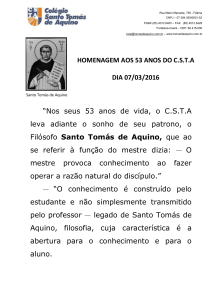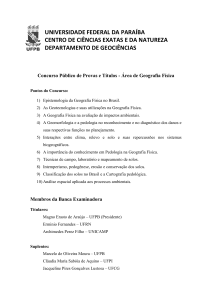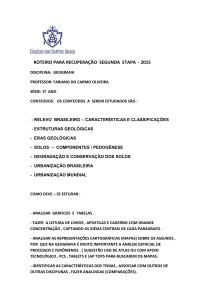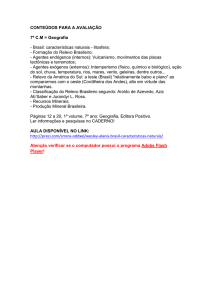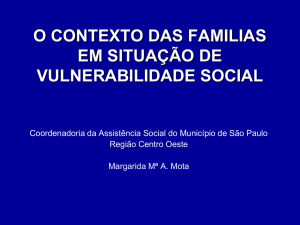Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Revista Brasileira de
Geografia Física
ISSN:1984-2295
Homepage: www.ufpe.br/rbgfe
Análise da vulnerabilidade natural e do risco de degradação no alto curso do rio BanabuiuCE
Renê Pedro de Aquino – Universidade Estadual do Piauí – Teresina – Piauí – Brasil. [email protected]
Gustavo Souza Valladares – Universidade Estadual do Piauí – Teresina – Piauí – Brasil. [email protected]
Cláudia Maria Sabóia de Aquino – Universidade Estadual do Piauí – Teresina – Piauí – Brasil. [email protected]
Clécia Cristina Barbosa Guimarães – Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – Ceará – Brasil. [email protected]
Ricardo Marques Coelho – Instituto Agronômico de Campinas – São Paulo – Brasil. [email protected]
Artigo recebido em 04/03/2016 e aceito em 16/05/2016
RESUMO
O presente trabalho teve como objetivos caracterizar o meio físico na região do alto curso do rio Banabuiu, Sertão Central
do Ceará, a partir de uma abordagem sistêmica, identificando diferentes unidades de relevo, avaliando seus graus de
vulnerabilidade natural, bem como os riscos de degradação frente ao uso das terras. Para tanto, foram elaborados mapas
de geologia, declividade, unidades de relevo e de solos. A sobreposição dos referidos mapas a partir do método de
multicritério aditivo, permitiu a geração do mapa de vulnerabilidade natural, que cruzado ao mapa de uso e cobertura das
terras pelo mesmo método, originou o mapa de risco de degradação. Foram identificadas as seguintes unidades de relevo
Interflúvios Estruturais, Cristas Residuais, Superfície Colinosa, Encosta Estrutural Dissecada, Pediplano Dissecado, Vale
do rio Banabuiu e os Inselbergues. Quanto à vulnerabilidade natural constatou-se que em 10,10%, 44,84%, 19,52%,
12,59% e 11,82% esta variou de baixa, moderada, alta, muito alta e altíssima respectivamente. A analise do mapa de
degradação, resultado da sobreposição do mapa de fragilidade ao de uso e cobertura das terras permitiu inferir que 2,97%,
25,83%, 35,57%, 17,10% e 15,60% das terras da área de estudo apresentaram risco de degradação baixo, moderado, alto,
muito alto e altíssimo, respectivamente. Constatam-se mudanças substanciais entre as classes, revelando uma forte
pressão antrópica, e o comprometimento dos recursos naturais.
Palavras-Chave: Abordagem sistêmica. Vulnerabilidade. Degradação.
Analysis of natural vulnerability and risk of degradation in upper course of Banabuiu River –
CE
ABSTRACT
This study aimed to characterize the physical environment in the region of the upper course of the river Banabuiú, Ceará
Central Wilderness, from a systemic approach, identifying different landscape units, assessing their degree of natural
vulnerability and the risk of degradation by the use of land. Therefore, geology maps were drawn, slope, relief and soil
units. The overlap of these maps from multicriteria additive method, allowed the creation of a map of natural vulnerability,
which crossed with the map of use and coverage of land by the same method, originated the degradation risk map. The
following relief units were identified: structural interfluves, residual ridges, hilly area, dissected structural hill, dissected
pediplain, Banabuiú river valley and inselbergs. As the natural vulnerability, is found that for 10.10%, 44.84%, 19.52%,
12.59% and 11.82% this varied from low, moderate, high, very high and very high, respectively. The analysis of the
degradation map, resulting from the overlap of the fragility map and the use and coverage of land map allowed to infer
that 2.97%, 25.83%, 35.57%, 17.10% and 15.60% of the land of the study area showed low risk of degradation, moderate,
high, very high and very high, respectively. Substantial changes are seen between classes, revealing a strong anthropic
pressure, and the commitment of natural resources.
Keywords: Systemic Approach. Vulnerability. Degradation.
Introdução
O conhecimento das condições ambientais
é fundamental para o entendimento de sua
dinâmica, bem como para um manejo mais
adequado dos recursos naturais, possibilitando,
dessa forma, o uso sustentável de tais recursos. A
abordagem integrada permite a análise e
compreensão dos processos dinâmicos atuantes na
paisagem, bem como as relações entre os
elementos
e
fatores
geomorfológicos,
climatológicos, pedológicos, hidrológicos e
antropológicos no meio considerando para isso a
transferência de matéria e energia.
601
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Bertrand (2004) considera a paisagem,
entendida como uma porção do espaço, resultante
de uma combinação dinâmica, portanto instável, de
elementos físicos, biológicos e antrópicos que,
reagindo dialeticamente uns sobre os outros, a
fazem um conjunto único e indissociável, em
perpetua evolução. A dialética tipo-indivíduo é o
próprio fundamento do método de pesquisa.
Segundo Tricart (1977), a organização ou
reorganização do território exige um diagnóstico
preliminar que permita o conhecimento das
características e das aptidões e, principalmente, das
limitações das áreas a serem utilizadas, a fim de
escolher corretamente o tipo de ocupação do solo
compatível com tais limitações.
As atividades agropastoris de baixo nível de
tecnificação são marcantes no Sertão Central do
Ceará, prevalecendo a agricultura itinerante e
pecuária
extensiva,
atividades
altamente
dependentes de fatores de ordem natural, como a
chuva, por exemplo, em um ambiente marcado
pelos baixos e irregulares índices pluviométricos, o
que limita a capacidade de suporte do meio para
estas atividades. Nesse sentido, torna-se necessário
o estudo do meio a partir de uma metodologia
integrativa com o fim de atender ao planejamento
em termos de manejo e conservação do ambiente.
Esta perspectiva metodológica vem sendo
largamente
empregada
nos
estudos
de
vulnerabilidade ambiental, valendo-se do uso das
ferramentas geotecnológicas, que permitem
integrar dados contidos em vários mapas temáticos
por meio de sistemas de informações geográficas
possibilitando estimar a vulnerabilidade e os riscos
de degradação ambiental. Nessa perspectiva,
apontam-se trabalhos importantes, a exemplo de
Spörl e Ross (2004); Navas et al., (2005) Telles et
al. (2011); Mota e Valladares, (2011); Mota et al.,
(2012).
O presente trabalho teve como objetivo
caracterizar o meio físico na região do alto
Banabuiu, Sertão Central do Ceará, a partir de uma
abordagem sistêmica, identificando diferentes
unidades de paisagem e avaliando seus graus de
vulnerabilidade natural, bem como os riscos de
degradação frente ao uso das terras.
Material e métodos
A área de estudo localiza-se no Sertão
Central do Ceará, inserida na bacia do Rio
Banabuiu, região de médio Jaguaribe, com
extensão de 149.035 hectares que se distribui de
forma descontínua entre as coordenadas UTM
9347590 e 9407637 de latitude e 405338 e 464624
de longitude, zona 24, abrangendo parcialmente os
municípios de Pedra Branca, Mombaça, Piquet
Carneiro, Quixeramobim e Senador Pompeu.
O diagnóstico físico do meio foi obtido a
partir da elaboração e sobreposição dos mapas de
geologia,
compartimentos
geomorfológicos,
declividade e pedologia a partir do software Arcgis
10.
O mapa geológico resultou de compilações
das folhas SB.24-V-D-VI – Senador Pompeu
(CPRM, 2011), SB.24-V-D-II – Boa Viagem
(UFC/CPRM, 2008) e SB.24-V-D-V – Mombaça
(CPRM, 1993), na escala de 1:100.000,
disponibilizadas pelo Serviço Geológico do Brasil
(CPRM).
O mapa de unidades geomorfológicas foi
resultante do uso da imagem morfométrica,
formada por uma composição falsa cor contendo
altimetria, declividade e curvatura do terreno, onde
os compartimentos de relevo foram demarcados e,
em seguida, digitalizados. Foram identificados sete
compartimentos distintos: Interflúvios Estruturais,
Cristas Residuais, Superfície Colinosa, Encosta
Estrutural Dissecada, Pediplano Dissecado, Vale
do rio Banabuiu e os Inselbergues.
Figura 1- Localização do alto curso do Rio
Banabuiu –CE. Fonte: Aquino (2013).
Para a elaboração do mapa de declividade
fez-se uso do software arcgis 10, tendo por base a
fonte de dados da Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM), disponibilizada pelo INPETOPODATA com resolução espacial de 30 metros.
602
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Para elaboração do mapa de solos, valeu-se
de dados iconográficos, com o uso de imagem
morfométrica e imagens do RapidEye para
identificação de pontos de interesse para as
atividades de campo, com 5 m de resolução
espacial, onde foram realizadas descrições
morfológicas de perfis, conforme Santos et al.
(2005) bem como a coleta de perfis completos e
complementares para análises físicas e químicas e
posterior interpretação, à luz do Sistema Brasileiro
de Classificação dos Solos – SiBCS (EMBRAPA,
2006). As unidades de mapeamento de solos
estabelecidas neste trabalho seguiram os conceitos
e definições até o quarto nível categórico
estabelecido pelo SiBCS. Foram reconhecidas 31
unidades de mapeamento, em uma escala de
1:100.000, sendo, praticamente todas as unidades
compostas (associações e complexos de solos) o
que denota uma notável variabilidade de solos na
área de estudo.
Crepani (1996) destaca a importância da
Geologia, da Geomorfologia e da Pedologia para a
definição das unidades de paisagem e para os seus
graus de vulnerabilidade. Sendo assim, a Geologia
oferece informações importantes sobre o grau de
coesão das rochas e informações a respeito da
história da evolução do seu ambiente tectônico. Por
outro lado, a Geomorfologia, fornece subsídios
importantes sobre a estabilidade das unidades de
paisagem, a partir da análise de parâmetros como
altos valores de amplitude de relevo, declividade e
grau de dissecação do relevo. O conhecimento
desta e de outras informações geomorfológicas
permitem inferir nas diferentes unidades de
paisagem identificadas a atuação de processos
morfogenéticos ou pedogenéticos. A pedologia,
por sua vez, fornece o indicador básico da posição
ocupada pela unidade dentro da escala da
ecodinâmica: a maturidade dos solos.
Para a avaliação da vulnerabilidade natural
das terras do Alto Banabuiu foram sobrepostos os
mapas de geologia, declividade, geomorfologia e
pedologia, a partir do método de multicritério
aditivo utilizando um algoritmo do tipo média
ponderada, como foi definido por Xavier da Silva
(2000), aplicado para a definição de posições
territoriais ao longo de um eixo integrador das
unidades territoriais, conforme demonstrado pela
equação a seguir:
n
Aij = Σ (Pk. Nk) (Eq. 1)
k=1
Em que:
Aij = qualquer célula da matriz (alternativa);
n = número de parâmetros envolvidos;
P = peso atribuído ao parâmetro transposto o
percentual para a escala de 0 a 1;
N = nota na escala de 0 a 10, atribuída à categoria
encontrada na célula.
Para obtenção do mapa de risco de
degradação, o mapa de vulnerabilidade natural das
terras foi sobreposto ao mapa de uso e cobertura
das terras, elaborado por Guimarães (2013)
utilizando o mesmo algoritmo identificado
anteriormente. O mapa de uso e cobertura das
terras foi elaborado com base em imagens do
RapidEye com 5m de resolução espacial. Ressaltase que para gerar os mapas de vulnerabilidade
natural e de risco de degradação, foram atribuídos
pesos e notas a cada um dos parâmetros analisados
por uma equipe especializada em estudos
integrados do meio físico.
Resultados e discussão
Do ponto de vista geológico, a área de
estudo insere-se no domínio das áreas cratônicas
brasileiras, que se caracterizam, segundo Ross
(2000), por uma grande complexidade litológica,
prevalecendo as rochas metamórficas muito
antigas (Pré-Cambriano Médio a Inferior, com 2 a
4,5 bilhões de anos). Também ocorrem rochas
intrusivas antigas (Pré-Cambriano Médio a
Superior, com 1 a 2 bilhões de anos e resíduos de
rochas sedimentares datadas do Pré-Cambriano
Superior, conforme demonstrado na Figura 2.
O fator declividade relaciona-se com a
velocidade do escoamento superficial, com a
infiltração
e
consequentemente
com
a
susceptibilidade para erosão dos solos. A Figura 3
apresenta o mapa com as classes de declividade
encontradas na área de estudo.
A análise do mapa de declividade permite
sintetizar as características topográficas da área de
estudo em seis classes de declividade, conforme
demonstrado na Tabela 1.
Como afirmado anteriormente o mapa de
unidades geomorfológicas do Alto Banabuiu-CE
foi obtido a partir da utilização da imagem de
morfometria, formada por uma composição falsa
cor contendo altimetria, declividade e curvatura do
terreno, onde os compartimentos de relevo foram
demarcados, levando-se em consideração a
tonalidade e a maior ou menor proximidade das
curvas de nível, que estavam sobrepostas ao raster
da morfometria. Em seguida realizou-se a
digitalização dos polígonos em formato vetorial
representando as distintas unidades do relevo.
Os compartimentos identificados foram os
seguintes: Interflúvios Estruturais, Cristas
Residuais, Superfície Colinosa, Encosta Estrutural
603
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Dissecada, Pediplano Dissecado, Vale do rio
Banabuiu e os Inselbergues, conforme Figura 4.
Figura 02 – Mapa geológico do alto Banabuiu-CE. Fonte: CPRM, 2003.
Figura 3 - Mapa Declividade do Alto Banabuiu-CE. Fonte: Aquino 2013, dados TOPODATA-INPE
604
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Figura 4: Compartimentos geomorfológicos do Alto Banabuiu-CE. Fonte: Aquino (2013)
Figura 5: Mapa de solos com o principal componente da unidade de mapeamento do alto Banabuiu. Fonte:
Valladares, Coelho e Aquino (2013)
605
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Tabela 1: Classes de declividade e caracterização do relevo da área de estudo.
Classes de
Declividade (%)
Tipo de relevo
Área (ha)
Representatividade
%
0a3
Plano
8.455
5,72
3a8
Suave ondulado
82.067
55,55
8 a 13
Moderadamente
ondulado
26.676
18,06
13 a 20
Ondulado
15.839
10,72
20 a 45
Forte ondulado
14.268
9,65
>45
Montanhoso e
escarpado
432
0,30
Total
147.737
Fonte: Aquino, 2013
O mapa de solos, em nível de
reconhecimento de alta intensidade, em escala
1:100.000, possibilitou o reconhecimento de 31
unidades de mapeamento, sendo praticamente
todas as unidades compostas (associações e
complexos de solos) o que denota uma notável
variabilidade de solos na área de estudo. Esta
variabilidade justifica-se em função da diversidade
litológica e de material de origem, bem como as
influências do fator geomorfológico, considerando
as distintas unidades especializadas na Figura 4,
bem como, os diferentes níveis de semiaridez
climática da área. A Figura 5 apresenta o mapa de
solos da área de estudo:
O mapa de vulnerabilidade natural do Alto
Banabuiu foi gerado a partir de um método
100
multicritério aditivo, utilizando um algoritmo do
tipo média ponderada, conforme demonstrado
anteriormente (Equação 1), considerando pesos
iguais para todos os temas. O emprego desta
metodologia permitiu a identificação de cinco
classes de vulnerabilidade natural: baixa,
moderada, alta, muito alta e altíssima, conforme
demonstrado na Figura 6.
A Tabela 2 sintetiza os resultados obtidos
no mapa de vulnerabilidade natural da área de
estudo. Considerando a vulnerabilidade natural
constatou-se que em 10,10%, 44,84%, 19,52%,
12,59% e 11,82% esta variou de baixa, moderada,
alta, muito alta e altíssima respectivamente.
Tabela 2: Vulnerabilidade natural do alto Banabuiu - CE
Grau de
Área ocupada (ha)
vulnerabilidade
natural
Baixa
15.054,92
Moderada
66.879,08
Alta
29.101,56
Muito alta
18.752,96
Altíssima
17.614,80
Fora de análise
1.644,72
TOTAL
149.048,04
Fonte: Org. Os autores.
Representatividade
(%)
10,10
44,87
19,52
12,59
11,82
1,10
100,00
606
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Figura 6 – Mapa de vulnerabilidade natural do Alto Banabuiu – CE. Fonte: Aquino, 2013
De maneira geral, a Encosta Estrutural
Dissecada, os Interflúvios Estruturais e os
Inselbergues,
foram
os
compartimentos
geomorfológicos que apresentaram maior
vulnerabilidade natural. Isto se justifica em virtude
de o relevo apresentar declividades superiores a
20%. Aliado a esse fator, a cobertura pedológica
apresenta um amplo predomínio de solos pouco
desenvolvidos, ou seja, com ausência de horizonte
B (neossolo litólico) ou com horizonte B incipiente
(cambissolo).
A classe de vulnerabilidade muito alta, que
representa 12,59%da área de estudo, predomina
nas Cristas Residuais, onde prevalecem
declividades entre 13 e 20%, o que caracteriza um
relevo ondulado. Nesse compartimento, a
cobertura pedológica é caracterizada pela
Associação de Argissolo Vermelho eutrófico,
típico, abrúptico e nitossólico, A moderado e
chernozêmico, textura média/argilosa e média e
por Argissolo Vermelho-Amarelo e Vermelho
Eutrófico não abrúptico e abrúptico, A moderado,
textura média/argilosa. Os argissolos, de maneira
geral, são “solos constituído por material mineral,
apresentando horizonte B textural com argila de
atividade baixa imediatamente abaixo do horizonte
A ou E” (Embrapa, 2013). Isso significa que são
solos bem desenvolvidos, podendo apresentar boa
fertilidade natural, a exemplo dos eutróficos,
dominantes nas cristas residuais. No entanto, o
fator declividade pode ser considerado como
limitante para a exploração dos mesmos, o que
requer um manejo adequado sob pena de
intensificação dos processos erosivos.
607
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
No Vale do rio Banabuiu, caracterizado
pelo controle estrutural sobre a drenagem,
verificam-se classes de declividade variando de 3 a
13%, caracterizando relevo de suave ondulado a
moderadamente ondulado. O domínio de solos
pouco desenvolvidos, a exemplo dos Neossolos
Litólicos, Neossolos Regolíticos e Neossolos
Flúvicos, justificam a ocorrência de classes de
vulnerabilidade alta e muito alta, apesar de possuir
classes de declividade inferiores às das cristas
residuais, onde predominam os Argissolos.
Na Superfície Colinosa, que tem seu relevo
marcado pela presença de colinas amplas com
declividades variando de 3 a 13%, podendo ser
caracterizado
como
suave
ondulado
a
moderadamente ondulado.
A
cobertura
pedológica, caracterizada pelo domínio dos
chernossolos (Chernossolo Argilúvico Órtico
típico, léptico e vertissólico, textura média/argilosa
– Chernossolo Háplico Órtico léptico e
vertissólico, textura média) justifica o predomínio
da classe de moderada vulnerabilidade ambiental
desse compartimento.
No
Pediplano
Dissecado,
maior
compartimento geomorfológico e que apresenta a
maior variabilidade de solos, a classe de alta
vulnerabilidade natural está condicionada
principalmente ao fator pedológico, pois nesse
compartimento predominam baixas declividades,
prevalecendo o relevo plano a suave ondulado.
Nesse sentido, a presença de solos com mudança
textural abrupta como os planossolos e luvissolos,
justificam a maior vulnerabilidade, devido à rápida
saturação do horizonte A em função da baixa
permeabilidade do horizonte B, favorecendo,
portanto, o arraste de materiais do horizonte A.
A classe baixa vulnerabilidade natural,
presentes no Pediplano Dissecado, está relacionada
à presença de Argissolo Vermelho Eutrófico típico
e abrúptico, A moderado, textura média e
média/argilosa.
Por
serem
solos
bem
desenvolvidos, com argila de atividade baixa e com
gradiente textural muitas vezes menor que dos
Luvissolos e Planossolos, estes solos permitem
uma maior infiltração de água, sendo, portanto,
melhor drenados que os anteriores.
A classe de moderada vulnerabilidade
natural ocorre principalmente nas unidades de
mapeamento de solos onde os argissolos aparecem
como primeiro componente, associada aos
pediplanos dissecados. Onde predominam
chernossolos a feição do relevo predominante é
colinosa.
A partir da sobreposição do mapa de uso e
cobertura das terras, elaborado por Guimarães
(2013), conforme Figura 7, ao mapa de
vulnerabilidade natural, Figura 6, obteve-se o mapa
de risco de degradação das terras do alto Banabuiu,
que apresenta cinco classes de risco de degradação,
demonstrado na Figura 8.
O
cruzamento
dos
dados
de
vulnerabilidade natural com o uso e cobertura das
terras permitem inferir que a utilização predatória
dos recursos naturais na região, caracterizada pela
pecuária extensiva e agricultura itinerante,
potencializa substancialmente o aumento dos
riscos de degradação do ambiente, tendo em vista
que:
A classe de baixa vulnerabilidade natural,
considerada de pequena
expressão
espacial, sofre uma redução de 70,59%,
passando a representar apenas 2,97% da
área estudada.
A classe de moderada vulnerabilidade
natural, que representava 44,87% da área
de estudo, sofre redução de 42,43%,
passando a representar apenas 25,83%
como de moderado risco de degradação
antrópica.
A classe de alta vulnerabilidade natural
apresenta crescimento de
82,22%,
passando a representar 35,57% , como área
de alto risco de degradação antrópica,
tendo em vista que áreas anteriormente
consideradas como de baixa e moderada
vulnerabilidade
natural
foram
incorporadas.
A classe de vulnerabilidade natural muito
alta, que representava 12,59% da área de
estudo, passa a representar 17,10% como
área de risco muito alto de degradação
antrópica, o que representa um incremento
de 35,82%.
A classe de altíssima vulnerabilidade
natural, que representava 11,82% da área
de estudo, passa a ocupar 15,60% como
área de altíssimo risco de degradação
antrópica.
Os resultados obtidos a partir da
comparação entre a vulnerabilidade natural do
ambiente e os riscos de degradação antrópica
indicam claramente uma pressão acima da
capacidade de suporte do meio natural para a área
de estudo, o que leva inevitavelmente à degradação
ambiental, podendo ser, inclusive, um dos
indicadores
de
possíveis
processos
de
desertificação na área.
608
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Figura 7 : Mapa de uso e cobertura das terras do alto Banabuiu-CE. Fonte: Guimarães, 2013
609
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Figura 8: Mapa de risco de degradação das terras do alto Banabuiu – CE. Fonte: Aquino, 2013.
610
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
A Tabela 3 apresenta os dados referentes ao risco de degradação da área de estudo.
Tabela 3: Risco de degradação das terras do alto Banabuiu-CE.
Grau de risco à
Área ocupada (há)
Representatividade
degradação
(%)
Baixo
4.424,96
2,97
Moderado
38.498,32
25,83
Alto
50.033,48
35,57
Muito alto
25.490,68
17,10
Altíssimo
23.257,08
15,60
Fora de análise
7.326,16
4,91
TOTAL
149.035,68
100,00
Fonte: Org. Os autores
Conclusões
Os resultados permitem concluir:
Foram identificadas as seguintes unidades
de relevo Interflúvios Estruturais, Cristas
Residuais, Superfície Colinosa, Encosta
Estrutural
Dissecada,
Pediplano
Dissecado, Vale do rio Banabuiu e os
Inselbergues.
As unidades de relevo identificadas em
face de suas características geológica,
geomorfológicas
e
pedológicas
apresentam vulnerabilidades distintas,
constatação que indica a necessidade de
planejamento para fins de ordenamento
territorial.
Considerando a vulnerabilidade natural
constatou-se que em 10,10%, 44,84%,
19,52%, 12,59% e 11,82% esta variou de
baixa, moderada, alta, muito alta e
altíssima respectivamente.
A Encosta Estrutural Dissecada, os
Interflúvios estruturais e os inselbergues,
foram
os
compartimentos
geomorfológicos que apresentaram maior
vulnerabilidade natural.
A classe de vulnerabilidade muito alta, que
representa 12,59%da área de estudo,
predomina nas Cristas Residuais.
As
classes
baixa
e
moderada
vulnerabilidade natural, presentes no
Pediplano Dissecado, somadas totalizam
54,97% da área de estudo. Considerando
que em 45,03% da área com
vulnerabilidade natural variou de alta a
altíssima, em um ambiente de clima
semiárido, com chuvas torrenciais e
vegetação de caatinga, pode-se afirmar
tratar-se de um ambiente instável,
sobretudo nas áreas de relevo mais
dissecado a exemplo das áreas de Encosta
Estrutural Dissecada, dos Interflúvios
Estruturais e dos Inselbergs.
A análise da degradação, resultado da
sobreposição do mapa de fragilidade ao de
uso e cobertura das terras permitiu inferir
que 2,97%, 25,83%, 35,57%, 17,10% e
15,60% das terras da área de estudo
apresentaram risco de degradação baixo,
moderado, alto, muito alto e altíssimo,
respectivamente. Constatam-se mudanças
substanciais entre as classes, revelando
uma forte pressão antrópica, e o
comprometimento dos recursos naturais.
As classes de alta, muito alta e altíssima
degradação considerando a ação antrópica
perfazem 68,27% evidenciando condição
de instabilidade, podendo coadunar em
desertificação.
É fundamental ações relativas à extensão
rural a serem proporcionadas pelos órgãos
públicos no sentido de orientar formas de
uso e ocupação racional das terras para fins
de otimização e uso racional dos recursos
naturais na área de estudo.
Referências
Amaral, R., Ross, J.L.S. 2009. As unidades
Ecodinâmicas na análise da fragilidade
ambiental do Parque estadual do Morro do
Diabo e entorno, Teodoro Sampaio/SP.
GEOUSP – Espaço e Tempo 26, 59-78.
Aquino,
C.M.S.
2010.
Estudo
da
degradação/desertificação no Núcleo de São
Raimundo Nonato-Piauí. São Cristóvão, 2010.
Tese (Doutorado). Aracaju, Núcleo de PósGraduação em Geografia, Universidade Federal
de Sergipe).
Aquino, C.M.S, Oliveira, J.G.B. 2012. Estudo da
Dinâmica do Índice de Vegetação por Diferença
Normalizada (NDVI) no núcleo de São
Raimundo Nonato-PI. GEOUSP - Espaço e
Tempo31, 157 - 168.
611
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
Aquino, R.P. 2013. Vulnerabilidade ambiental dos
compartimentos morfopedológicos de trecho do
alto Banabuiu-CE. Dissertação (Mestrado).
Teresina, Programa de Pós-Graduação em
Geografia, Universidade Federal do Piauí.
Barbosa, R.S. 2011. Análise da susceptibilidade e
da potencialidade à erosão laminar da bacia
hidrográfica do riacho Açaizal em Senador La
Rocque-MA, in: Anais Simpósio Brasileiro De
Sensoriamento Remoto. 15, INPE, Curitiba.
Bertoni, J.; Lombardi Neto, F. 1993. Conservação
do Solo, 3.ed. Ícone, São Paulo.
Bertrand, G. 2004. Paisagem Física Global.
Esboço Metodológico. RÁ E GA 8, 141 – 152.
CPRM. 2003. Atlas Digital de Geologia e
Recursos Minerais do Ceará. CPRM,
Fortaleza. CDROM.
Crepani, É, et al 1996. Curso de sensoriamento
remoto aplicado ao zoneamento ecológicoeconômico. INPE, São José dos Campos.
Dias, J.E., et al. 2001. Áreas de riscos de erosão do
solo: uma aplicação por geoprocessamento.
Floresta e Ambiente 8, 1 – 10.
Ehlers, M. 2007. Sensoriamento Remoto para
usuários de SIG – Sistemas sensores e
métodos: entre as exigências do usuário e a
realidade, in: Blaschke, T., Kux, H. (Org.).
Sensoriamento Remoto e SIG avançados. 2 ed.
Oficina de Textos, São Paulo.
Embrapa.
1973.
Serviço
Nacional
de
Levantamento e Conservação de Solos.
Levantamento exploratório reconhecimento de
solos do Estado do Ceará. SUDENERN/Ministério da Agricultura, DNPEA-DPP,
1973. 2v. DNPEA-DPP. Boletim técnico, 28;
SUDENE. Série pedológica, 16), Recife.
Embrapa. 1983. Serviço Nacional de
Levantamento e Conservação de Solos.
Sistema de avaliação da aptidão agrícola das
terras. EMBRAPA, Rio de Janeiro.
Embrapa. 2006. Sistema Brasileiro de Classificação
de
Solos.
2
ed.
Embrapa
solos:
EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de
Solos, Rio de Janeiro.
Faria, A. L. L.; Valladares, G.S. ; Rodrigues, A.F.
2012. Bacia do Coruripe (Alagoas - AL): uma
análise por geoprocessamento das áreas de
susceptibilidade à erosão do solo, in: Assis,
A.A.F, Faria, A.L.L (Org.). O onde e o quando:
espaço e memória na construção da História e da
Geografia. Geographica, Viçosa.
Fujihara, A.K. 2002 Predição de erosão e
capacidade de uso do solo numa microbacia do
oeste
paulista
com
suporte
de
geoprocessamento. Dissertação (Mestrado).
Piracicaba, Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz - USP.
Guimarães, C.C.B. 2013. Paisagens sertanejas: uso
e cobertura das terras e adequabilidade no
Sertão Central do Ceará. Dissertação
(Mestrado). Fortaleza, UFC.
Hermuche, P. M.; et al. 2009. Análise dos
compartimentos morfopedológicos como
subsídio ao planejamento do uso do solo em
Jataí-GO. Geousp – Espaço e Tempo 26, 113131.
IBGE. 2012. Brasil. Ministério de Planejamento e
Orçamento. Diagnóstico ambiental da Bacia do
Rio Jaguaribe: Diretrizes gerais para a
ordenação Territorial.
Salvador, 1999.
Disponível
em:
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos
_naturais/diagnosticos/jaguaribe.pdf>: Acesso
em: 10 jun. 2012.
IBGE. 2013. IBGE cidades @: Ceará. Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.
htm1>. Acesso em: 26 mar. 2013.
Jacomine, P.K.T. 1996. Solos sob caatingas:
características e uso agrícola, in: Alvares, V. et
al (Org.). O solo nos grandes domínios
morfoclimáticos do Brasil e o desenvolvimento
sustentado. SBCS, Viçosa.
Jenny, H. 1941. Factors of soil formation: A
System of Quantitative Pedology. foreword by
Ronald Amundson.Originally published.
McGraw-Hill, New York.
Lima, A. A.C.; Oliveira, F.N.S.; Aquino, A. R. L.
de. 2002. Limitações do uso dos solos do
Estado do Ceará por suscetibilidade à erosão.
Embrapa Agroindústria Tropical (Embrapa
Agroindústria Tropical. Documentos, 54),
Fortaleza.
Mota, L.H.S.O. 2011. Dinâmica de uso e riscos
ambientais das terras do baixo Acaraú-CE.
Dissertação
(Mestrado).
Fortaleza,
Universidade Federal do Ceará.
Mota, Lydia Helena da Silva de Oliveira et al.
RISCO DE SALINIZAÇÃO DAS TERRAS
DO BAIXO ACARAÚ (CE). R. Bras. Ci.
Solo, v 36, nº4, p. 1203-1209, Viçosa-MG,
2012
Mota, L.H.S.O, Valladares, G.S. 2011.
Vulnerabilidade à degradação dos solos da
Bacia do Acaraú, Ceará. Revista Ciência
Agronômica 42, 39-50.
RADAMBRASIL. 1981. Brasil, Ministério das
Minas e Energia. Levantamento de Recursos
Naturais. Parte da Folha SB.24/25 – JaguaribeNatal, vol.23.
Resende, M.; et al. 2007. Pedologia: bases para
distinção de ambientes, 4. ed. NEPUT, Viçosa.
Rios, M. L. 2011. Vulnerabilidade à erosão nos
compartimentos morfopedológicos da
612
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.
Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.02 (2016) 601-613.
microbacia do Córrego do Coxo/ Jacobina-BA.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal
de Minas Gerais.
Ross, J. L. S. 1994. Análise empírica da fragilidade
dos ambientes naturais e antropizados. Revista
do Departamento de Geografia 8, 63-74.
Ross, J.L.S. 2000. Geografia do Brasil. EDUSP,
São Paulo.
Santos, R. D. dos; et al. 2005. Manual de Descrição
e Coleta de Solo no Campo, 5. ed. Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa.
Silveira, C. T. da. 2010. Análise digital do relevo
na predição de unidades preliminares de
mapeamento de solos: integração de atributos
topográficos em sistemas de informações
geográficas e redes neurais artificiais. Tese
(Doutorado). Curitiba, Universidade Federal do
Paraná.
Souza , M. J. N; et al. 1979. Compartimentação
topográfica do Estado do Ceará. Revista
Ciência Agronômica 9, 76-86.
Teramoto, E. R., et al. 2001. Relações solo,
superfície geomórfica e substrato geológico na
microbacia do Ribeirão Marins (Piracicaba SP). Scientia Agricola 58, 361-371.
Tricart, J. 1977. Ecodinâmica. 1 ed. FIBGE, Rio
de Janeiro.
Trigueiro, E. R. da C. 2003. Vulnerabilidade aos
processos de degradação/desertificação no
município de Tauá-CE. Estudo de caso: A
Escola Agrícola de Tauá. Dissertação
(Mestrado) Fortaleza, Universidade Federal do
Ceará.
Valladares, G. S., Faria, A. L. L. 2004. SIG na
análise do risco de salinização na bacia do Rio
Coruripe, AL. Engevista, 6, 86-98.
Valladares, G. S.; Pereira, M. G. 2010. Proposta de
classificação e mapeamento dos solos do Brasil
com base na temperatura do ar, usando
interpolação e Modelo Digita de Elevação
(SRTM). Revista Geografia 27, 98-109.
Xavier-Da-Silva, J. 1992. Geoprocessamento e
Análise Ambiental. Revista Brasileira de
Geografia, 54, 47-61.
613
Aquino, R. P., Valladares, G. S., Aquino, C. M. S., Guimarães, C. C. B., Coelho, R. M.