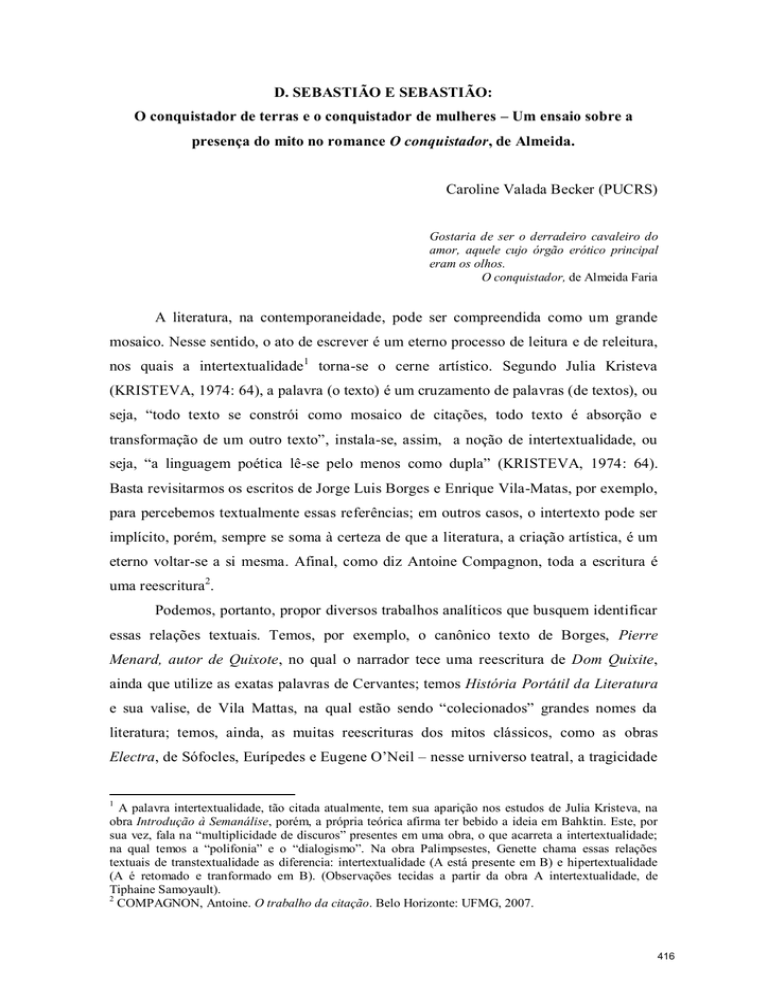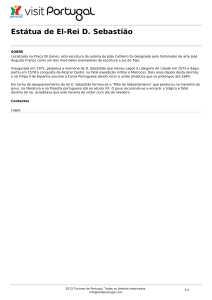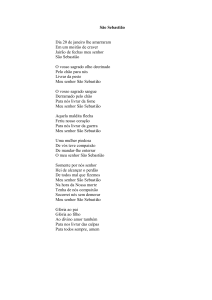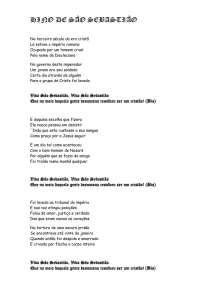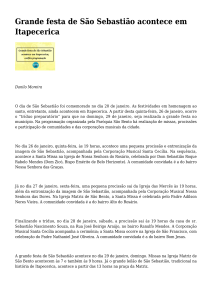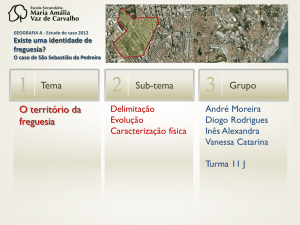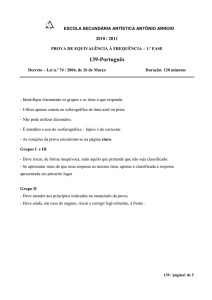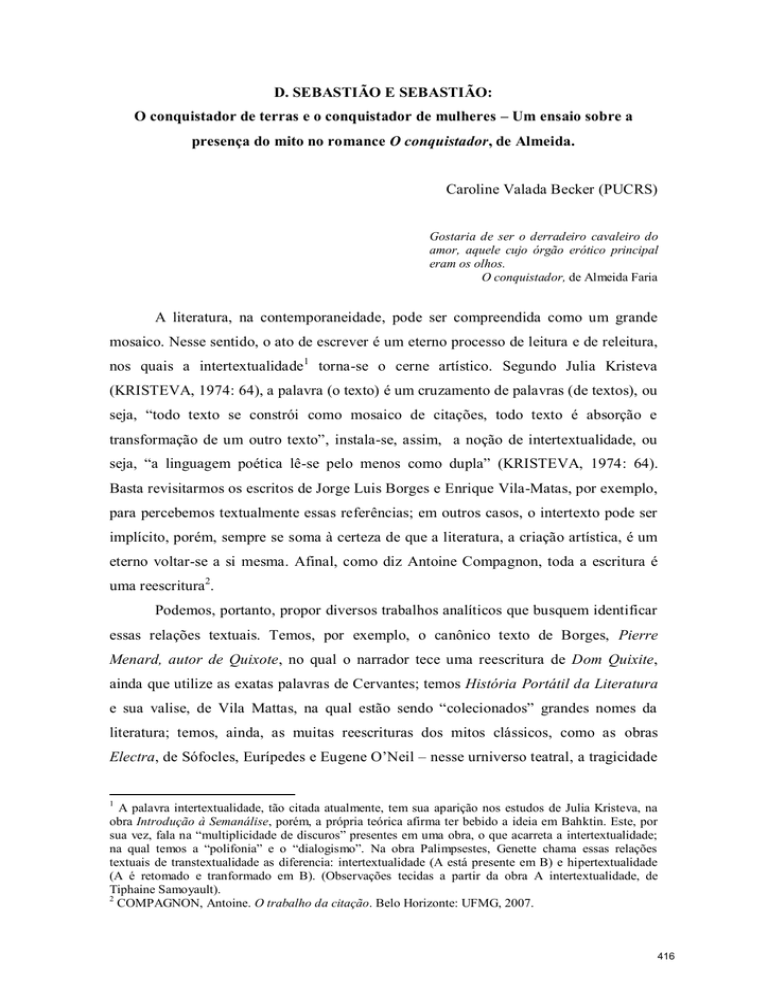
D. SEBASTIÃO E SEBASTIÃO:
O conquistador de terras e o conquistador de mulheres – Um ensaio sobre a
presença do mito no romance O conquistador, de Almeida.
Caroline Valada Becker (PUCRS)
Gostaria de ser o derradeiro cavaleiro do
amor, aquele cujo órgão erótico principal
eram os olhos.
O conquistador, de Almeida Faria
A literatura, na contemporaneidade, pode ser compreendida como um grande
mosaico. Nesse sentido, o ato de escrever é um eterno processo de leitura e de releitura,
nos quais a intertextualidade1 torna-se o cerne artístico. Segundo Julia Kristeva
(KRISTEVA, 1974: 64), a palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de textos), ou
seja, “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e
transformação de um outro texto”, instala-se, assim, a noção de intertextualidade, ou
seja, “a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla” (KRISTEVA, 1974: 64).
Basta revisitarmos os escritos de Jorge Luis Borges e Enrique Vila-Matas, por exemplo,
para percebemos textualmente essas referências; em outros casos, o intertexto pode ser
implícito, porém, sempre se soma à certeza de que a literatura, a criação artística, é um
eterno voltar-se a si mesma. Afinal, como diz Antoine Compagnon, toda a escritura é
uma reescritura2.
Podemos, portanto, propor diversos trabalhos analíticos que busquem identificar
essas relações textuais. Temos, por exemplo, o canônico texto de Borges, Pierre
Menard, autor de Quixote, no qual o narrador tece uma reescritura de Dom Quixite,
ainda que utilize as exatas palavras de Cervantes; temos História Portátil da Literatura
e sua valise, de Vila Mattas, na qual estão sendo “colecionados” grandes nomes da
literatura; temos, ainda, as muitas reescrituras dos mitos clássicos, como as obras
Electra, de Sófocles, Eurípedes e Eugene O’Neil – nesse urniverso teatral, a tragicidade
1
A palavra intertextualidade, tão citada atualmente, tem sua aparição nos estudos de Julia Kristeva, na
obra Introdução à Semanálise, porém, a própria teórica afirma ter bebido a ideia em Bahktin. Este, por
sua vez, fala na “multiplicidade de discuros” presentes em uma obra, o que acarreta a intertextualidade;
na qual temos a “polifonia” e o “dialogismo”. Na obra Palimpsestes, Genette chama essas relações
textuais de transtextualidade as diferencia: intertextualidade (A está presente em B) e hipertextualidade
(A é retomado e tranformado em B). (Observações tecidas a partir da obra A intertextualidade, de
Tiphaine Samoyault).
2
COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
416
é um elemento de intertextualidade em si mesmo, uma vez que obras modernas evocam
as obras clássicas.
Os mitos são um dos focos de (re)criação da literatura, certamente não apenas no
gênero dramático. Um exemplo é a obra selecionada para este ensaio: O conquistador,
publicada em 1990, escrita pelo autor português Alemeida Faria. Nela, não encontramos
como mote um dos mitos fundadores da Antiguidade, mas sim um fato e uma identidade
históricos: o destino do rei D. Sebastião (morto/desaparecido na batalha Alcácer Quibir,
contra os mouros, em 1578, no Norte da África). Ele se tornou um verdadeiro mito para
o povo português – e chegou, inclusive, ao Brasil 3. Segundo Junito Brandão de Souza,
teórico da mitologia grega:
[mito] é o relato de uma história verdadeira, ocorrida nos tempos
dos princípios [...], quando com a inferência de entes sobrenaturais,
uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo,
ou tão somente um fragmento, um monte, uma pedra, uma ilha,
uma espécie de animal ou vegetal, um comportamento humano.
(SOUZA, 2000: 35-4)
Entre as muitas conceituações dessa palavra 4, assumiremos, aqui, a concepção
de mito como ato de criação, algo que se relaciona à coletividade e ao verossímil, não
exatamente ao verdadeiro; um mito refere-se, pois, a algo que passa a existir a partir de
determinado momento e de determinada circunstância.
No romance O conquistador, obra contemporânea, conhecemos a personagem
narrador Sebastião, cuja identidade evoca explicitamente o rei português D. Sebastião e
“o mito do rei que há-de voltar numa manhã de nevoeiro” (SARAIVA, 1999: 177).
Quando José Hermano Saraiva, na sua História Concisa de Portugal, apresenta D.
Sebastião e seu mito, faz questão de demonstrar a “ingenuidade” de tal crença, ou o seu
caráter “imaginativo”:
3
A obra Romance d’a pedra do reino, de Ariano Suassuna, retoma o mito, numa história, baseada em
dados históricos, ambientada em Pernambuco, na qual dois cunhados – João Antônio e João Ferreira –
indicavam duas pedras como portas de um reino encantado, de onde surgiria D. Sebastião.
4
No Dicionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano, encontramos três verbetes para a palavra mito (ao
lado, sempre, da conceituação de narrativa). A primeira é uma forma atenuada da intelectualidade – esse
tom pejorativo refere-se à impossibilidade de uma verdade, e à permanência do conceito de
verossimilhança – “O que o mito diz – supõe-se – não é demonstrável nem claramente concebível, mas
sempre é claro o seu significado moral ou religioso, ou seja, o que ele ensina sobre a conduta do homem”.
A segunda refere-se a uma forma autônoma de pensamento, em outras palavras, não carrega o tom
negativo anterior. A terceira conceituação, por fim, vê o mito como instrumento de estudo social e
trabalha elementos fundamentais de uma cultura, como fez Lévi-Strauss.
417
Ninguém o diz a sério, mas a frase é muitas vezes usada para aludir
a um intraduzível estado de espírito que consiste em crer que aquilo
que profundamente se deseja não deixará de acontecer, mas ao
mesmo tempo em esperar que aconteça independentemente do
nosso esforço e sem implicação da nossa responsabilidade.
(SARAIVA, 1999: 177)
Consideraremos, portanto, o romance analisado uma releitura, uma reescritura,
do mito sebastianista – aspecto que a própria narrativa incita textualmente, constituindo,
no fim, o mote da história. Para muitos portugueses, D. Sebestião não estava morto e
voltaria, a qualquer momento, para libertar Portugal, para toná-la um grande Império
novamente: “a crença sebástica desenvolveu-se a partir de conjunturas específicas da
história portuguesa moderna, e alimentou, de diferentes maneiras, a fé na volta de um
rei salvador que viria resgatar o reino das mãos dos castelhanos, usurpadores da
independência lusitana de 1580” (HERMANN, 1998: 18).
Na escrita de O coquistador, temos uma literatura que se curva ao passado e tece
um processo intertextual, uma explícita (re)escrita da história – aspecto absolutamente
recorrente na literatura e diferente, em certa medida, de uma (re)escrita da história,
como faz História do Cerco de Lisboa, de José Saramago.
Em O conquistador, a propostas é esta: a identidade do rei é redimensionada, sua
fama de corajoso, um alguém que, ainda muito jovem, jogou-se a uma guerra para
reerguer Portugal, é permutada por outro perfil, ainda de um conquistador, desta vez
sexual e amoroso. Se no século XVI o rei D. Sebastião enfrentou o inimigo sem receio,
no século XX, o novo Sebastião, simple sujeito, enfrenta as mulheres. Por meio da
sexualidade, a identidade do rei, quase um messias, é reestruturada e toma proporções
humanas, e não divinizadas.
Chegamos, enfim, à proposta deste ensaio: considerar o romance como uma
releitura ou, quem sabe, uma metaficção historiográfica – proposta teórica de Linda
Hutcheon (HUTCHEON, 1988, p. 21). Para a autora, metaficcional é toda obra artística
que a consciência narrativa a uma consciência temporal e histórica. Nesse sentido, a
literatura contemporânea – ou pós-moderna, como ela nomeia – volta-se ao passado
para criar ficção, porém, o faz sempre baseada na criticidade: a metaficção
historiográfica refere-se “àqueles romances famosos e populares que, ao mesmo tempo,
são intensamente auto-reflexivos e mesmo assim, de maneira paradoxal, também se
apropriam de acontecimentos e personagens históricos” (HUTCHEON, 1988: 21).
418
Na obra aqui analisada, encontramos exatamente o processo descrito por Linda:
uma criação dialógica entre o evento histórico do sebastianismo e a criação estética
contemporânea. Serve-nos, também, para analisar o romance, a noção de paródia:
A paródia é, pois na sua irônica “transcontextualização” e inversão,
repetição com diferença. Está implícita uma distanciação crítica
entre o texto em fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora,
distância geralmente assinalada pela ironia. Mas esta ironia tanto
pode ser apenas bem humorada, como pode ser depreciativa; tanto
pode ser criticamente construtiva, como pode ser destrutiva.
(HUTCHEON, 1985: 48)
O romance de Almeida Faria pode ser compreendido como uma paródia de um
fato histórico, porque tece uma “transcontextualização”, segundo Hutcheon. Em outras
palavras, o autor português desloca o imaginário nacional e o redimensiona por meio da
ironia e da criticidade, carregando no humor e na recriação. O ato de recriar reside,
obviamente, na identidade de D. Sebastião: saímos do século XVI e adentramos o XX,
invertendo a definição de um grande conquistador – das terras à sexualidade, como
veremos. A partir de agora, teceremos uma análise de trechos do romance, para
evidenciar o tom de reescrita, as maneiras pelas quais o Almeida Faria reorganizou o
mito.
UMA (RE)LEITURA DO SEBASTIANISMO
O romance O conquistador é narrado pela personagem central, cujo nome é
Sebastião. Ele, aos 24 anos (nascera em 1954), vive recluso em um farol, diante do mar,
diante da neblina. Conhecemos, assim, o tempo da enunciação: “Assaltado pelo
supersticioso receio de não viver mais que D. Sebastião, e mergulhado na melancolia
pela precarieade da vida, refugiei-me há um mês, durante o Natal do ano passado, na
ermida da Peninha [...] De nada mais preciso neste dia do meu vigésimo quarto
aniversário” (FARIA, 1993: 19-20). O narrador desenvolve sua escrita em um período
de 7 meses (do natal ao mês de julho); o tempo da memória, por sua vez, percorre os
seus 24 anos, desde o seu nascimento até a sua reclusão no farol.
Esse sujeito, ainda muito jovem, ao narrar sua vida – narrar a si mesmo –, está
melancólico, receoso: afinal, morreria ele jovem como o rei D. Sebastião, com quem, ao
longo da sua vida, foi comparado fisicamente? – “os olhos amendoados, os cabelos
419
alourados, a cara oval, o beiço belfo dos descendentes de Carlos V, os dedos delicados,
o tronco curto, desproporcionado em relação aos membros compridos de mais”
(FARIA, 1993: 71), e, também, os seis dedos no pé.
As primeiras palavras da narrativa evocam o princípio da vida da personagem,
ou seja, um narrar a si mesmo que opta pelo nascimento. Segundo o narrador, sua
origem foge ao comum, e nós, leitores, podemos relacioná-la ao universo mítico, tendo
em vista dois motivos: a história provém da oralidade – sua avó contou como ele
nascera – e os fatos fogem à lógica realista do mundo, como fica evidenciado neste
trecho:
Acreditei durante muito tempo ter vindo ao mundo de um modo
diferente de toda a gente. Foi a minha avó Catarina – e as avós
nunca metem – quem me meteu esta ideia na cabeça. Costumava
contar-me que, num dia de inverno, de manhã cedo, apesar do
nevoeiro, o faroleiro João de Castro tinha ido à praia da Adraga
apanhar polvos, quando deu comigo metido num ovo enorme, com
a cabeça, as pernas e os braços de fora. (FARIA, 1993: 11)
Há, nessas palavras, um tom de predestinação, um alguém que teria determinado
destino, justamente por ter nascido de modo distinto – “[...] aos poucos me acostumei a
ser uma ave rara” (FARIA, 1993: 12). Além disso, o dia em que fora encontrado teve
um tom apocalíptico, com uma grande tempestade e “lufadas de névoa”. Esta é um dos
elementos que compõe o mito do sebastianismo, afirmando que o rei surgiria numa
manhã de nevoeiro, aspecto que reforça a ideia de reescrita.
A primeira referência a uma comparação da personagem ao rei D. Sebastião
surge com a explicação do nome do narrador. Assim como o rei desaparecido, a
personagem narrador nascera no dia do Santo Sebastião, o que nos leva, mais uma vez,
à predestinação – “Quando cresci e percebi que algo se esperava de mim, preferi, por
instinto, fingir que não era nada comigo” (FARIA, 1993: 15).
A avó, responsável pela narrativa de seu nascimento mágico, contava-lhe muitas
outras histórias, como a do rei D. Sebastião, cujo final foi triste, o desaparecimento. O
Sebastião do século XIX, nosso narrador, ficava assustado:
A minha história preferida, e que não me cansava de ouvir, era a
daquele Rei com quem me orgulhava de partilhar o nome e que
nasceu quatro séculos antes de mim. [...] E Cataria [a avó] achava
que, por S. Sebastião ter sido mártir da Cristandade, o rei meu
homônimo se sentiu provavelmente obrigado a lançar-se numa
absurda batalha contra os árabes, em pleno deserto, no mês de
420
agosto, sob um sol de quarenta graus. Com arrepiantes requintes,
Catarina descrevia o massacre sofrido pelo exército [português] [...]
Vendo-me mortificado por tão terrível sina, a avó dava-me alento
dizendo que um dia o Rei voltaria, numa certa madrugada, no meio
da neblina. (FARIA, 1993: 19)
Portanto, a avó era a grande responsável por incitar desconfianças acerca das
semelhanças entre o rei e seu neto. Fazia-o sempre que notava indícios nas ações do
menino, como uma das brincadeiras que ele gostava: o passatempo da Corte, com o qual
Sebastião inventava reis, castelos e civilizações. A partir disso, a avó interpretava a
brincadeira como indício de reencarnação real.
Muitos fatos da narrativa remetem o leitor ao universo mítico e ao universo da
oralidade. Além do mágico nascimento, Sebastião, até os três anos, não falava sequer
uma palavra. Interessa-nos observar os porquês tecidos para esse fato, todos
relacionados a crenças coletivas, as quais, por vezes, criam uma verdadeira mitologia:
Houve quem garantisse que beijara um espelho de algibeira que me
emprestavam para brincar, e criança que beije espelho fica muda
para sempre. [...] meu pai opinava que eu tomara o bafo de um gato
vadio que andava por ali. Ora, é do conhecimento geral que, se um
bebê se aproxima do focinho de um bicho, se arrisca a tatibitate.
Um dos faroleiros era do parecer que a minha mudez provinha de
me terem coratado as primeiras unhas à tesoura, e não com os
dentes como manda o preceito. (FARIA, 1993: 28)
Ao lado das explicações, temos as “estratégias” para eliminar a mudez, as quais
são verdadeiras simpatias: “E lá me deram banho em água passada por cu lavado, uma
vez que não nasci com o cu virado para a lua; e me meteram num saco e me levaram às
casas de três vizinhas durante três dias [...]”(FARIA, 1993: 29). Ao longo da narrativa,
outros aspectos supersticiosos surgirão: a presença do número 7, “sinal da felicidade e
dos destinos raros” (FARIA, 1993: 44); o horóscopo, quando uma de suas amantes lhe
entrega a previsão para seu signo – “Sem totalmente acreditar em messianismos, não
excluí, nem excluo ainda, que algo de extraordinário me esteja destinado. Por isso li as
ilações [...], meio incrédulo meio assustado” (FARIA, 1993: 108).
O misticismo, portanto, é um aspecto central da reescrita do mito. Entretanto, a
grande recriação da personalidade histórica D. Sebastião ocorre por meio da ideia de
“conquista”. Se o rei D. Sebastião era um conquistador de terras e a isso se dedicava,
Sebastião Correia de Castro também é um conquistador, mas de mulheres. A tática
bélica e política é trocada pelos charmes sexuais, os quais tiveram sua primeira aparição
421
aos dois anos da personagem narrador – ao menos é o que ele nos relata. À época, um
casal, pessoas do circo, surgiu na casa do Farol, e Sebastião sentia que “as volúpias
aumentavam assim que ela [Dora Bela] se debruçava” sobre ele. Por fim, uma
confissão: “Nunca esqueci as canções com carícias desta Fada que tão cedo trouxe os
meus dotes à luz do dia” (FARIA, 1993: 26).
Tal referência à sexualidade tem outro aspecto importante, cuja informação
compõe a personalidade histórica. No romance, há duas insinuações acerca da
orientação sexual do rei D. Sebastião: uma indica a homossexualidade – “Insistia
Alcides que, sendo eu a Reencarnação há séculos aguardada, devia dedicar-me em
exclusivo àquilo em que o Outro estrondosamente falhara ao manifestar pelo belo sexo
uma aversão extraordinária”; a outra insinuação indica a castidade – “Os termos em que
o dito embaixador se refere à castidade de D. Sebastião, afirmando que ele nunca deu
prova de si, nem intentou sequer [...] mostra até que ponto o assunto preocupava o
reino” (FARIA, 1993: 71). Ambas as insinuações são destorcidas na construção da
personagem romanesca; justamente o contrário à homossexualidade e à virgindade são
apresentados como características de Sebastião, um alguém fortemente sexualizado, o
que compõe uma potencialização do avesso histórico (ao menos do que seria o indício
do histórico).
O exagero do caráter sexual, além da referência à infância, está, também, na sua
segunda namorada de Sebastião, a vizinha Amélia, com quem caminhava até a escola:
“Os nosso jogos de cócegas terminaram no dia em que, sem querer e sem saber, Amélia
tocou naquela parte que desata a crescer sob certos efeitos e se assustou de tal maneira
que deu um grito e corou. E eu corei também”. A descrição sugere a ingenuidade da
descoberta da sexualidade e, depois do “susto” – vale ressaltar que ele também se
intimidou –, os dois afastaram-se.
Sem vivências amorosas – ou sexuais –, Sebastião cria a si mesmo como um
mito, pois narra a seus amigos aventuras sexuais (com uma espanhola que visitava a
cidade), mas todas são invenções. Cada vez que contava uma peripécia, acrescentava
detalhes e, assim, tornou-se popular. De fato, transformou-se em um mito entre os
rapazes: “[...] daí por diante todas as turistas fizeram parte dos meus feitos fictícios [...].
Previ um futuro grandioso para mim. Se já tinha sucesso com aventuras inventadas,
como seria quando eu passasse à prática?” (FARIA, 1993: 36).
Sua terceira experiência amorosa ou “namorada” foi a professora Justina, quem
lhe mostrara os caminhos do corpo: “Justina me ensinou a amar as mulheres, afastando-
422
me para sempre dos monótonos convívios meramente masculinos” (FARIA, 1993: 48).
Na cena em que professora e aluno estão juntos acontece um fato inusitado,
potencialmente metafórico – ainda que reverbere o uso de crenças orais. De uma árvore,
sai um animal, “uma horrenda cabeça de homem com bigode e corpo de serpente”
(FARIA, 1993: 46). Sebastião, imediatamente, pensa em Deus e julga que Ele de fato
acompanhava suas ações; estaria sendo vigiado e punido. A cena remete-nos
evidentemente à serpente bíblica do pecado. No entanto, ambos – Sebastião e Justina –
ignoram a presença do monstro e seguem seus desejos.
Encerrada a relação com a professora, depois das férias de verão, conhece Clara,
uma americana. Depois de muito insistir, conseguiu aproximar-se, tornaram-se
verdadeiramente namorados, pois se encontravam frequentemente – “Com a curiosidade
dos amantes em relação ao objeto da sua paixão, queria saber tudo sobre Clara”
(FARIA, 1993: 66).
A personagem exerce dois fortes papéis: por um lado, é a mulher (menina) que
desperta sentimentos – e não apenas desejos sexuais – em Sebastião; por outro lado, ela
representa uma opinião sobre a crença do povo português no sebastianismo – em um
desdobramento,
representaria
uma
opinião
sobre
o
universo
do
mito
e,
consequentemente, sobre o próprio Sebastião, (re)leitura do rei. Segundo o narrador,
“como racionalista esclarecida, Clara tinha outra atitude em relação à História.
Comparadas com o milenário messianismo hebraico, as sebastianices locais eram-lhe
apenas caricatas. Gozava com as várias profeciais acerca do regresso de reis
desaparecidos [...]”(FARIA, 1993: 72). Clara não era portuguesa e a sua opinião, devido
à nacionalidade, pode significar uma possível percepção externa das lendas locais. Em
outras palavras, Clara representa o logos não português e indica uma descrença em um
mito essencial para a construção identitária de Portugal.
O relacionamento entre Clara e Sebastião também terá seu fim (vale lembrar que
no tempo da enunciação Sebastião está sozinho, excluído da sociedade) quando ela
retorna ao seu país (estava em intercâmbio). A reflexão do narrador, ao encerrar o relato
desse episódio, é bastante reveladora da sua percepção e tece um intertexto com
Fernando Pessoa, mais especificamente o poema de Álvaro de Campos “Todas as cartas
de amor são ridículas”:
As cartas que Clara me enviou, semana após semana, e que nunca
me soaram a ridículas, tratei-as de um modo fetichista, trazendo-as
423
junto ao peito, na algibeira esquerda da camisa, até que o papel
começava a rasgar-se pelas dobras, de tanto que as relia. Deitei fora
as últimas páginas ao deixar o país anos depois, por não ter onde
escondê-las. Achava eu que guardar cartas de amor era coisa de
meninas. (FARIA, 1993: 75)
Mais uma relação, na vida de Sebastião, surgirá: Julieta, a esposa do primo
professor, chamado Gabriel Gago de Carvalho. Deste rápido caso, passou a Helena
(uma brasileira), mulher que conhecera em um restaurante, na noite do aniversário da
avó Cataria, e com quem marcara um encontro no museu, para mostrar-lhe uma pintura
de D. Sebastião. Na cena, há indicações de semelhança entre a personagem e a
personalidade história: “Helena notou incrédula a semelhança entre mim e o Rei,
fitando alternamente o quadro e a minha cara, a ponto de me deixar embaraçado”
(FARIA, 1993: 103).
O resultado da relação com Helena foram “férias parisienses”, pois ela e o
marido – era casada – para lá foram. A isso o jovem somou a sua aversão a servir no
exército, uma vez que, segundo ele, “a minha missão específica, se a tinha, não se
compadecia com guerras sem sentido” (FARIA, 1993: 111). Essa marca de
personalidade é essencial, porque se opõe ao caráter bélico do rei D. Sebastião.
Em Paris, Sebastião exerce um “trabalho”: seguindo orientações de Helena, ele
se tornou membro de uma sociedade feminina. Sua atividade era receber mulheres e
passear com elas, por vezes, subir aos seus quartos para “tomar um digestivo”. O
“serviço” o fez com compreender “enfim que tais feitos coincidiam com a [sua] vocação
original” (FARIA, 1993: 115), ou seja, a sexualidade. Aqui, a personagem narrador
assume e enuncia sua tendência à sexualidade, opondo-se, mais uma vez, à guerra.
Ainda em Paris, estuda história, dedica-se aos livros e se cansa do trabalho.
Retorna a Portugal, enfim, com economias para viver sete meses e um sentimento
pungente, entretanto, ele não está feliz, “dúvida e desassossego são fiéis companheiros”
(FARIA, 1993: 118). Em outras palavras, após uma experienciar sua trajetória, as
sensações que acompanham Sebastião são desconfortáveis; ele é um alguém
desajustado.
A narrativa, quando chega às suas últimas palavras, muda o tom e torna-se um
discurso melancólico, doído, e não mais engraçado e leve. Sebastião, nosso narrador,
nosso conquistador, após viver intensamente sua sexualidade na França, parece estar
cansado. Retorna, então, ao ponto de partida, como ele mesmo diz, ao seu farol, lugar
onde nasceu ou surgiu, lugar onde encerra o seu ato de narrar a si mesmo. Temos, ao
424
mesmo tempo, uma consciente narrativa cíclica ao lado de uma trajetória igualmente
circular. Esse jovem de 24 anos, após viver algumas aventuras sexuais e uma
verdadeiramente aventura amorosa com Clara, reflete acerca de sua existência:
Por muito que me agrade a travessia dos anos passados, sou
obrigado a reconhecer que não me trouxe senão ao ponto de onde
parti. E não me refiro só à geografia; o percurso por dentro ainda
avançou menos. Continuo ignorando quem sou. Se fui quem hoje
julgo ser, se sou quem dizem que fui, se nunca serei mais que não
saber quem sou ou quem serei, mesmo assim valeu a pena. E
alguma coisa aprendi: quem não quero ser. Não quero ser, por
exemplo, o simples gozador, o engatatão preocupado com a
satisfação da sua vaidade, o sedutor de lábia fácil [...]. (FARIA,
1993: 126)
A personagem analisa sua vida e nega a sua maior característica: a sexualidade,
justamente o elemento que o torna uma recriação do rei morto.
Sebastião, narrador personagem, não morrera em uma batalha, como D.
Sebastião. Entretanto, morrera em vida, isolado, mirando um horizonte nebuloso, na
companhia apenas de alucinações. Sua predestinação teria causado isso? A eterna
sombra de, um dia, agir como um rei? Nós, leitores, não sabemos a resposta; talvez
Sebastião também não a saiba. Ele “gostaria de ser o derradeiro cavaleiro do amor,
aquele cujo órgão erótico principal eram os olhos” (FARIA, 1993: 126), mas optou pela
quase solidão, uma vez que o imaginário – a sombra de D. Sebastião, quem sabe –
sempre o acompanhará. Como ele diz, “ultimamente aparece-me de noite uma figura
nua que podia ser meu duplo e que vem em silêncio, calçando luvas compridas, usando
na cabeça a mitra dos dignitários e príncipes” (FARIA, 1993: 130). Seria a sombra de
uma identidade heróica que se projeta sobre ele, sujeito simples? Seria o sentimento de
viver à sombra de uma identidade histórica idealizada? Independentemente das
respostas, Sebastião isola-se e deixa de ser o conquistador do femino.
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega, v.1. Rio de Janeiro: Editora Vozes,
2000.
425
COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
FARIA, Almeida. O conquistador. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.
HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado: a construção do sebastianismo em
Portugal nos séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da paródia: ensinamentos das formas de arte do
século XX. Lisboa: 70, 1989.
KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974.
SARAIVA, José Hermano. História concisa de Portugal. Martins: Europa , 1999.
SAMOYAULT, Tiphaine. A intertextualidade. São Paulo: Aderaldo & Rothschild,
2008.
426