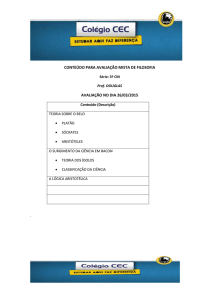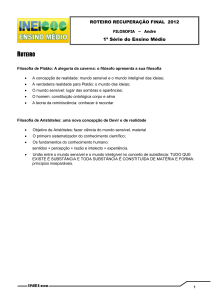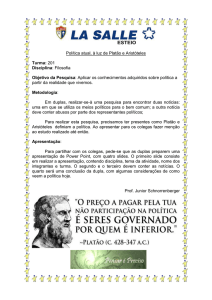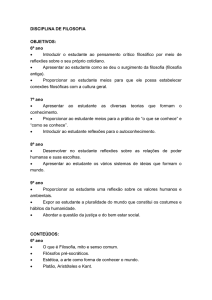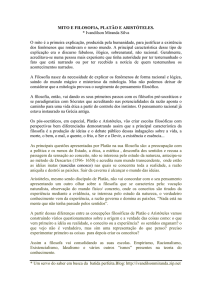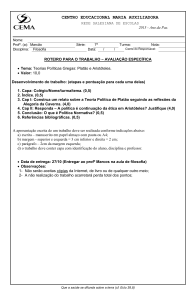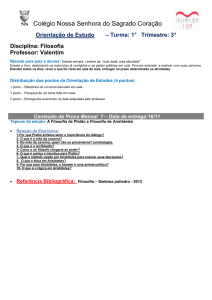Moralidade e legalidade: anotações sobre o pensamento grego
Maurílio Camello
Professor e pesquisador do
centro UNISAL/Lorena
Introdução
O recurso ao princípio para a solução ou encaminhamento de um problema
pressupõe a crença de que o problema é, na realidade, desdobramento, conseqüência
virtualizada no princípio. Os gregos o entenderam assim, quando criaram a solene palavra
archè e deram a ela a tarefa de apontar na physis a força essencial que faz jorrar todas as
coisas e mantém, articulando-o, todo o processo, todo movimento, todo devir. Trata-se,
pois, de uma solução, talvez melhor, uma dissolução do problema em seu ponto de partida,
em suas raízes, na terra que o gerou. Uma compreensão arqueológica, no sentido mais
literal - mais radical - da palavra. O fundamento da ontologia expõe-se assim na palavra.
Os romanos não dispuseram em sua língua de uma palavra tão forte. Entretanto, principium
também tem a ver com princeps, principatum, que incluem a idéia de poder, de comando,
de instância decisória.
A brevíssima indicação que se acaba de fazer tem por finalidade balizar com uma
archè o milenar problema da relação entre moral e direito. E a questão, cujo apelo nos
convoca para este lugar de reflexão, pergunta não tanto pela casuística dos conflitos e
dilemas entre códigos, mas pelos fundamentos sobre os quais se edifica em nossa cultura a
praxis que qualifica como humano certo tipo de vida. Os possíveis conflitos só poderão ser
encaminhados, senão resolvidos, a partir do esclarecimento (que em algum momento
solicitará muito provavelmente a transgressão epistemológica em direção ao metafísico)
dessas razões do agir que constituem, para usar uma expressão de Aristóteles, a filosofia
das coisas humanas.
A modernidade julgou, pelo menos a partir de Hobbes, poder responder à questão
das relações entre moral e direito, dissociando os dois foros, o privado e o público, ou
2
subsumindo o primeiro no segundo, na realidade uma aplicação de sua opção nominalista,
herança medieval tardia (Ockham) que des-ontologizou o ato moral e reduziu o jurídico ao
puro formal, expressão da vontade superior e inquestionável do Estado.
É possível em primeiríssima abordagem supor também que a atenção moderna à
questão se deixou encerrar no mal-entendido de que toda reflexão discursiva devia
inscrever-se na agenda "científica" (idealista-racionalista), tomando-se "ciência" em sentido
unívoco. Moral e Direito passam a ser objetos teóricos, passíveis de um tratamento
apodítico. Torna-se assim recorrente falar em "ciência da moral", como em "ciência do
direito", uma ciência de objeto variável (ou em que o objeto tem pouquíssima ou nenhuma
relevância), mas ancorada em um tecido "sistemático" de proposições gramatical ou
logicamente "corretas". As relações entre moral e direito reduzem-se a uma comparação de
linguagens. O positivismo nascerá daí, e todas as suas expressões no pensamento
contemporâneo, como farta e derradeira floração nominalista.
Será, portanto, necessário ter presentes esses marcos e ultrapassá-los em direção ao
"princípio", à "archè", não apenas para se adquirir uma prospectiva, mas visualizar as
saídas para as aporias ("sem-saídas") ético-jurídicas de nosso tempo.
Acharemos esse princípio ou archè delineado no pensamento grego e efetivado
entre os romanos: não é fora de propósito afirmar que os gregos, especialmente Aristóteles,
criaram a filosofia do direito, e os romanos, a arte (se se quiser, a ciência) do direito, os
primeiros, o quid ius e os segundos, o quid iuris , possibilitando assim a melhor inteligência
das tangências e afastamentos entre moral e direito. A eclosão dos conceitos bíblicocristãos na cultura moral e jurídica do Ocidente intermediou o trajeto e está certamente na
origem dos encaminhamentos modernos e contemporâneos, como também, por esses azares
próprios das "coisas humanas", nas origens dos impasses e dilemas ético-jurídicos que nos
acometem.
Anotações sobre o pensamento grego
Desde muito cedo os gregos experimentaram, em sua cultura, a necessidade
comunitária da lei - essa "razão da polis", muralha de proteção pela qual se devia lutar, e
3
cujo fundamento era a própria lei divina. Lê-se isso no fragmento 114 de Heráclito:
É necessário que os que falam com inteligência se fortifiquem com a coisa
comum a tudo, assim com a lei a cidade e a cidade com mais força: pois
as leis humanas se alimentam todas de uma lei uma, a divina; pois 9essa)
domina tanto quanto quer e dá princípio a todas e as excede1.
Poder-se-ia entender que para Heráclito o modo de pensar que atende ao hen-panta
não separa a consciência do sábio do-que-é-com, do comum-com, isto é, o que reúne a
comunidade na solidariedade radical que constitui a polis. A consciência individual não se
dissocia, não se separa; ao contrário, ela é o “tipo”, o “exemplar”, como a de Bias, que ao
experimentar em profundidade a lei máxima que governa todas as coisas chama a si,
polariza, e merece o “poder” e a liderança da comunidade2. Moral e direito são, na
realidade, uma coisa só; se se separam é porque alguma coisa ocorreu de desintegrador,
deixou-se de ouvir a voz do Logos, para privilegiar o saber polimático e a kakotecnia, como
arte da velhacaria, predominaram na comunidade as forças do egoísmo, os interesses
pessoais e dos grupos, que criaram para eles as leis úteis, ruína e condenação da polis.
De fato, a relação lei da cidade – lei divina não é imediata, tal que a primeira se
apóie sempre sobre a segunda. O frag. 28 oferece um caminho de pensamento para se
ajuizar sobre a prática e o direito dos costumes - o nómos particularizado – formas que mais
se afastam da Dikè. Diz o fragmento mencionado: “O mais conhecido decide das cosias
reconhecidas que ele conserva, mas Justiça vem prender artesãos e testemunhas das
mentiras”. Decide (ginôskei) e conserva (philásein) o juiz: são atos delegados a quem é
mais reconhecido na tribo, atos cujos objetos são as “coisas reconhecidas”. Vale dizer: o
julgamento comum, da comunidade, nomeia e aponta quem julga e o que julga. Mas vem a
Justiça, Dike, e prende juiz e testemunhas das mentiras (pseudôn). A Justiça é a lei
infalível, que não mente, e em sua verdade, as opiniões – o que é reconhecido – se revelam
o que são: mentiras. Isso significa que a Justiça é o oposto do estabelecido. E, como oposto,
julga e condena o que se tem por lei. Mas em que consiste essa Dike que surge como
presença fulminante, de sua própria ausência? Será preciso aproximar-nos do fragmento 80:
1
Tomamos a liberdade de remeter a nosso trabalho: Heráclito: o pensamento da lei, Veritas, Porto Alegre, v.
41, n. 161, p. 37-45, mar. 1996. Alguns elementos são aproveitados aqui.
2
Frag. 39. Veja-se também o frag. 121.
4
“se há necessidade – é a guerra (polemon) que é coisa comum (xynon) e a Justiça que é
discórdia (érin) e todas as coisas que se fazem (ginómena panta) se fazem segundo a
discórdia (kat´érin)”. Guerra e discórdia se ligam sob o termo e a lei maior: necessidade.
Quer dizer: a lei da cidade, até mesmo quando reconhece e estabelece as diferenças (como a
do justo e do injusto), é ultrapassada por algo mais importante, e não tem como fugir da
necessidade: enquanto se faz, isto é, enquanto se situa no devir de todas as coisas, não
escapa da luta e da discórdia. Muito perto estamos do paradoxo: a justiça assegura, como
discórdia, a coesão e a regularidade do devir cósmico. Alma da lei em que a cidade se apóia
e por que luta como por sua muralha, a Justiça é a própria luta, que impede a concórdia, os
acordos e os pactos fictícios. Contra Homero que desejara que “pudesse a discórdia se
apagar entre os deuses e os homens” (Ilíada 18, 107), Heráclito mantém que a discórdia é
justamente aquele combate que designa deuses e homens, como constitui livres e escravos
(Frag. 53).
O interesse dessa incursão no pensamento de Heráclito está em que se pode
perceber, se nosso modo de ver está correto, a tumultuada relação entre a lei divina e a
humana, entendamos entre a moral (como sistema básico de crenças) e o direito (como
norma estabelecida pelo “demos”). A Justiça é “discórdia” – que faz ser – entre o homem e
o deus, como entre o escravo e o livre, entre a vida e a morte. Ela julga permanentemente a
convencionalidade humana, tanto mais se essa se põe como fixa, imutável. É o que se pode
confirmar por outro fragmento “político” de Heráclito, o frag. 44: “É necessário que o povo
lute para defender sua lei, por aquela que se faz, tão bem quanto pela muralha”. Atenda-se
que se trata de uma “lei que se faz” (hyper tou ginoménou), portanto uma lei em devir ou o
devir da lei, que Heráclito entende como o movimento que assegura a vida da comunidade.
Não se trata, pois, de defender uma lei tida como imutável: o povo se conserva
reconstituindo-se pelas modificações que faz sofrer aos usos e costumes estabelecidos. A
coesão e sobrevivência da comunidade dependem da luta pela metamorfose da lei, e isso se
sustenta na base de uma lei invisível que o sábio legislador conhece e que se lhe aparece
como muralha interior. Heráclito testemunha, assim, concluamos, o conflito entre duas
ordens e certamente uma delas, a ordem das leis estabelecidas, não se justifica e não se
mantém, sem se deixar regrar pela Justiça, como ordem cósmica.
Essa possibilidade da dissociação entre moral (expressão de uma lei maior) e direito
5
(expressão dos grupos de poder no interior da polis) não é algo abstrato. A experiência
grega a conhece bem e os textos posteriores a Heráclito dão conta disso. Um dos mais
célebres e conhecidos é a Antígona de Sófocles. Apesar das múltiplas leituras que dele se
pode fazer e dos sentidos diversos que se pode descobrir nas palavras e atitudes dos
personagens, em especial da corajosa filha de Édipo, que dá nome à peça trágica, e de
Creonte, que personifica o poder e a ordem do Estado3, a tradição viu também ali exposto
por Sófocles o conflito entre uma lei dos deuses, um direito “natural” ou a ordem da
moralidade e a lei humana, ciosa de seus fins, expressão de uma vontade temporal, rígida e
convicta de sua “justiça”. Antígona se põe diante de um dilema “ético”: como grega, não
lhe faz sentido desobedecer à lei da polis, como ser humano que é, experimenta que não
pode desobedecer à lei divina. Sófocles vai, entretanto, além desse dilema, muito embora
mantendo a tensão entre os princípios reguladores (ou julgadores) da ação humana. Seus
personagens vivenciam tragicamente as relações do homem com os deuses e com o destino.
O castigo da morte que recai sobre Antígona significa que, de algum modo, ela também
transgrediu a lei divina, a lei do oikos (da família, dos elos que a unem), ao arrastar para a
morte o noivo Hêmon e Eurídice, mãe desse. Por sua vez, Creonte, convicto da legalidade e
legitimidade de sua decisão, mas alertado pelo coro, pelo corifeu e por Tirésias, corrige sua
intransigência, tentando reverter a decisão inicial. Assim o vê Freitag (1992, p. 21),
segundo a qual os deuses não perdoam a Creonte a precipitação e lhe impõem o sacrifício
do filho e da mulher amada. Afirma essa autora:
Creonte é forçado a admitir a vigência simultânea das duas leis, a dos
deuses e a dos homens. E mais, que a primeira, representando o princípio
da vida, é hierarquicamente superior à lei elaborada pelos mortais.
Também ele desespera diante do destino implacável e intransparente à
razão humana, traçado arbitrariamente pelos deuses para os mortais
(FREITAG, 1992, p. 21).
Poder-se-ia pensar que o autor trágico não faz outra coisa senão mostrar aquele momento
da consciência grega em que a lei (humana) vai-se tornando autônoma, quer garantir para si
uma origem e âmbito de atuação “laicos”, onde se vão dissociando o direito divino e o
3
Veja-se: FREITAG, Bárbara. Itinerários de Antígona: a questão da moralidade. Campinas: Papirus, 1992.
Interessante introdução à leitura da peça de Sófocles é: ROSENFIELD, Kathrin H. Sófocles & Antígona. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
6
direito humano, um que mergulha suas raízes nos insondáveis arcanos da Deusa Dikè e
outro que se origina de um legislador conhecido, é datado e tem por objetivo a segurança da
sociedade e do Estado. Gustavo Glotz (1970, p. 146) atendeu com propriedade a essa
dissociação, que não é assim tão clara e radical que deixasse a alma grega filosoficamente
tranqüila, por ter feito a devida distinção de planos. Permanece “uma singular contradição”:
a lei como coisa santa e imutável; a lei como obra humana, sujeita à mudança. Atesta esse
historiador que isso dará origem, com freqüência, a alegações processuais baseadas em
textos irreconciliáveis, fórmulas carregadas de imprecações, penalidades como a atmia (o
afastamento da sociedade) com tal poder que se precipitam
por si mesmas, sem
necessidade de julgamento. Entretanto, vai-se formulando o nómos que nada deve à
revelação; é uma lei escrita, não mais um bem particular de certos privilegiados, herdado
dos deuses; lei despojada de todo mistério e conhecida de todos. Tem autor: Sólon,
Clístenes. De algum modo, o povo participou de sua elaboração e nela assentiu, porque ela
tem por objetivo o bem comum. Esse nómos busca dar a cada um o que lhe pertence,
organizando a justiça distributiva, como atestará Aristóteles, já no séc. IV (Política, III).
Os sofistas entenderão perfeitamente bem o caráter convencional e humano do
nómos, defendendo o que poderíamos chamar hoje de relativismo jurídico. O aspecto
“moral”, “absoluto” que se poderia nomear de phýsis é por eles ressignificado e às vezes de
modo grosseiro, segundo a denúncia de Platão. Mas há matizes e, em razão de sua
diversidade, não se pode dizer que os sofistas pensem uniformemente, sejam uma escola.
Sabe-se que os primeiros, em especial Protágoras, dão ênfase ao homem em oposição à phýsis, mas
vêem na lei, originada da convenção, um papel moral e educativo. No diálogo Protágoras de
Platão, o sofista distingue três estágios no desenvolvimento humano. O primeiro (320d-
211b), os homens viviam numa espécie de “ estado de natureza”, conhecendo a indústria e
a agricultura, mas sem a arte política. No segundo (322b), passaram à vida urbana, para
união e conservação da espécie. Nesse estágio, porém, ins indivíduos agrediam outros e
dava-se a destruição e a dispersão. Foi no terceiro estágio (322c-d) que Zeus enviou
Hermes à humanidade, dando a essa a Justiça e o Respeito, princípios que possibilitam o
nascimento do Estado, como sociedade espiritual, dotado de sanção divina. A influência de
Protágoras em Platão nesse aspecto é nítida. Está-se diante da existência iure divino do
Estado (não é uma criação humana ex contractu), onde a lei é a mestra que ensina aos
7
homens o modo adequado de viver. Nessa concepção protagoriana, não se pode dizer que já
se observa a antítese entre phýsis e nómos, a lei é indiretamente, na realidade, de origem
divina e sua função acaba por liberar o homem do estado natural. Por isso, E. Barker (1983,
p. 70) pôde concluir com razão que “Protágoras, o sofista, era, portanto, um apóstolo do
Estado, que pregava a igualdade de seus membros e a santidade da Lei”.
Hípias, de Elis, já parece ter dado um passo adiante na dissociação entre natureza e
lei, entre o moral e o jurídico. É ainda no diálogo Protágoras (337c-d) que Platão informa
sua opinião (se se pode aceitar que o forasteiro de Elis é o mesmo sofista). Esse Hípias diz,
com efeito, aos atenienses:
Eu vos considero a todos parentes e concidadãos pela natureza, embora
não pelas leis; pois os semelhantes se afiliam por sua natureza, mas a Lei o tirano da Humanidade – às vezes se impõe pela força, contradizendo a
Natureza.
Essa dissociação, ou mesmo oposição, já está clara no sofista Antifo 4, para o qual as
regras da natureza são necessárias, são “leis” que não podem ser desobedecidas. Em razão
da natureza, os homens preferem a vida e o conforto e evitam a morte e o desconforto. As
leis opõem-se, com sua coerção, à lei natural. Antifo não se propõe responder sobre se as
leis são ou não necessárias para a vida em sociedade. Seu individualismo hedonista
concentra-se apenas na crítica das leis que são adventícias e baseadas em convenção, tendo
objetivos de conduta antinaturais e desagradáveis. Elas tornam a vida mais pobre e penosa.
A conclusão que tira não é bem a subversão do estado, mas a desobediência às leis , quando
possível e necessário, pois elas contrariam a natureza, padrão último do Direito e quase
nunca possibilitam a reposição da justiça. São elas que, por último, convencionam a
diferença entre gregos e bárbaros, já que os atributos físicos são os mesmos para todos os
povos. Antifo antecipa, de certo modo, o princípio do cosmopolitismo, que mais tarde
estóicos e cristãos defenderão como o eixo ético-natural do Direito.
A radicalização da oposição entre moral e direito aparecerá, segundo os elementos
fornecidos sempre por Platão, entre os sofistas de última geração, como Cálices, no diálogo
4
Eram conhecidas na Antiguidade algumas de suas obras: A interpretação dos sonhos, A Concórdia, O
Estadista e A Verdade. Dessa última foi descoberto valioso fragmento, que tematiza questões de ética e
política. Ver tradução em: BARKER, 1983, p. 89-91.
8
Górgias, e Trasímaco, na República. Com efeito, é bem conhecida a posição de Trasímaco,
no início do livro I da República. Para ele não há um direito natural (o fundamento moral):
ou o direito é “natural” porque é naturalmente o do mais forte que domina; ou é coisa de
gente fraca e ressentida que, com esse argumento, condena a tirania. Tal opinião é, de certo
modo reforçada por outro personagem, Glauco, para o qual, em seu estado natural, os
homens buscam o prazer sem limites. Mas temem sofrer injustiça e fazem uma convenção;
entretanto, não praticariam a justiça se pudesse. Os sofistas estão mais próximos de autores
modernos (como Hobbes e Bentham) do que se poderia imaginar.
Também é conhecida a posição de Platão. A lei e a justiça na cidade perfeita são o
reflexo, o mais possível fiel, das Idéias (absolutas) de lei e de justiça. O “dirigente-filósofo”
que contemplou a essas é que tem a competência de legislar na cidade, tendo-se presentes
as condições que se expõem na República. Platão está bem longe do relativismo sofístico.
Há uma ordem do Todo na correspondência com a qual a lei humana e a cidade por ela
organizada se legitimam. Não se pode admitir a antinomia: nomos versus physis, pois ela é
fonte do individualismo e do hedonismo, causas de destruição da cidade. Platão se afasta do
intelectualismo sofístico, que punha a primazia nos artifícios reguladores, os nomoi,
convenções. As leis são fruto da inteligência, sim, mas daquela que pode legislar porque
tem a ciência dos valores supremos, entre os quais o Bem. Essa inteligência conhece dos
fins, avaliados em termos não do proveito pessoal, mas de valor. Pode-se em virtude disso
estabelecer três finalidades fundamentais para a lei, finalidades que se poderiam
caracterizar como ético-políticas: conferir
unidade à cidade; fazer reinar a ordem e
estabelecer um vínculo indissolúvel entre moral e política. Se a cidade se deixa levar pelas
divisões intestinas, agoniza, dilacerada como “cidade dos desejos”, pelos egoísmos de todo
tipo. A Constituição e as Leis são a salvação, se forem firmes e precisas para selar a união,
elas têm a função unificadora e arquitetônica. Mais profundamente ainda, elas fazem reinar
a ordem, ou seja, reproduzem a seu modo a ordem cósmica (a articulação harmoniosa dos
círculos do Mesmo e do Outro) e o governante-legislador, assim como o demiurgo
cósmico, põe unidade onde há multiplicidade, , impõe a razão onde há necessidade (Leis
719s). As leis só são leis, quando instauram uma justiça que seja, como no cosmo, justeza e
equilíbrio. Lei e justiça caminham juntas, o justo é o legal, mas essa justiça legal nada tem
de convencional e arbitrário, ligada que está à idéia do justo natural. A justiça, própria da
9
cidade boa, atende às exigências da natureza. É uma ordem orgânica em que o papel de
cada parte é determinado pelas exigências da totalidade. O Todo é o fim das regras da
cidade e cada um há de ser bem educado nelas e cumpri-las, para que se evite a teratologia
política, abrindo-se a porta para a demagogia e, por fim, à tirania. Em conseqüência, não vê
Platão como se poderiam dissociar direito, política e moral. Sem moral, a política é um
conjunto de ardis da razão, que acabam por rebaixar o homem. Sem ordem jurídica, a moral
é um sonho sem consistência e eficácia. Em síntese, a lei é lei do Ser que a funda. Como ser
e valor não se dissociam, a ordem do Ser que é a lei, é a ordem do dever-ser. O Direito
tem, pois, uma função transcendente, sendo muito mais que um instrumento técnico para o
governo da c idade: ele estrutura a ordem política em conformidade com a ordem do
mundo, que tem a Idéia como norma. Observou-se com muita propriedade que não é um
costume fixado pelo tempo, nem pela escrita: isso é a matéria da ordem jurídica,
contingente e secundária (GOYARD-FABRE, 2002). O Direito é a forma das instituições,
forma que reside no espírito dessas, em sua participação na Idéia, de modo que a idealidade
do Direito é, para Platão, mais real que sua realidade de regra positiva.
Se se passa a Aristóteles – com o qual os jurisconsultos romanos terão um vínculo
maior, mediado pelo ecletismo médio-estóico5 - é possível perceber que diminui
consideravelmente, se não é de todo abandonada, essa transcendência do Direito, sustentada
por Platão. Desloca-se a base moral do Direito para a physis. Como o homem é um animal
social e político “por natureza”, a lei também fica ancorada na “natureza das coisas”. Mas
essa natureza é matéria e forma, isto é, não é algo inerte nem uma Idéia, mas não deixa de
ser “organizada”. A lei é para Aristóteles, como fora para Platão, mas em outra perspectiva,
como se viu, a forma da cidade. Não é expressão de ciência, como não é de técnica – tékhne
-mas de phrônesis, prudência. Isso é decisivo: a virtude dianoética da prudência, reguladora
da toda a vida moral, em direção ao bem viver – euzein – fim natural do homem, regula
também e constitui a virtude da justiça, da qual uma das espécies é o Direito – o justo, to
díkaion – em referência ao qual se promulgam leis. A politéia, organização da vida política
pelas leis, deve refletir essas origens morais e naturais. Aristóteles, ao tratar, em sua ética,
5
É a tese de Michel Villey, para a qual a influência do estoicismo no estabelecimento dos princípios do
direito e como fonte da ciência jurídica romana, é muito menor do que tradicionalmente foi afirmado (2003,
p.90). Chega a dizer mais (IBIDEM) que é de Aristóteles a única filosofia do direito (sensu stricto) que a
Antiguidade produziu, o que poderia ser aceito, desde que se aceitassem as dívidas que Aristóteles contraiu
com Platão e com a sofística .
10
da questão da justiça e do direito (Ética a Nicômaco, V), não põe o justo natural (díkaion
physikón) anterior ao justo político (díkaion politikón) e de propósito. O justo político é que
se distingue em “natural” e “legal”, características que se justapõem e se articulam. O justo
natural, universal e invariável (“O mesmo fogo que queima aqui e na Pérsia” – EN,
1134b26-27) é particularizado nas circunstâncias variáveis de lugar e tempo pelas decisões
do legislador. Em outras palavras: a lei natural se traduz em lei civil, mas não é o arquétipo
ou modelo abstrato das leis positivas: as diferentes leis das cidades têm um elemento formal
comum, que é seu modo de traduzir a lei natural; essa é a norma imanente à realidade
objetiva diversificada das leis positivas das cidades, para usar uma feliz expressão de
Goyard-Fabre (2002, p. 31). Essa mesma autora pontuará que as leis positivas não são fins,
mas meios pelos quais as intenções da natureza se estendem e concretizam. Sua finalidade é
a harmonia da comunidade política, harmonia que é a condição de realização do homem
nos seio da grande Natureza (IBIDEM). Sem ser idealista, Aristóteles discute aqui
princípios e, ao desdobrar sua especulação sobre a politéia, se valerá, como se sabe, de
dados de realidade, de um sem-número de constituições reunidas e analisadas, que lhe
proporcionarão escrever sua teoria política6.
Parece, pois, que se pode observar tanto em Platão quanto em Aristóteles que as
relações entre moral e direito se enraízam em suas concepções da polis, vista ou como
reflexo (programático) de uma ordem ideal, ou como desdobramento da demanda
ontológica do homem, ser de natureza. Entretanto, esses gregos se afastam de concepções
teológicas diríamos hoje fundamentalistas, para as quais, tendo a lei origem divina, não
pode haver lugar para um conflito entre moralidade e legalidade, pois são uma coisa só,
como se entenderia na cultura hebraica, especialmente profética. O racionalismo grego faz
aqui a diferença: à lei humana subjaz a razão, capaz de a ler na estrutura do universo, e essa
razão há de variar as disposições jurídicas, dentro das circunstâncias de espaço e tempo. Se
há conflito entre moralidade e legalidade, Antígona não será em tudo imitada, mesmo
porque se terá aprofundado o sentimento de dever moral de obediência à lei.
Eventualmente, poder-se-á propor ao Estado a mudança da lei julgada injusta, mas não há
hipótese de desobedecer a ela, como objeção de consciência: sobrepaira a “santidade” da
6
Em sua Política, Aristóteles volta a essas idéias: veja-se I, 2, 1253 a 35 segs.; III, 16, 1287b5-8. Consulte-se
a Introdução escrita por Mendo Castro Henriques, para a edição bilíngüe da Política (Lisboa: Veja, 1998, p.
30 e segs).
11
lei, acima dos interesses e pontos de vista individuais. É o que se pode ver, em cores bem
vivas, na famosa passagem do Críton (50a em diante) de Platão, onde as Leis fazem ver a
Sócrates a enorme injustiça que ele praticaria, fugindo da aplicação da pena a que fora
condenado7.
A contribuição estóica não se há de afastar desse “racionalismo” grego, antes o
radicalizará, mas não mais na perspectiva da polis. Os estóicos pensam no contexto dos
impérios helenísticos e já não experimentam mais aquela solidariedade que os filósofos
antecedentes propunham entre o indivíduo e a cidade. “Cidadão do mundo”, cosmopolita, o
indivíduo se torna sábio enquanto conhece e se deixa determinar pelo ordenamento do
logos cósmico, busca a harmonia nas relações com os outros e a comunidade, mas sabe que
o que realmente interessa e tem relevância é viver em harmonia com a lei universal – o que
exprimem, usando a antiga expressão “viver segundo a natureza” . Os reinos da terra não
passam de esboço da cidade divina ou podem ser avenidas que a ela conduzem. Os estóicos
procedem a uma superposição e embaralhamento da noção, ética, de lei natural, própria da
espécie humana (como se viu em Aristóteles), e a noção, sócio-política, da ordem jurídica
ideal apropriada a uma comunidade política humana e universal. A ética estóica se
desenvolve interagindo com o alargamento progressivo das concepções jurídicas, que iriam,
apelar cada vez mais como explica Jacques Maritain (1973, p. 81), para a universalidade da
razão legisladora e para uma espécie de common law, imposta pelo monarca acima da
diversidade dos costumes ou nascida de processos de arbitramento entre cidades –
redundando finalmente no jus gentium romano, fruto de civilização oriundo do que a
princípio foram apenas as leis relativas aos estrangeiros. O mesmo Maritain julga caber aos
estóicos a melhor teoria da lei natural da antiguidade e o tema filosófico da distinção entre a
lei humana, que varia de cidade em cidade, e a lei da natureza universal e imutável – non
scripta sed inata lex. Inata na alma humana e cujas prescrições a todos se impõem. O
estoicismo legará tal noção a Roma e Panécio a transmitirá a Cícero, responsável por sua
popularização. Ao enfatizá-la como noção-chave de sua moral, os estóicos, em
conseqüência, dão pouquíssima atenção ao direito. Isso fará Cícero dizer numa passagem
“Ademais, és tão sábio,e não percebes que devemos ter a pátria em maior estima do que o pai, a mãe e
todos os antepassados, por ser ela mais venerável e sagrada, e tida na mais alta conta, assim pelos deuses
como pelos homens dotados de discernimento?” (Críton, 51 a). Sobre as diferenças entre a mentalidade
hebraica e a grega no relativo aos conflitos possíveis entre moralidade e legalidade, ver: LLOYD , Dennis. A
Idéia de Lei. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.48-60.
7
12
célebre de suas Leis (I, 16): “Se a vontade dos povos, os decretos dos chefes, as sentenças
dos juízes fizessem o direito, bastaria o sufrágio e a aprovação da multidão para criar o
direito ao assalto, ao adultério, à falsidade dos testamentos (...) Para distinguir uma lei boa
de uma lei má, a única regra de que dispomos é a natureza”. Cícero explicita a seu modo a
posição estóica, que sustenta a moralidade (a lei da natureza) como padrão de correção da
lei positiva. Essa também será a linha seguida por Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Os
romanos vão receber tais proposições e haverão de acomodá-las, enquanto possível, por
meio daquela filosofia que Ulpiano se orgulhará de ter – non simulata, sed vera
philosophia- a suas práticas jurídicas. Mas não se poderá esperar dos juristas romanos,
como se verá a seguir, que submetam à radicalidade dos princípios sua administração da
justiça: lidando com fatos sociais, com a necessidade de solucionar as lides concretas e
preservar a pax, estarão mais próximos de Aristóteles do que dos estóicos e de Platão.
Referências bibliográficas
BARKER, Ernest. Teoria Política Grega. Tradução de Sérgio Bath. 2. ed. Brasília: Editora
da Universidade de Brasília, 1983.
CAMELLO, Maurílio. Heráclito: o pensamento da lei, Veritas, Porto Alegre, v. 41, n. 161,
p. 37-45, mar. 1996.
FREITAG, Bárbara. Os itinerários de Antígona: a questão da moralidade. Campinas:
Papirus, 1992.
GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. Tradução de Claudia
Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
LLOYD, Dennis. A Idéia de Lei.Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes,
2000.
VILLEY, Michel. Filosofia do Direito: definições e fins do direito; os meios do direito.
Tradução de Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
13