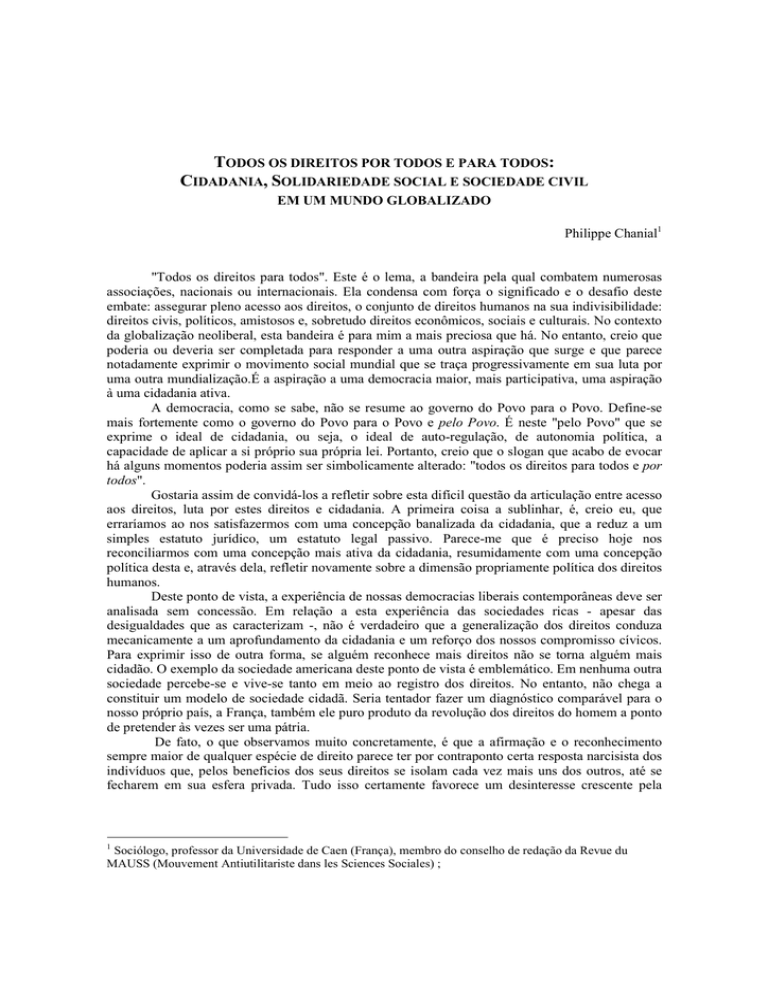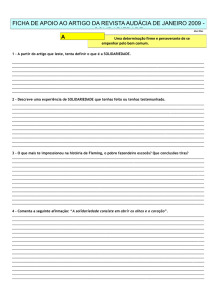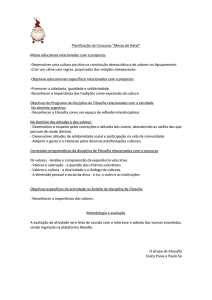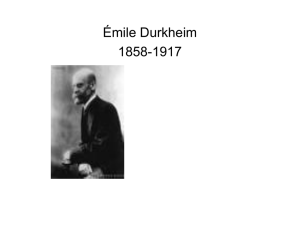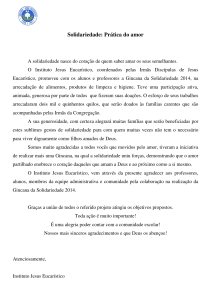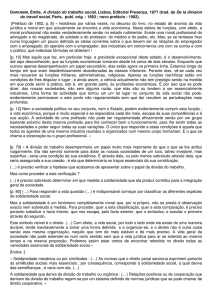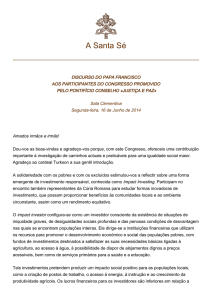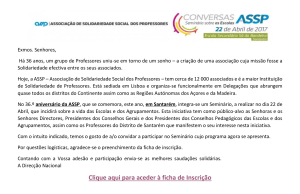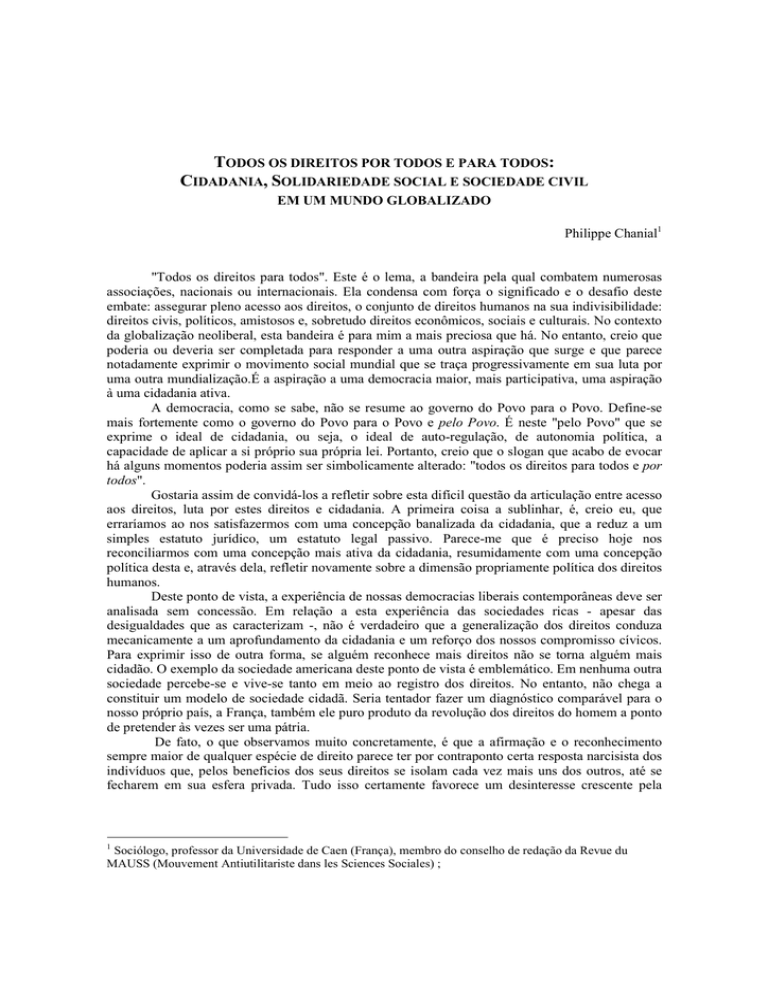
TODOS OS DIREITOS POR TODOS E PARA TODOS:
CIDADANIA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E SOCIEDADE CIVIL
EM UM MUNDO GLOBALIZADO
Philippe Chanial1
"Todos os direitos para todos". Este é o lema, a bandeira pela qual combatem numerosas
associações, nacionais ou internacionais. Ela condensa com força o significado e o desafio deste
embate: assegurar pleno acesso aos direitos, o conjunto de direitos humanos na sua indivisibilidade:
direitos civis, políticos, amistosos e, sobretudo direitos econômicos, sociais e culturais. No contexto
da globalização neoliberal, esta bandeira é para mim a mais preciosa que há. No entanto, creio que
poderia ou deveria ser completada para responder a uma outra aspiração que surge e que parece
notadamente exprimir o movimento social mundial que se traça progressivamente em sua luta por
uma outra mundialização.É a aspiração a uma democracia maior, mais participativa, uma aspiração
à uma cidadania ativa.
A democracia, como se sabe, não se resume ao governo do Povo para o Povo. Define-se
mais fortemente como o governo do Povo para o Povo e pelo Povo. É neste "pelo Povo" que se
exprime o ideal de cidadania, ou seja, o ideal de auto-regulação, de autonomia política, a
capacidade de aplicar a si próprio sua própria lei. Portanto, creio que o slogan que acabo de evocar
há alguns momentos poderia assim ser simbolicamente alterado: "todos os direitos para todos e por
todos".
Gostaria assim de convidá-los a refletir sobre esta difícil questão da articulação entre acesso
aos direitos, luta por estes direitos e cidadania. A primeira coisa a sublinhar, é, creio eu, que
erraríamos ao nos satisfazermos com uma concepção banalizada da cidadania, que a reduz a um
simples estatuto jurídico, um estatuto legal passivo. Parece-me que é preciso hoje nos
reconciliarmos com uma concepção mais ativa da cidadania, resumidamente com uma concepção
política desta e, através dela, refletir novamente sobre a dimensão propriamente política dos direitos
humanos.
Deste ponto de vista, a experiência de nossas democracias liberais contemporâneas deve ser
analisada sem concessão. Em relação a esta experiência das sociedades ricas - apesar das
desigualdades que as caracterizam -, não é verdadeiro que a generalização dos direitos conduza
mecanicamente a um aprofundamento da cidadania e um reforço dos nossos compromisso cívicos.
Para exprimir isso de outra forma, se alguém reconhece mais direitos não se torna alguém mais
cidadão. O exemplo da sociedade americana deste ponto de vista é emblemático. Em nenhuma outra
sociedade percebe-se e vive-se tanto em meio ao registro dos direitos. No entanto, não chega a
constituir um modelo de sociedade cidadã. Seria tentador fazer um diagnóstico comparável para o
nosso próprio país, a França, também ele puro produto da revolução dos direitos do homem a ponto
de pretender às vezes ser uma pátria.
De fato, o que observamos muito concretamente, é que a afirmação e o reconhecimento
sempre maior de qualquer espécie de direito parece ter por contraponto certa resposta narcisista dos
indivíduos que, pelos benefícios dos seus direitos se isolam cada vez mais uns dos outros, até se
fecharem em sua esfera privada. Tudo isso certamente favorece um desinteresse crescente pela
1
Sociólogo, professor da Universidade de Caen (França), membro do conselho de redação da Revue du
MAUSS (Mouvement Antiutilitariste dans les Sciences Sociales) ;
coisa pública. Para expor nos termos de Marcel Gauchet2, seria como se o direito fundamental
adquirido pelos indivíduos nas nossas democracias liberais fosse o direito de desinteressar-se da
existência coletiva, o direito de provar os prazeres exclusivos da felicidade privada. É fácil perceber
as conseqüências de tal processo. A liberdade adquirida poderia revelar-se como parte ilusória à
medida que uma sociedade sem cidadãos é uma sociedade que ameaça ser invadida por novos
poderes, novos mestres e novas servidões que não suspeitamos e face aos quais encontramo-nos
fundamentalmente desarmados. Uma sociedade sem cidadãos depende sempre do Estado e das suas
burocracias, sendo sempre mais vulnerável à hegemonia do mercado e dos interesses econômicos e
financeiros.
Certamente, podemos legitimamente julgar este diagnóstico demasiadamente dramatizado e
pessimista. Até mesmo ultrajante e obsceno, e isso notadamente em relação aos países do Sul que
não têm o luxo de discutir sabiamente os impasses aos quais pode conduzir a lógica dos direitos, na
medida em que eles simplesmente não se beneficiam desses direitos. No entanto este diagnóstico,
por sua ousadia, pode tornar-nos sensíveis ao fato de a articulação necessária entre direitos e
cidadania não acontecer sozinha. Pode ajudar-nos a compreender que a relativa degradação do ideal
de cidadania e dos compromissos que esta supõe tem relação com a interpretação maciçamente
individualista, consumista e às vezes até corporativista dos direitos que parece prevalecer em nossas
democracias. Isto pode, aliás, trazer alguns elementos para explicar a nossa dificuldade presente em
perceber que muitos direitos que consideramos como adquiridos - penso aqui, por exemplo, aos
direitos sociais ou aos direitos das mulheres - são hoje gravemente ameaçados, assim como a nossa
dificuldade para lutar eficazmente contra estas ameaças.
Deste ângulo, a situação dos países do norte e dos países do Sul não me parece
fundamentalmente diferente. O processo de mundialização neoliberal ameaça os direitos
arduamente adquiridos aqui, e limita, ali, o seu reconhecimento e a sua aplicação. Nos dois casos,
manifesta-se uma mesma necessidade de uma cidadania ativa, por conseguinte, de uma sociedade
civil ela própria ativa e, para mim, uma mesma necessidade de sublinhar, tanto na teoria como na
prática, de valorizar a dimensão corretamente política dos direitos humanos.
É isto, após este extenso propósito introdutório, o que eu queria tentar fazer, de uma
maneira, desculpo-me, sofrivelmente abstrata.
DA INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS
Não é mais necessário retornar a um balanço hoje largamente compartilhado, o do insucesso
das políticas neoliberais que pretenderam soberanas por 20 anos sobre a economia mundial. Basta
referir-se, por exemplo, aos relatórios estabelecidos pelo PNUD para a Organização das Nações
Unidas. Perante o monopólio da regulação pelos únicos mercados financeiros, face à um mercado
mundial que transforma o trabalho em uma simples variante de ajustamento, não faltam dúvidas,
como o sublinha G.Massiah3, que o fundamento de uma via de regulação alternativa a nível
internacional encontra-se mais que nunca na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nesta
exigência de controlar a economia e as trocas a partir do respeito aos direitos, tanto civis e políticos
como econômicos, sociais e culturais.
Esta evidência segundo a qual o caminho do alternativo reside no respeito aos direitos não
é, no entanto, nada evidente. E isto não somente em relação às modalidades concretas de sua
exigibilidade. O processo de globalização exige uma reflexão renovada sobre a definição destes
direitos, sobre as formas de cidadania que invocam, mas também sobre a própria concepção de
2
Ver sua estimulante obra, A democracia contra ela mesma, Gallimard, 2002, notadamente o primeiro e o
último textos.
3
Cf. G. Massiah, « O Movimento Social Mundial », na Revista do Mauss, nº 21, « A Alter-economia. Que
outra mundialização ? », primeiro semestre de 2003, La Découverte.
democracia que poderia constituir o horizonte e, por último, sobre o lugar que devem ocupar
respectivamente a sociedade civil e o Estado.
A nossa situação não é mais, de fato, a do pós-guerra. Nesta fase de reconstrução e de
crescimento, os artigos da Declaração relativos à justiça social pareciam então poder se aplicar mais
facilmente que os direitos políticos ou mesmos civis. Hoje, é quase a situação oposta que prevalece.
Apesar de importantes lacunas e situações nacionais contrastadas, os direitos civis e políticos
progrediram, notadamente graças à descolonização e ao desmoronamento do comunismo. Em
contrapartida os direitos sociais estão por toda a parte retrocedendo, tanto ao Norte como ao Sul.
Esta situação é bastante paradoxal. De fato, a lógica antagônica de um mundo governado por dois
blocos punha em cena uma oposição ideológica forte, um summa divisio, entre o registro dos
direitos civis e políticos (campos das "democracias liberais") por um lado, e os direitos sociais por
outro lado (campos das "democracias socialistas"). Na medida em que esta lógica antagônica
desapareceu, pareceria então possível reatar com o que fazia a força da Declaração Universal de
1948: o princípio da indivisibilidade dos direitos. Ora, uma outra lógica, a da mundialização liberal,
vem novamente dividir estes direitos. A mundialização, hoje, vem fragmentar pelo mercado o que o
universalismo dos direitos do homem queria unir em nome da humanidade. Resumidamente, tudo
se passa como se à igualdade - a igual dignidade - do homem frente à humanidade se substituísse a
igualdade das nações frente ao mercado.
O desafio de uma alternativa à mundialização liberal exige então, hoje, a reafirmação deste
princípio essencial da indivisibilidade dos direitos, e primeiramente contra a nova ameaça que faz
pesar sobre esta indivisibilidade a ressaca da lógica do mercado.
Isto nos convida a uma reflexão de ordem teórica. Com efeito, o caráter indivisível e não
contraditório dos direitos do homem não surge sozinho. Tentemos em primeiro lugar esclarecer a
articulação entre estes três registros de direitos - e através deles estes três registros de cidadania que tomamos o hábito de distinguir: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais.
Contrariamente ao que supõem certas análises demasiado mecânicas, estes três registros de direito e
de cidadania não são comandados por qualquer processo vertiginoso que conduziria, de acordo com
uma cronologia impecável e universal, à sua conquista sucessiva e cumulativa. A história real das
democracias não é tão linear. Ao contrário, cada um destes direitos foi objeto de interpretações
contrastantes e deu lugar à hierarquizações diferentes nas diversas tradições políticas que têm
alimentado a história das democracias modernas.
De uma maneira ligeiramente retórica, é possível associar a cada um destes registros de
direitos e de cidadania uma tradição política: ao liberalismo, os direitos civis (a liberdade individual
e os seus prolongamentos, direito de propriedade e liberdade contratual); ao republicanismo, os
direitos políticos (os direitos de participação, diretos ou indiretos, na elaboração das regras que
regem a comunidade política); e por último à social-democracia, os direitos sociais (direito ao bemestar, à proteção e justiça social, etc.). Certamente, isso não significa que estas tradições políticas
identificam-se exclusivamente com um só tipo de direito ou um só registro de cidadania.
Simplesmente, cada uma dessas tradições privilegia hierarquicamente um dentre eles, os outros
sendo considerados não como direitos absolutos, mas como direitos derivados, simples meios
destinados a realizar o registro de direito hierarquicamente valorizado.
Nesta perspectiva, defender hoje a indivisibilidade dos direitos parece-me exigir a
rearticulação dessas três tradições - embora incontestavelmente seja necessário visar uma síntese
bem mais larga. E isso notadamente para justificar a legitimidade, redargüida no contexto de
globalização, dos direitos sociais.
DIREITOS SOCIAIS, AUTONOMIA PRIVADA E AUTONOMIA PÚBLICA
Qual é, em primeiro lugar, a justificação possível dos direitos sociais de um ponto de vista
liberal4? Trata-se, no melhor dos casos, apenas de uma justificação relativa, extrínseca. Como os
direitos políticos, os direitos sociais para os liberais são justificados apenas enquanto lhes permitir
reforçar as liberdades individuais. Neste sentido, os direitos sociais, assim como os direitos políticos
são, sobretudo, meios da autonomia privada, instrumentos à serviço da liberdade de escolha dos
indivíduos. Esta justificação liberal parece-me perfeitamente defensável. A tônica colocada sobre a
autonomia individual permite inscrever os direitos sociais em um registro diverso daquele da
caridade e dependência, que é paternalista e compassional. Os trabalhos do economista - filósofo
indiano, Amartya Sen, recente prêmio Nobel, tem dado atualmente à este argumento todas as cartas
de nobreza no quadro de uma reflexão renovada sobre o desenvolvimento.
Qual é, em seguida, a justificação destes mesmos direitos de um ponto de vista
republicano5? Aqui também se trata de uma justificação derivada, não intrínseca. Como os direitos
individuais, os direitos sociais são justificados apenas enquanto permitem reforçar a liberdade
política. Constituem, por conseguinte, sobretudo meios da autonomia pública, instrumentos ao
serviço do aprofundamento de uma cidadania política ativa. Esta justificação republicana parece-me
igualmente perfeitamente convincente. A exigência de justiça social constitui efetivamente uma
condição tanto da igualdade como da liberdade políticas. E qualquer compromisso cívico efetivo
supõe que, em parte pelo menos, sejamos liberados do império da necessidade e assegurados de
certa segurança material.
Se esses dois argumentos são perfeitamente defensáveis, eles podem ser sintetizados da
seguinte maneira. Se trata-se realmente de defender os direitos sociais numa linguagem que não seja
mais a da caridade, se trata-se de fazer de modo que o seu reconhecimento e a sua aplicação não
mais sejam da competência do paternalismo do Estado, da sua lógica clientelista e normativa, de
seus mecanismos burocráticos, etc., então é necessário interpretar e defender estes direitos como os
meios essenciais da autonomia tanto privada como pública, os meios tanto da liberdade do
indivíduo como da liberdade do cidadão.
Talvez então seja possível, nesta perspectiva, sair de um dos paradoxos das sociedades
democráticas. Este paradoxo é freqüentemente colocado nestes termos. O problema da democracia
resultaria do fato de que a conquista da liberdade, da independência individual, apenas poderia
acontecer às custas da igualdade e da justiça social, isto é, da subjugação crescente das mesmas à
lógica do mercado; e, reciprocamente, que a conquista da igualdade, da justiça social, apenas
poderia fazer-se em detrimento da liberdade, logo, pela subjugação crescente ao Estado e as suas
normas. Tudo aconteceria como se a luta contra a dominação do mercado conduzisse à substituição
de uma forma de dominação - a dos meios de coerção - por outra - a dos meios de produção6.
O primeiro momento de síntese - "liberal-republicano" - que acabo de sugerir permite,
creio, escapar a este acréscimo. Esta síntese visa de fato fundar os direitos sociais em nome de um
ideal de não dominação, quer trate-se da dominação do mercado ou do Estado. Articulando estes
4
Precisamos que trata-se aqui do liberalismo político e não do liberalismo econômico, e menos ainda do neoliberalismo contemporâneo. Estes devem ser distintos, à medida que os pioneiros do liberalismo político, por
exemplo, Montesquieu, Benjamin Constant, ou à seu modo, Alexis de Tocqueville, jamais foram os campeões do « todo
mercado ». Hoje, a fronteira entre esses dois liberalismos pode parecer mais tênue. No entanto, ontem como hoje, afirmar
a primariedade das liberdades individuais e da autonomia da pessoa nao compromete mecânicamente a celebração das
delícias da sociedade de mercado.
5
Entendo aqui por republicanismo menos a tradição propriamente francesa identificando a República à Nação, que a
maior que, em referência à democracia ateniense, às Repúblicas italianas da Renascença, por exemplo, identifica a
liberdade à ausência de dominação, logo ao autogoverno político. Ela valoriza então primeiramente as virtudes cívicas,
condições de uma sociedade livre.
6
Cf. O filósofo político M. Walzer, Esferas da Justiça, Seuil, Paris, 1997.
três registros de direitos, perfila-se assim certa concepção do ideal democrático. Este ideal pode ser
identificado a uma sociedade de autonomia, uma sociedade que recusa qualquer forma de servidão,
resumidamente uma sociedade livre da dominação7.
Este ideal de não-dominação conduz assim a uma valorização forte da cidadania. Em vista
desse ideal, a cidadania de um indivíduo em um grupo – qualquer que seja – é medida pelo grau em
que este pode controlar o seu próprio destino, no interior deste grupo. Os direitos da cidadania
designam então poderes, prerrogativas institucionalmente reconhecidas que reforçam esta
possibilidade de controle. A liberdade efetiva é, por conseguinte, possível apenas numa forma de
sociedade que atribui um lugar essencial à auto-regulação na moldagem dos contextos sociais,
econômicos e políticos que, à sua volta, dão forma à vida de cada um. Neste sentido, não há nem
cidadania nem direito nem liberdade nem igualdade sem um poder de controle e de direção das
formas econômicas, políticas e sociais que governam e regem as nossas vidas.
Isso me parece ser a primeira exigência fundamental de uma sociedade livre da dominação.
Ora, esta me parece dever ser recordada, por que o contexto de globalização que é hoje o nosso é
incontestavelmente inseparável de uma perda real deste poder de controle, correlativo do advento de
novos mestres, por conseguinte de novas servidões.
FACE À ILIMITAÇÃO: DIREITO SOCIAL E SOLIDARIEDADE RECÍPROCA
No entanto, creio que esta dupla exigência da autonomia privada e pública, esta exigência
de uma democracia radical não é suficiente. O ideal de uma sociedade livre da dominação pareceme hoje inseparável de uma segunda exigência, uma exigência de solidariedade e de reciprocidade.
As formas de dominação que sofremos parecem-me resultar de uma dinâmica cujo processo de
globalização constitui a força motriz. A esta dinâmica chamarei, na seqüência de Alain Caillé e
Ahmet Insel, uma dinâmica da ilimitação, da desmedida8. Ora, esta dinâmica, devido a seu
radicalismo, ameaça muito diretamente o respeito aos direitos. É fácil apontar alguns sintomas que
podem parecer heterogêneos, mas que me parecem fazer sistema: a desmedida dos lucros
especulativos ou as remunerações mirabolantes em stock options dos proprietários dos megaempreendimentos (mesmo quando levaram-no à falência); a desmedida na exploração do trabalho
(trabalho no escuro, trabalho infantil, os imigrantes clandestinos, prostituição e máfias); a
desmedida na exploração dos recursos naturais; o hubris científico à obra na artificialização e o
mercantilização do vivente, etc., para não falar da desmedida do poder militar dos Estados, em
relação à atualidade internacional da sombria primavera de 2003.
L'imperativo democrático neste contexto de ilimitação deve ser reformulado. Como
demonstrou notadamente U. Beck9, a política moderna de emancipação e o seu ideal de autonomia
devem se acompanhar de uma política de autolimitação, para instituir uma relação crítica com o
"progresso" e com o "desenvolvimento" econômico, tecno-científico, etc.. Não se trata aqui de
pretender impôr a priori, por princípio e por autoridade, a necessidade de limites. Estes limites
eventuais devem ser discutidos e definidos caso a caso. Neste sentido supõe já uma cidadania ativa,
logo, o princípio de autogoverno. Mas, para que estas discussões possam ter lugar, ainda é
necessário que disponhamos de critérios. Ora, este critério poderia ser o seguinte: desviamo-nos do
campo da ampliação legítima da potência - potência de viver e agir como condição da liberdade
7
M.Walzer resume-o simplesmente nesses termos: « nem mais humilhações nem salamaleques, nem mais servidão nem
engraxar botas, não há mais lágrimas e tremores, não há mais gente toda-poderosa, não há mestres, não há escravos »
(ibid., p.16).
8
A.Caillé, A.Insel, « Quelle autre mondialisation ? » , na Revista do MAUSS semestral, n°20, La Découverte, segundo
semestre de 2002, p.163-168. Este artigo desenvolve uma análise original e estimulante da globalização sob aspectos tanto
econômicos quanto morais e políticos para chegar à proposição de um mui sugestivo « Decalógo da alter-mundialização ».
9
U. Beck, La société du risque, Aubier, 2002 .
como autonomia - para ser joguete na vontade de potência quando pretendermos escapar da
reversibilidade (está aí notadamente toda a questão da nossa responsabilidade face à gerações
futuras, por exemplo, sobre questões ecológicas) - e da reciprocidade – que remete à questão geral
da solidariedade.
Tal perspectiva parece-me levar a atribuir novamente o sentido próprio à noção de
cidadania. Por quê? Porque não é preciso contar exclusivamente com a Ciência, a Economia de
mercado ou o poder do Estado para assegurar sozinhos esta política de autolimitação. Se o que está
em jogo aqui é a questão da solidariedade, primeiramente com relação às vítimas, esta solidariedade
não pode ser comprada simplesmente pelo dinheiro - assegurado pelos mecanismos do mercado -,
ou obtida pelas regulamentações e leis estabelecidas pelo Estado. Resumidamente, desde o
momento em que deixa-se de crer na inocência da Ciência, nos benefícios naturais da economia de
mercado, no papel por essência salvador do Estado, não cabe aos cidadãos a função de desempenhar
este papel crítico, de assegurar o desdobramento desta outra força de regulação social que constitui
a solidariedade? Para dizê-lo de maneira ainda mais objetiva temos duas opções: ou considera-se
que as nossas sociedades por terem se tornado tão complexas devem ser pilotadas como sistemas
“experts”, por especialistas, pela mediação exclusiva do mercado e do Estado, ou se atribui um
novo sentido - onde isto ainda seja ainda possível, e o campo é certamente mais vasto que a nossa
imaginação um pouco adormecida poderia deixar-nos crer - à exigência democrática e cidadã,
tentando radicalizar este princípio de reciprocidade. Se estas velhas noções de espírito público, de
compromisso com o bem comum, ao interesse geral, têm ainda um sentido, elas pressupõem à título
fundamental tal ética da responsabilidade e da solidariedade.
Por estas razões, creio que hoje o ideal de uma sociedade livre da dominação implica esta
exigência de solidariedade recíproca, que deve completar a exigência de autonomia. Talvez seja
então neste duplo registro que deva se reinterpretar a linguagem dos direitos do homem, se
quisermos defender a sua indivisibilidade. E isto tem conseqüências para a justificação dos direitos
sociais. Estes devem ser justificados não somente do ponto de vista da autonomia e do autogoverno,
mas igualmente neste registro da solidariedade recíproca e da autolimitação.
Reencontra-se aí a justificação social-democrata destes direitos, ao menos como sugiro
reinterpretar no novo contexto aqui apresentado. A injustiça social, à qual os direitos sociais
pretendem remediar é, já o disse, inseparável dos mecanismos de dominação e de opressão que
privam indivíduos - ou povos - da sua capacidade de exercer sua autonomia privada e pública. Mas
a injustiça, ou o atentado à dignidade, é também um elemento que rompe a exigência de
solidariedade recíproca. Com efeito, apenas uma tal exigência permite justificar o acesso de todos
às condições de vida materiais necessárias ao gozo das liberdades privadas e dos direitos cívicos.
Neste sentido, esta exigência de solidariedade recíproca, condição de uma autonomia social, não se
opõe ao ideal de liberdade. Ao contrário, radicaliza-o em certa medida uma vez que lembra que uma
autonomia adquirida às custas de outro constitui de fato apenas uma heteronomia camuflada. Logo,
ninguém é livre enquanto todos não forem livres.10
Esta exigência de solidariedade recíproca, condição da autonomia real cada um de nós é,
por conseguinte, inseparável de uma lógica de autolimitação. Nesta perspectiva, os direitos sociais
não constituem apenas direitos. Eles são também obrigações que impomos a nós mesmos para que
a realização da nossa autonomia não se opere em detrimento do outro. Esta capacidade de
autolimitação e de auto-obrigação supõe assim uma capacidade de empatia solidária de cada um
para com todos. Ora, esta exige por sua vez um sentido de comunidade, a co-pertença que, em certa
medida, corrige as tendências dissociativas próprias ao ideal de autonomia privada, da autonomia
para si.
10
Reencontramos aqui nosso lema em sua versão original: « todos os direitos para todos ».
A SOCIEDADE CIVIL COMO SOCIEDADE CÍVICA E SOLIDÁRIA
A questão que se coloca, então, é saber quais são as forças, quais são os atores coletivos
suscetíveis de impor esta dupla exigência de autonomia e de reciprocidade e de reforçar este sentido
da solidariedade. Parece-me que a constituição progressiva e hesitante de uma sociedade civil
mundial pode ser analisada neste quadro. A sociedade civil mundial que nasce - que as ONG por
muito tempo vêm preparando e da qual constituem atores essenciais - parece-me estender-se a partir
desta dupla crítica da desapropriação política (pensa-se aqui a crítica das grandes
burocracias/tecnocracias internacionais ou as reuniões tipo G8) e da ilimitação (a famosa taxa Tobin
constitui a expressão altamente simbólica). E não é um acaso se ela se articula a múltiplas
experiências de democracia participativa ou de economia solidária11. Resumidamente, é hoje,
sobretudo, no campo da sociedade civil, na rede das suas associações múltiplas, sobre o terreno
concreto da vida cotidiana que a luta contra a desmedida e a favor da participação cidadã
desenvolve-se, dia após dia, no âmbito das culturas e dos regimes políticos mais variados.
A sociedade civil contemporânea pode assim ser definida como uma sociedade cívica e
solidária em busca de uma democracia duradoura que a exprima. O desafio de uma política da
sociedade civil consiste neste sentido não somente em defender a autonomia da sociedade civil
perante as ameaças que fazem pesar sobre a sua integridade o Estado e o mercado, mas também
democratizar estes três pólos. Por um lado, favorecendo no seio da sociedade civil o reforço dos
compromissos e das solidariedades voluntárias e quebrando os quadros hierárquicos tradicionais de
dominação12; por outro, constituindo esta sociedade civil como o vetor de uma democratização das
instituições políticas e de uma domesticação da racionalidade - ou irracionalidade - mercantil.
Esta agenda muito geral da política da sociedade civil é indissociável da questão dos
direitos e vice-versa. Não há política da sociedade civil, assim definida, sem um sistema de direitos
institucionalizados. Neste sentido, o sistema dos direitos fundamentais constitui a coluna vertebral,
o vigamento institucional da sociedade civil13. A política da sociedade civil os pressupõe. Ao
mesmo tempo, tais direitos constituem a finalidade, o horizonte do projeto normativo da sociedade
civil. A política da sociedade civil alimenta-se assim da significação simbólica dos direitos14, desta
possibilidade sempre aberta de uma luta no espaço público por uma mais larga realização destes
direitos, para o aprofundamento ou para a generalização dos mesmos aos que são excluídos, mas
também para a criação de novos direitos.
Apesar da relevância de se repensar a sociedade civil, creio que seria um erro idealizá-la.
Ela própria é marcada por um paradoxo constitutivo. Este paradoxo é revelado pelo seu caráter
inconcluso. A política da sociedade civil, porque exige notadamente garantias jurídicas - um
sistema de direitos fundamentais instituídos e aprovados - não é auto-suficiente. Não há sociedade
civil sem uma comunidade jurídica. Do mesmo modo, a sociedade civil não é plenamente
independente do Estado. Podemos exprimi-lo assim: não há sociedade civil sem comunidade
política. Certamente, o Estado democrático depende hoje primeiramente da vitalidade da vida
associativa na sociedade civil. Mas, por outro lado, uma sociedade civil democrática apenas pode
desabrochar-se em um Estado democrático. As suas associações não poderão desenvolver-se,
reforçar a participação cotidiana da maioria, incentivar as pessoas a ajudar a si mesmas, sem a ajuda
do Estado. É por esta razão que o argumento da sociedade civil não pode reduzir-se ao slogan
11
E o que é a economia solidária senão este projeto multiforme de realizar a democracia igualmente na esfera econômica
desenvolvendo práticas e trocas fundamentadas na reciprocidade? Ver por exemplo, P. Chanial e Jean-Louis Laville,
« Economie solidaire, une question politique », em Mouvements n°19, La Découverte, janeiro-fevereiro, p. 11-20 e para
un debate sem concessões sobre as promessas et as ilusões eventuais da economia solidárie, o n° especial de La revue du
MAUSS, n°21, « L’Alter-économie », La découverte, primeiro semestre de 2003.
12
Penso aqui notadamente à situação das mulheres.
13
O que certos militantes do movimento esquecem, principalmente aqueles de inspiração marxista.
14
Cf. C.Lefort, « Direito do homem e política », em L’invention démocratique, Fayard, Paris, 1981.
liberal: "a sociedade civil contra o Estado"15. Porque a sociedade civil – esquecemo-lo às vezes - é
marcada ao mesmo tempo pela desigualdade, pela fragmentação e pela descontinuidade, ela não
poderá realizar a sua missão de "salvar" o Estado democrático sem o auxílio deste mesmo Estado do
qual ela é a suposta salvadora. Nas condições do pluralismo contemporâneo, o papel do Estado
deve, por conseguinte, consistir não somente em contribuir para democratizar a sociedade civil,
afrontando as desigualdades e as múltiplas formas de opressão ou sectarismo que emergem no
mundo associativo, mas igualmente abrir mais largamente a esfera democrática a fim de moderar as
diferenças entre as associações e os recessos identitários; e, por último remediar o caráter
descontínuo e freqüentemente caótico do compromisso benévolo fazendo, por exemplo, do
voluntariado um trabalho estável com status reconhecido.
Neste sentido, só um "Estado solidário" poderá reforçar e ajudar uma "sociedade solidária".
E reciprocamente. Isto supõe identidades políticas fortes, uma ética cívica alimentada por um
sentido de pertença e um sentimento de fidelidade à comunidade política. Contrariamente ao mito
mantido por certos socialistas, dentre os quais Marx, retomados hoje tanto pelos libertários quanto
pelos partidários do mercado livre - o mito da deterioração do Estado -, a política da sociedade civil,
como política da autonomia e como política da solidariedade, reconhece não somente a necessidade
de uma permanência do Estado, mas também uma redefinição de seu papel: garantir, sobretudo as
condições favoráveis à multiplicação de formas de cooperação mútua livres, igualitárias e
solidárias. O que supõe notadamente a garantia jurídica de um sistema de direitos, mas também
políticas voluntariosas por parte do Estado, notadamente de ordem financeira, mas também em
termos de políticas públicas.
CONCLUSÃO
Lembrar, assim, que a política da sociedade civil não se reduz ao slogan neoliberal "a
sociedade civil contra o Estado" - ou à substituição "de uma Sociedade-Providência" ao Estadoprovidência -, não deve levar à reconciliação com o republicanismo clássico segundo o qual os
Estados-nação, espaços tradicionais do autogoverno, deveriam ser os lares exclusivos da
participação cívica e da solidariedade recíproca. Perante a globalização econômica é, ao contrário,
perfeitamente legítimo alargar as fronteiras da sociedade civil na perspectiva de uma cidadania ou
de uma ética cívica ela própria globalizada. Este ideal cosmopolita é relevante. Não podemos, de
fato, esperar governar a economia globalizada sem instituições políticas transnacionais e estas
instituições não poderão ser apoiadas sem o desenvolvimento de identidades cívicas ampliadas.
Contudo, como sublinha o filósofo americano Michael Sandel16, este ideal sofre de um duplo
defeito, moral e político. De um ponto de vista moral, pressupõe que devemos sistematicamente dar
prioridade à nossa fidelidade em relação às nossas comunidades de pertencimento as mais
universais, em detrimento das comunidades mais locais e mais particularistas. Ora esta injunção à
amizade, à solidariedade e à simpatia universais oculta o fato de que não aprendemos a gostar da
humanidade em geral, mas através de suas expressões sempre específicas. De um ponto de vista
político, igualmente, a visão cosmopolita é aporética no sentido que consiste simplesmente em
deslocar a cidadania e a soberania um grau acima do Estado-nação.
15
Michaël Walzer sublinha também que « se a civilidade que torna possível a política democrática apenas pode ser
apreendida nas redes associativas, as capacidades mais ou menos iguais e mais largamente divulgadas que devem
sustentar essas redes devem ser encorajadas pelo Estado ». Ver, « Sauver la société civile », em Mouvements, n°8, La
découverte 2000. Para uma síntese, permito-me citar meu livro « Justice, don et association. La délicate essence de la
démocratie., La découverte, 2001, chap.11 assim como, para um maior debate, A.Caillé, J.L Laville, P.Chanial,
Association, démocratie et société civile, La découverte, 2001.
16
Como M Walzer, podemos classificá-lo no « campo » dos republicanos; ver sua obra, M.Sandel, Democracy’s
Discontent, Harvard University Press, Cambridge, 1996.
Ora, sublinha Sandel, se a esperança de reanimar o autogoverno tem ainda um sentido,
trata-se menos de "relocalizar" a soberania que de dispersá-la: "a alternativa mais promissora ao
Estado soberano não reside numa comunidade mundial (one-world community) fundada sobre a
solidariedade em relação à toda a humanidade, mas numa multiplicidade de comunidades e corpos
políticos - alguns maiores, outros mais restritos que as nações - nos quais a soberania é difundida".
Cada um destes espaços disseminados de soberania viria assim governar as diferentes esferas da
vida social e promover formas plurais de compromisso cívico. O autogoverno reencontraria então
os seus direitos e a sua força, à medida que, assim pluralizado, apoiar-se-ia em nossas fidelidades,
nossas solidariedades e nossas simpatias múltiplas. Se o autogoverno exige hoje que a política
circule em uma multiplicidade de cenas - nas relações de vizinhança, nas escolas, nos lugares de
trabalho, nas igrejas, nos movimentos sociais tanto quanto sobre a cena nacional ou internacional -,
isso supõe que sejamos capazes de pensar e agir negociando incessantemente entre as nossas
diferentes identidades e as obrigações que elas nos impõem, às vezes concordantes, às vezes
contraditórias.
Esta capacidade de viver com as tensões que dão origem às nossas múltiplas pertenças e
lealdades, define provavelmente a virtude cívica específica ao nosso tempo e a própria condição da
constituição de uma sociedade civil associacionista internacional que, articulando autonomia(s) e
solidariedade(s), possa ser a guardiã da indivisibilidade dos direitos e possa contribuir para
assegurar todos os direitos para todos e por todos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Beck U., 2002, La société du risque, Aubier, Paris.
Caillé A., Laville J.L, Chanial P., Association, démocratie et société civile, La découverte, Paris.
Caillé A., Insel A., 2002, « Quelle autre mondialisation ? » , na Revista do MAUSS semestral, n°20,
segundo semestre, La Découverte.
Chanial P., 2001, Justice, don et association. La délicate essence de la démocratie., La découverte,
Paris.
Chanial P., Laville J.L, 2001, « Economie solidaire, une question politique », em Mouvements n°19,
janeiro-fevereiro, La Découverte, Paris.
Gauchet M., 2002, La démocratie contre elle-même, Ed. Gallimard, Paris.
Lefort C., 1981, « Droit de l’homme et politique », em L’invention démocratique, Fayard, Paris.
Massiah G., 2003, « Le mouvement social mondial », em Revitsa do MAUSS ? n°21, « L’Alteréconomie. Quelle autre mondialisation ? », primeiro semestre, La découverte, Paris.
Sandel M., 1996, Democracy’s Discontent, Harvard University Press, Cambridge.
Walzer M., 2002 « Sauver la société civile », em Mouvements, n°8, La découverte 2000.
Walzer M., 1997, Sphères de la justice, Seuil, Paris.