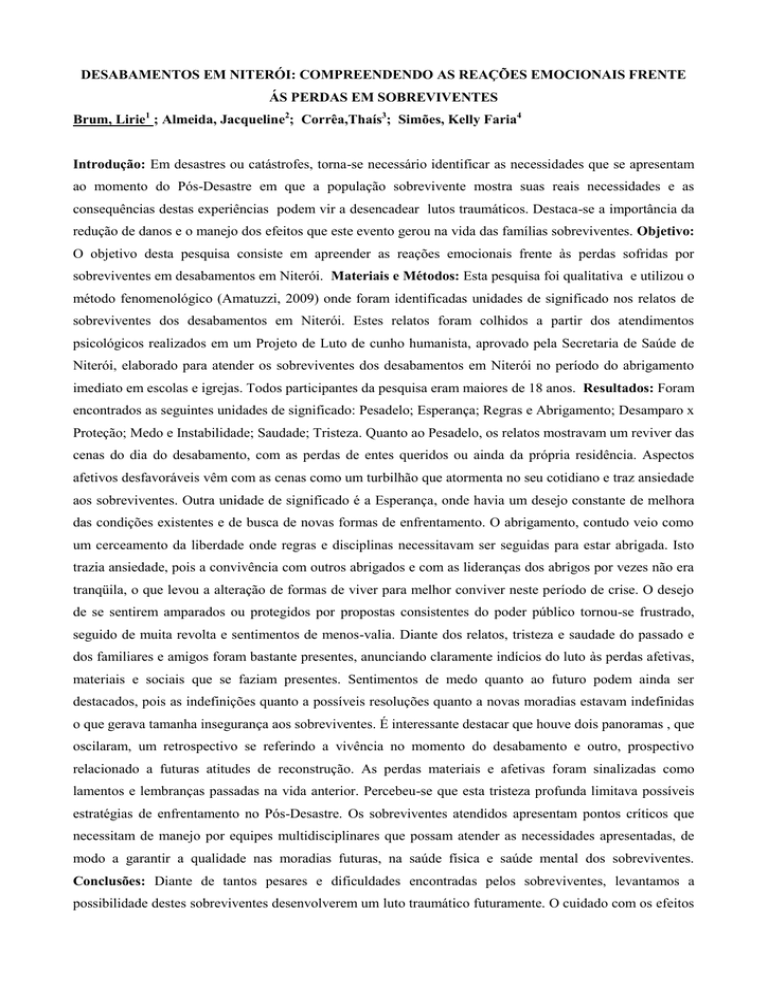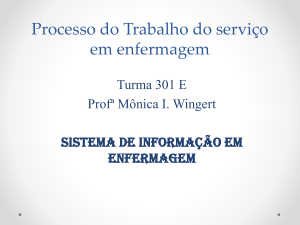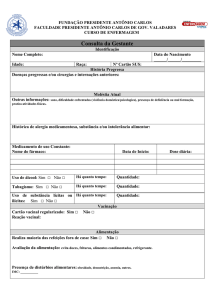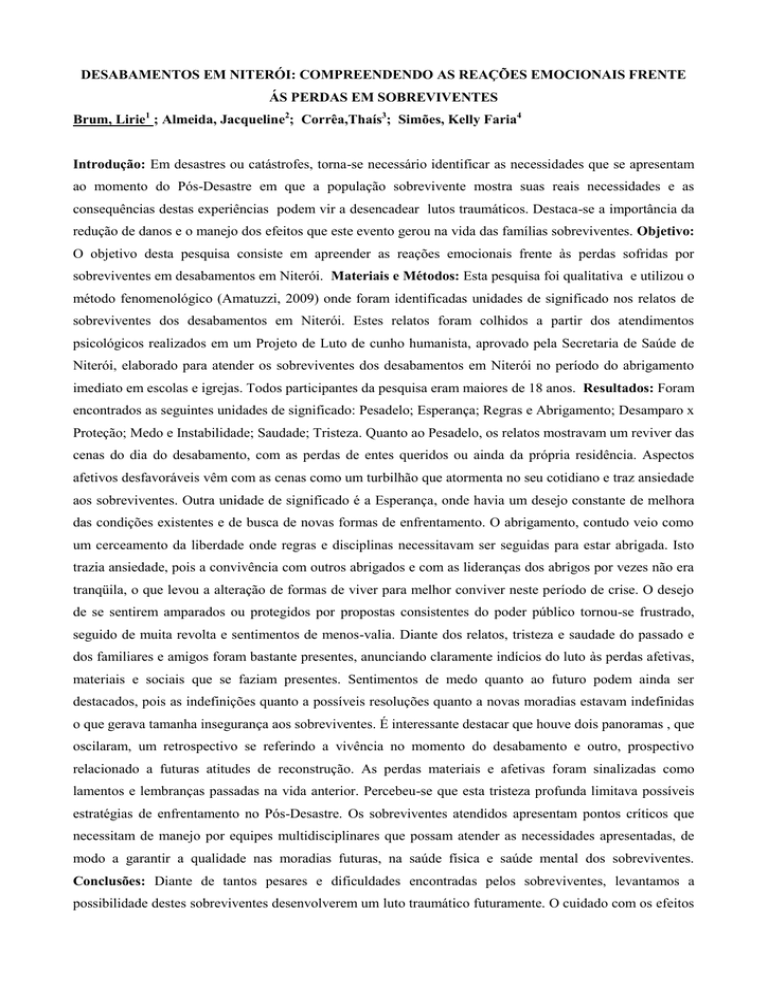
DESABAMENTOS EM NITERÓI: COMPREENDENDO AS REAÇÕES EMOCIONAIS FRENTE
ÁS PERDAS EM SOBREVIVENTES
1
Brum, Lirie ; Almeida, Jacqueline2; Corrêa,Thaís3; Simões, Kelly Faria4
Introdução: Em desastres ou catástrofes, torna-se necessário identificar as necessidades que se apresentam
ao momento do Pós-Desastre em que a população sobrevivente mostra suas reais necessidades e as
consequências destas experiências podem vir a desencadear lutos traumáticos. Destaca-se a importância da
redução de danos e o manejo dos efeitos que este evento gerou na vida das famílias sobreviventes. Objetivo:
O objetivo desta pesquisa consiste em apreender as reações emocionais frente às perdas sofridas por
sobreviventes em desabamentos em Niterói. Materiais e Métodos: Esta pesquisa foi qualitativa e utilizou o
método fenomenológico (Amatuzzi, 2009) onde foram identificadas unidades de significado nos relatos de
sobreviventes dos desabamentos em Niterói. Estes relatos foram colhidos a partir dos atendimentos
psicológicos realizados em um Projeto de Luto de cunho humanista, aprovado pela Secretaria de Saúde de
Niterói, elaborado para atender os sobreviventes dos desabamentos em Niterói no período do abrigamento
imediato em escolas e igrejas. Todos participantes da pesquisa eram maiores de 18 anos. Resultados: Foram
encontrados as seguintes unidades de significado: Pesadelo; Esperança; Regras e Abrigamento; Desamparo x
Proteção; Medo e Instabilidade; Saudade; Tristeza. Quanto ao Pesadelo, os relatos mostravam um reviver das
cenas do dia do desabamento, com as perdas de entes queridos ou ainda da própria residência. Aspectos
afetivos desfavoráveis vêm com as cenas como um turbilhão que atormenta no seu cotidiano e traz ansiedade
aos sobreviventes. Outra unidade de significado é a Esperança, onde havia um desejo constante de melhora
das condições existentes e de busca de novas formas de enfrentamento. O abrigamento, contudo veio como
um cerceamento da liberdade onde regras e disciplinas necessitavam ser seguidas para estar abrigada. Isto
trazia ansiedade, pois a convivência com outros abrigados e com as lideranças dos abrigos por vezes não era
tranqüila, o que levou a alteração de formas de viver para melhor conviver neste período de crise. O desejo
de se sentirem amparados ou protegidos por propostas consistentes do poder público tornou-se frustrado,
seguido de muita revolta e sentimentos de menos-valia. Diante dos relatos, tristeza e saudade do passado e
dos familiares e amigos foram bastante presentes, anunciando claramente indícios do luto às perdas afetivas,
materiais e sociais que se faziam presentes. Sentimentos de medo quanto ao futuro podem ainda ser
destacados, pois as indefinições quanto a possíveis resoluções quanto a novas moradias estavam indefinidas
o que gerava tamanha insegurança aos sobreviventes. É interessante destacar que houve dois panoramas , que
oscilaram, um retrospectivo se referindo a vivência no momento do desabamento e outro, prospectivo
relacionado a futuras atitudes de reconstrução. As perdas materiais e afetivas foram sinalizadas como
lamentos e lembranças passadas na vida anterior. Percebeu-se que esta tristeza profunda limitava possíveis
estratégias de enfrentamento no Pós-Desastre. Os sobreviventes atendidos apresentam pontos críticos que
necessitam de manejo por equipes multidisciplinares que possam atender as necessidades apresentadas, de
modo a garantir a qualidade nas moradias futuras, na saúde física e saúde mental dos sobreviventes.
Conclusões: Diante de tantos pesares e dificuldades encontradas pelos sobreviventes, levantamos a
possibilidade destes sobreviventes desenvolverem um luto traumático futuramente. O cuidado com os efeitos
que este impacto pode ter na vida dos sobreviventes não se referem apenas às conseqüências existenciais a
vida dos sobreviventes, mas a toda sociedade em torno que convive com estes sobreviventes que podem
desencadear prejuízos a própria saúde física e mental diante de um luto traumático, complicado. Levantamos
que devem existir reais ações tanto no que se refere ao poder público e privado a fim de mobilizar recursos
para atender integralmente às necessidades da população afetada; de modo a garantir formas para que a
qualidade de vida se efetive, mantendo o respeito à dignidade dos sobreviventes.
Descritores: Desastres; Vítimas de desastres; Tanatologia
_________________
1
Estudante de Psicologia (FAMATH); email: [email protected]
2 Estudante de Psicologia (FAMATH)
3 Estudante de Psicologia (FAMATH)
4 Psicóloga; Doutora em Psicologia(UFRJ); Pesquisadora Associada do Programa de Pós-Graduação em
Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social(UFRJ); Colaboradora da Fundação Municipal de Saúde
com o Projeto de Luto Pós-Desabamentos em Niterói.
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM CUIDADOS PALIATIVOS
Amim Eleinne¹ Braga Pricilla¹ Cariello Mariana¹ Gomes Marina¹ Marinz Tatiane¹ Silva
Carleara
Ferreira da Rosa²
Introdução: O presente estudo foi realizado através da Revisão de Literatura acerca dos diagnósticos de
enfermagem presentes em pacientes em cuidados paliativos a nível hospitalar. Segundo a Organização
Mundial de Saúde ( OMS) , cuidado paliativo é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e de sua família, que enfrentam problemas associados a doenças e que põem em risco a vida. No
modelo assistencial, o conceito de cuidados paliativos engloba a dimensão técnica, emocional, espiritual e o
suporte familiar, compreendendo os sentimentos do paciente e fornecendo apoio ao enfrentar a
terminalidade. A assistência de enfermagem deve considerar o paciente um ser único, complexo e
multidimensional: biológico, emocional, social e espiritual. A filosofia dos cuidados paliativos consiste em:
afirmar a morte como um processo normal do viver; não apressar nem adiar a morte; procurar aliviar a dor e
outros sintomas angustiantes; integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais no cuidado do paciente;
disponibilizar uma rede de apoio para auxiliar o paciente a viver tão ativamente quanto possível até sua
morte; oferecer um sistema de apoio para a família do paciente na vivência do processo de luto. Faz- se
necessário entender a importância dos cuidados paliativos e do processo de morrer, como parte integrante da
prática de enfermagem, afim de colaborar com as pesquisas na área de tanatologia e enfermagem oncológica
e favorecer discussões no meio acadêmico. Objetivo deste trabalho foi: identificar os diagnósticos de
enfermagem mais freqüentes no contexto de cuidados paliativos, de acordo com a taxonomia NANDA. As
questões norteadoras deste estudo formam: “Existem diagnósticos de enfermagem aplicáveis para o paciente
em cuidados paliativos?” “Quais os diagnósticos de enfermagem que mais aparecem na literatura sobre
pacientes em cuidados paliativos?”. Metodologia Trata-se de uma abordagem qualitativa através de pesquisa
bibliográfica. Durante a busca por artigos relevantes para o tema “diagnóstico de enfermagem em pacientes
com cuidados paliativos” foram visitados as fontes de dados Scientific Eletronic Libary Online (SCIELO) e
Blibioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão considerados foram: recorte temporal de 2002 a
2010, artigos disponíveis na íntegra, artigos disponíveis em português. Os descritores utilizados para
orientar a busca, foram: Tanatologia; Cuidados Paliativos; Diagnósticos de Enfermagem. Sendo utilizados
como fonte de consulta para familiarização com o tema, além dos artigos lidos, livros da área de enfermagem
e as classificações da NANDA, NIC e NOC. Emergiram como Resultados da revisão de leitura, 09 artigos,
onde destacaram-se os segunites diagnósticos de enfermagem, de acordo com a NANDA: ansiedade, fadiga.
Pesar, tristeza crônica, risco de solidão e “luto antecipado”, este último que não foi encontrado no NANDA.
Como contribuição do estudo, realizamos uma proposta de planejamento da assistência, estabelecendo
intervenções ( baseadas na NIC) e resultados de enfermagem (baseados no NOC) para os diagnósticos
encontrados. Ao finalizar o trabalho foi possível perceber que é importante a realização de novas pesquisas
sobre os diagnósticos de enfermagem em clientes em cuidados paliativos, para que seja ampliado o
conhecimento a respeito da singularidade deste tema. A identificação dos principais diagnósticos, como os
que foram apresentados neste trabalho, contribuem para a sistematização da assistência de enfermagem e
favorece a manutenção do bem-estar para o paciente assistido. O acolhimento, a humanização e a visão
holística do paciente, permitem assisti-lo individualmente e como um todo. O planejamento do cuidado
através da linguagem NANDA , NIC
e NOC
apresenta-se como uma forma de maior clareza de
comunicação da equipe profissional, o que culmina em um cuidado efetivo, individualizado e de qualidade
para o cliente assistido, em consonância com um apoio emocional não só ao paciente, mas também a sua
família.
¹ Acadêmicas do 6° período do curso de graduação da Enfermagem da EEAAC da UFF.
² Mestranda em Ciencias do Cuidado em Saúde – EEAAC -UFF. Profª Substituta disciplina Enfermagem na
Saúde do Adulto e do Idoso II.
CUIDADOS DE ENFERMAGEM CIRURGICOS AO CLIENTE EM CIRURGIA PALIATIVA:
REPERCUSSÕES TANATOLÓGICAS
1
Gomes Marina Braga Pricilla2 Santana Rosimere3 Bitencourt Graziele4 Gentille Angelina5
Introdução: Trata-se dos cuidados de enfermagem limítrofes entre o paciente oncológico cirúrgico e a
transição/confirmação da impossibilidade terapêutica e o conseqüente planejamento de cuidados paliativos.
Para tanto traçamos como objetivos: Planejar a assistência de enfermagem a esta paciente que esta se
encontra sobre cuidados paliativos, para que a mesma possa ter uma melhor condição neste último estágio de
vida e para isso descrevemos e analisamos os principais diagnósticos de enfermagem relacionados ao caso
segundo NANDA I; estabelecer as intervenções de enfermagem segundo NIC com base nos diagnósticos
acima determinados; e avaliar os resultados esperados após intervenções estabelecidas de acordo com NOC.
A OMS conceitua cuidados paliativos como uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e de sua família, que enfrentam problemas associados a doenças, que põem em risco a vida 1. Essa
abordagem se realiza através da prevenção e o alívio do sofrimento, avaliação correta, tratamento da dor, e
outros problemas de ordem física e psicossocial. Pois com a progressão da doença, alguns sintomas tornamse exacerbados e o manejo adequado torna-se indispensável na terapêutica a ser proposta, uma vez que os
sintomas causam desconforto ao paciente e, também afetam a família. As intervenções são necessárias para
que se possa prestar o cuidado apropriado no tempo oportuno, de modo a prover o máximo de conforto e de
qualidade de vida para o paciente em cuidados paliativos. Os sintomas mais comuns são: Dor, fadiga,
dispnéia, alterações cognitivas, anorexia, constipação intestinal, náuseas e vômito. Em relação à cirurgia esta
pode ser aplicado com finalidade curativa ou paliativa, sendo considerado curativo quando indicado nos
casos iniciais da maioria dos tumores sólidos, e tardiamente pode ser indicada quando os pacientes se
beneficiam mesmo que em curto prazo, com o alivio dos sintomas, sem que estes tragam risco iminente de
vida. Método: Abordagem qualitativa, prospectiva, do tipo estudo de caso único, realizado com paciente de
86 anos, sexo feminino, internada no Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói-RJ-Brasil, no período de
14 a 28 de maio de 2010. Tendo como técnicas de coleta de dados: a entrevista semi-estruturada baseado em
Carpenito2, levantamento documental do prontuário, observação sistemática, associada ao“Telecare”a fim de
continuar acompanhando os resultados da paciente sistematicamente no pós-alta. Para análise utilizamos o
raciocínio clínico proposto por Risner3 que consiste em categorização dos dados e a identificação de lacunas,
1
Acadêmica de Enfermagem do 6° Período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso costa da universidade Federal
Fluminense e-mail: [email protected]
2
Acadêmica de Enfermagem do 6° Período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso costa da universidade Federal
Fluminense e-mail: [email protected]
3
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (MEM/EEAAC/UFF). Líder do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica (NEPEG). Líder do Grupo de Estudos em Sistematização
da Assistência de Enfermagem (GESAE_UFF) e-mail: [email protected]
4
Enfermeira Especialista em Enfermagem Gerontológica formada pela EEAAC/UFF. Residente pela Secretaria
Municipal do Rio de Janeiro/Souza Aguiar. Professora Substituta da Escola de Enfermagem (MEM/EEAAC/UFF).
Membro NEPEG e GESAE-UFF E-mail: [email protected]
5
Enfermeira. Mestre em Educação. Professora Assistente MEM/EEAAC/UFF e-mail: [email protected]
no processo de síntese realizamos o agrupamento de dados, comparação dos dados com a teoria sustentadora
e a identificação de desvios ou potencialidades de saúde (inferência ou hipótese), para padronização
diagnóstica utilizou-se a edição da NANDA-I 2009-2011, NIC 2008, e NOC, 2008. Quanto aos aspectos
éticos, fizemos uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, informando à cliente que as
informações obtidas serão sigilosas, não identificáveis, servindo de subsídio para o estudo, e a mesma
concordou ao assinar o TCLE. Cabe ressaltar que o trabalho possui aprovação no comitê de ética em
pesquisa sob número de protocolo CAAE-0015.0.258.000-09. Resultados: para ajudar no cuidado desta
paciente em cuidados paliativos usamos a sistematização da assistência de enfermagem e obtivemos como
diagnósticos de enfermagem no Pré-operatório, em ordem de prioridade: Dor aguda, Deambulação
prejudicada, Nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais, Ansiedade, Risco de integridade
da pele prejudicada, Risco de infecção, Dentição prejudicada. Tendo como metas e avaliação do plano de
cuidado: Controle da dor (3-4), Nível da dor (3-4), Bem-estar pessoal (3-4); Locomoção caminhar (3-3);
Equilíbrio (3-3); Comportamento de prevenção de quedas (3-3), Conhecimento de prevenção de quedas (23); Apetite (3-3), Eliminação Intestinal (1-3); Nível de ansiedade (3-4), Sono (4-4); Força muscular (3-3),
Mobilidade articular (3-3); Pele íntegra (5) e Higiene oral (2-4). Para tanto foram selecionadas os títulos de
intervenções de enfermagem para esse momento de pré-operatório, fase culminante da preparação cirúrgica:
Controle da dor, Administração de analgésicos, Assistência no autocuidado e transferência, Monitorização
dos sinais vitais, Preparo e orientação para exames, Prevenção de quedas, Supervisão da pele, Cuidados com
a pele, Posicionamento e conforto, Manutenção da saúde oral, Planejamento da dieta, Aconselhamento
Nutricional, Controle da Constipação, Redução da Ansiedade, Técnica para acalmar, Melhora do sono,
Orientação sobre o procedimento cirúrgico: família e paciente. Na avaliação dos resultados obtivemos
melhores resultados: na Higiene oral (5), Dor (4), e Ansiedade (4), e Eliminação intestinal, em função da
melhora no apetite e maior ingestão hídrica. Porém, como esperado um novo plano de cuidados foi
requisitado no período pós-operatório, ainda mais pelo agravo da paciente ter diagnóstico médico de tumor
maligno de cabeça de pâncreas, este inoperável com prognóstico ruim, com poucos meses de vida. A família
decidiu por não verbalizar tal fato com a paciente, e junto com a equipe de saúde optaram por proporcionar
retorno ao ambiente domestico assim que houvesse a estabilização do quadro. Portanto, tivemos como
diagnósticos de enfermagem, em prioridade: Dor aguda, Padrão respiratório ineficaz, Mobilidade no leito
prejudicada, Integridade da pele prejudicada, Déficit no autocuidado para banho, Déficit no autocuidado para
higiene íntima, Déficit no autocuidado para vestir-se, Risco para infecção, e Processos familiares
disfuncionais. Traçando como metas e avaliação do plano de cuidados segundo a classificação NOC:
Controle da dor (3-4), Nível da dor (3-4), Estado de bem estar pessoal (3-4); Curativo (2-5), Cuidados com a
pele (2-5); Sinais vitais (3-4); Nível de ansiedade (3-4) Controle de riscos (3-5), Conhecimento: controle de
infecção (2-3); Autocuidado: banho (2-4), Mobilidade (2-4); Autocuidado: higiene (2-4); Autocuidado:
vestir-se (2-4); Mobilidade (2-4). E como títulos das intervenções de enfermagem implementadas tivemos:
Administração de analgésicos, Controle da dor, Monitorização de sinais vitais, Monitorização respiratória,
Oxigenoterapia, Redução da Ansiedade, Proteção contra infecção, Cuidados com o local da incisão, Controle
de infecção, Cuidados com sondas e drenos, Banho, Cuidados com períneo, Assistência no autocuidado
vestir-se e arrumar-se, Posicionamento, Orientação familiar e Apoio. Como principais resultados obtidos
com aspecto positivo até a alta hospitalar, tivemos: alívio da dor (4), função respiratória (5), Pele integra (4),
Ansiedade (4), e Déficit no autocuidado (4). Como resultados de manutenção: Mobilidade (3) e
Enfrentamento familiar (3), entendendo que para alcance de resultados esperados nesses domínios o fator
tempo e persistência das ações seria preponderante, portanto caracterizado como ações de cuidado
continuado. E, através de Telecare foi acrescido um novo diagnóstico Medo, além deste foi possível
identificar que alguns diagnósticos presentes no pré-operatório e que havíamos alcançado o NOC desejado,
se alteraram voltando ao valor encontrado nos primeiros contatos com a paciente, sendo eles: Nutrição
desequilibrada menos que as necessidades corporais em pré-operatório (3), eliminação intestinal (1), e nível
de ansiedade (3). Quanto à família esta se sentia despreparada e com medo na piora do quadro relatando
“sentir necessidade de interná-la novamente”. Conclusão: Portanto evidenciamos a necessidade de modelos
assistenciais que garantam a continuidade do tratamento oferecido no ambiente hospitalar, seja domiciliário
ou ambulatorial paliativo, no intuito de reforçarmos os esclarecimentos e orientações já fornecidas, sanando
e apoiando o paciente e seus familiares no fim da vida, garantindo qualidade de vida, bem-estar e conforto.
Pois a paliação deve ser indicada e contemplada aos pacientes com doenças crônico-degenerativa,
implementadas em todos os níveis de atenção à saúde, contribuindo para um melhor controle de sintomas
proporcionando sobrevida com qualidade. Pois os cuidados visam à promoção de conforto e são voltados
para higiene, alimentação, curativos e cuidados com ostomia, e atenção sobre analgesia, observando-se,
portanto, as necessidades de diminuição de sofrimento e aumento de conforto.
Palavras–chave:
enfermagem oncológica, cuidados paliativos, processos de enfermagem, gerontologia
Referências:
Ações de enfermagem para o controle de câncer: uma proposta de integração ensino-serviço. / Instituto
nacional do Câncer. – 3ª ed.rev. Atual. ampl. – Rio de Janeiro: INCA, 2008.
Johnson M, Bulechek G, Dochterman JM, Maas M, Moorhead S. Nursing diagnosis, outcomesmand
interventions – Nanda, Noc and Nic linkages. St Louis: Mosby; 2001.
North American Nursing Diagnosis Association – NANDA Diagnósticos de Enfermagem da NANDA:
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre (RS): Artmed; 2010.
CLOSKEY, J. C., BULECHEK, G. M. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 4 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
JOHNSON,
Marion;
MAAS,
enfermagem(NOC). 3 ed.
Meridean;
MOORHEAD,
Sue,
classificação
dos
resultados
de
Porto Alegre: Artmed, 2008.
BRUNNER e LOBO, RD et al. Manual prático de procedimentos: assistência segura para o paciente e para o
profissional de saúde. SP: HCFMUSP,2009, 72p.
Lucena AF, Barros ALBL. Mapeamento cruzado: uma alternativa para a análise de dados em enfermagem.
Acta paul enferm. 2005;18(1):82-8.
CARPENITO LJ. Plano de cuidados e documentação. 6ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 2009.
IDENTIFICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM “PESAR” EM ADULTOS E IDOSOS
HOSPITALIZADOS COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER E SEUS FAMILIARES.
Depianti Jéssica, Bertasso Lívia, Otero Nattasha, Barboza Joseane, Dias Thaíssa, Azevedo Bianca, Lima
Fernanda, Portugal Amanda, Beringui Adriana Rosimere Santana 6
Resumo: Introdução: Conceitua-se Pesar como um processo normal complexo que inclui respostas e
comportamentos físicos, espirituais, sociais e intelectuais, por meio dos quais indivíduos, famílias e
comunidades incorporam uma perda real, antecipada ou percebida às suas vidas diárias. Pois o diagnóstico
de câncer ainda se constitui como um momento particularmente difícil e gerador de intensa angústia na vida
de uma pessoa em função de uma série de rupturas em sua forma habitual de vida, a incerteza e a
insegurança do futuro, um tratamento incerto, por vezes, doloroso e prolongado e a possibilidade da morte.
Estes são aspectos determinantes na configuração de um estado de crise em que a fragilidade emocional.
Segundo Ruiz, a Tanatologia é a de ciência que estuda as atitudes que o homem tem diante da morte e do
morrer. Atitude aqui implica também em “pensamento”, “subjetividade”, “arte”, “cultura”, “religião”,
“literatura”, “comportamento”. Assim, a tanatologia se interessa por todas as ações, atitudes e representações
que o homem realiza quando elabora questões relacionadas à morte e o morrer. Para tanto delimitamos como
questão norteadora: Qual a incidência do diagnostico de enfermagem Pesar em pacientes e familiares
hospitalizados para tratamento de câncer? E traçamos como Objetivos: Identificar e analisar a presença do
diagnóstico de enfermagem Pesar em adultos e idosos hospitalizados com câncer e seus familiares. Segundo
dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer representa a terceira doença em mortalidade no mundo,
seguido das doenças infecciosas e das cardiovasculares, sendo que no Brasil ocupa a segunda posição, daí
sua relação popularizada com a finitude e morte. O número de estudos sobre a temática abordada são ainda
poucos, por isso se faz necessário preencher essa lacuna de conhecimento que faltam na identificação do
diagnóstico de enfermagem pesar em adultos e idosos hospitalizados com diagnóstico de câncer e seus
familiares. Método: Trata-se de um estudo que apesar do traço quantitativo de objetivação do objeto em
questão, este possui em essência uma natureza qualitativa intrínseca ao fenômeno da subjetividade humana,
portanto fez-se necessário recorrermos à abordagem mixed-method, ou seja, estudos denominados
historicamente como quanti-qualitativos realizado através de coleta de dados, com 36 entrevistados, sendo 18
pacientes com diagnóstico confirmado de câncer – 12 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, e 18
familiares no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no município de Niterói-RJ, no período entre
abril e junho de 2010. Para realização da coleta de dados utilizamos uma abordagem sutil visto que alguns
pacientes não tinham conhecimento sobre seu quadro patológico, apenas seus familiares. Resultados: Quanto
a caracterização da amostra obtivemos discreta discrepância em relação ao gênero, os homens apresentaram
1
2
3
Relatora. Acadêmica do 6º período de enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.Universidade Federal Fluminense
Monitora de Fundamentos de Enfermagem II. E-mail. [email protected]
Acadêmica do 6º período de enfermagem. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa.Universidade Federal Fluminense.
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Especialista em Psicogeriatria. Professora Adjunta MEM/EEAAC/UFF. Vice-coordenadora da PósGraduação em Enfermagem Gerontológica (EEAAC/UFF). Líder do NEPEG. Líder do GESAE_UFF. [email protected]
Acedêmica de Enfermagem 6º Período. Escola de Enfermagem.Universidade Federal
mais o DEP em relação às mulheres e familiares, porém, em alguns momentos, a porcentagem entre homens
e mulheres mostrou-se equivalente. Tivemos como características definidoras mais presentes nos três grupos:
alterações na função endócrina 16,6% dos pacientes homens, 11,1% das mulheres, 27.7% dos familiares,
descrita por perda do apetite e, conseqüentemente a perda de peso; alterações na função imunológica foram
observadas em 22,2% dos pacientes homens, em 16,6% das mulheres e em 33,3% dos familiares,
identificada por repetidos episódios de gripe em um curto período de tempo, muito cansaço mesmo quando
não realizavam atividades e, anemia confirmada por hemograma; alterações no padrão de sono foram
apresentadas por 16,6% dos pacientes homens, 16,6% das mulheres e 27,7% dos familiares, caracterizado
principalmente por episódios de insônia, despertar várias vezes durante a noite, sono não restaurador e,
especificamente no caso dos pacientes, dificuldade para dormir devido aos sintomas do câncer, como dores;
crescimento pessoal associado a „descoberta‟ da doença passaram a dar mais valor as pessoas, a família ao
paciente e vice-versa, foi apresentado por 22,2% dos pacientes homens e em 33,3% os familiares; e
sofrimento psicológico foi observado em 22,2% dos pacientes homens, em 5,5% das mulheres e em 27,7%
dos familiares caracterizado por desesperança, apatia e depressão. Conclusão: Sabendo que o câncer é uma
patologia grave, que muitas vezes não existe possibilidade de cura, consiste em uma situação problema, onde
mexe com o psicológico do paciente e seu familiar. Portanto, é necessário que o profissional de saúde saiba
orientar ao paciente e família, e principalmente ampará-los nessa hora difícil para ambos, dando
continuidade aos cuidados prestados a esse paciente e melhorando sua qualidade de vida. Os Cuidados
Paliativos são uma abordagem que objetiva a melhoria na qualidade de vida do paciente e seus familiares
diante de uma doença que ameaça a vida, através da prevenção e alívio de sofrimento, através da
identificação precoce e avaliação impecável, tratamento de dor e outros problemas físicos, psicológicos e
espirituais estes são ofertados de forma contínua, desde o diagnóstico de câncer até a morte e, têm sido
reconhecidos como benéficos no tratamento ao paciente com câncer, e por isso tendo uma relação estreita da
enfermagem como mola propulsora na execução deste modelo terapêutico.
Descritores: Tanatologia, Pesar, Enfermagem oncológica.
ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS: UM PROBLEMA DE SAÚDE
PÚBLICA
7
SILVA, Ana Luiza Azevedo Conrado da JESUS, Natália Carvalho de8 RAMOS, Eliane Pereira9
SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade10
Introdução: Desde a década de 80, as taxas de mortalidade por causas externas tem mostrado índices
significantes. No mundo as causas externas ocupam a quarta posição (11%), perdendo apenas para doenças
cardiovasculares (cerca de 31%), pelas doenças infecciosas e parasitárias (cerca de 18%) e pelas neoplasias
(cerca de 13%). Dessa forma, estão caracterizadas como um dos maiores problemas de saúde pública, uma
vez que é considerada, no Brasil, a segunda causa de óbito e a primeira em indivíduos de 5 a 39 anos. Tendo
em vista essa relevância, os acidentes e violências atualmente são classificados pelo Ministério da Saúde
(MS), como o Código Internacional das Doenças – CID 10 compondo o capítulo XX, no qual se refere às
causas externas de morbidade e mortalidade. O perfil da morbi-mortalidade por essa causa ultrapassa o
sofrimento individual e coletivo, refletindo dessa forma no modo de viver e a cultura de um povo. O estudo
justifica-se uma vez que no Brasil a taxa de mortalidade por causas externas é considerada a segunda causa
de óbito e a primeira em indivíduos de 5 a 39 anos, e pelo fato de que, no mundo, as causas externas ocupam
a quarta posição e só perde para as doenças cardiovasculares, infecciosas e parasitárias e as neoplasias.
Objetivo: Esse estudo tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura acerca da mortalidade por
causas externas no Brasil, caracterizando o perfil dessa mortalidade. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, exploratório, bibliográfico, com busca de dados nas bases do DATASUS, especialmente no
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), IBGE, além das bases Literatura Latino-Americana e Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrinic Library on-line (SCIELO) e do Ministério da Saúde.
Resultados: o estudo encontra-se em andamento, não se obtendo ainda, resultados permanentes. De acordo
com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as causas externas são responsáveis por taxas de mortalidade
mais elevadas na população jovem, do sexo masculino. Os dados do SIM permitiram identificar que em
1980, as “causas externas” eram responsáveis por aproximadamente a metade (52,9%) do total de mortes dos
jovens do país. Em 2007, quase 3/4 da mortalidade juvenil deve-se a causas externas. A importância das
causas externas também se reflete nos gastos públicos de saúde. Um dos meios importantes para evitar a
morbi-mortalidade pelas causas externas é realizar a prevenção de acidentes e violências. Conclusão: Tendo
em vista o que foi discutido neste estudo, pode-se concluir que as taxas de mortalidades por causas externas
são caracterizadas como um dos maiores problemas de saúde pública. A partir desses dados preocupantes, o
desenvolvimento de estratégias que visem a prevenção de violência e acidentes é de grande valia para que
1
Graduanda do 5º período do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa/UFF, Niterói, RJ. Bolsista de Extensão E-mail: [email protected]
2
Graduanda do 5º período do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa/UFF, Niterói, RJ. Bolsista de Extensão E-mail: [email protected]
3 Doutora em Enfermagem, Professora Associada do Departamento Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Niterói, RJ. E-mail: [email protected]
4 Doutora em Enfermagem, Professora Associada do Departamento Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Niterói, RJ. E-mail: [email protected]
essas taxas diminuam. Através de educação em saúde e de orientações em saúde, é possível evitar acidentes
e, consequentemente, reduzir a taxa de morbi-mortalidade.
Descritores: Causas externas, Mortalidade, Violência e Acidentes
MORTALIDADE MASCULINA E SUAS RELAÇÕES COM O CUIDADO
Nascimento, Ester Sueli do
11
Pereira, Eliane Ramos12 Silva, Rose Mary Costa Rosa Andrade 13 Silva,
Marcos Andrade14
Introdução: O proposto trabalho tem por objetivo analisar a ocorrência de morte de homens, no período de
2001 a 2006, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Sabe-se que, de acordo com o MINISTÉRIO DA
SAÚDE, a maior causa das internações hospitalares de homens, são as doenças do aparelho circulatório,
destacando-se os acidentes coronarianos, responsáveis por 40,5%, seguidos pela hipertensão arterial (18,7%),
além disso, dentre as internações por tumores do aparelho urinário, destaca-se a neoplasia maligna de
próstata, com 2377 casos, trazendo um alto custo ao SUS. Quanto as causas externas, o conhecimento sobre
a morbidade ainda é precário, porém sabe-se que 80% das internações no SUS, são motivados por estas
causas, predominando a faixa etária dos 20 aos 29 anos. Os dados foram obtidos através do
DATASUS/Ministério da Saúde, verificando desta forma, as possíveis causas do crescente índice de
mortalidade, relacionadas a essas patologias. Este estudo tem como justificativa, a Política Nacional de
Atenção Integral a Saúde do Homem, apresentada no ano de 2009, que tem como finalidade, qualificar a
saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da
atenção, e está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica, que é porta de entrada para o SUS, com
as estratégias de humanização, e em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços
em redes e cuidados da saúde. Para isto, faz-se necessário um estudo mais amplo, das questões que mais
afligem este público. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com levantamento de
dados estatísticos no DATASUS, no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e nas bases de dados:
Literatura Latino-Americana e Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrinic Library on-line
(SCIELO) e do Ministério da Saúde, acerca da morte na população masculina da região metropolitana do Rio
de Janeiro. O estudo faz parte do Projeto de Extensão Impactos na Saúde do Homem: Ações Educativas e
Qualidade de Vida, vinculada a PROEX/UFF. Resultados: a pesquisa encontra-se em andamento, ainda não
obteve-se resultados permanentes. Segundo o CONASS do MINISTÉRIO DA SAÚDE, em sua nota técnica
(07/2009) acerca dos Princípios e Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, de
acordo com dados fornecidos pelos sistemas de informações do SUS, constata-se que o público masculino
adentra o sistema de saúde por meio da atenção especializada, com maior custo para o SUS. Estudos
comparativos realizados entre homens e mulheres mostraram que os homens são mais vulneráveis às
doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e morrem mais precocemente que as mulheres. Os
homens não buscam como as mulheres na rotina, os serviços de atenção à saúde. As causas apontadas para a
baixa adesão aos serviços e ações de saúde são constituídas, entre outras, pelas barreiras sócio-culturais, e
barreiras institucionais. Além disso, os serviços e estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde
1
Bolsista de extensão e graduanda do 7º período de Enfermagem da EEAAC/UFF. email:
[email protected]
2
Enfermeira. Doutora em Enfermagem-UFRJ/EEAN/Professor Associado da EEAAC/UFF.
3
Enfermeira e filósofa. Doutora em Enfermagem-UFRJ/EEAN/Professor Associado da EEAAC/UFF.
4
Enfermeiro. Mestre em Enfermagem UNI-RIO- Professor da UGF/RJ.
para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Uma questão apontada pelos homens para a não procura
pelos serviços de saúde, está ligada a sua posição de provedor. Alegam que o horário de funcionamento dos
serviços coincide com a carga horária de trabalho. A compreensão das barreiras sócio-culturais e
institucionais é importante para a proposição estratégica de medidas que venham a promover o acesso dos
homens aos serviços de atenção primária, afim de resguardar a promoção e a prevenção como eixos
necessários e fundamentais de intervenção. Todas as ações devem ser permeadas pela humanização e
qualidade da assistência. As principais diretrizes são: priorizar a atenção básica com foco na estratégia saúde
da família, porta de entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado, promover a
articulação interinstitucional, em especial com o setor Educação, promotor de novas formas de agir e pensar,
reorganizar as ações de saúde através de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços
de saúde também como espaços masculinos, e por sua vez, os serviços de saúde reconheçam os homens
como sujeitos que necessitam de cuidado. Conclui-se que ainda há muitos desafios a serem ultrapassados na
saúde do homem. Sobretudo quanto ao cuidado. Faz-se necessário estimular o desenvolvimento do autocuidado, para assim, cumprir a meta de redução do alto índice de mortalidade masculina. Busca-se recursos
para alcançar este público, de maneira a impactá-lo e educá-lo, para que desta forma seja possível um
aumento da prevenção de doenças e promoção de saúde, procurando compreender os aspectos sócio-culturais
que envolvem o homem, minimizando quem sabe desta forma, danos que possam levá-lo ao óbito.
Descritores: Saúde do Homem; mortalidade; prevenção de doenças; Enfermagem.
IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM DA PRÁTICA DA EUTANÁSIA NO PACIENTE
TERMINAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
SANTOS, Nathalia Telles Paschoal15 BITENCOURT, Graziele Ribeiro16SANTANA, Rosimere
Ferreira.17
Introdução: A Eutanásia é um procedimento usado para antecipação da morte, com intuito de apressar, sem
dor e sofrimento na fase terminal, na qual o estado da doença é incurável. Geralmente, esses pacientes têm a
vida mantida, devido a dependências farmacológicas e/ou de máquinas que imitam o processo fisiológico
natural para manter os sinais vitais (manutenção artificial da vida). Esta temática gera divergência de
opiniões de cunho ético, religioso, pessoal, cultural e moral. O cenário da morte e a situação do paciente que
vai morrer são as condições de maiores conflitos neste contexto, levando em conta os princípios, às vezes
antagônicos, de preservação da vida e do respeito à dignidade humana. A assistência no processo de morrer
trata-se de questão legal, porque está envolvida uma proposta homicida, mesmo que por piedade. Sabe-se
que a enfermagem pode ser inserida neste contexto por ser responsável pelo cuidado ao direto ao paciente,
por meio de conforto não somente com uso de técnicas de suporte físico, como administração de
medicamentos para o alívio da dor, mas também com assistência social e psicológicas. A atividade
profissional de enfermagem baseia-se no respeito à dignidade humana, devendo ser participativa em todos os
momentos, para assim abrandar o sofrimento e garantir qualidade da assistência de suporte ao enfermo.
Objetivos: Identificar o perfil bibliográfico da enfermagem na temática eutanásia no paciente terminal;
Levantar à luz da literatura qual a atuação da enfermagem na Eutanásia. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados de artigos científicos referentes à temática, em
Enfermagem, produzidos e publicados entre os anos de 2005 e 2010. Recorremos a meios eletrônicos como a
Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), cujas bases de dados pesquisadas foram: Scientific Electronic
Library Online (SCIELO), Base de dados de Enfermagem (BDEN) e Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores utilizados no processo de levantamento de dados
foram: Direito a Morrer; Enfermagem; Eutanásia, Tanatologia; Ética em enfermagem. A análise do material
pesquisado, baseou-se no método denominado Análise de Conteúdo, que pode ser definida como a um
conjunto de instrumentos metodológicos que se presta ao estudo das comunicações. E, assim sendo, pode ser
utilizada na análise de quaisquer comunicações que ocorram entre emissor e receptor, sejam eles indivíduos
ou grupos. 4 Após a escolha do material, o passo seguinte foi a realização de uma leitura flutuante, quando
surgiram impressões e orientações para a análise. A partir desta atividade, fizemos a estruturação de índices e
1
Relatora. Acadêmica de Enfermagem do 5º Período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Uff. E-mail:
[email protected]
2
Enfermeira Especialista em Enfermagem Gerontológica formada pela EEAAC/UFF. Residente pela Secretaria
Municipal do Rio de Janeiro/Souza Aguiar. Professora Substituta do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico
da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. Membro do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Enfermagem Gerontológica - NEPEG e do Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de
Enfermagem da Universidade Federal Fluminense - GESAE-UFF E-mail: [email protected]
3
Enfermeira Doutora em Enfermagem pela EEAN/UFRJ. Professora Assistente do Departamento Médico Cirúrgico
MEM/UFF da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – EEAAC/UFF
a elaboração de indicadores. Este foi um trabalho preparatório da análise. Por fim, realizamos o tratamento
dos resultados obtidos e o trabalho de inferência e interpretação. Assim, ao fim da análise, procuramos obter
a elaboração de um elo entre os dados do texto e os objetivos previstos. Resultados: Dos artigos encontrados
para a discussão neste estudo, nos deparamos durante a pesquisa com uma pequena lista de possibilidades,
pois o assunto é, ainda, pouco explorado e conta com poucas publicações científicas recentes. Sendo assim,
como os resultados obtidos não se mostravam suficientes, também buscamos uma investigação sobre a
produção científica de Enfermagem especialista, publicada em outros períodos. Ao pesquisar os descritores
envolvidos neste estudo, foram encontrados 31 estudos com o descritor eutanásia. Conceitualmente, a
maioria trata a mesma como o ato de dar fim à vida da pessoa, por causa do seu sofrimento ou, o que é mais
grave, por razões escusas, como: economia, disponibilidade de leitos ou eugenia. Outros estudos a referem
como a retirada de mecanismos de sustentação artificial como “recusa de tratamento” e não como eutanásia,
devido a carga emocional e moral que o seu conceito traz. Além disso, a maioria deles defende o cuidado ao
paciente, que se dá através de tratamentos que visam sempre o seu bem-estar, mesmo quando a cura não é
possível. Frente a essas questões, cada indivíduo tem o seu posicionamento, que é influenciado por valores
individuais, culturais e pela religião.Sobre o encerramento da própria vida a lei não tem o que dizer, uma vez
que a decisão é da pessoa e está vinculada a determinantes pessoais e religiosos. Ao adicionar o descritor
enfermagem somente 3 artigos foram encontrados, dos quais somente 1 foi publicado nos últimos 10 anos.
Este trata-se de um ensaio reflexivo aborda a morte cerebral e a doação de órgãos situando-as como práticas
culturais contemporâneas e tendo como suporte teorizações que problematizam o corpo e o sujeito na pósmodernidade, especialmente estudos pós-estruturalistas. São destacadas as relações entre as dimensões
culturais, científicas, filosóficas e jurídicas que constituem um campo de contestações e negociações, onde se
dão as decisões, normas e aparatos tecnológicos em torno da morte. Ao associar os descritores direito a
morrer e tanatologia, não foram encontrados estudos, mostrando que pesquisas envolvendo a temática
abordada ainda são escassas e carecem de maiores discussões, principalmente, envolvendo a enfermagem.
Conclusão: As discussões relacionadas a eutanásia ainda são numericamente insuficientes, nas quais
questões éticas ou dialéticas ainda não são enfocadas. Sendo o profissional de enfermagem aquele que lida
diretamente com o paciente em fase terminal, estudos sobre a antecipação ou não da finitude deveriam ter
maior ênfase na bibliografia publicada.
Descritores: Direito a Morrer; Enfermagem; Eutanásia, Tanatologia; Ética em enfermagem.
Referências
1.
Kovács, M. J. (2003a). Bioética nas Questões Da Vida e Da Morte. Psicologia USP, 14 (2),
117, 115-167.
2.
Markson, E. (1995). To be or not to be: Assisted suicide revisited. Omega, Journal of Death
and Dying, 31(3), 221-235. Wooddell, V., & Kaplan, K. (1997 -1998). An expanded typology of
suicide, assisted suicide and euthanasia. Omega, Journal of Death and Dying, 36(2), 219-226.
3.
Leopardi MT. Metodologia da pesquisa e saúde. 2 ed. Rio Grande do Sul: Ed. Pallotti, 2002.
4.
DINIZ, Debora; COSTA; Sérgio.
Morrer com Dignidade: Um Direito Fundamental,
SérieAnis 34, Brasília, LetrasLivres, 1-8, maio, 2004
5.
LAMS, Alinny Rodrigues; POUBEL, Bárbara Melo; GUERRA, Fernanda Silva; PESSOA,
Tatiana dos Reis.A Percepção da Equipe de Enfermagem Frente à Eutanásia, 2004
A MORTE PRECOCE DO HOMEM: UMA PERSPECTIVA DE AÇÃO DE ENFERMAGEM
Pereira, Eliane da Silva18 Pereira, Eliane Ramos19 SILVA, Rose Mary Costa Andrade20 SILVA,
Marcos Andrade21
Introdução: O presente estudo relata acerca do fato de os homens morrerem de certa forma precoce, mais do
que as mulheres, com uma perspectiva de vida inferior à das mulheres, na atualidade em que vivemos,
ressaltando a necessidade de intervenção por parte da enfermagem no sentido de contribuir para melhor
expectativa de vida dos homens. Não obstante no Brasil nascer mais meninos que meninas, sabe-se que, a
partir da adolescência, essa proporção se inverte e aumenta gradativamente a favor das mulheres,
terminando, na velhice, com uma proporção de homens bem menor que a de mulheres. Tendo como base a
afirmação acima, o objetivo é identificar os fatores que levam a realidade de os homens morrerem mais
cedo. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo explicativo do tipo bibliográfico, utilizando-se a busca
de informações nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Eletrinic Library on-line (SCIELO) e do Ministério da Saúde. Resultados: Apesar da concepção
de que os homens morrem mais que as mulheres pelo simples fato de buscarem menos os serviços de saúde,
no entanto evidencia-se que há diversos fatores externos, que vão mais além de uma atenção à saúde, que
englobam a temática da mortalidade do homem. Pesquisas revelam que os homens estão morrendo mais que
as mulheres em praticamente todas as faixas de idade, sendo que as causas mais evidenciadas foram as
causas violentas de morte, também chamadas de causas externas, como as agressões e os acidentes de
transporte. De acordo com o Ministério da Saúde (M.S) em dados estatísticos os homens morrem em média
sete anos mais cedo que as mulheres e que a cada três pessoas adultas mortas, duas são homens, e ainda
expõem fatores relacionados à saúde do homem como doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e
pressão arterial mais elevada. Ainda vale-se ressaltar que a cada 5 pessoas que morrem de 20 a 30 anos, 4
são homens. De acordo com a publicação Saúde Brasil 2007, os homens representam quase 60% das mortes
no país. Conclusão: Dado ao exposto faz-se de grande valia que nós profissionais da saúde estejamos
informados acerca dessa realidade evidenciando que o homem morre muito mais cedo por conta da
intercorrência de vários fatores que podem ser preveníveis. Assim nós devemos conhecer tais fatores, para
planejarmos e desempenharmos uma prática de enfermagem que possamos, de modo efetivo, modificar essa
realidade.
Descritores: Saúde do Homem; Mortalidade; Enfermagem
1
Aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Niterói, RJ. Email: [email protected]
2
Doutora em Enfermagem e Professora Associada do Departamento Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Niterói, RJ. E-mail: [email protected]
3
Doutora em Enfermagem e Professora Associada do Departamento Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, Niterói, RJ. E-mail: [email protected]
4
Mestre em Enfermagem/UNIRIO e Professor da UGF/Rio de Janeiro. E-mai: [email protected]
A PERCEPÇÃO DO IDOSO NO PROCESSO DE MORTE E MORRER
Emiliano, Marina da Silva22 Almeida, Brenda do Amaral23 Cruz, Pamella da Silva2 Nunes, Daniele de
Lourdes2 Santos, Natália Coelho Cavalleiro dos2 Fassarella, Cíntia Silva24
Introdução: Devido ao aumento da perspectiva de vida no Brasil, a população senil vem aumentando
consideravelmente. Com isso, ficam evidentes as necessidades de estudos que possibilitem a compreensão
das questões relacionadas aos idosos, principalmente se tratando do processo de morte e morrer. Apesar da
velhice e a morte estarem constantemente associadas, muitas vezes, o assunto é afastado do nosso cotidiano,
passando a ser um tabu discutir essa temática na população em geral. O objetivo desse estudo é compreender
a percepção dos idosos em relação ao processo de morte e morre. Através dos resultados obtidos com esta
pesquisa, queremos entender essa realidade com maior preparo e segurança, e com isso aprimorarmos a
assistência de enfermagem prestada a população idosa. Metodologia: Utilizamos a abordagem qualitativa,
desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica, como base a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), ainda
bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SCIELO) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biomédica (MEDLINE) onde foram analisados
12 artigos e também foram utilizados livros relacionados com a temática. De acordo com os dados obtidos,
analisamos a percepção do idoso em relação ao processo de morte e morrer no período de AbrilSetembro/2010. Como resultado verificamos que a maioria dos idosos reconhece e percebe que o
envelhecimento é um processo natural do ciclo vital, embora os idosos criem dispositivos de defesa,
negando, assim, essa realidade. Muitos deles consideram que já cumpriram sua missão aqui na terra com
relação à sua vida e estariam pronto para a morte. Muitos realizaram o que desejavam e puderam construir
em nossa sociedade: trabalharam, casaram-se, tiveram filhos e realizaram sonhos às vezes até inesperados.
Desta forma o idoso visualiza a morte como uma passagem para a continuidade espiritual, procurando assim
auxílio e coragem para o fim inevitável. A maneira pela qual o senil contempla a morte esta intimamente
ligada a sua visão de mundo e suas experiências anteriores. Podemos considerar que o medo da morte existe,
muito embora, acredite-se que para um idoso com uma vida satisfatória poderia temer menos a morte que um
jovem adulto que leva a vida de maneira radical. Para o idoso este medo da morte pode ser maior,
especialmente, se ele abrigar-se em ambientes desconhecidos, perigosos ou solitários, como no caso de
hospitais e abrigos para idosos. Neste caso, tanto a equipe de saúde quanto a família destes idosos tem o
dever de contribuir com eles, no sentido de oferecer um ambiente saudável que promovam apoio emocional e
segurança de vida, principalmente, no processo de adoecimento e morte. Seja qual for o sentimento de pesar
expresso pelo idoso em relação à morte e o morrer dele ou de outrem, o mesmo é reduzido quando o ancião
22
Autora e relatora. Acadêmica do 6° período de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense - UFF. Email: [email protected]
23
Autora. Acadêmica de Enfermagem do 6° período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense - UFF.
24
Enfermeira. Orientadora, Professora Ms. Substituta da Universidade Federal Fluminense (UFF), Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC). Professora Assistente e Assistente de Coordenação do Curso de
Graduação da Universidade do Grande Rio - Prof. José de Souza Herdy – UNIGRANRIO. Enfermeira da Secretaria do
Estado de Saúde (SES).
expressa um valor espiritual à vida, já que assim consegue ver a morte como uma continuidade e não como o
fim. Concluimos que a consciência reflexiva acerca do assunto deve ser incentivada porque revela novas
possibilidades de se interagir com os idosos. Dessa forma, destaca-se que é preciso ter conhecimento para
dialogar sobre o processo de morte e morrer com o mesmo, para que haja uma melhor compreensão por parte
destes e da equipe de Enfermagem. Oferecer um ambiente saudável que promova apoio emocional e
segurança, principalmente, no processo de adoecimento, também garante que esse idoso aceite a morte como
algo inerente ao curso da vida. Também pudemos observar a necessidade de desenvolvimento de políticas
em prol do idoso, para melhorar a qualidade de vida e para prepará-lo para o quantitativo de anos que ainda
lhe resta.
Descritores: Percepção, Morte, Morrer, Idoso.
PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES FRENTE AO RISCO DE MORTE DO PACIENTE ADULTO E
IDOSO INTERNADO EM UNIDADES CLÍNICAS.
Aquino Alessandra Cristina de Oliveira25 Espíndola Beatriz Carvalho2 Chibante Carla Lube de Pinho3
Rocha Larissa Fernandes4 Santos Thayane Dias5 Lima Márcia Valéria Rosa6
Introdução: A percepção dos familiares acompanhantes dos pacientes internados nas unidades clínicas do
Hospital Universitário Antônio Pedro envolvidos com a situação de morte é o tema a ser discutido em nossa
pesquisa. De acordo com Wong (2001), a morte é uma questão que força pensar nas prioridades de vida,
sendo lembrado mais poderosamente do que qualquer outro fato de quanto às relações familiares são
importantes nesse momento. Acrescentam, ainda, que essa é uma experiência que atinge todo o sistema
familiar. Este estudo mostra-se desafiador, pois se sabe que a morte é um fato inevitável, porém de difícil
aceitação para aqueles que possuem algum tipo de relação com o individuo em risco de morte. Nesse
contexto, podemos destacar que o familiar acompanhante tem um valor bastante significativo no cuidar de
seu ente querido na iminência da morte, sendo este cuidado dispensado ao sujeito capaz não só de prolongar
a vida, mas, sobretudo, de melhorar a condição de vida do ser cuidado, mesmo no curto período de vida que
lhe resta. O morrer é um processo progressivo com diminuição e alteração das funções vitais que culmina
com a morte. A partir da convivência com o mundo-vida da família, o enfermeiro, juntamente com sua
equipe, organiza o espaço hospitalar no qual o cuidado é desenvolvido. Por vezes, utiliza sua criatividade e
improvisam ambientes dentro do hospital, buscando por recursos materiais existentes para construir um
espaço no qual a família possa estar protegida para vivenciar a situação de terminalidade. A ética e o cuidado
ao paciente que tem como prognóstico a morte, mantêm uma estreita relação. O cuidado é uma atitude de
ética mínima e universal, capaz até de prolongar a duração de vida do ser cuidado. Acrescenta, ainda, que o
cuidado pode ter o poder, não só de prolongar a vida, mas, sobretudo, de melhorar sua condição para ser
cuidado, mesmo no curto período de existência que lhe resta. O morrer constitui uma importante
oportunidade de crescimento para o doente e seus familiares, pois, nos momentos de dor e de certeza da
separação entre as pessoas, estas podem rever sua vida e seus valores, e então suplantar seus ressentimentos,
exercitar o perdão e desenvolver a compreensão e o amor. De acordo com Pinto et al (2005) A experiência
das famílias com a hospitalização de um de seus membros leva a uma desorganização de suas rotinas e
sofrimento, vivenciando a desestruturação do cotidiano familiar, mantendo as responsabilidades anteriores,
acrescidas das demandas financeiras da hospitalização. Objetivos: Geral: Relatar a experiência do familiar
de um adulto/idoso com risco de morte. Específico: Avaliar os sentimentos dos familiares que estão
25
Acadêmica de Enfermagem do 6º Período da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF).
2
Acadêmica de Enfermagem do 6º Período da EEAAC/UFF.
3
Acadêmica de Enfermagem do 6º Período da EEAAC/UFF. Relatora. Email: [email protected]
4
Acadêmica de Enfermagem do 6º Período da EEAAC/UFF.
5
Acadêmica de Enfermagem do 6º Período da EEAAC/UFF.
6
Profª Drª do Departamento de Enfermagem Médico-cirúrgico da EEAAC/UFF.
envolvidos no diagnóstico de morte de ente queridos adultos/idosos. Metodologia: Trata-se de uma revisão
sistemática e exploratória, visando maior familiaridade com o tema de tanatologia. O referencial teórico foi
desenvolvido com base no banco de dados Lilacs, os artigos foram selecionados nos arquivos da Bireme com
os descritores morte, família e enfermagem. Os critérios de seleção dos artigos foram textos em português,
revistas de enfermagem, textos na íntegra e textos sobre adultos e idosos. Para análise dos resultados foi
utilizado um roteiro de entrevista não estruturada, contendo cinco questões subjetivas perguntadas aos
familiares acompanhantes, os quais tiveram a identidade preservada por meio de pseudônimos de flores. Os
participantes da pesquisa concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo
com a resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, o qual regulamenta pesquisa em seres humanos.
Resultados: Após análise dos dados percebemos que todos os entrevistados eram do sexo feminino, tendo
como parentesco filhas, esposas e tias. Identificamos que a maioria dos familiares acompanhantes
interrompem as suas atividades, como por exemplo, faculdade e os afazeres domésticos, para acompanhar os
clientes hospitalizados. Quando perguntados sobre a situação do familiar hospitalizado percebemos que a
religião aparece em quase todas as respostas e afirmaram que a forma com a qual a família reage diante deste
processo de adoecer depende muito de cada integrante. Alguns familiares respondem bem ao adoecimento do
ente querido, enquanto outros precisam de acompanhamento psicológico, devido à fragilidade em enfrentar
tal situação. A visão do acompanhante a respeito da morte mostra-se interligada à religião. Entretanto, notase que a palavra morte é bastante evitada quando se fala da possibilidade do morrer de seu ente querido.
Alguns acompanhantes deixaram explícitas as suas religiões, porém preferem acreditar na vida após a morte,
sendo uma forma de confortar os seus sentimentos.
O momento do processo de adoecer realça a
espiritualidade dos acompanhantes, fazendo com que eles procurem respostas através da fé e do sobrenatural.
Conclusão: É importante ressaltar que a presença desses familiares acompanhantes junto aos seus entes
queridos num ambiente hospitalar é essencial, pois contribui para a redução do sofrimento e também permite
um apoio psíquico que leva um maior conforto a esses pacientes. Outro fator relevante a ser destacado é a
fundamental atuação do profissional de enfermagem junto a esse familiar que apresenta risco iminente de
morte. Portanto, esse estudo mostrou-se bastante interessante, visto que o lidar com o risco de morte de um
outro sujeito e também com os seus familiares acompanhantes é um fenômeno complexo, que necessita que
o profissional seja competente, sensível e capaz de auxiliar tanto o acompanhante quanto o paciente a
enfrentar essa situação, de modo a assegurar a esses indivíduos uma assistência de qualidade.
Descritores: Morte, Família e Enfermagem.
Referências:
1. WONG F, LEE W, MOK E. Educating nurses to care the dying in Hong Kong. Cancer Nurs, 2001.
2. PINTO J, RIBEIRO C, SILVA C. Procurando manter o equilíbrio para atender suas demandas e cuidar
da criança hospitalizada: a experiência da família. Rev Latino-am Enfermagem, 13(6): 975-81, 2005.
CUIDADOS DE ENFERMAGEM À LONGO PRAZO À IDOSOS COM DEMÊNCIA AVANÇADA:
APROXIMAÇÃO COM A TANATOLOGIA
SANTANA, Rosimere¹ CRUZ, Elaine Freire ² GÓES, Pedro Márcio Freitas de
5
JESUS, Natália
Carvalho de³ PITANGUI, Pâmela de Paula4 RIBEIRO, Priscila Guiducci Coe6 MOTA,
Rodrigo França7
Introdução: A demência é uma síndrome que tem como característica o déficit cognitivo em várias esferas.
Não está relacionada com prejuízos da consciência. Algumas síndromes demenciais podem ser revertidas
com tratamentos. Mas no caso em que há um processo degenerativo, a reversão não é alcançada, como é o
caso da Doença de Alzheimer. A mudança demográfica que vem ocorrendo no Brasil, representada pelo
aumento considerável da expectativa de vida da população provocou um aumento da incidência e
prevalência de doenças crônico-degenerativas, tal como a doença de Alzheimer, que provoca dependências
físicas e diminuição da qualidade de vida dos idosos. No estágio avançado da doença, o paciente é incapaz
de relembrar coisas, de comunicar-se e de realizar atividades. Há necessidade de cuidados durante todo o dia,
muitas vezes podendo ficar limitado ao leito. O atendimento do cliente idoso portador de DA, envolve toda
sua família e principalmente o cuidador, pois é impossível pensar no cuidado deste paciente sem envolver
sua família, uma vez que ele se torna totalmente dependente da mesma. A Enfermagem tem um papel de
extrema importância no cuidado dos pacientes com Alzheimer, que é de assistir nas áreas afetivas,
compreendendo, respeitando, entendendo seus sentimentos de medo e tristeza, até os cuidados especializados
hospitalares. Deverá entendê-los de maneira holística. A Enfermagem deve proporcionar o convívio familiar
e social do paciente. Poderá fazer grupos de apoio para esses familiares, objetivando a diminuição do
sofrimento e a preparação. A Tanatologia visa humanizar o atendimento aos que estão sofrendo perdas
graves, podendo contribuir dessa forma na melhor qualificação dos profissionais que se interessam pelos
cuidados a pacientes terminais. Objeto de estudo foram artigos de origem internacional e nacional que
tratavam de cuidado a longo prazo em idosos com Alzheimer. Sabendo-se que os cuidados a longo prazo
com o idoso ainda é um tema que tem sido pouco discutido e muitas vezes negligenciado pelos profissionais
de saúde este estudo teve por Objetivo descrever e analisar a produção bibliográfica a cerca dos cuidados de
enfermagem a idosos com Alzheimer. A realização desse estudo é de grande importância devido o aumento
demográfico contínuo do número de idosos e conseqüentemente o aumento da ocorrência de doenças
crônicas como o Alzheimer e devido a lacuna no conhecimento devido a pequena quantidade de estudos
sobre o assunto.Metodologia: A pesquisa foi exploratória, com abordagem qualitativa e realizada na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) nas bases de dados do MEDLINE e do LILACS. Realizou-se após a
coleta dos dados a pré-leitura e a leitura seletiva seguindo os critérios estabelecidos de exclusão que foram:
artigos que não possuíam resumos, que tinham mais de uma patologia relacionada e os anos inferiores a
2000, com exceção de 8 que são de importante relevância para o estudo. Desta feita, foram encontrados 128
artigos no MEDLINE e 2 no LILACS, sendo que após leitura seletiva apenas 52 artigos do MEDLINE
expressavam em seu conteúdo o tema abordado no objetivo deste trabalho. Resultados: Para realização da
análise, foram feitas tabelas agrupando os artigos com seus respectivos assuntos abordados, como
Alzheimer, cuidados paliativos, hospitais para doentes terminais, serviço de assistência domiciliar,
cuidadores, assistência terminal, demência, família e assistência paliativa. Em Doença de Alzheimer foram
encontrados 51 artigos no MEDLINE sendo selecionados apenas 21. Entre esses, 11 estão inseridos nos
demais assunto. Teve como exceção 3 artigos, pois eram de anos inferiores a 2000 mas são de grande
importância para a realização do estudo. Cuidados paliativos foram encontrados 31 artigos e selecionados
apenas 9, sendo que 6 são encontrados nos demais assuntos.Também foram utilizados 4 artigos de anos
inferiores a 2000 sendo exceções devido à relevância ao estudo. Já no assunto Assistência Paliativa foram
encontrados 10 artigos dos quais apenas 3 foram selecionados,onde houve 3 que também foram encontrados
nos outros assuntos. Na assistência terminal foram encontrados 11 artigos e selecionados 8 sendo que 7
também estão presentes nos demais. No entanto, no assunto Demência foram encontrados 6 artigos e
selecionados 2 , no qual estão inseridos nos demais. Em Serviço da Assistência Domiciliar foram
encontrados 3 artigos e selecionados 2, sendo esses 2 encontrados em outros assuntos. Na Família foram
encontrados 3 artigos e selecionado apenas 1, sendo 1 de ano inferior a 2000 foi uma exceção por ser
importante para a realização do estudo. E no assunto Hospitais para Doentes Terminais foram encontrados 8
artigos e selecionado somente1.Concluímos portanto que cuidar de pacientes terminais vai além de
conhecimentos técnico-científicos, é preciso compreender sua individualidade sendo adquirida através do
relacionamento interpessoal onde o enfermeiro deve valorizar a pessoa humana que conseqüentemente leva a
contribuição do processo de humanização dos cuidados a longo prazo. É importante que os cuidados a longo
prazo sejam realizados de forma humanizada, respeitosa, solidaria e não por obrigação. A DA acaba por
atingir em especial a vida pessoal dos cuidadores pois cuidar de idosos com demência depende de fatores
como a fase da doença, a qualidade do suporte familiar e sua história de vida e como cada família enfrenta
essa situação por ser uma experiência pessoal. Diante deste fato entendemos que é indispensável inserir o
cuidador no plano assistencial ao paciente com Da uma vez que ele possa vir a apresentar alterações de
saúde, garantindo não só uma melhor qualidade de vida para o mesmo, mas sobretudo, ao paciente com DA.
É importante ainda ressaltar que através do estudo e analise feitos, que há necessidade de mais estudos que
abordem medidas e ações realizadas no que diz respeito ao cuidado a longo prazo do idoso com Alzheimer,
visando o aperfeiçoamento do atendimento integral e humanizado a saúde , a fim de interferir de forma
positiva e eficaz na adaptação do idoso ao processo do envelhecimento e suas patologias associadas, neste
caso o Alzheimer, sendo este um assunto onde sua devida importância muitas vezes não é relevada.
Palavra chave: Doença de Alzheimer e Cuidados paliativos.
Referências bibliográficas
SAMPAIO, RF; MANCINI, MC. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da
evidência científica. Rev. bras. fisioter.,
São Carlos,
v. 11,n. 1, fev.
2007 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S141335552007000100013&lng=pt&nrm=iso>.
acessos em 24 set. 2010. doi:10.1590/S1413-35552007000100013.
Gene W. Marsh, Karyn P. Prochoda, Eugenia Pritchett, Carol P. Vojir. Predicting hospice appropriateness
for patients with dementia of the Alzheimer's type. Applied Nursing Research - November 2000 (Vol. 13,
Issue 4, Pages 187-196, DOI: 10.1053/apnr.2000.7654)
K. Murphy, P. Hanrahan, and D. Luchins. A survey of grief and bereavement in nursing homes: the
importance of hospice grief and bereavement for the end-stage Alzheimer's disease patient and family.
J Am Geriatr Soc. 1997 September; 45(9): 1104–1107.
G Klein Wolf; R Pekmezaris; L Chin; Weiner J. Conceptualizing Alzheimer's disease as a terminal
medical
illness.
Am
J
Hosp
Palliat
Care,
24
(1):
77-82,
2007
Fev
Mar.
Cabin WD. Moving toward Medicare home health coverage for persons with Alzheimer's disease.
Trabalho Gerontol J Soc; 51 (1-2): 77-86, 2008.
.
PERCEPÇÕES DA FAMÍLIA FRENTE A IMPOSSIBILIDADE DE TERAPÊUTICA CURATIVA
AO PACIENTE ONCOLÓGICO: CONTRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM
MIRALHES, Gyselly Viana26 SILVA, Ana Luiza Azevedo Conrado da
28
29
27
SILVA, Bárbara Diniz
30
Cunha Cruz da COSTA, Bruna Dutra da PEREIRA, Eliane da Silva PEREIRA, Suelen Cristina
de Alcântara 31 LIMA, Vinícius Mendes da Fonseca 32 BITENCOURT, Graziele Ribeiro33
26
Acadêmica de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF. Membro do NPEG..
Acadêmica de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF. Bolsista de Extensão. Membro do NPEG.
28
Acadêmica de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF. Membro do NPEG..
29
Acadêmica de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF. Bolsista de Extensão. Membro do NPEG.
30
Acadêmica de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF. Bolsista Voluntária de Iniciação Científica.
31
Acadêmica de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF.
32
Acadêmico de Enfermagem do 5º da EEAAC/UFF. Bolsista de Extensão. Membro do NECIGEN e GETEPES.
33
Especialista em gerontologia. Residente pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro/Souza Aguiar Professora
substituta do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF
Niterói, Rio de janeiro/BR. E-mail: [email protected]
27
Introdução: O câncer é reconhecido como um problema de saúde pública e que pode apresentar um quadro
avançado ainda no momento do diagnóstico. São também notórios o impacto desta patologia no indivíduo,
familiares, principalmente quando opta-se pelo cuidado paliativo como terapêutica. Este pode ser definido
como uma abordagem adotada quando a doença não responde mais ao tratamento curativo com a priorização
da qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados com doenças
ameaçadoras de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação correta e
tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Mais de 90% dos pacientes
enquadrados nessa modalidade terapêutica morre de doença crônica, lenta e progressivamente, com um
período terminal de poucos meses ou semanas (como o câncer). Os cuidados, nesse sentido, devem apontar
para a necessidade de um trabalho interdisciplinar, que tenha por essência tem como foco humanizar as
relações entre os profissionais que prestam assistência a esses pacientes sob estas condições tão delicadas.
Além disso, esse cuidado humanizado e multidisciplinar garante uma assistência mais ampla e completa para
o cliente em fase terminal. É de grande valia ressaltar que a finalidade principal do cuidado paliativo é
assegurar a melhor qualidade de vida possível aos pacientes terminais e de sua família. Neste contexto, a
Enfermagem visa promover através de orientações, práticas e estabelecimento de vínculos de confiança, e de
segurança, a diminuição da ansiedade e proporcionar conforto aos clientes e familiares, bem como atentar
para sua significância para o desenvolvimento dos indivíduos e na recuperação da qualidade de vida. Quando
um indivíduo recebe um diagnóstico de que a doença está fora de possibilidades de cura, sua família pode
sofrer com ele e o impacto doloroso. Em conseqüência disso, cada família pode manifestar reações distintas,
como negação, reserva ou fechamento ao diálogo. Objetivos: Identificar o perfil do familiar/cuidador do
paciente oncológico fora de possibilidade terapêutica; discutir as percepções da família frente a
impossibilidade terapêutica curativa ao paciente oncológico. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo
descritivo-exploratório de abordagem qualitativa. Os sujeitos escolhidos foram 6(seis) familiares
acompanhantes de ambos os sexos de pacientes oncológicos em cuidados paliativos atendidos no
ambulatório oncológico de um Hospital público do município de Niterói. Os dados foram coletados no mês
de setembro através de uma entrevista semi-estruturada por meio da questão: como é ter um familiar com
câncer sem possibilidade de cura? Os resultados avaliados da Análise de Conteúdo de Bardin. Quanto aos
aspectos éticos, este estudo segue os preceitos da Resolução 196/96 e cada sujeito nele envolvido assinou um
termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados e Discussão: Dos 6(seis) sujeitos abordados nesse
estudo, 4 eram mulheres e 2 eram homens com tempo de acompanhamento nas consultas dos pacientes em
cuidados paliativos entre 2 e 5 anos. Em relação a escolaridade, 3 possuíam ensino fundamental incompleto e
2 completos; além de 1 com ensino superior completo. As respostas obtidas foram agrupados em 5(cinco)
categorias temáticas, das quais destaca-se: medo da morte do familiar; desconhecimento do curso doença;
desesperança; aceitação da finitude; abdicação das atividades cotidianas em prol do cuidado ao familiar. Os
dados encontrados na pesquisa corroboram com o que a literatura aponta como esperado. Percebeu-se que o
sofrimento psíquico é tão perturbador quanto o sofrimento físico, e para muitos é menos tolerável do que o
sofrimento físico, conforme verificado nas categorias de medo e desesperança.
As relações sociais
costumam se modificar pela presença do câncer tanto para aqueles com câncer quanto para seus familiares e
amigos, como perda do poder aquisitivo, isolamento social, tensão familiar, manutenção dos laços de
amizade, apontados na evidenciação de abdicação das atividades cotidianas em prol do cuidado ao familiar.
Conclusão: Tendo os cuidados paliativos a finalidade de agrupar como componentes essenciais o alivio dos
sinais e sintomas e o apoio psicológico, espiritual, emocional e social durante todo o acompanhamento ao
paciente e seus familiares, mesmo após sua morte.A presença e participação da família ao lado do paciente
são de extrema importância, mas é notório que a rotina familiar torna-se diferenciada após a inexistência de
terapêutica curativa ao paciente oncológico. Muitos procedimentos acabam sendo impostos aos pacientes e
seus familiares como a única alternativa de conduta. Desse modo, tanto a família como o paciente sentem-se
ainda mais fragilizados e desamparados ao perceberem que suas opiniões crenças, autonomia e valores não
estão sendo respeitados, ocorrendo então o desgaste da relação de confiança entre os familiares, pacientes e
equipe de saúde, gerando um distanciamento prejudicial à própria conduta terapêutica, deturpando a
qualidade de vida de toda a família e se afastando das diretrizes dos Cuidados Paliativos que presam,
justamente, pela inclusão da família no tratamento e a manutenção de sua qualidade de vida.
Descritores: Estado terminal; Enfermagem; Família; Doente terminal
Referências:
Kovács MJ. Educação para a morte: desafio na formação de profissionais de saúde e educação. São Paulo:
Casa do Psicólogo, FAPESP; 2003.
Hallenbeck JL. Communication across cultures. J Palliat Med. 2004 Jun;7(3):477-80
Lima AC, Silva JAS, Silva MJP. Profissionais de saúde, cuidados paliativos e família: revisão bibliográfica.
Cogitare Enferm 2009 Abr/Jun; 14(2):360-7
A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO ACADÊMICA FRENTE ÀS CATASTOFRES: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA NO MORRO DO BUMBA
Oliveira, Raphael Monteiro de34 Santos, Gabriela Velozo Gomes dos35 Silva, Luana Asturiano da2
Martins, Igor Costa36 Lima, Vinicius Mendes da Fonseca3 Antunes, José Luiz Cordeiro37
INTRODUÇÃO: O mês de Abril de 2010 ficou marcado pelas fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio
de Janeiro, sendo a pior dos últimos 46 anos (AGÊNCIA BRASIL, 2010). A chuva começou no final da
tarde do dia 5 de abril, onde pessoas que saíam do trabalho e tentavam passar por trechos alagados ficavam
presas no transito e, muitos deles, foram obrigados a abandonar os carros e procurar abrigo em local seguro.
34
Acadêmico do 6º período da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal
Fluminense, membros do Getepes – Grupo de Estudos sobre Trabalho, Educação e Práticas Educativas em Saúde.
Contato: [email protected]
35
Acadêmicas do 4º período da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense,
membros do Getepes – Grupo de Estudos sobre Trabalho, Educação e Práticas Educativas em Saúde.
36
Acadêmicos do 5º período da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense,
membros do Getepes – Grupo de Estudos sobre Trabalho, Educação e Práticas Educativas em Saúde.
37
Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Membro do Neddate – Núcleo de
Estudos, Dados e Documentação sobre Trabalho e Educação e Coordenador do Getepes – Grupo de Estudos sobre
Trabalho, Educação e Práticas Educativas em Saúde.
A chuva foi tão intensa que para ajudar a resgatar as pessoas, os bombeiros usaram botes salva-vidas. No dia
6 de abril, as escolas das redes municipal e estadual, as universidades e grande parte dos estabelecimentos da
rede particular suspenderam suas aulas, assim como vários órgãos públicos e grandes empresas pararam as
atividades administrativas ou tornaram ponto facultativo, porque os diversos pontos de alagamento, em todas
as áreas da cidade, impediram o deslocamento de funcionários até o trabalho. Neste dia, o Prefeito do
Município do Rio orientou que a melhor medida era ficar em casa. O pior ainda estava por vir, no dia 7 de
abril, as 22h00, um deslizamento ocorreu na cidade de Niterói, soterrando 40 casas e cerca de 200 corpos.
Esta região onde ocorreu o deslizamento foi, durante algum tempo, depósito de lixo e, após sua desativação,
as pessoas começaram a construir casas. A situação foi de extrema catástrofe, como relatou o Governador do
Estado do Rio de Janeiro. Diante disso e, entendendo a tanatologia como uma ciência que estuda a morte, a
relação do homem com a própria e com a do próximo e todos os pontos relacionados e correlacionados com
a perda de algo ou alguém, este trabalho teve o OBJETIVO de levantar um relato da experiência vivida por
acadêmicos de Enfermagem e seu professor durante a tragédia do Morro do Bumba e demonstrar a
importância da participação acadêmica frente a estas catástrofes. Este estudo mostra-se relevante, visto que,
poucos acadêmicos tiveram a oportunidade de presenciar o quadro de catástrofe que se instalou no município
de Niterói, principalmente no Bumba, tornando-se interessante compartilhar a experiência vivenciada para
que todos possam conhecer como é participar de tal atividade. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de
experiência de acadêmicos da EEAAC, tendo como cenário o Morro do Bumba, localizado na cidade de
Niterói, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. As atividades foram realizadas nos dias 09 e 10
de outubro, sobre orientação do professor da Faculdade de Educação e tendo o apoio da Reitoria, Pró-reitoria
de Extensão e Direção da Escola de Enfermagem da Universidade. RESULTADOS: Este relato de
experiência partiu da vontade de ajudar no desastre causado pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro.
Inicialmente, no dia 09/04/2010 fomos realizar um levantamento das maiores necessidades da região do
Morro do Bumba, onde houve um grande número de pessoas mortas e desabrigadas da Cidade de Niterói-RJ.
Chegando lá, nos deparamos, realmente, com um cenário de muita tristeza e sofrimento, visto que familiares
e conhecidos esperavam com muita ansiedade por noticias de seus entes e queriam saber onde seria a sua
nova casa, entretanto, sabiam da dificuldade que seria para encontrar informação naquela situação. Quando
ficamos de frente para o desastre, ficou inexplicável imaginar que existiam casas naquele espaço, pois não
havia nem sinal de muro ou algo semelhante, era apenas lixo. Apesar de todo este sofrimento, aquela região
em frente à catástrofe, no que diz respeito à assistência emergencial, estava sendo muito bem assistida, tendo
em vista a presença de diversas pessoas da mídia, do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, da Policia Militar,
da Política e curiosas, nos levando a conclusão que, emergencialmente, aquela comunidade (próxima do
acidente) estava sendo assistida, entretanto pouco se fazia para acalmar os familiares e amigos que perderam
seus conhecidos e suas casas. Dando continuidade a nossa busca por informações, entramos um pouco mais
na comunidade para verificar se toda ela estava, realmente, sendo assistida. Não precisou andar muito para
perceber que o foco estava onde foi o acidente e que a comunidade em volta da região não estava recebendo
nenhum tipo de atendimento em saúde. Fomos, então, verificar nos abrigos como estava ocorrendo a
assistência. Em uma das escolas que visitamos, a população abrigada girava em torno de 150 pessoas, dentre
estas, homens, mulheres e crianças que, infelizmente, muito pouco estava sendo feito para qualificar a saúde
daquelas pessoas que perderam suas casas, algumas seus filhos, outras seus pais. No dia seguinte,
percebemos que o quadro instalado era o mesmo, a assistência emergencial, principalmente para resgatar os
corpos, era muito qualificada, entretanto pouco estava sendo feito pelas outras pessoas. Neste sentido, a
assistência emergencial prestada nesta catástrofe foi muito boa, mas pouco foi feito para atender as pessoas
que perderam suas casas e seus familiares, visto que estas necessitam de um atendimento diferenciado, de
uma orientação sobre a morte de seu ente ou a perda de um bem, para que não venham a adoecer.
CONCLUSÃO: Segundo Santo (2006) o cuidado de enfermagem visa promover o bem estar e o conforto de
cliente e familiares, estabelecendo uma relação de ajuda e orientação. Com este foco, percebe-se que o
profissional da saúde deve atuar neste momento de catástrofe para além da assistência emergencial, visando,
também, auxiliar e orientar as pessoas que perderam seus familiares e/ou seus pertences. Neste sentido, se
faz necessário a atuação dos acadêmicos no apoio aos profissionais, pois muitas das vezes o número de
profissional é insuficiente para atuar naquela situação. Os acadêmicos, com seus conhecimentos, podem
atuar tanto na assistência sob a orientação do professor, como na prática de educação em saúde dessa
comunidade fragilizada pela perda. Nossa experiência nos demonstrou a importância de participar destes
momentos de catástrofe, visto que poucas pessoas estavam recebendo orientação. Concluímos, então, que o
acadêmico de enfermagem deve participar destas tragédias dando apoio as vitimas e aos familiares,
promovendo com isso, o conforto e o bem estar dos mesmos.
Descritores: Tanatologia, Enfermagem em Saúde Comunitária e desastres naturais.
Referências bibliográficas:
Agência Brasil (06/04/2010). Toneladas de lama e lixo se espalham pelas ruas do Rio de Janeiro. Página
visitada em 06/04/2010.
Santo FHE. Cuidado de Enfermagem: saberes e fazeres de enfermeiras novatas e veteranas no cenário
hospitalar. Rio de Janeiro: UFRJ/EEAN; 2006.
ATUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS:O SENTIMENTO
VIVENCIADO PELO ENFERMEIRO
Almeida, Mariana Brito Vieira¹ Maues, Natália dos Santos freitas¹ Veloso, Rejane da C. Xavier¹
Baptista, Suzana de Souza¹ Soares, Vanessa Albuquerque¹ S’antana, Viviane do Nascimento¹ Silva,
Carleara Ferreira da Rosa²
Vivemos um século em que o planeta encontra-se desgastado pelas ações humanas, e os desastres naturais
tornaram-se uma realidade. Deparamo-nos com desmoronamento, enchentes, e ventanias que ocasionam
perdas materiais e humanas. Como conseqüência, observamos que as emergências dos hospitais ficam
lotadas por pessoas necessitando de assistência emergencial. Frente a essa demanda de vidas a salvar,
destacamos o profissional de enfermagem, inserido na equipe multiprofissional de saúde, buscando fazer o
melhor possível para o bem estar do cliente, apesar de todas as adversidades. Pensando no enfrentamento do
Enfermeiro perante situações de emergência, emerge o presente trabalho, cujo objetivo é identificar o
sentimento do enfermeiro que atua em serviços de emergência hospitalar frente aos desastres naturais. Tratase de um estudo qualitativo, do tipo revisão de literatura com recorte temporal de 2007 a 2010. Para seleção
dos estudos, utilizamos como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra em português, recorte
temporal, adesão ao tema. Optamos pela realização de busca por “palavras-chaves” na base de dados Scielo.
As palavras - chaves utilizadas foram: tanatologia, enfermagem, desastres naturais e morte. Dentre os artigos
lidos, emergem os seguintes sentimentos vivenciados pelos enfermeiros entrevistados: medo angustia
estresse, cansaço, esgotamento e, sobretudo revolta pela sobrecarga e limitações de recursos que podem até
acarretar na morte do cliente. Podemos salientar o estudo da Tanatologia como instrumento de suporte
profissional
para
entender, colher dados, diagnosticar, planejar,
implementar e avaliar cuidados de
enfermagem
por o meio de comunicação terapêutica, cuidado psicossocial, tratamento dos sintomas,
promoção de dignidade e autoestima.O tema estudado nos chamou atenção por tratar dos sentimentos
vivenciados pelos enfermeiros nessas situações, cada vez mais constantes. Trata-se, contudo de um estudo
preliminar, que sofrerá aprofundamento em relação aos resultados encontrados. Esperamos contribuir para a
discussão do tema no meio acadêmico e profissional, com as discussões apresentadas até o presente
momento.
Palavras chave: enfermeiro, desastre natural, emergência e tanatologia.
¹- Academicos do quinto período do curso de graduação em enfermagem – Escola de Enfermagem Aurora de
Afonso Costa / UFF
² Professora Substituta da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II/ UFF. . Mestranda em
Ciências do Cuidado em Saúde/ UFF
SENTIMENTO VIVENCIADO POR ACADÊMICO DE ENFERMAGEM FRENTE À PERDA DE
UM ENTE QUERIDO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Melo, Katia de Lima(1) Siqueira, Maria Albermária Veras(1) Ramos, Mariana de Azevedo(1) Santos,
Raquel Ferreira dos(1) Fonseca, Patrícia Marques(1) Santos, Liana Coelho Cavalleiro dos(1) Fassarella,
Cintia (2)
A morte é um tema que se procura evitar, e que mesmo quando iminente nos negamos a aceitá-la, porém os
enfermeiros, pela natureza do seu trabalho estão frequentemente em contato com essa realidade. Com a
determinação de salvar vidas e evitar mortes, os acadêmicos de enfermagem adquirem ao longo da formação
acadêmica o conhecimento científico, habilidades e competências que colocam em prática desde o seu
primeiro contato com o hospital. O presente trabalho tem como objetivo descrever o relato de experiência de
uma acadêmica de Enfermagem frente ao falecimento de um ente querido e mostrar como isso afetou sua
vida acadêmica, não só no rendimento das aulas, mas principalmente no ensino teórico-prático. Este estudo
consiste em um relato de experiência sobre a perda vivenciada por uma aluna do Curso de Graduação em
Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, em
outubro de 2009 realizado por discentes do 5° período, no segundo semestre de 2010, através de um relato
sobre os seus sentimentos. Logo no ingresso à faculdade, os graduandos de enfermagem enfrentam a morte,
por assim dizer, nas aulas de anatomia onde utilizam em seus estudos cadáveres para deles extrair seus
saberes. Apesar do desconforto que pode ser causado, não há um espaço para discussões a respeito da morte
e do morrer. A tanatologia, uma ciência interdisciplinar, tem como foco o estudo da morte e do morrer e
pode auxiliar os profissionais da área da saúde neste contexto. Em um curto período de tempo ocorreu um
grande avanço nesta área, porém deixando uma lacuna entre a teoria e a prática que precisam ser
preenchidas. A perda de alguém que conhecemos também traz a tona sentimentos de tristeza, desamparo e
impotência, ainda mais quando se trata de um parente, um ente muito querido. A partir deste relato de
experiência conseguimos perceber, através da expressão dos seus sentimentos vividos numa época difícil de
sua vida, que não estamos preparados para lidar nem ao menos falar sobre o assunto “morte”. Ao realizarmos
nossas pesquisas descobrimos como foi difícil encontrar fontes para embasarmos o conhecimento teórico.
Pouquíssimos são os artigos que tratam sobre os sentimentos, seja dos acadêmicos de enfermagem ou dos já
então profissionais da área da saúde. Com base em nossos achados podemos observar a importância de
inserção do tema “Tanatologia” na grade curricular dos cursos de enfermagem e nos demais da área da
saúde. Portanto, a discussão sobre a morte e o morrer durante a graduação torna-se de grande importância
para a formação de um profissional capacitado não apenas para desenvolver um cuidar qualificado da vida
dos pacientes, mas também para enfrentar o processo da morte e do morrer.
Bibliografia:
BRÊTAS, José Roberto da Silva; OLIVEIRA, José Rodrigo de; YAMAGUTI, Lie. Reflexões de estudantes
de enfermagem sobre morte e o morrer. Rev. esc. enferm. USP v.40 n.4 São Paulo dez. 2006
MARTINS, et al. Reações e sentimentos do profissional de enfermagem diante da morte. R. Bras.
Enfermagem, Brasília, v. 52, n. 1, p. 105-117, jan./mar. 1999
PINHOL, Lícia Maria Oliveira; BARBOSA Maria Alves. A relação docente-acadêmico no enfrentamento do
morrer. Rev. esc. enferm. USP vol.44 no.1 São Paulo Mar. 2010
Palavras chave: tanatologia, enfermagem, emoções.
(1)
Acadêmicas do 5º período de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa / UFF.
(2)
Professora Mestre em Enfermagem, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, da Escola
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa / UFF.
Email do relator: [email protected]
O CUIDADO ALÉM DA MORTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Pinheiro, Flavia dos Santos1 Fialho, Isabelle Cristine Tavares Silva2 Oliveira, Raphael Monteiro de3
Gentille, Angelina4
Resumo: Falar sobre a morte e sobre o processo de morrer não é fácil, pois essas palavras acionam
mecanismos cerebrais que afloram nossas referências de vida. Aceitar o fato de que nossa existência, bem
como a das pessoas que amamos, tem um “prazo de validade” desconhecido, é árduo. Esse medo do
desconhecido torna a morte uma questão difícil de ser discutida, enfrentada e pesquisada. Sendo assim
entende-se que a tanatologia é uma ciência que estuda a morte, a relação do homem com a própria e com a
do outro e todos os pontos relacionados e correlacionados com a perda de algo ou alguém. Por ser um estudo
de grande expansão também nos referimos a essa ciência de tratado, porque adquiriu um corpo teórico onde
colocamos em questionamento a relação das perdas, luto e a separação, levando muitas vezes a refletirmos
sobre a nossa própria vida. Inicialmente a tanatologia preocupava-se com o doente terminal, aquele
hospitalizado; depois passou a preocupar-se também com a família deste doente, com os profissionais
médicos e da área da saúde e com todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estejam relacionado com
ele. As questões relativas às últimas fases da vida e do próprio processo de morte e morrer têm se tornado
objeto de reflexão no campo da saúde, da filosofia, da antropologia e sociologia. Estas questões têm sido
foco de preocupação e reflexão também da Organização Mundial da Saúde (OMS) que, em 1990,
estabeleceu uma modalidade de assistência denominada cuidados paliativos. Segundo Santo o cuidado de
enfermagem é promover o bem estar e o conforto de clientes e familiares, estabelecendo uma relação de
ajuda e orientação. A equipe de enfermagem tem como estabelecer uma comunicação mais estreita a partir
da relação do cuidado. Dessa forma pode-se conhecer melhor o paciente como pessoa, pois o enfermeiro
encontra-se mais presente durante o estágio terminal. Todavia o agravante é que os profissionais de saúde,
dentre esses os de enfermagem, estão despreparados para lidar com as questões relacionadas à morte e ao
processo de morrer, pois tende a ser considerado um assunto pouco importante nas instituições de saúde,
visto que a imagem do hospital é vinculada a um local de cura, e todos que o procuram têm a esperança de
sair de lá curados. Diante do exposto surgiu o objeto da pesquisa: Cuidados de enfermagem no processo de
pós-morte. O cuidar é a base do processo de atuação da enfermeira e para que esse cuidado seja bem
sucedido, é necessário que se identifique as necessidades do cliente e da família, assim como suas formas de
resolução, numa perspectiva de atuação holística e humanizada. Sendo assim, o problema da pesquisa é:
Quais os principais cuidados de enfermagem no processo pós-morte? A morte e o processo de morrer são
constitutivos da vida, carecendo assim em estudos no que se refere ao processo de formação do enfermeiro,
pois ele irá cuidar de pessoas na vida, na iminência de morte e na morte. Neste sentido, a pesquisa tem como
objetivo: Identificar e analisar na literatura os cuidados de enfermagem no processo pós-morte. Como
metodologia utilizou-se a revisão integrativa de literatura, uma técnica de pesquisa que reúne e sintetiza o
conhecimento produzido, por meio da análise dos resultados evidenciados nos estudos de muitos autores
especializados. Esse método tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um
delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do
conhecimento do tema investigado. Os estudos são analisados segundo seus objetivos, metodologia e
resultados, sendo possível chegar a conclusões acerca de um corpo de conhecimentos. A população de estudo
constituiu-se em todas as publicações indexadas no banco de dados MEDLINE (Literatura Internacional em
Ciências da Saúde/Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde), sobre cuidados de enfermagem no processo pós morte. Para
estabelecer a amostra de estudo foram estabelecidos critérios de inclusão: publicações do período de 2000 a
2010, disponíveis em português e o artigo completo, indexadas nos bancos de dados selecionados com os
seguintes termos dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): Cuidados de Enfermagem e Morte. A busca
resultou em 37 publicações, sendo que uma publicação era repetida em mais de uma base de dados e 4
publicações não estavam disponíveis para leitura do texto completo. Após uma leitura pormenorizada e da
realização de uma síntese das publicações, por similaridade de conteúdos, pode-se dividir os resultados em
três categorias: Morte e morrer: concepções da enfermagem; Cuidados paliativos; A família. Como
considerações finais acredita-se que os cuidados de enfermagem devem estar muito além de execução de
técnicas, principalmente quando esse cuidado se dá ao paciente que se encontra no processo de morte, pois
envolve uma série de outros fatores, como por exemplo, a família. Os cuidados de enfermagem ao paciente
que se encontra no pós morte, ainda se dá pela execução das técnicas, não levando em consideração o
cuidado holístico, onde a família também participa, necessitando de apoio, cuidado e compreensão. É preciso
que o profissional mude seu foco e sua atitude, escutando, percebendo, compreendendo e identificando as
necessidades, ao contrário de apenas fazer. Com isso as ações planejadas para o cuidado serão muito mais
abrangentes e os resultados serão muito mais significativos, visto que o almejado é um cuidado integral.
Sendo assim percebe-se a necessidade de discussão mais profunda sobre a temática, não somente a cerca de
publicações, como também de capacitação dos alunos, ainda em âmbito acadêmico e de apoio especializado
aos profissionais enfermeiros, pois mesmo sem embasamento, são eles que estão lado a lado do paciente na
sua terminalidade, sofrendo, cuidando, chorando e apoiando.
Descritores: Cuidados de Enfermagem; Morte
TANATOLOGIA E ENFERMAGEM: A DOR PELA PERDA DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE MAUS TRATOS
ALMEIDA, A.C.G.B de,38 COSTA, M.B39 FONSECA, C.T.M da,40 GENTILLE, A.C.41 OLIVEIRA,
T.C.T de,42
Introdução: É incorreto pensar que o lar é o local onde a criança se encontra mais protegida. Segundos
dados da literatura grande parte dos casos de maus tratos infantil ocorre no ambiente familiar e na maioria
das vezes, permanece silenciosa. OBJETIVOS: Promover através do estudo da Tanatologia a reflexão do
profissional de enfermagem sobre morte de crianças vítimas de maus tratos e como lidar diante desta
situação, listar os principais tipos de violência contra crianças, ressaltar a importância da identificação dos
maus tratos infantil pelos profissionais de saúde. MÉTODO: Pesquisa exploratória e qualitativa. Foi
realizada uma busca bibliográfica na Scientific Eletronic Library Online – Scielo, com os descritores
Tanatologia, maus tratos, criança e enfermagem, combinada aleatoriamente. Os artigos foram selecionados
segundo a relevância de seus resumos para a realização do trabalho, sendo usados somente aqueles
publicados a partir do ano 2000. RESULTADOS: Apesar de inevitável, a morte não é discutida de forma
natural, uma que vez que, culturalmente, ela é relacionada ao pavor e a não aceitação. Essa negação é
evidente em todos os núcleos sociais, e até mesmo entre os profissionais de saúde. Segundo dados da
literatura, morrem todos os dias 3.500 crianças e adolescentes vítimas de maus – tratos no mundo
industrializado. Todos os anos, no Brasil, 12% dos 55,6 milhões de crianças menores de 14 anos são vítimas
de alguma forma de violência doméstica. O setor de saúde tem importante papel no enfrentamento da
violência doméstica, já que são nestas instituições que os reflexos da violência são facilmente percebidos.
Entretanto, os profissionais dessa área focam nas lesões físicas, sem preocupar com suas origens, revelando
despreparo profissional ou apenas a intenção de não se envolver. CONCLUSÕES: O presente estudo foi de
grande utilidade também para aumentarmos nossa percepção quanto á importância de uma educação e
esclarecimentos aos pais e/ou violentadores destas crianças, visto que estas (crianças) poderão sofrer novos e
diferentes tipos de violência, além de correrem riscos de ir a óbito. Logo destacamos como um importante
papel do profissional de saúde encarar a violência contra a criança um problema de saúde pública, e buscar
resolver junto com os demais profissionais.
DESCRITORES: Tanatologia, enfermagem, maus tratos infantis, criança.
38
Acadêmica do oitavo período do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense – [email protected]
39
Acadêmica do oitavo período do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense – [email protected]
40
Acadêmica do oitavo período do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense – [email protected]
41
Profª Ms Em Educação pela Universidade Salgado de Oliveira (2000), graduada em Enfermagem pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (1978) – [email protected]
42
Acadêmica do oitavo período do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da
Universidade Federal Fluminense – [email protected]
CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMAGEM NA FASE TERMINAL DO CÂNCER DE MAMA:
UMA CATÁSTROFE NA VIDA FEMININA
Araújo, Beatriz Mota
1.
Viana, Áila Ferreira Vizeu2. Nascimento, Isabella V. Domingues do3 Maffei,
Anna Luiza dos Santos Lessa4 Mello, Fernanda Pereira de5 Nascimento, Fernando Monteiro do6
Gentile, Angelina Cupolillo.7
RESUMO: A Tanatologia é uma ciência interdisciplinar nascida nos Estados Unidos que tem como foco o
estudo da morte e do morrer3. Cuidados paliativos são cuidados ativos e totais do paciente cuja doença não
responde mais ao tratamento curativo4. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüente no
mundo e o primeiro entre as mulheres, as quais sofrem muito com os reflexos desta doença principalmente
na sua auto estima considerando-a como uma catástrofe em sua vida. Existem tratamentos, entretanto para
alguns casos, não há a cura. E, como uma paciente com neoplasia maligna de câncer de mama em fase
avançada se comporta frente a um prognóstico de morte? E quais os cuidados paliativos que a equipe de
enfermagem desenvolve com as pacientes com câncer de mama em fase terminal? Diante destes
questionamentos surgiu o objeto da pesquisa: os cuidados paliativos de enfermagem na fase terminal de
câncer de mama. Objetivos: Conhecer através de revisão integrativa de literatura como se comportam as
pacientes em fase avançada de câncer de mama, diante deste cenário que é tão agressivo na vida de uma
mulher. Identificar na literatura e analisar os cuidados paliativos empregados pela enfermagem a um paciente
em fase terminal de câncer de mama. Listar os cuidados paliativos que devem ser prestados as pacientes com
câncer de mama em fase terminal. A metodologia utilizada para este estudo será a revisão integrativa,
fazendo um levantamento de artigos publicados entre os anos de 2000 e 2010, na bireme, usando como
descritores: tanatologia, cuidados paliativos, câncer de mama, catástrofe, enfermagem. Foram obtidos 50
artigos, das quais 12 abordam mais especificamente a temática proposta. E serão analisados e discutidos no
decorrer do estudo e do desenvolvimento da disciplina ESAI II.
CUIDADOS PALIATIVOS DOS ENFERMEIROS A CRIANÇAS ONCOLÓGICAS EM FASE
TERMINAL
1
Lima, Márcia Valéria Rosa Nogueira, Glycia de Almeida2 Pereira, Vanessa Tavares3
O enfermeiro é o elemento da equipe de saúde que mais próximo e mais tempo permanece com o doente e
sua família, o que possibilita o privilégio de conhecer melhor a pessoa, sua doença, suas necessidades, e
acaba por partilhar com ela os seus momentos mais íntimos1. A enfermeira, ao cuidar de criança em fase
terminal, depara-se com a angústia e a dor dos familiares, assim como com a sua própria dificuldade em lidar
com esta situação. Particularmente por tratar-se de criança, é freqüente o envolvimento emocional e a dor
pela perda do paciente2. Enfrentar a fase terminal de uma criança por todo o significado cultural e afetivo que
acarreta, é uma tarefa difícil, complexa e muito dolorosa3. Diante do exposto e concomitante com a jornada
de tanatologia promovida pela Escola de Enfermagem da UFF na disciplina ESAI II, surgiu o interesse em
estudar e apresentar um trabalho sobre o tema proposto pela jornada. Este trabalho tem como objetivos
conhecer através de revisão bibliográfica os cuidados paliativos do enfermeiro dispensado às crianças
oncológicas em fase terminal e oferecer por meio deste estudo informações ao enfermeiro que contribua com
a ampliação de seus conhecimentos sobre tanatologia diante da criança oncológica em fase terminal. A
metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica acerca do assunto, realizada no período de 30 de agosto a
20 de setembro de 2010 em livros de práticas de enfermagem e nas bases de dados eletrônicos SCIELO
Brasil (Scientific Electronic Library Online) e BDENF (Bancos de Dados de Enfermagem); Utilizamos os
descritores: Enfermagem, cuidados paliativos, oncologia e pediatria. Após sucessivas análises baseadas nos
resumos dos artigos, utilizamos como critério para seleção aqueles que abordavam a morte e o morrer,
crianças oncológicas e cuidados paliativos em enfermagem. Como resultados da pesquisa encontraram que
em enfermarias de doenças graves, a morte de uma criança pode ser uma das maiores dificuldades
enfrentadas por enfermeiras e pessoal auxiliar, assim como pelos médicos4. Observamos que os significados
do conforto, para os jovens que vivenciam o câncer, é a necessidade de um lugar seguro e de afeto, para as
enfermeiras oncológicas cuidadoras desses sujeitos, o conforto é ao mesmo tempo um estado de equilíbrio
pessoal e ambiental5. A prática da assistência em Cuidados Paliativos se confronta todo o tempo com os
aspectos emocionais, psicológicos e espirituais dos profissionais que a praticam, mais particularmente da
Enfermagem, pois esta está durante todo o período do plantão junto ao leito do paciente, visto a demanda dos
sintomas concorrentes e recorrentes durante a sua internação6. Diante do exposto A enfermagem,
principalmente nesse momento, deve ajudar a família, pois esta necessita de cuidado, apoio e conforto. As
ações devem ser traçadas objetivando proporcionar uma experiência menos dolorosa à família, tendo um
desvelo todo especial na transmissão da notícia da morte e no preparo do ambiente, e garantia de
privacidade, assim como respeito ao tempo necessário para a despedida7. Com tudo, identificou-se que o
cuidador é um ser complexo com sentimentos, capacidade de reflexão, necessidades, dificuldades e
percepções sobre o cotidiano que o cerca, mas com limitações para enfrentar e transformar situações de
estresse como a morte na infância8. Concluímos sobre a importância de uma formação social e acadêmica
que dê subsídios aos enfermeiros para trabalharem melhor seus sentimentos e suas ações diante de crianças
em fase terminal. Através dos artigos, destacamos que o cuidar abrange mais que uma atitude; é uma
ocupação, uma preocupação. O cuidar de pacientes fora de possibilidade de cura é abraçá-lo, e envolvê-lo
sim do medo da morte, ou melhor, ter consciência de que ela existe para todos6. No que tange ao cuidado à
família da criança em fase terminal, a enfermagem deve identificar que a família precisa de cuidados para
enfrentar aquele momento de tristeza. Vale ressaltar que lidar com as reações das famílias que experienciam
o processo de morte da criança exige do enfermeiro uma assistência abrangente7. Por isso, aos enfermeiros
que trabalham com crianças em fase terminal, cabe o cuidado, dando a elas e a suas famílias o conforto
necessário, de forma que a obrigação de salvar vidas, que tanto atormenta os enfermeiros, seja redescoberta
pela necessidade de oferecer a essas crianças e a sua família a vivência do processo do morrer de forma
digna.
Descritores: Enfermagem, Cuidados paliativos, Oncologia e Pediatria.
Referências Bibliográficas
1. Ferreira NMLA, Souza CLB, Stuchi Z. Cuidados paliativos e família. Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 2008
jan/fev, 17(1):33-42.
2. Silva KS, Kruse MHL. As sementes dos cuidados paliativos: ordem do discurso de enfermeiras. Rev
Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2009 jun;30(2):183-9.
3. Paro D, Paro J, Ferreira DL.M. O enfermeiro e o cuidar em Oncologia Pediátrica. Arq Ciênc Saúde 2005
jul-set;12(3):151-57.
4. Simoni M, Santos ML. Considerações sobre cuidado paliativo e trabalho hospitalar: uam abordagem plural
sobre o processo de trabalho de enfermagem. Psicologia USP, 2003, 14(2), 169-194.
5. Rosa LM; Mercês NNAM, Santos VEP, Radünz V. As faces do conforto: visão de enfermeiras e pacientes
com câncer. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 jul/set; 16(3):410-4.
6. Clemente RPDS, Santos EHS. A não-ressuscitação, do ponto de vista da enfermagem, em uma Unidade de
Cuidados Paliativos Oncológicos. Revista Brasileira de Cancerologia 2007; 53(2): 231-236.
7. Avanci BS, Carolindo FM, Góes FGB, Netto NPC. Cuidados Paliativos à criança oncológica na situação
do viver/morrer: a ótica do cuidar em enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2009. out-dez; 13 (4): 70816.
8. Paro D, Paro J, Ferreira DL.M. O enfermeiro e o cuidar em Oncologia Pediátrica. Arq Ciênc Saúde 2005
jul-set;12(3):151-57.
A VISÃO DA ENFERMAGEM SOBRE A HISTÓRIA DA MORTE NA SOCIEDADE
SANTOS, A. G.1 RIBEIRO, M. C. M.2
Por anos o homem mantém rituais característicos a uma mesma tribo, época e povo. É no momento da morte
que os rituais se firmam, reunindo toda uma comunidade comum e cultural á seus entes mortos. Durante
esses hábitos fúnebres vários signos cercam o morto tais como luzes, cor, calor e vida, nota-se então que, por
meio desses, recursos que tornam o velório cada vez mais característico de uma tribo e transformado durante
o passar dos anos com ornamentos florais, luzes, cortejos fúnebres, alguns cultuados dentro da sala de estar
de sua própria casa acreditando-se que assim o cerimonial fica mais acolhedor e o ente morto se perpetua em
símbolo no meio familiar. Essas interpretações evidenciam a negação da morte. E a morte que passava todas
as etapas em casa, hoje, com a evolução da era digital, tais cerimônia sofreram intensas modificações,
observa-se que a morte que se passava em casa se transferiu para o quarto de um hospital, onde o silêncio da
família e a equipe comprovam a mesma negação que ocorria na morte no domicílio. Dentre as várias ópticas
da morte Jorge Amada, em Capitães de Areia, retrata a morte como se cortejasse o corpo frio e sem vida da
personagem. A morte é retratada como uma antítese; a dor de perder e a paz que se mantém, a cerimônia é
limpa e virgem e a morte é sentida sem ser sentida. Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é descrever a
trajetória histórica da morte no processo da sociedade e da hospitalização, através de materiais e métodos
qualitativo descritivo reflexivo, os dados foram coletados através de livros, periódicos e a utilização da
biblioteca virtual. Para a análise dos dados coletados foi feito uma leitura interpretativa com o objetivo de
refinamento dos dados, a fim de atingirmos o objetivo desta pesquisa. Dessa forma emergiram as seguintes
linhas temáticas: a morte domiciliar nos seus primórdios, que se manteve enraizado na cultura de diversos
países, sendo caracterizada por cada seita em rituais com o corpo, dos mais comuns, se encontrava símbolos
como véu, quando no morto na cor branca e nos familiares no preto, cor esta uniformizada dentre os
familiares e convidados representando o luto; velas posicionadas em quatro extremidades do corpo no
formato da cruz; orações ressoavam como cantos pela sala de estar, quarto ou mesmo sala de jantar, seja
onde estivesse o corpo; de forma singela e muito carinhosa o corpo era velado por horas podendo perdurar
um dia inteiro, neste momento, em meio da dor da perda os sentinelas se reconfortavam e se despediam do
seu ente em meio do que se conhecia como “comer e beber o morto”, sendo, depois, cortejado ao som de
cânticos até o local onde seria enterrado. Ao compararmos o diagnóstico de morte que se fundava na
cessação da respiração e das funções cardíacas, hoje, o conceito retrata-se na parada das funções vitais e na
separação do corpo e da alma. Isso nos leva a outra vertente importante para a formação da pesquisa, a
hospitalização da morte, caracterizada pela institucionalização do indivíduo agora tratado como
paciente/cliente, sem identidade, pouco se conhece deste e por sua vez este pouco reconhece quem o atende.
A morte é fria e solitária, dentro de um cômodo pouco confortável e desconhecido; à ele não é feito cantadas
e reuniões longas, do hospital o corpo sai empacotado em um saco preto sem grandes cerimônias, é levado a
uma capela ainda menos familiar, sem demora e ao som do vento é levado ao túmulo pelos seus familiares.
Considerando que no contexto da dor da morte, aparecem as quais vertentes discutidas anteriormente, a
aceitação ou não da morte advém de fatores de opressões tornando a mudança desses hábitos extremamente
difícil ao homem. No conjunto de todas as transformações que a humanidade vem construindo no decorrer da
história; duas ao menos permanecem constantemente opostas: o nascer e o morrer. O convívio com esses
extremos é ainda bastante conturbado mesmo com total certeza de que esses eventos são naturalmente
evidentes, deixando o profissional de enfermagem exposto á fatores desencadeadores de distúrbios
psicológicos. O profissional de saúde é finito como todo e qualquer outro ser humano, e também passa por
profundos dilemas existenciais quanto ao enfrentamento e vivência da morte em seu cotidiano de trabalho.
Na maioria das vezes, esse profissional, ainda como acadêmico, não oferece uma assistência de qualidade,
não conseguindo assistir a pessoa que está morrendo e/ou sua família, em razão da morte se configurar como
momento de grande sofrimento e fracasso da ação principal em manter a vida. É preciso olhar para as
necessidades não ditas, perceber o imperceptível, compreender o que se oculta atrás das palavras, entender os
processos da morte e do morrer para que se torne capaz de auxiliar os pacientes.
Descritores: morte, enfermagem, tanatologia.
REFERÊNCIAS:
AMADO, J. Capitães da Areia. São Paulo: Ed. Círculo do livro, [198-?]
ARIÈS, P. História da Morte no Ocidente: da idade média aos nossos dias. Trad. de Priscila Viana de
Siqueira. Rio de Janeiro: Ediouro; 2003. 311p.
KÜBLER-ROSS, E. Sobre a Morte e o Morrer: o que os doentes terminais tem para ensinar a médicos,
enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MARANHÃO, J. L. de S. O que é a morte. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Brasiliense, 1992. 77p.
RODRIGUES, J. C. Tabu da Morte. Rio de Janeiro: Ed. Achione, 1983. 1v. 296 p.
RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5ª edição, São Paulo: atlas, 2002.
1
Amanda
Girard
dos
Santos,
acadêmica
da
Universidade
Salgado
de
Oliveira.
E-mail:
[email protected].
2
Maria da Conceição Muniz Ribeiro, professora mestra da Universidade Salgado de Oliveira na disciplina de
Enfermagem de Centro Cirúrgico. E-mail: [email protected]
O SENTIMENTO DOS PACIENTES AMPUTADOS E O DESTINO DOS MEMBROS
1
MARTINS, Igor Costa2GIRÃO, Renata Vieira3 MARTINS, Nathália Henrique4 GUALTER,
Carolina5 CASTRO, Ludmila Torraca de6GALINDO,Isis7 COSTA, Dircilane Rezende da8LIMA,
Márcia Valéria Rosa
Esse tema foi escolhido para descobrir os sentimentos do cliente amputado e os cuidados DE
ENFERMAGEM necessários. Sendo possível entender que o princípio do cuidado de si para o cliente
amputado toma a forma de uma atitude, desenvolvida em práticas que serão refletidas e ensinadas como um
processo contínuo após a cirurgia. A percepção da relação de corpo/físico/mente/espírito permearam, todos
os momentos de sua vivência. Todos esses aspectos oferecem importantes elementos para reflexão quanto à
Assistência de Enfermagem a pacientes amputados. Esta pesquisa também refletiu a cerca do destino dos
membros amputados no Hospital Universitário Antônio Pedro. O objetivo é conhecer a relação do paciente
com a perda do membro amputado. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, baseada na busca de artigos no
sistema da Biblioteca virtual em Saúde (BVS). Foram pesquisadas as palavras chaves enfermagem,
tanatologia e amputação. Foram pesquisados 09 artigos relacionados ao tema descrito, com o recorte
temporal nos últimos cinco anos em espanhol , inglês e português. Estes apresentaram a relação difícil para
os familiares e pacientes que sofreram perda de membros, principalmente em situações trágicas. Lidar com a
frustração e a indignação gerada pela amputação relaciona-se a assistência integral na importância dos
sentimentos dos pacientes, considerando que o enfermeiro segundo estudos, é o profissional que passa mais
tempo junto a ele. Portanto é significante que seja inserido no processo de cura do paciente um apoio por
parte da enfermagem, para que este aceite a perda com o mínimo de danos ao psicológico. Durante a leitura
dos nove artigos foi buscado, inicialmente, a familiarização com a experiência vivida. Durante o préoperatório o paciente experimenta ambigüidade de sentimentos, pois esse momento da vida em que a pessoa
está prestes a assumir um novo modo de ser-no-mundo, desperta uma infinidade de sentimentos,
verbalizados ou não. Apesar de os pacientes afirmarem que concordavam com a cirurgia, apresentavam
expressões de desânimo, dor, angústia, medo, tristeza e choro, permanecendo cabisbaixos. Os gestos
comunicavam, a todo o momento, a dificuldade em viver na iminência de uma cirurgia mutilante. Perder
uma parte do corpo é ter alterada toda uma existência, é viver uma incompletude que traz consigo uma série
de alterações no existir. É ter que se adaptar/readaptar, aprender a viver novamente, agora assumindo uma
outra perspectiva no mundo para si, para os outros, para os objetos. O paciente em pré-operatório busca
afastar de si o que considera doloroso, afirmando que se sente bem apesar das circunstâncias. Esse esforço
não passa de uma tentativa, pois o corpo expressa tudo aquilo que as palavras não dizem e, nesse caso, as
expressões verbais e não-verbais divergem. Apesar do sofrimento vivenciado em razão da iminente perda, o
paciente vê na família um motivo para tentar mascarar a dor sofrida. Preservar o familiar do sofrimento
vivenciado parece ser questão primordial. De certo modo, a preocupação com a família mostra-se como algo
determinante para a manutenção das aparências e do contínuo esforço para não deixar transparecer a dor
vivida. A experiência cirúrgica se mostra ao paciente em suas possibilidades, pois torna possível uma
existência de modo diferente. Pode-se ver a perspectiva de uma existência incompleta, pois há perda de parte
do corpo, ou pode ser simplesmente a perspectiva de abertura a novas vivências, livre da dor, da parte
deformada, da parte orgânica que também traz sofrimento e que, muitas vezes, modifica o movimento do serno-mundo. Vivenciar uma amputação implica em experiência marcada por alterações biopsicossociais,
espirituais e culturais, repleta de estigmas, decorrentes da deficiência instalada e de sentimentos diversos,
convergentes e divergentes, que se entrelaçam e se unem formando um todo. É uma vivência constituída por
sentimentos que se confundem, sendo permeada pela razão, que visualiza a cirurgia como necessária, e a
emoção que não aceita a perda.
A PRÁTICA DO CUIDADO PALIATIVO NA ENFERMAGEM
Bruna de Souza Pena1 Amanda Martins Rosa2 Fernanda Almenara Silva dos Santos3 Jenefer de
Meneses Frossard4 Quezia Cristina da Silva Simões Lessa5 Marcia Valeria Lima Rosa6
1 Acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal
Fluminense. Bolsista de extensão do Pró-saúde. Email: [email protected]
2 Acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal
Fluminense. Bolsista de Iniciação Cientifica- PIBIC/CNPq.
3 Acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal
Fluminense. . Email: Bolsista de extensão do Pró-saúde
4 Acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal
Fluminense. Bolsista de iniciação cientifica da FAPERJ.
5 Acadêmica de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal
Fluminense. Monitora de histologia.
6 Márcia Valeria Lima Rosa . Professora da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II.
INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos são cuidados essências que de forma organizada cuida, ampara e
apóia os doentes em fase terminal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2002), cuidados
paliativos são cuidados ativos e totais do paciente cuja doença não responde mais ao tratamento curativo 1. O
profissional de enfermagem, no contexto dos cuidados paliativos, é de suma importância, por ter um contato
maior com o paciente, favorecendo assim a relação de confiança estabelecida entre enfermeiro-paciente.Com
isso, destaca-se a importância do estudo como contribuição para a área da enfermagem. OBJETIVO:
Identificar a disponibilidade de estudos sobre os cuidados paliativos realizados pelo enfermeiro. Avaliar sua
importância, a fim de destacar métodos, estratégias e novos conceitos na área. MÉTODO: Trata-se de uma
revisão integrativa que é definida como uma revisão em que conclusões de estudos anteriores são
sumarizadas, de maneira sistemática, a fim de que se formulem inferências sobre um tópico específico. A
questão norteadora da pesquisa foi: Qual o papel do enfermeiro, e a sua importância na aplicação dos
cuidados paliativos, nos múltiplos campos de atuação? Para a seleção dos artigos analisados foi utilizada a
base de dados BIREME. Foram selecionados estudos na base de dados BIREME, publicados entre 2001 e
2010. Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, para a presente revisão integrativa foram:
artigos publicados em português, inglês e espanhol, disponíveis na base de dado na integra, no período
compreendido entre 2000 e 2010; palavras-chave: cuidado paliativo, enfermagem; artigos que retratassem
métodos, intervenções e conceitos nos cuidados paliativos, demonstrando a relevância e a eficácia dessa
prática. DISCUSSÃO E RESULTADOS: Foram selecionados para analise de acordo com os critérios de
inclusão um total de 12 artigos sendo 6 em inglês, 2 em espanhol e 4 em português. Sob o pressuposto pela
Teoria Humanística de Enfermagem, desenvolvida em 1976 por Paterson e Zderad, o cuidado de
enfermagem é visto no contexto humano, como uma resposta de conforto de uma pessoa para outra num
momento de necessidade, com uma visão de elevação do bem-estar. Segundo Santos (2007), a pratica de
enfermagem é descrita fenomenológicamente, como a capacidade da enfermeira de trabalhar com seres
humanos em suas intensas experiências, não focando apenas no bem-estar, mas também em seu máximo
senso, ajudando o ser humano num momento particular de sua vida. Quando o enfermeiro, ao cuidar do
paciente oncológico fora de possibilidade terapêutica, aplica o referencial da Teoria Humanística em
combinação com o cuidado paliativo, é possível reconhecer cada ser como existência singular em sua
situação. Desse modo, propicia entender seu significado e compreendê-lo no processo de doença. Um dos
artigos em espanhol realizou uma revisão bibliográfica sobre cuidados paliativos para pacientes em fase
terminal de câncer de mama, trás como destaque o enfoque principal da essência dos cuidados paliativos que
é realizado por uma equipe multiprofissional que visa proporcionar qualidade de vida e amenizar o
sofrimento biológico, psicológico, espiritual e social do paciente sem possibilidade de cura, lembrando que
esse cuidado se estende as familiares que os cercam. O segundo artigo de língua espanhola destaca o cuidado
de enfermagem no câncer pediátrico, apesar de realizar uma discussão abrangente sobre o tema trazendo
tratamento, epidemiologia e programas nacionais dentro de revisão bibliográfica destaca o cuidado paliativo,
onde a criança recebe um cuidado que visa a melhora da qualidade de vida como em qualquer outra faixa
etária, nesse artigo um diferencial é que ele trás a reflexão a cerca de duas perguntas: “estamos preparados
para enfrentar a morte dos nossos pacientes?” e “Quando falar sobre morte para nossas crianças?”
considerando que o profissional que oferece o cuidado paliativo também é um sujeito ativo e carece de
destaque na dinâmica do cuidar. No que concerne a prática do cuidado paliativo na enfermagem um artigo
trás a importância da comunicação terapêutica entre enfermeiro- paciente, visto que o enfermeiro é o
profissional da saúde que mais tempo passa prestando cuidados ao paciente. Um dos artigos em inglês fala
do programa inglês Liverpool Care Pathway que visa dar melhores cuidados nos últimos três dias ou, até
mesmo, horas de vida de um paciente terminal de câncer, oferecendo orientações no controle dos sintomas,
medidas de conforto, descontinuação de medidas inapropriadas e antecipatórias de prescrição de
medicamentos, dando apoio psicológico e espiritual tanto para o paciente quanto para a família, ou seja,
oferece os princípios dos cuidados paliativos. O artigo Documentation of best interest by intensivists: a
retrospective study in an Ontario critical care unit trata da avaliação de vários prontuários de pacientes
internados na Unidade de Terapia Intensiva, do Centro de Ciências da Saúde Sunnybrook e levanta questões
relacionadas aos responsáveis por e pacientes terminais, estariam eles tomando as decisões corretas com
relação ao tratamento, visto que esses pacientes não apresentam condições físicas ou até mesmo psicológicas
para saberem o que é o melhor para eles. O que nos leva a refletir sobre a importância do enfermeiro que
dentro da equipe do cuidado por ser profissional que mais tempo passa com o paciente e sua família seja uma
peça chave para esclarecer ao familiar sobre o tratamento e as decisões a serem tomadas. Um artigo em
português que nos traz a cerca da percepção do enfermeiro diante das crianças oncológicas sob cuidados
paliativos, apresenta o processo de sofrimento e misto de emoções para o profissional, assim voltando os
cuidados para a promoção do conforto, alívio da dor e dos sintomas, além do atendimento às necessidades
biopsicossociais e espirituais. Essas pontuações acerca do desgaste da equipe de enfermagem e sobre o
cuidado também são descritas em outro artigo em português, síntese de um trabalho de doutorado, que
também discorre a cerca da dor, da morte e da bioética. CONCLUSÃO: Portanto ao realizarmos a analise
desses artigos, que trazem em destaque os cuidados paliativos conseguimos refletir que o enfermeiro e um
profissional de estrema importância nesse tipo de cuidado, pois em relação a equipe multiprofissional ele é o
que estar presente a todo instante com o paciente e família com isso é capaz de perceber o contexto em que
estar inserido paciente terminal e interagir junto com a equipe de forma ativa a fim de obter uma melhor
qualidade de vida a esses pacientes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Araujo MMT de, Silva MJP da. A comunicação com o paciente em cuidados paliativos: valorizando a
alegria e o otimismo. Rev. esc. enferm. USP [online]. 2007; 41(4): 668-674. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0080-623 4200700040 0018.
Avanci BS, Góes FGB, Carolindo FM, Netto NPC. Cuidados Paliativos à criança oncológica na situação do
viver/morrer: A ótica do cuidar em enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2009 out-dez; 13 (4): 708-16
Baker JN, Hinds PS, Spunt SL, Barfield RC, Allen C, Powell BC, Anderson LH, Kane JR. Integration of
Palliative Care Principles into the Ongoing Care of Children with Cancer: Individualized Care Planning and
Coordination. Pediatr Clin North Am. 2008 February ; 55(1): 223–xii..
Chiang JK, Cheng YH, Koo M, Kao YH, Chen CY. A Computer-assisted Model for Predicting Probability
of Dying Within 7 Days of Hospice Admission in Patients with Terminal Cancer. Jpn J Clin Oncol
2010;40(5)449–455.
Care or killing? Canadian Medical Association or its licensors. JANUARY 12, 2010. 182(1). Published at
www.cmaj.ca.
E.U. Chery Palma, E.U Fanny Sepúlveda. Atención de enfermería en el niño con câncer. Rev. Ped. Elec. [en
línea] 2005, Vol 2, N° 2. ISSN 0718-0918
Hirdes JP, Ljunggren G, Morris JN, Frijters DHM, Soveri HF, Gray L, Björkgren M, Gilgen R. Reliability
of the interRAI suite of assessment instruments: a 12-country study of an integrated health information
system.BMC Health Services Research 2008, 8:277.
World Health Organization (WHO). WHO Definition of Palliative Care [text on the Internet]. Geneva; 2006.
[cited 2006 Feb 13]. Disponível em: http://www.who.int/canc er/palliative/definition/en .
Ratnapalan M, Cooper AB, Scales DC, Pinto R. Documentation of best interest by intensivists: a
retrospective study in an Ontario critical care unit. BMC Medical Ethics 2010, 11:1.
MSc. Katiuska Figueredo Villa. CUIDADOS PALIATIVOS: UNA OPCION VITAL PARA PACIENTES
CON CANCER DE MAMA Ver. haban cienc méd La Habana Vol VII N. 4, outubro de 2008.
Santos MCL, Pagliuca LMF, Fernandes AFC. CUIDADOS PALIATIVOS AO PORTADOR DE CÂNCER:
REFLEXÕES SOB O OLHAR DE PATERSON E ZDERAD. Rev Latino-am Enfermagem 2007 marçoabril; 15(2):350-4.
Simoni M, Santos ML. CONSIDERAÇÕES SOBRE CUIDADO PALIATIVO E TRABALHO
HOSPITALAR: UMA ABORDAGEM PLURAL SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO DE
ENFERMAGEM. Psicologia USP, 2003, 14(2), 169-19
A SITUAÇÃO DE MORTE PARA ACADÊMICOS(AS) DE ENFERMAGEM
CHAGAS FILHO, Gustavo Alberto Suarez das43ESCUDEIRO, Cristina Lavoyer44 MACHADO, Jair
da Silveira45 ANGELO, Marcelle Siqueira46
Introdução: A Tanatologia é uma área de conhecimento que a Enfermagem vem desenvolvendo estudos no
sentido de compreender esse fenômeno para o cuidar em enfermagem, uma vez que a morte e seus
desdobramentos fazem parte do cotidiano da profissão. Objetivos: O presente estudo objetivou analisar a
percepção do(a) acadêmico(a) de enfermagem acerca da situação de morte. Metodologia: Pesquisa de
abordagem qualitativa, do tipo descritiva, tendo como cenário uma instituição privada de ensino superior. O
universo pesquisado foi de 49 alunos de graduação em enfermagem nos quatro períodos iniciais do curso de
graduação. A coleta de dados foi realizada mediante um formulário com questões abertas e fechadas, no
período de agosto à setembro de 2010. Resultados: Dos sujeitos desta pesquisa, 42 (85,71%) são do sexo
feminino, sendo a faixa etária predominante entre 20 e 30 anos (21 sujeitos, 42,85%). Vinte e nove (59,18%)
não são casados, porém 21 (42,85%) possuem filhos independente do estado civil. Quanto a religião de cada
participante, existe um equilíbrio entre católicos (18 sujeitos, 36,73%) e protestantes (16 sujeitos, 32,65%); e
5 ( 10,20%) declaram ser espíritas. Enquanto 39 (79,59%) declaram ter uma religião, apenas 25 (51%)
declaram praticá-la. A situação de morte foi vivenciada por 85,71% (42 sujeitos) sendo a morte de algum
familiar, 29 (50,88%) situações das 57 experenciadas pelos sujeitos, e o sentimento mais presente foi o de
tristeza (30 – 58,85% - em 59 citações). A maioria dos sujeitos (35 – 71,43%) gostaria de ser informada, na
possibilidade de uma dopença grave e com tempo limitado de vida, porém a maioria (18 sujeitos, 36,73%)
não autorizariam a sua necrópsia, assim como não autorizariam a necrópsia em algum familiar (19
sujeitos/38,77%), no entanto 44 dos sujeitos (89,90%) aceitaria a doação de algum dos seus órgãos após a
morte, assim como respeitariam (48 sujeitos/87,76%) o desejo de algum parente que tenha a opinião positiva
acerca da doação dos seus próprios órgãos. Quanto à importância de se abordar o tema sobre a morte,
durante a formação acadêmica, 43 (87,75%) tem por opinião que o tema deva ser abordado; 5 (10,20%)
acreditam não ser um tema de relevância a ser abordado na formação do enfermeiro e apenas 1 (2,05% )
declara ser indiferente. Trinta e dois sujeitos (65,30%) sugeriram estratégias para abordagem do tema, sendo
a preferência dos mesmos as relacionadas à palestra/debate/seminário (17 citações/34,69%), destaca-se ainda
que 5 citações (10,20%) apontam para que a abordagem do tema seja na disciplina de Psicologia. Conclusão:
A morte se apresenta como uma situação de dor e tristeza para os acadêmicos do estudo; mas também de
conformação pois o sofrimento do ente querido se cessará a partir da sua morte. O corpo sem vida é
percebido como a possibilidade de continuidade de vida para outras pessoas, uma vez que a doação de
órgãos foi predominante entre os acadêmicos, no entanto a necrópsia não é bem aceita por estes. A morte
43
Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem da
Faculdade União Araruama de Ensino / FAC – UNILAGOS. Orientador do trabalho.
44
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Vice-Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa / Universidade Federal Fluminense.
45
Acadêmico de Enfermagem da Faculdade União Araruama de Ensino / FAC – UNILAGOS.
46
Acadêmica de Enfermagem da Faculdade União Araruama de Ensino / FAC – UNILAGOS.
como tema a ser abordado na formação se mostra como de fundamental importância, principalmente em
como lidar com a situação em si mas também como abordar e acolher a família.
A ENFERMAGEM NA RESILIÊNCIA DOS FAMILIARES QUE PERDERAM SEU ENTE
QUERIDO: REFLEXÕES DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM.
Barros, Amanda Corrêa. ² Gentile, Angelina Cupolillo. ³ Fernandes, Dalva Marina Motta. ² Bernardes,
Gleiciane de Almeida. ¹ Ferreira, Letícia dos Santos. ² Silva, Mirian Gonçalves da. ² Sampaio, Sarah
Zani. ² Barbosa, Viviane Quintana. ²
INTRODUÇÃO: A possibilidade de morte está presente em todo momento da vida e essa consciência exerce
poder transformador na relação que se estabelece com o viver. Conforme se aceita os limites da capacidade
de controlar o incontrolável e elaborar as perdas pessoais não resolvidas, pode-se trabalhar de modo mais
sensível com os dilemas das famílias que estão sob os cuidados dos profissionais de enfermagem. A morte é
um evento presente no cotidiano da equipe de enfermagem, e como tal, pode ser entendida como um
fracasso, pois o que sempre se busca é a melhora do paciente em direção à saúde e nunca em direção
contrária. Se o profissional não consegue alcançar seu objetivo ou, mais especificamente, se o paciente
morre, a atuação pode ser vista por ele e pelos outros como fracassado. Essa forma de proceder evidencia o
entendimento de que a morte não é mais considerada como o limite natural da vida humana, ou algo inerente
à própria existência. Nessa concepção, o paradigma de curar, vencer a morte, facilmente, torna o profissional
prisioneiro do domínio tecnológico e científico. O interesse em pesquisar o assunto partiu de inúmeras
inquietações advindas do campo prático da disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso II, ao pensar
em situações de morte e morrer de pacientes no centro cirúrgico. O distanciamento do profissional de
enfermagem, o medo de discutir o assunto, os momentos de interação com a família foram alguns dos
aspectos propulsores da atitude investigativa. OBJETIVO: S e n d o a s s i m , e s t e e s t u d o o b j e t i v a
a v a l i a r a s p o s s í v e i s c o n t r i b u i ç õ e s do enfermeiro na resiliência dos familiares frente à morte de
seu ente querido no centro cirúrgico, diante da visão dos acadêmicos de enfermagem. METODOLOGIA:
Método qualitativo feito através de dados subjetivos, sem que se utilize de instrumentos de medidas,
demonstrando apenas a qualidade do que se apresenta, onde a análise de conteúdo ocorreu através de uma
revisão de literatura. O local da coleta de dados o c o r r e u n o do Hospital Universitário Antônio Pedro
(HUAP) e o s dados foram coletados através da observação de campo. RESULTADOS: Na amplitude de sua
assistência, a enfermagem, assim como as demais profissões de saúde, se subdividem em várias áreas, neste
momento, voltamos nossa atenção à humanização da assistência de enfermagem em centro cirúrgico. Esta
questão se torna relevante partindo do princípio de que com o avanço científico, tecnológico e a
modernização de procedimentos, vinculados à necessidade de se estabelecer controle, o enfermeiro passou a
assumir cada vez mais encargos administrativos, afastando-se gradualmente do cuidado ao paciente. Ao
observarmos as atividades desenvolvidas pela enfermagem no centro cirúrgico, temos: recepção e
identificação do paciente, encaminhamento à sala de cirurgia, preparação e montagem da sala, teste e
verificação da segurança dos equipamentos, mobilização e transporte de pacientes, recepção e avaliação em
sala de recuperação anestésica, assistência individualizada e humanizada, encaminhamento e alta com
segurança e respeito. Após tais observações e indagações podemos afirmar que poucas são as mortes
ocorridas no centro cirúrgico, e quando estas ocorrem, a maioria são de cirurgias de emergências. Em tais
situações o enfermeiro não chega a manter um contato contínuo com o paciente, após a sua saída do centro
cirúrgico os responsáveis por ele e por tais cuidados pós-cirúrgicos cabem a equipe de enfermagem da
URPA (unidade de recuperação pós-anestésica). Diante de uma proposta de pesquisar a atuação do
enfermeiro junto a familiares que acabaram de perder seus entes queridos, descobrimos que no HUAP esse
papel não é exercido. Os parentes terão contatos apenas com assistentes sociais e médicos. A enfermagem só
lida com a morte no momento da preparação do corpo, fazendo com que os enfermeiros distanciem cada vez
mais o seu contato com os familiares pouco contribuindo para o momento da resiliência. CONCLUSÃO:
Concluiu-se que humanizar a assistência de enfermagem em centro cirúrgico é um desafio, entretanto,
possível e fundamental na prática da enfermagem, essencialmente nesta área. O luto pela perda de uma
pessoa amada é a experiência mais universal e, ao mesmo tempo, mais desorganizadora e assustadora que
vive o ser humano. Dessa forma, o espaço hospitalar não pode ser considerado um espaço essencialmente
racionalizado, e estritamente técnico científico. Ele deve ser humanizado, agregando elementos que possam
trazer alegria, espiritualidade, religiosidade, cura, afeto, amor.
Descritores: Enfermagem de centro cirúrgico, Estudantes de enfermagem, Resiliência psicológica.