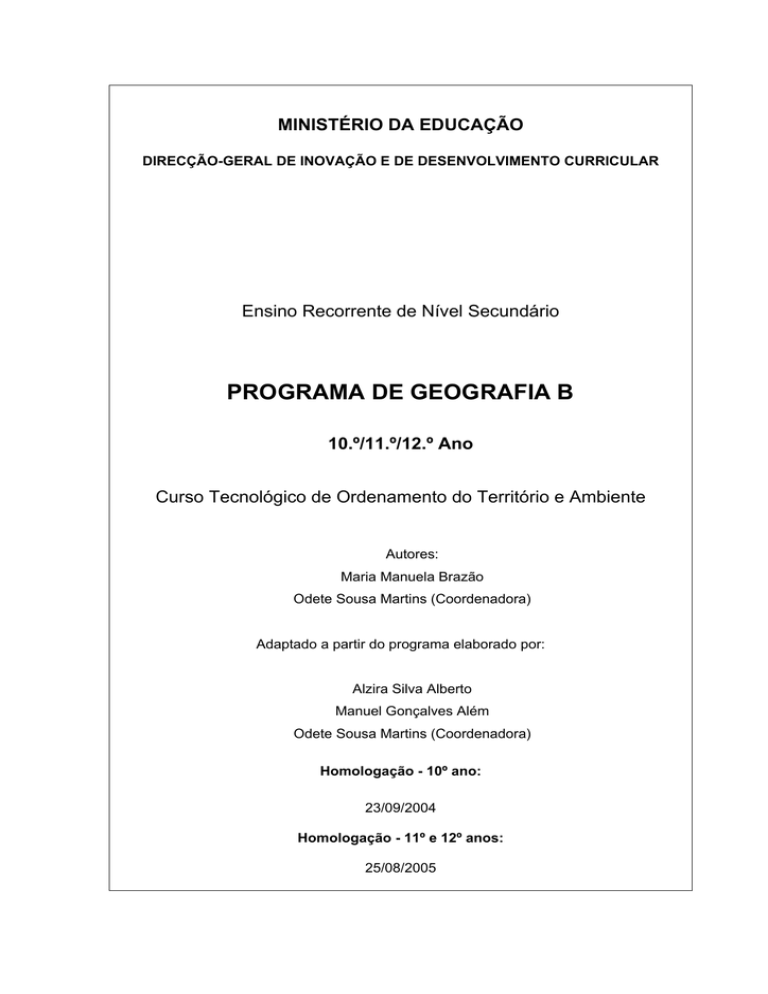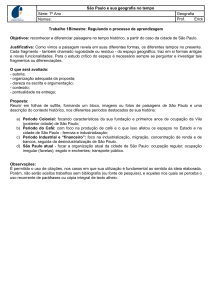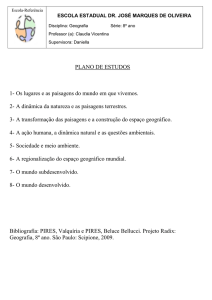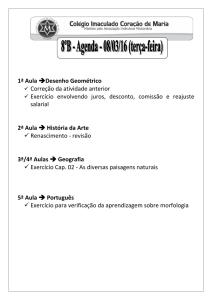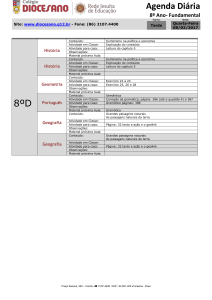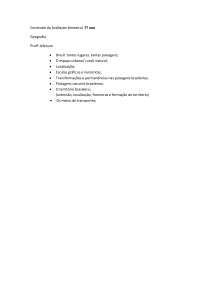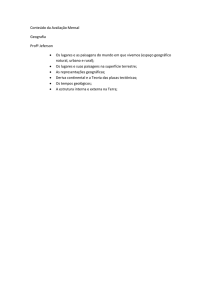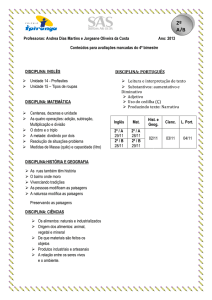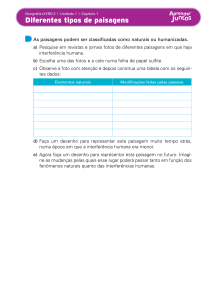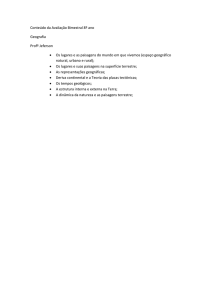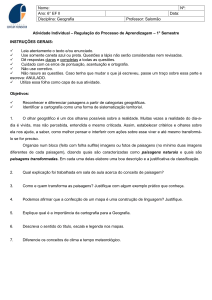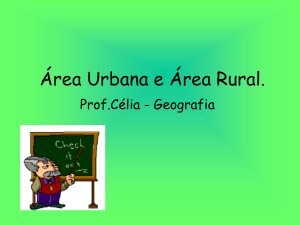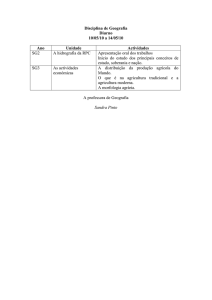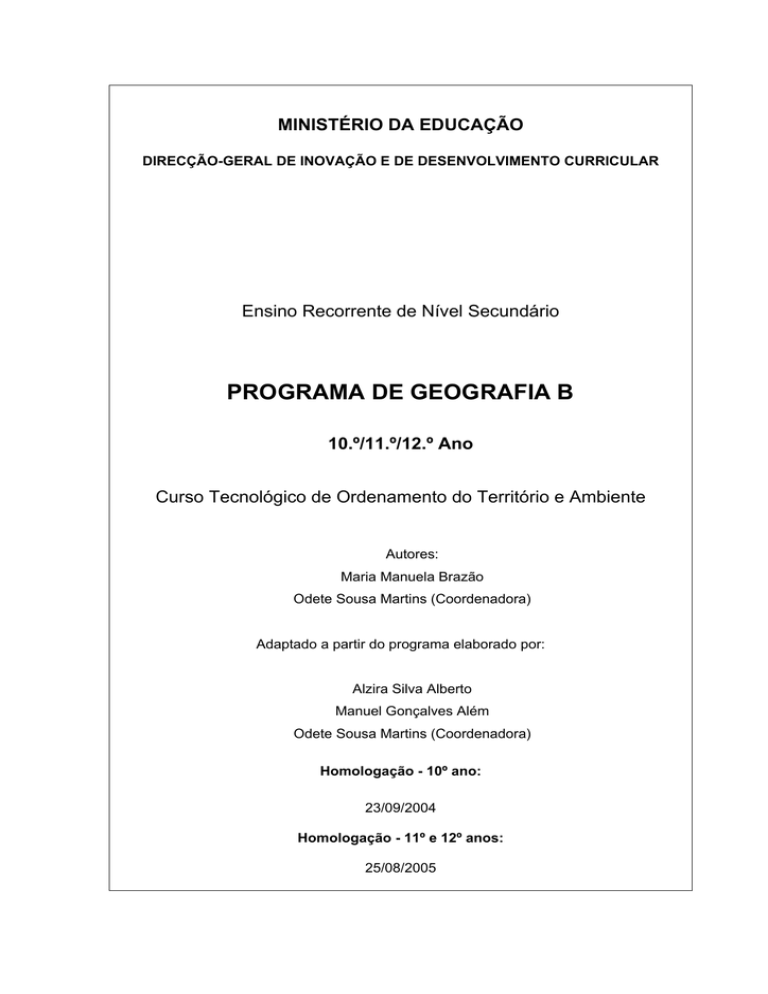
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DIRECÇÃO-GERAL DE INOVAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Ensino Recorrente de Nível Secundário
PROGRAMA DE GEOGRAFIA B
10.º/11.º/12.º Ano
Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente
Autores:
Maria Manuela Brazão
Odete Sousa Martins (Coordenadora)
Adaptado a partir do programa elaborado por:
Alzira Silva Alberto
Manuel Gonçalves Além
Odete Sousa Martins (Coordenadora)
Homologação - 10º ano:
23/09/2004
Homologação - 11º e 12º anos:
25/08/2005
Índice
PARTE I
Introdução..............................................................................................................................4
1. Critérios de reajustamento ao Ensino Recorrente ................................................................5
2. Natureza da disciplina e sua integração no currículo ...........................................................7
PARTE II
Apresentação do Programa ..............................................................................................10
1. Finalidades...........................................................................................................................11
2. Objectivos Gerais/Competências ........................................................................................12
3. Visão Geral dos Temas/Subtemas por Módulo (10.º/11.º/12.º anos). ................................14
4. Sugestões Metodológicas Gerais.........................................................................................17
5. Recursos..............................................................................................................................21
6. Avaliação ............................................................................................................................22
PARTE III
Desenvolvimento do Programa por Módulos .............................................................24
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos – 10.º Ano ..............................................................25
1.º Módulo .............................................................................................................................26
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 10.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
2.ºMódulo .............................................................................................................................36
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 10.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
3.º Módulo .............................................................................................................................44
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 10.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
1
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos – 11.º Ano.................................................................52
4.º Módulo................................................................................................................................53
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 11.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
5.ºMódulo ..............................................................................................................................61
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 11.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
6.º Módulo .............................................................................................................................69
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 10.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
Estudo de caso........................................................................................................................77
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos – 12.º Ano ..............................................................79
7.º Módulo ..............................................................................................................................80
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 12.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Sugestões de Avaliação
8.ºMódulo ..............................................................................................................................88
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 12.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões de Avaliação
Sugestões Metodológicas/Recursos
2
9.º Módulo .............................................................................................................................96
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Matriz: Competências/Módulos – 12.º Ano
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Sugestões Metodológicas/Recursos
Estudo de caso
Sugestões de Avaliação
Estudo de caso .....................................................................................................................102
PARTE IV
Bibliografia ........................................................................................................................104
3
PARTE I
Introdução
4
1. Critérios de reajustamento ao Ensino Recorrente
A Portaria n.º 550-E/2004 de 21 de Maio de 2004, ao instituir o ensino recorrente de
nível secundário no sentido de dar uma resposta adequada de formação para aqueles
que dela não usufruíram em idade própria ou não a completaram, determinou a
adequação dos programas à especificidade deste regime de ensino.
Assim, a equipa de trabalho sentiu necessidade de, em acordo com os princípios
orientadores do diploma acima referido, proceder à enumeração de critérios
orientadores dessa adequação.
Os critérios que a seguir se discriminam visam, conforme os princípios orientadores
do artigo 2.º do diploma em causa, a valorização dos conteúdos e das competências
essenciais e estruturantes.
•
Não desvirtuar a coerência interna do programa
•
Manter, sempre que possível, os títulos originais dos diferentes temas e
subtemas
•
Adequar alguns temas e subtemas às novas realidades nacionais e
internacionais
•
Reagrupar temas/subtemas em função das relações entre os conteúdos a fim de
equilibrar a extensão dos diferentes módulos
•
Adaptar a duração dos módulos à extensão dos diferentes períodos escolares
tendo como referencial um total de 33 semanas por ano lectivo e, uma
duração, por módulo, de 9 a 12 semanas o que, no caso do Programa de
Geografia B corresponde a 18 ou a 24 unidades lectivas
•
Adequar a extensão dos módulos ao disposto no artigo 20.º da Portaria n.º
550-E/2004 relativamente aos momentos de avaliação sumativa interna na
modalidade de frequência não presencial
•
Permitir a capitalização sequencial de módulos, obrigatória na modalidade de
frequência não presencial (Art. 20.º da Portaria n.º 550-E/2004)
•
Facilitar a identificação dos diferentes módulos optando por uma numeração
sequencial ao longo dos diferentes anos ( 10º.,11.º,12.º anos)
5
•
Apresentar, apenas, o n.º de unidades lectivas para cada um dos módulos a
fim de permitir uma melhor adequação da abordagem dos conteúdos às
características dos alunos, adultos com percursos muito diferenciados de vida
•
Valorizar as vivências dos alunos cujo nível etário pressupõe um domínio do
espaço diferente do de um jovem adolescente
•
Incluir o “estudo de caso”, apenas na modalidade de frequência presencial em
virtude dos constrangimentos impostos pela modalidade de frequência não
presencial
•
Facilitar a planificação das actividades introduzindo, em cada módulo, uma
matriz de competências por módulo e por ano
6
2 – Natureza da disciplina e sua integração no currículo
“A Educação mais elevada é aquela que não se limita a inculcar-nos conhecimentos mas que
coloca a nossa vida em harmonia com toda a existência.” (Tagore, in Manual da UNESCO
para o Ensino da Geografia, 1978).
Num Mundo cada vez mais global, no qual se assiste a mudanças permanentes na sociedade,
o processo educativo deve acompanhar essas mudanças não esquecendo as especificidades de
cada região. As modificações na tecnologia industrial e nos meios de comunicação, bem
como o aumento da mobilidade espacial condicionam a vida das pessoas e a organização do
território. O progresso técnico trouxe riscos e ameaças para o desenvolvimento do bem-estar
social. A consciência das limitações dos recursos naturais e do actual estado de degradação
ambiental do nosso planeta pôs em evidência a necessidade de compatibilizar o
desenvolvimento com o equilíbrio dos ecossistemas naturais. O crescente valor económico e
social atribuído à qualidade do ambiente e à necessidade de preservar os recursos naturais,
abrem caminho à convergência de interesses por parte dos Estados, da sociedade e dos
agentes económicos, no sentido de uniformizar as acções e as práticas, garantindo a
sustentabilidade do desenvolvimento.
A Geografia pela actualidade e diversidade das temáticas que aborda é fundamental na
formação integral do cidadão. Ela permite a sistematização de um potencial de conhecimentos
sobre o mundo contemporâneo numa perspectiva multidimensional, multidisciplinar e
integradora. Contribui também para a percepção da crescente interdependência planetária dos
problemas que afectam as relações entre as pessoas e entre estas e o ambiente. Por fim
estimula o interesse dos alunos por uma participação mais consciente e solidária enquanto
cidadãos, na procura de soluções alternativas.
Um dos objectivos fundamentais da Educação Geográfica é o conhecimento da problemática
social e ambiental dos diferentes lugares do Mundo (Souto González, 1996) e é nesse sentido
que o Ensino da Geografia se deve orientar; ela pode ter um contributo importante na
Educação Ambiental e na Educação para a Cidadania, consciencializando os alunos do
impacte do seu próprio comportamento, fornecendo-lhes informação rigorosa e ajudando-os a
desenvolver capacidades que lhes permitam tomar decisões fundamentadas relativas ao
ambiente, contribuindo para o aparecimento duma nova ética relativa ao ambiente, que guie
as suas acções.
7
A Geografia é a disciplina que se ocupa especificamente do estudo do “espaço geográfico”,
entendido como o resultado das interacções dos elementos naturais e do espaço social. A
importância do ensino da Geografia, integrada na componente científico-tecnológica do Curso
Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente, emerge da necessidade de formação
dos cidadãos com um sólido conhecimento do mundo onde vivem e sabendo pensar o seu
território.
A disciplina de Geografia pretende “educar geograficamente” o aluno, ou seja, dotá-lo de
argumentos que lhe permitam compreender e explicar as relações do ser humano com os
outros elementos do meio, em diferentes territórios. Este programa de Geografia B contribui
para a aquisição de um conhecimento multidimensional do mundo, permitindo ao aluno
desenvolver uma série de competências, enquanto indivíduo integrado numa sociedade
complexa e em constante mudança.
Sendo a Geografia uma disciplina já iniciada no Ensino Básico considera-se importante a
articulação entre os dois níveis de ensino. Assim, no início do Ensino Secundário, o aluno
deve ter adquirido as seguintes competências e conhecimentos essenciais.
-
Utilizar o vocabulário geográfico, de forma clara, oralmente e por escrito.
-
Ler diferentes tipos de mapas (hipsométrico, temáticos).
-
Ler mapas a diferentes escalas.
-
Ler gráficos lineares, de barras e sectogramas.
-
Recolher e organizar dados estatísticos.
-
Construir gráficos lineares e de barras.
-
Recolher e organizar informação oral e escrita.
-
Identificar os elementos fundamentais de uma paisagem.
-
Determinar distâncias reais sendo dada a escala do mapa.
-
Localizar lugares num planisfério utilizando as coordenadas geográficas.
-
Distinguir as diferentes formas de relevo.
-
Localizar os grandes conjuntos morfológicos a nível mundial.
-
Localizar os grandes desertos.
-
Localizar os grandes rios a nível mundial.
-
Localizar os grandes conjuntos climáticos.
-
Caracterizar, quanto à temperatura e à precipitação, os grandes conjuntos climáticos.
-
Caracterizar as formações vegetais espontâneas dos grandes tipos de clima.
8
-
Relacionar a distribuição da população com factores naturais e humanos.
-
Utilizar conceitos básicos de demografia.
-
Relacionar os diferentes ritmos de crescimento demográfico com o comportamento das
variáveis demográficas.
-
Reconhecer os principais problemas demográficos na actualidade.
-
Distinguir tipos de agricultura quanto às técnicas utilizadas e quanto ao destino da
produção.
-
Reconhecer que a modernização dos transportes torna os lugares mais acessíveis.
-
Reconhecer que as desigualdades económico-sociais podem (co)existir a diferentes
escalas.
-
Reconhecer que as actividades humanas estão na origem dos actuais problemas
ambientais.
-
Reconhecer o papel da circulação atmosférica e oceânica na difusão da poluição.
-
Relacionar a delapidação dos recursos naturais com o crescimento da população mundial.
-
Reconhecer que a exploração dos recursos se deve realizar abaixo da capacidade de
regeneração dos mesmos.
Estas competências/conhecimentos considerados indispensáveis para o desenvolvimento do
programa do Ensino Secundário; devem ser tidos em consideração na realização da avaliação
diagnóstica, tanto para a reorientação dos alunos como para o delinear de estratégias de
recuperação.
9
PARTE II
Apresentação do Programa
10
1 - Finalidades
O ensino da Geografia deve:
•
promover o desenvolvimento pessoal, numa perspectiva de responsabilidade, de
autonomia e de confiança em si próprio;
•
desenvolver a curiosidade geográfica como promotora da educação para a cidadania;
•
aprofundar o saber/pensar o espaço geográfico, no sentido da disponibilidade para a
reconstrução crítica do próprio saber;
•
aprofundar o conhecimento de culturas e de territórios, numa formação orientada para
o respeito, solidariedade e tolerância;
•
promover a consciencialização da complexidade das causas dos fenómenos espaciais
e da interacção dos vários factores na sua explicação;
•
promover a participação nas discussões relativas à organização do espaço ponderando
os riscos para a saúde e para o ambiente envolvidos nas tomadas de decisão;
•
desenvolver um sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial numa
perspectiva de sustentabilidade.
11
2 - Objectivos Gerais/Competências
O
desenvolvimento
dos
temas/conteúdos
deve
contribuir
para
a
aquisição/desenvolvimento das seguintes competências nos domínios das atitudes,
das capacidades e dos conhecimentos:
1. Reflectir sobre as atitudes individuais e colectivas face às realidades geográficas.
2. Desenvolver hábitos e métodos de trabalho e o gosto pelo rigor científico.
3. Avaliar a utilização individual e colectiva dos recursos naturais.
4. Valorizar o património natural e construído numa perspectiva de sustentabilidade.
5. Discutir criticamente diferentes soluções para os problemas espaciais.
6. Intervir no sentido de atenuar as assimetrias valorizando a preservação das diferenças.
7. Valorizar as diferenças entre indivíduos e culturas.
8. Exprimir-se com correcção na língua portuguesa, oralmente e por escrito.
9. Utilizar de forma rigorosa o vocabulário específico da disciplina.
10. Utilizar os métodos indutivo e dedutivo no estudo dos fenómenos geográficos a
diferentes escalas.
11. Desenvolver a capacidade de análise da realidade numa perspectiva sistémica.
12. Utilizar métodos e técnicas de análise geográfica na explicação de situações
territoriais diversificadas.
13. Desenvolver a capacidade de diálogo crítico no debate de situações concretas.
14. Rentabilizar as novas tecnologias de informação e comunicação.
15. Utilizar, criticamente, a expressão gráfica e cartográfica.
16. Reconhecer a necessidade de mudança de escala de análise na compreensão do
espaço geográfico.
17. Compreender que o espaço geográfico integra aspectos naturais, económicos, sociais
e culturais.
18. Compreender as inter-relações entre factores físicos e humanos na organização do
território.
19. Reconhecer a existência de homogeneidades e heterogeneidades entre as paisagens.
20. Reconhecer os impactos espaciais resultantes da integração de Portugal na U.E..
21. Compreender a fragilidade dos ambientes naturais.
22. Reconhecer a importância da preservação do património paisagístico.
23. Reconhecer o papel da urbanização na organização e na qualidade de vida do
território.
12
24. Compreender o papel da mobilidade da população no desenvolvimento territorial
25. Reconhecer a importância da actividade turística na valorização das paisagens.
26. Compreender o papel do ordenamento do território no processo de desenvolvimento
sustentável.
27. Compreender a importância da qualidade ambiental na melhoria da qualidade de vida.
28. Compreender o papel da cooperação nacional e internacional na resolução de
problemas a várias escalas.
13
3.Visão Geral dos Temas/Subtemas por Módulos (10.º,11.º,12.º anos)
10.ºAno – Geografia B
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
Módulo
Temas/subtemas
Introdução: “A posição de Portugal na Europa e no Mundo”
– A composição do território nacional
1.º
– A posição geográfica de Portugal
– A inserção de Portugal em diferentes espaços
1 – A diversidade do quadro natural de Portugal: o relevo e o subsolo
1.1 – Os contrastes no relevo
1.2 – As potencialidades do subsolo
2 – A diversidade do quadro natural de Portugal: o clima e a água
2.º
2.1 – A diversidade do clima
2.2 – As disponibilidades hídricas
3.º
3 – As paisagens: imobilidade e mudança
3.1 – A variedade das paisagens em Portugal
3.2 – As paisagens e o ambiente
14
11.ºAno – Geografia B
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
Módulo
Temas/subtemas
4 - A dinâmica da população portuguesa
4.º
4.1 – A população e o território
4.2 – As estruturas demográficas
5 - A (re)valorização do espaço urbano
5.º
5.1 – A organização do espaço urbano
5.2 – A qualidade de vida nas cidades portuguesas
6.º
6 – As transformações no espaço rural
6.1 – A actividade agrícola
6.2 – Os novos usos do espaço rural
15
12.ºAno – Geografia B
O ordenamento do território, um caminho para o desenvolvimento
Módulo
Temas/Subtemas
7 – O território da União Europeia
7.º
7.1– Do Tratado de Roma aos nossos dias
7.2– O Desenvolvimento no espaço comunitário
8 – O ordenamento do território no espaço comunitário
8.º
8.1– As regiões de desenvolvimento prioritário
8.2– As grandes opções territoriais
9 – Os desafios do desenvolvimento territorial
- a reestruturação do território
9.º
- a Europa das regiões
- a reorganização político/administrativa
- a mundialização da economia e o território
- a sustentabilidade ambiental
16
4 – Sugestões Metodológicas Gerais
“A Educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a
fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser” (CIEG, 1996: 88).
O conhecimento da realidade social e ambiental constitui um dos objectivos fundamentais da
Educação Geográfica. Para isso, as várias actividades de aprendizagem devem incidir em
formas de construção do conhecimento sobre o espaço geográfico, entendido aqui como uma
integração da dimensão subjectiva (pessoal, mental) com a dimensão territorial. É necessário
preparar os jovens para a vida activa, com um sólido conhecimento do mundo onde vivem e
sabendo pensar o espaço.
Qualquer acto educativo tem subjacente determinado modelo teórico, sendo o modelo
reconstrutivo o que melhor responde às necessidades actuais. A escola deve acompanhar a
evolução da sociedade e como os novos meios de comunicação trazem até aos alunos um
manancial nunca visto de informação, a escola tem de saber potencializar essa informação. É
através do modelo reconstrutivo que a escola estabelece a interligação entre os conhecimentos
que o aluno adquire fora dela e aqueles que ela lhe proporciona, ou seja, parte-se do
«currículo planeado» até chegar ao «currículo construído», tendo em consideração os
«saberes dos alunos».
O Ensino da Geografia deve educar geograficamente as pessoas para o Mundo onde vivem. O
que se pretende, independentemente do modelo de análise seleccionado é a aquisição dos
valores absolutos e relativos da ciência geográfica.
Num paradigma humanista estudam-se as situações da sociedade e dos indivíduos, na
perspectiva das suas vivências, para interpretar as relações entre o comportamento e o
ambiente. Realça-se a interacção indivíduo/ambiente, valorizando-se a investigação do quadro
natural, e o estudo das inter-relações indivíduo/grupo/ambiente. Esta tendência implica uma
observação participante com um trabalho de campo sistemático, idêntica à observação
defendida pelo paradigma ecológico a nível educativo.
Esta perspectiva exige um esforço do professor para o desenvolvimento de estratégias de
aprendizagem activas, com uma componente experimental e inseridas numa linha
construtivista, facilitadora do amadurecimento intelectual do aluno. Cada projecto pedagógico
tem de ser desenvolvido a partir das finalidades que transformadas em objectivos
educacionais (ao nível dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes), devem orientar a
17
selecção dos temas/problemas a abordar na organização dos conteúdos e dos métodos de
investigação geográfica, bem como das estratégias a utilizar. A tónica deste modelo é
colocada no papel que o professor tem na gestão dos conteúdos a leccionar, com vista à
tentativa de explicação de problemas actuais. Contudo, estas explicações devem ter como
suporte uma base científica sólida e não ficarem apenas na apresentação dos resultados das
investigações feitas pelos alunos (Souto González, 1998). Nesta perspectiva a especificação,
em cada subtema de objectivos didácticos, sobretudo do domínio do conhecimento, poderá
ser entendida como contraditória com o modelo construtivista subjacente a este programa. No
entanto, considerou-se importante a sua clarificação como forma de aferir as aprendizagens a
nível nacional, uma vez que qualquer prova de avaliação externa incide principalmente sobre
esse domínio. Esta opção também teve em consideração as desigualdades de acesso à
formação/informação existentes nas escolas. A explicitação destes objectivos não significa o
«esquecimento» dos outros domínios que surgem referenciados nas sugestões metodológicas,
em cada subtema e na indicação dos recursos a utilizar.
Em cada subtema as sugestões metodológicas têm em atenção a carga horária atribuída a esta
disciplina, as características gerais dos alunos dos cursos tecnológicos e a natureza técnica e
tecnológica dos respectivos cursos. As sugestões que são referidas, bem como a distribuição
das horas lectivas, são orientadoras do nível de profundidade que se pretende. A explicitação
dos conteúdos a leccionar é complementada com as noções básicas e os conceitos, os quais
devem ser entendidos numa perspectiva de permanente (re)construção, não devendo, por isso,
ser tratados com a mesma profundidade. A abordagem deve permitir aos alunos
construírem/aprofundarem conceitos cientificamente correctos e com o nível adequado,
evitando um conhecimento enciclopédico de cada assunto.
A utilização das designações “conceitos” e “noções básicas” na mesma coluna resulta da
inclusão de conceitos elementares, facilmente aprendidos por observação e contraste de casos
concretos e de outros mais abstractos.
Os conceitos estruturantes da Geografia – distância, distribuição, escala, espaço geográfico,
interacção, localização, lugar, mudança/permanência, região e território – foram
seleccionados a partir de diferentes fontes bibliográficas (Comissão da Educação Geográfica,
1992; Merenne Schoumaker, 1985; Souto González, 1990). São conceitos complexos e
abstractos, segundo os quais se deve orientar toda a aprendizagem geográfica, por isso,
considerou-se que a sua inserção em todos os temas se iria tornar repetitiva, dificultando a
articulação entre objectivos, conteúdos, conceitos e nível de abordagem.
18
Compete ao professor a selecção de estratégias adequadas à concretização das sugestões
propostas, atendendo aos objectivos gerais dos diferentes domínios e ao contexto onde está
inserido, mas privilegiando sempre a interacção Escola-Meio e o Projecto Educativo de cada
escola. No entanto, sugere-se o desenvolvimento de actividades no âmbito da investigação
geográfica, que possibilitem a recolha, a selecção e o tratamento de informação variada.
A observação directa (visitas de estudo, trabalho de campo, etc) e a indirecta (pesquisa
bibliográfica, documentação gráfica e cartográfica, pesquisa de legislação, filmes, etc.) são
processos aconselhados para a recolha de informação. Quanto ao tratamento e apresentação
da informação deve ser diversificado, utilizando processos estatísticos, gráficos e
cartográficos, para além de textos escritos. Não obstante o processo escolhido deve valorizar-se o rigor científico e recorrer, sempre que possível, às novas tecnologias de informação e
comunicação (TIC).
No 1.º módulo, o Tema introdutório – “A posição de Portugal na Europa e no Mundo” –
deve ser encarado como um espaço de descoberta do aluno e das suas motivações para a
aprendizagem da Geografia e, como um tema no qual se pretende fazer uma localização e um
enquadramento natural e cultural do território português, assim como das ligações que este
mantém com outros espaços.
A preparação para a vida activa e a formação de um técnico pressupõe um sólido
conhecimento de Portugal. Considera-se que esse conhecimento se desenvolve através dos
seguintes temas:
– A diversidade do quadro natural de Portugal:o relevo e o subsolo;
– A diversidade do quadro natural de Portugal: o clima e a água;
– As paisagens: imobilidade e mudança;
– A dinâmica da população portuguesa;
– A (re)valorização do espaço urbano;
– As transformações no espaço rural.
No 12º ano a compreensão dos factos é alargada para uma escala de análise a nível da União
Europeia, sendo os temas os seguintes:
– O Território da União Europeia;
– O ordenamento do território no espaço comunitário;
– Os desafios do desenvolvimento territorial
19
O Tema 9 – Os desafios do desenvolvimento territorial – não está desagregado em subtemas
como os anteriores por se considerar ser uma tema de fecho que permite uma abordagem
sistémica consonante com o núcleo conceptual respectivo e com uma visão integrada do
ordenamento territorial.
A leccionação de todos estes temas deve adoptar como estrutura de referência o
conhecimento dos elementos naturais, humanos e culturais dos territórios; a compreensão das
principais interacções entre aqueles elementos; a reflexão sobre os aspectos estudados visando
a valorização dos territórios, através da transformação das vantagens comparativas em
vantagens competitivas; e a preocupação pelo equilíbrio nas relações população/ambiente,
preservando o património natural e construído, numa perspectiva de desenvolvimento
sustentável.
A concretização apresentada nas sugestões metodológicas em cada um dos subtemas,
independentemente das estratégias e actividades seleccionadas, deve privilegiar uma
abordagem sistémica facilitadora da identificação das variáveis intervenientes na organização
do espaço; por uma territorialização/espacialização dos fenómenos que evidencie a interacção
de todos os factores; por um nível de análise multidimensional que torne relevante o modo
como as diferenças entre o local e o global estão em interacção constante; e pela resolução de
problemas que possibilite aos alunos a procura de soluções adequadas na gestão dos conflitos.
Na elaboração deste programa privilegiou-se a sua exequibilidade, em detrimento de alguns
temas que possam ser considerados relevantes. Deste modo, importa realçar que não se
pretendem descrições demasiado exaustivas nem aprofundadas dos conteúdos apresentados.
Aconselha-se ainda, a articulação com a disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território,
de acordo com as sugestões apresentadas nas sugestões metodológicas de alguns subtemas, a
fim de evitar sobreposições desnecessárias e favorecer a complementaridade.
A inserção nos programas para o ensino recorrente dos estudos de caso propostos, em cada
ano, no programa inicial, não é viável na modalidade de frequência não presencial cuja
avaliação tem como instrumento um teste escrito, contudo, é importante que os alunos
desenvolvam as competências que lhes estão inerentes. No entanto, entende-se que os alunos
na modalidade de frequência presencial devem realizar, sempre que possível, um estudo de
caso, no módulo que, em cada ano, se revelar mais oportuno, dependendo esta decisão da
forma como se encarar esta metodologia e da oportunidade da sua realização.
20
5 – Recursos
No ensino da Geografia devem utilizar-se recursos didácticos diversificados, quer como
instrumentos de análise geográfica, quer como auxiliares na formação de imagens mentais.
Deve ser feita uma rigorosa selecção da quantidade e da qualidade dos recursos a utilizar,
importando salientar que estes podem ser elaborados pelos professores ou pelos alunos. A
utilização sistemática e atempada dos recursos preferencialmente mais adequados pressupõe
uma organização escolar que possibilite ao professor permanecer numa sala equipada, o que
irá facilitar uma metodologia mais activa e experimental.
A - Equipamentos:
- projector de diapositivos;
- câmara de vídeo e máquina fotográfica (disponíveis
- retroprojector;
quando necessário);
- episcópio;
- computador com impressora, com scanner e com
-.écran;
ligação à internet;
- estereoscópios;
- datashow;
- televisão;
- armário de mapas;
- leitor de vídeo/DVD;
- arquivador de livros e revistas.
B – Materiais:
- fotografias e diapositivos – podem incluir trabalhos elaborados pelos professores, ou realizados pelos alunos
como produto de investigação;
- videogramas – podem incluir gravações de documentários da televisão, registos feitos pelo professor ou pelos
alunos, quer de testemunhos importantes (entrevistas, conferências, histórias de vida), quer também como produto
de uma investigação (estudo de caso);
- imagens de satélite e fotografias aéreas;
- mapas – de diferentes escalas (local, regional, nacional, europeia e mundial) e diversificados (topográficos,
temáticos); aconselha-se a utilização do Atlas do Ambiente;
- modelos tridimensionais;
- estatísticas diversas;
- relatórios de organismos internacionais – da Comissão Europeia, do PNUD, do Banco Mundial entre outros;
- planos de ordenamento – o PROT, o PDM, os planos de áreas protegidas da região/concelho onde se localiza a
escola, assim como outros que se considerem de interesse;
- legislação – Lei de Bases do Ambiente, Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo, Lei de Bases
da Água, Plano Rodoviário Nacional e outros que se considerem relevantes;
- software específico da disciplina;
- sites na internet divulgados pela Associação de Professores de Geografia através das suas publicações e da
respectiva página em www.aprofgeo.pt .
C – Consumíveis diversos
21
6 - Avaliação
A avaliação tem de ser coerente com todo o currículo, deste modo ela deve ser uma prática
pedagógica sistemática, contínua e inserida em todo o processo de ensino/aprendizagem,
incidindo principalmente sobre os processos e valorizando a sua componente formativa.
A avaliação deve ser integrada, integral, contínua e sistemática. Integrada porque faz parte do
conjunto de actividades do processo de ensino/aprendizagem e integral porque deve ter em
conta, a aquisição de novos conceitos, de procedimentos e o desenvolvimento de atitudes. A
avaliação deve ser também contínua e sistemática, porque pressupõe uma complementaridade
de processos de recolha de dados, de uma forma sistemática e numa interacção permanente
professor/aluno.
A avaliação deve também ser individualizada, porque se cada situação de aprendizagem é
única e cada aluno um indivíduo diferente, não se pode exigir a todos os mesmos
comportamentos. Dada a sua função predominantemente formativa, todos os intervenientes
devem participar no processo através da auto e da hetero-avaliação, o que permitirá o
desenvolvimento da autoconfiança e da progressão na aprendizagem.
A avaliação das aprendizagens deve orientar-se pelos seguintes princípios básicos:
diversificação de instrumentos (registos de observação, relatórios e outros textos escritos,
entrevistas, listas de verificação, registos de auto e hetero avaliação, diário do professor,
caderno do aluno, análise de trabalhos individuais e de trabalhos de grupo, debates, testes);
autenticidade (fazendo coincidir as tarefas e as actividades com a avaliação); melhoria das
aprendizagens (atribuindo maior importância à avaliação formativa como reguladora do
processo de ensino-aprendizagem); diversificação dos intervenientes (estabelecendo a
comunicação entre professores e alunos e permitindo a reflexão sobre o percurso realizado e
sobre a construção das aprendizagens).
Assim, na modalidade de frequência presencial, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem devem considerar-se as seguintes modalidades de avaliação:
- a avaliação inicial, realizada a partir de questionários que permitam um melhor
conhecimento do aluno e a determinação de conceitos e competências essenciais, que irão
permitir delinear estratégias de recuperação;
22
- a avaliação processual, que deve estar sempre presente, “trata-se do elemento regulador do
ensino e da aprendizagem, ajudando o aluno a aprender e o professor a ensinar” (Perrenoud,
1993). Ela torna o aluno mais consciente e mais responsável pela sua aprendizagem e fornece
ao professor uma série de informações que lhe permitem fazer os necessários reajustamentos,
adaptando ou construindo outros instrumentos de avaliação e materiais pedagógicos; permite
assim, uma interacção permanente entre a avaliação e a acção educativa.
- a avaliação sumativa, que constitui o balanço do que o aluno aprendeu, no final de uma fase
do processo ensino/aprendizagem devendo, tal como noutras modalidades, ser alvo de grande
rigor, para o que é fundamental a definição de critérios objectivos de avaliação o mais
precisos possível.
Os objectivos gerais são o referencial do conjunto de aprendizagens exigíveis no final do
Ensino Secundário. Cabe ao grupo disciplinar/departamento a definição de critérios de
avaliação a partir desses objectivos, assim como a construção de instrumentos de avaliação
diversificados, que incidam não só nos aspectos cognitivos, mas também sobre as capacidades
e as atitudes.
Para os alunos que frequentam o ensino recorrente na modalidade de frequência não
presencial, a capitalização de módulos é obrigatoriamente sequencial e a prova de avaliação
deve revestir a forma de uma prova escrita.
23
PARTE III
Desenvolvimento do Programa por Módulos
24
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos - 10º ano
N.º DE UNIDADES
TEMAS /SUBTEMAS/CONTEÚDOS
LECTIVAS*
1.º Módulo
Introdução: “A posição de Portugal na Europa e no Mundo”
- A composição do território nacional
- A posição geográfica de Portugal
- A inserção de Portugal em diferentes espaços
1 – A diversidade do quadro natural de Portugal: o relevo e o subsolo
24
1.1 – Os contrastes no relevo
1.1.1 – As características morfológicas de Portugal Continental
(12 semanas)
1.1.2 – O relevo de Portugal Continental no conjunto da Península Ibérica
1.1.3 – A morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
1.1.4 – A valorização económica do relevo
1.2 – As potencialidades do subsolo
1.2.1 – Os recursos do subsolo
1.2.2 - A valorização económica do subsolo
2.º Módulo
2 – A diversidade do quadro natural de Portugal: o clima e a água
2.1 – A diversidade do clima
2.1.1 – A especificidade climática de Portugal Continental
2.1.2 – As características do clima dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
2.1.3 – A valorização económica do clima
24
(12 semanas)
2.2 – As disponibilidades hídricas
2.2.1 – A irregularidade na distribuição da água
2.2..2 – A utilização dos recursos hídricos
2.2.3 – A gestão dos recursos hídricos
3.º Módulo
3 – As paisagens: imobilidade e mudança
3.1 – A variedade das paisagens em Portugal
18
3.1.1 – Os elementos identificadores da paisagem
(9 semanas)
3.1.2 – O tradicionalismo das paisagens rurais
3.1.3 – O dinamismo das paisagens urbanas
3.2 – As paisagens e o ambiente
3.2.1 – As paisagens como património a preservar
3.2.2 – A gestão e manutenção das paisagens
TOTAL DE UNIDADES LECTIVAS
•
•
Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: na modalidade de frequência presencial o número de unidades lectivas
previsto inclui a avaliação
25
66
1.º Módulo
26
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
1.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
N.º DE UNIDADES
LECTIVAS*
Introdução: “A posição de Portugal na Europa e no Mundo”
- A composição do território nacional
- A posição geográfica de Portugal
- A inserção de Portugal em diferentes espaços
1 – A diversidade do quadro natural de Portugal: o relevo e o subsolo
1.1 – Os contrastes no relevo
1.1.1 – As características morfológicas de Portugal Continental
- as áreas de montanha
- as áreas de planície e de planalto
- as áreas costeiras
1.1.2 – O relevo de Portugal Continental no conjunto da Península Ibérica
24
- a Meseta Ibérica
- as Montanhas Periféricas
- as Bacias Sedimentares
(12 semanas)
1.1.3 – A morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
- a origem vulcânica
- as formas de relevo vulcânico
1.1.4 – A valorização económica do relevo
- o turismo e as actividades de lazer
- a energia eólica
1.2 – As potencialidades do subsolo
1.2.1 – Os recursos do subsolo
- as rochas industriais e ornamentais
- as águas termais
- a geotermia
1.2.2– A valorização económica do subsolo
- a indústria extractiva
- o termalismo
- as águas minerais
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: Na modalidade de frequência presencial, o n.º de Unidades Lectivas incorpora a
avaliação
27
Matriz: Competências/Módulos do 10.º ano
n.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.º
5.º
11.º Ano
6.º
7.º
8.º
12.º Ano
6
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
Sem relevância no Ensino Recorrente
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Competências a desenvolver
28
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
1.ºMódulo
Introdução
Núcleo conceptual
A localização e o posicionamento de Portugal como factores de valorização
cultural e económica.
Conceitos
Noções básicas
Águas territoriais
Arquipélago
CPLP
Espaço aéreo
Conteúdos
“A posição de Portugal na Europa e no Mundo”
– A composição do território nacional
– A posição geográfica de Portugal
– A inserção de Portugal em diferentes espaços
Espaço Schengen
Fronteira
Globalização
No final deste módulo o aluno deve ser capaz de:
Localização absoluta
Localização relativa
• Conhecer a composição das várias unidades territoriais de Portugal.
NUT
• Reconhecer a posição de Portugal Continental e Insular na Europa e no
Países lusófonos
Região
Região atlântica
Região autónoma
Região mediterrânea
Tratado de Roma
Tratado de Maastricht
Mundo.
• Caracterizar, sob o ponto de vista geográfico, a região mediterrânea e a região
atlântica.
• Debater a importância da posição geográfica de Portugal no contexto da
Europa.
União Europeia
• Salientar a importância da integração de Portugal na União Europeia.
Zona Temperada
• Reconhecer a importância do espaço lusófono, bem como das comunidades de
emigrantes.
• Valorizar as relações de Portugal com as comunidades de emigrantes e com os
países lusófonos.
• Reconhecer a importância estratégica de Portugal num mundo cada vez mais
global.
29
1.ºMódulo
S ugestões Metodológicas
Introdução
Com o Tema introdutório – “A posição de Portugal na Europa e no Mundo” – pretende-se, por um lado, criar um
espaço e um tema conducentes à (re)descoberta pelos alunos, com percursos e vivências muito diversificados, da
disciplina de Geografia. Assim, no início deste módulo deve fazer-se uma avaliação diagnóstica relativa aos
conceitos/noções básicas consideradas aprendizagens prévias.
As questões levantadas podem ajudar o professor a delinear as actividades a desenvolver ao longo do ano,
nomeadamente, o modo como os alunos inter-relacionam a Modernidade e a Tradição; como dominam o padrão de
distribuição de fenómenos e se posicionam relativamente aos impactos resultantes da mobilidade crescente de pessoas
e bens; como se posicionam relativamente aos problemas ambientais; como encaram as actividades de tempos livres e
de lazer; ou como entendem a identidade cultural do povo português.
Com o conteúdo “A composição do território nacional” pretende-se relembrar as diversas unidades territoriais que
formam Portugal e são os referentes para adultos (distritos, concelhos, freguesias), abrir caminho para o conhecimento
das novas unidades territoriais ( NUT I, II e III).
Considera-se pertinente que se faça a referência às águas territoriais e ao espaço aéreo, alertando para as questões da
soberania dos Estados, sobretudo, ao nível do espaço marítimo.
Com o conteúdo “A posição geográfica de Portugal” pretende-se que se faça, a partir da análise de mapas de diferentes
escalas, a localização absoluta e relativa de Portugal Continental e Insular.
Sugere-se que sejam efectuados cálculos respeitantes às dimensões do território, às distâncias entre Portugal
Continental e os arquipélagos, entre os Açores e o continente americano e entre a Madeira e o continente africano, o
que permitirá, simultaneamente, a consolidação do conceito de escala.
Sugere-se, ainda, a realização de exercícios de leitura das coordenadas geográficas, nomeadamente, do valor dos
paralelos que limitam Portugal Continental. Através de exercícios de localização relativa, pretende evidenciar-se a
posição periférica do nosso território relativamente à Europa.
Com o conteúdo “A inserção de Portugal em diferentes espaços” pretende-se evidenciar a importância da inserção de
Portugal nos diferentes espaços naturais, económicos e culturais; sugere-se, por isso, que se enfatize o dualismo
geográfico/cultural do nosso país que advém da sua posição relativamente ao Mediterrâneo e ao Atlântico,
relativamente à África e à Europa, entre a Europa e a América.
Relativamente à União Europeia, deve ser feita uma abordagem que permita aos alunos relembrar o espaço físico e
político desta organização, o significado do Tratado de Roma e do Tratado de Maastricht e, a importância da
integração de Portugal no espaço Schengen.
Deve ainda ser dado especial destaque às relações que o nosso país mantém com os países de língua oficial portuguesa
e com as comunidades de emigrantes espalhadas pelo Mundo (em particular as que residem na Europa, no Brasil, nos
EUA, no Canadá, na Venezuela e na África do Sul) reconhecendo o intercâmbio cultural que daí advém.
Por último, através de uma abordagem breve, sugere-se que se evidencie a importância geoestratégica de Portugal na
era da globalização.
30
1.º Módulo
A diversidade
do quadro
natural de
Portugal: o
relevo e o
subsolo
Conceitos
Núcleo conceptual
A
diversidade das características naturais das paisagens portuguesas como
aspecto a valorizar e a preservar.
Subtema
Noções básicas
1.1 – Os contrastes no relevo
Abrasão marinha
1.1.1 – As características morfológicas de Portugal Continental
Arriba
- as áreas de montanha
- as áreas de planície e de planalto
- as áreas costeiras
Bacia sedimentar
Caldeira
Cordilheira Central
1.1.2 – O relevo de Portugal Continental no conjunto da Península Ibérica
- a Meseta Ibérica
- as Montanhas Periféricas
- as Bacias Sedimentares
Costa
Declive
Energia alternativa
1.1.3 – A morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
Erosão
- a origem vulcânica
- as formas de relevo vulcânico
Estalactites
Estalagmites
1.1.4 – A valorização económica do relevo
- o turismo e as actividades de lazer
- a energia eólica
Estuário
Fonte de energia
renovável
Fumarola
Gruta
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Meseta Ibérica
Pico vulcânico
• Caracterizar morfologicamente o território português.
Praia
• Integrar as unidades do relevo de Portugal nas unidades do relevo da Península
Ravina
Recurso endógeno
Ibérica.
Relevo cársico
• Caracterizar a costa portuguesa.
Relevo glaciario
• Caracterizar a morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Rift
• Relacionar a morfologia dos arquipélagos dos Açores e da Madeira com a sua
Turismo balnear
Turismo rural
Unidade morfológica
Vale encaixado
Vertente
génese vulcânica.
• Debater a importância das formas de relevo vulcânico para o turismo dos
Açores e da Madeira.
• Discutir a importância económica do relevo de Portugal.
31
1.º Módulo
1.1 – Os contrastes no relevo
A diversidade do quadro
natural de Portugal: o
relevo e o subsolo
Sugestões Metodológicas
Na leccionação deste tema deve valorizar-se o recurso à análise de mapas temáticos, fotografias/diapositivos, fotografia
aérea, gráficos termopluviométricos, cartas sinópticas e videogramas, de forma a desenvolver competências
relacionadas com a análise de documentos gráficos e cartográficos e com a selecção, sistematização e interpretação de
dados.
No início deste subtema deve fazer-se uma avaliação diagnóstica relativa aos conceitos/noções básicas consideradas
aprendizagens prévias e implementar estratégias de recuperação conducentes à supressão de eventuais falhas. Assim, a
consolidação deve incidir sobre os conhecimentos relativos às principais formas de relevo.
Com o tratamento do subtema 1.1 – “Os contrastes no relevo” – pretende-se salientar os contrastes morfológicos do
nosso território numa perspectiva de valorização dessas diferenças.
Com o conteúdo 1.1.1 pretende-se caracterizar morfologicamente o território, no que respeita à distribuição das
principais formas de relevo. Assim, sugere-se que se faça a localização e a orientação dos principais sistemas
montanhosos, identificando algumas serras, nomeadamente Aire, Alvão, Arrábida, Candeeiros, Caramulo, Estrela,
Gardunha, Gerês, Grândola, Lousã, Marão, Monchique, Montemuro, Peneda e Sintra. Relativamente às áreas costeiras
é importante fazer referência às características do litoral salientando, por um lado, a acção erosiva do mar e os riscos
inerentes à excessiva ocupação humana dessas áreas. e, por outro lado, sugere-se que se salientem aspectos da nossa
costa que podem ser valorizados turisticamente, como é o caso das rias de Aveiro e Formosa.
Sugere-se ainda que se saliente a importância ecológica dos estuários, nomeadamente o do Tejo e o do Sado, bem como
o seu interesse turístico que deve ser conciliado com a preservação do património aí existente. É importante debater
com os alunos as diferentes hipóteses de gestão destas áreas de risco.
Com o conteúdo 1.1.2 pretende-se salientar que o estudo do relevo de Portugal é indissociável do estudo do relevo da
Península Ibérica. Nesse sentido, devem desenvolver-se actividades de localização das Bacias Sedimentares, da Meseta
Ibérica, das serras da Cordilheira Central e das Montanhas Periféricas, evidenciando a continuidade física de algumas
delas.
No conteúdo 1.1.3 aconselha-se uma abordagem que evidencie a singularidade morfológica dos Açores e da Madeira,
relacionando-a com a sua génese vulcânica e destacando a existência de formas de vulcanismo secundário, numa
perspectiva de potencialização dos recursos endógenos, nomeadamente o turismo.
Com o conteúdo 1.1.4 sugere-se que se equacionem aspectos da valorização económica do relevo, numa perspectiva de
transformar as suas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Considera-se relevante problematizar os
impactos económicos e ambientais do turismo balnear assim como a exploração turística das áreas de altitude. Deve
fazer-se um estudo que valorize a preservação da natureza e que destaque singularidades ligadas ao relevo, como por
exemplo, formas glaciárias, formas cársicas e os socalcos. Sugere-se uma abordagem que facilite o debate sobre as
hipóteses de viabilidade de práticas como a espeleologia ou os desportos-aventura. Considera-se também importante
debater o aproveitamento da energia eólica no litoral e nas áreas de altitude elevada.
32
1.º Módulo
A diversidade
do quadro
natural de
Portugal: o
relevo e o
subsolo
Conceitos
Núcleo conceptual
A
diversidade das características naturais das paisagens portuguesas como
aspecto a valorizar e a preservar.
Subtema
Noções básicas
1.2 – As potencialidades do subsolo
Águas minerais
Águas termais
Energia geotérmica
1.2.1 – Os recursos do subsolo
- as rochas industriais e ornamentais
- as águas termais
- a geotermia
Indústria extractiva
Jazida
Mina
Minério
Recurso:
1.2.2– A valorização económica do subsolo
- a indústria extractiva
- o termalismo
- as águas minerais
- a energia geotérmica
- Endógeno/exógeno
- Renovável/não
renovável
Rocha industrial
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Rocha ornamental
Termalismo
• Localizar os recursos do subsolo de maior valor económico.
• Conhecer a distribuição das principais fontes termais em Portugal.
• Valorizar as potencialidades económicas do subsolo.
• Equacionar os impactos ambientais resultantes da indústria extractiva.
• Debater medidas conciliadoras das diferentes actividades económicas com o
equilíbrio ambiental.
33
1.º Módulo
1.2 – As potencialidades do subsolo
A diversidade do quadro
natural de Portugal: o
relevo e o subsolo
Sugestões Metodológicas
O subtema 1.2 – “As potencialidades do subsolo” – pretende-se uma abordagem que incida, sobretudo, na
exploração sustentada dos recursos do subsolo e na valorização das áreas de exploração quer estas estejam
em uso ou não, debatendo problemas sociais e ambientais que lhe estão associados.
Com o conteúdo 1.2.1 pretende-se a inventariação e a localização, não exaustivas, das principais áreas de
exploração das rochas ornamentais e das industriais de maior valor económico, bem como a localização dos
principais recursos energéticos, dando particular destaque à exploração da energia geotérmica nos Açores.
Sugere-se também a localização das principais fontes de águas termais e minerais levando os alunos a
compreender a origem desses fenómenos através da análise explicativa de um caso concreto no nosso país.
Com o conteúdo 1.2.2 pretende-se salientar o valor económico das rochas industriais/ornamentais e
problematizar a exploração mineira em Portugal. Sugere-se também a promoção de debates sobre os
impactos ambientais decorrentes da exploração mineira, bem como sobre a necessidade de recuperação
ambiental das áreas mineiras, estando as minas em funcionamento ou não, e tendo sempre em atenção,
problemas de saúde tanto dos trabalhadores como das populações que vivem em redor das minas. Esta
abordagem deve ser feita, se possível, a partir de casos existentes no meio onde se insere a escola ou de
experiências/vivências dos alunos.
Com este conteúdo deve igualmente valorizar-se os fenómenos de termalismo, numa perspectiva de
potencialização deste recurso endógeno, nomeadamente para a actividade turística, bem como a exploração
económica de águas minerais.
No que respeita à energia geotérmica, deve salientar-se a importância deste recurso endógeno nos Açores,
mas referindo também as hipóteses de viabilidade de exploração desta fonte de energia em Portugal
Continental. A propósito deste assunto sugere-se uma abordagem à problemática da dependência energética
do nosso país, à sua consequente vulnerabilidade face ao exterior, bem como à necessidade de potencializar
os recursos energéticos existentes no nosso território.
34
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
35
2.º Módulo
36
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
2.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/CONTEÚDOS
N.º DE UNIDADES
LECTIVAS*
2. A diversidade do quadro natural de Portugal: o clima e a água
2.1 – A diversidade do clima
2.1.1 – A especificidade climática de Portugal Continental
- a variação termopluviométrica
- a irregularidade da precipitação
- a duração do período seco estival
2.1.2 – As características do clima dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
- os Açores e a trajectória das depressões barométricas
- a exposição geográfica da Madeira
2.1.3 – A valorização económica do clima
- no turismo
- no aproveitamento energético
24
(12 semanas)
2.2 – As disponibilidades hídricas
2.2.1 – A irregularidade na distribuição da água
- as águas subterrâneas
- as águas superficiais
2.2.2 – A utilização dos recursos hídricos
- os contrastes a norte e a sul do Mondego
- os problemas na utilização da água
2.2.3 – A gestão dos recursos hídricos
- a gestão das bacias hidrográficas luso-espanholas
- a protecção e o controlo da qualidade da água
- a racionalização dos usos
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: Na modalidade de frequência presencial, o n.º de Unidades Lectivas incorpora a
avaliação
37
Matriz: Competências/Módulos do 10.º ano
n.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.º
5.º
11.º Ano
6.º
7.º
8.º
12.º Ano
6
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
Sem relevância no Ensino Recorrente
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Competências a desenvolver
38
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
2.º Módulo
A diversidade
do quadro
natural de
Portugal: o
clima e a água
Conceitos
Núcleo conceptual
A diversidade das características naturais das paisagens portuguesas como
aspecto a valorizar e a preservar.
Subtema
Noções básicas
2.1 – A diversidade do clima
Amplitude de variação
térmica
Anticiclone
Clima
Convecção térmica
Depressão barométrica
Elemento de clima
Estado de tempo
Evapotranspiração
2.1.1 – A especificidade climática de Portugal Continental
- a variação termopluviométrica
- a irregularidade da precipitação
- a duração do período seco estival
2.1.2 – As características do clima dos arquipélagos dos Açores e da Madeira
- os Açores e a trajectória das depressões barométricas
- a exposição geográfica da Madeira
2.1.3 – A valorização económica do clima
- no turismo
- no aproveitamento energético
Exposição geográfica
Factor de clima
Insolação
Linha Isobárica
Linha Isotérmica
Massa de ar
Nebulosidade
Período seco estival
Precipitação atmosférica
Pressão atmosférica
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Relacionar a distribuição da temperatura e da precipitação com os diversos
factores de clima.
• Relacionar a variabilidade da precipitação com a deslocação em latitude dos
centros de altas e de baixas pressões.
Situação meteorológica
• Explicar a especificidade do clima de Portugal Continental.
Superfície frontal polar
• Relacionar as características climáticas dos arquipélagos dos Açores e da
Temperatura média
Tipos de precipitação:
- Convectiva
Madeira com a sua localização.
• Discutir a valorização económica do clima de Portugal.
- Frontal
- Orográfica
Ventos Alíseos
Ventos de Oeste
39
2.º Módulo
2.1 – A diversidade do clima
A diversidade do quadro
natural de Portugal: o
clima e a água
Sugestões Metodológicas
No início deste subtema deve fazer-se uma avaliação diagnóstica relativa aos conceitos/noções básicas
consideradas aprendizagens prévias e implementar estratégias de recuperação conducentes à supressão de
eventuais falhas. Assim, a consolidação deve incidir sobre os conhecimentos relativos à distribuição e
caracterização dos grandes conjuntos climáticos à superfície da Terra.
O tratamento do subtema 2.1 – “A diversidade do clima” – deve centrar-se no conhecimento das
características do clima de Portugal, assim como na explicação das respectivas variações espaciais e nos seus
reflexos na paisagem.
Com o conteúdo 2.1.1 sugere-se a análise da especificidade do clima de Portugal Continental
designadamente no que diz respeito ao regime termopluviométrico, salientando a irregularidade intra e
interanual da precipitação e a duração do período seco estival, enfatizando as respectivas consequências.
Sugere-se o recurso à construção e análise de gráficos termopluviométricos, assim como à observação de
situações sinópticas simples (aconselha-se a consulta da página do Instituto de Meteorologia e Geofísica, na
Internet). Esta abordagem não pressupõe um estudo exaustivo das diferentes situações meteorológicas que
afectam o estado do tempo em Portugal Continental nem, tão pouco, um estudo aprofundado da evolução
das perturbações da frente polar. Sugere-se também o recurso a mapas de isotérmicas e de totais de
precipitação, para a análise da distribuição da temperatura e da precipitação, relacionando essa distribuição
com a topografia, a altitude, a latitude e a proximidade do mar. Considera-se suficiente, para o estudo do
clima em Portugal, o conhecimento da circulação atmosférica na zona temperada do norte.
Com o conteúdo 2.1.2 pretende-se uma abordagem idêntica à realizada para Portugal Continental
destacando, no caso dos Açores, a posição do arquipélago relativamente à trajectória das depressões
subpolares e ao Anticiclone dos Açores. No arquipélago da Madeira deve destacar-se a sua posição em
latitude, bem como a influência da altitude e da orientação do relevo na diferenciação climática.
Com o conteúdo 2.1.3 pretende-se salientar a raridade da ocorrência do clima mediterrâneo no Mundo,
debatendo questões como a importância das suas características para o aproveitamento da energia solar, para
a colocação antecipada de produtos agrícolas nos mercados ou mesmo para o cultivo de espécies de climas
mais quentes, assim como a importância da sua distribuição para a promoção do turismo. Sugere-se, ainda, a
discussão das vantagens do clima dos Açores e da Madeira para o desenvolvimento de actividades turísticas
e para a prática de uma agricultura orientada para a produção de alguns produtos, nomeadamente alguns
frutos tropicais, flores e primores.
40
2.º Módulo
A diversidade
do quadro
natural de
Portugal: o
clima e a água
Conceitos
Noções básicas
Água subterrânea
Núcleo conceptual
A diversidade das características naturais das paisagens portuguesas como
aspecto a valorizar e a preservar.
Subtema
2.2 – As disponibilidades hídricas
2.2.1 – A irregularidade na distribuição da água
- as águas subterrâneas
- as águas superficiais
Água superficial
Albufeira
2.2.2 – A utilização dos recursos hídricos
Aquífero
- os contrastes a norte e a sul do Mondego
- os problemas na utilização da água
Bacia hidrográfica
Balanço hídrico
2.2.3 – A gestão dos recursos hídricos
Barragem
- a gestão das bacias hidrográficas luso-espanholas
- a protecção e o controlo da qualidade da água
- a racionalização dos usos
Bem público
Carga sólida
Caudal
Caudal ecológico
Cheia
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Desertificação
Disponibilidade hídrica
Escorrência
Estação de tratamento de
águas (ETA)
• Inventariar as disponibilidades hídricas de Portugal.
• Explicar a irregularidade na distribuição da água no território português.
• Relacionar o regime hidrográfico com a irregularidade da precipitação.
Estação de tratamento de
• Reconhecer as vantagens da retenção da água num clima como o de Portugal.
águas residuais (ETAR)
• Relacionar os diferentes usos das águas das albufeiras com a sua localização.
Eutrofização
Leito de estiagem
• Compreender os impactos decorrentes da construção de barragens.
Leito de cheia
• Reflectir sobre a necessidade de uma correcta gestão dos recursos hídricos.
Infiltração
• Debater a dependência hídrica de Portugal em relação a Espanha.
Produtividade aquífera
Recurso hídrico
Rede hidrográfica
• Compreender a importância de medidas de protecção e de gestão dos recursos
hídricos.
Região hidrográfica
Toalha freática
41
2.º Módulo
2.2 – As disponibilidades hídricas
A diversidade do quadro
natural de Portugal: o
clima e a água
Sugestões Metodológicas
Com o subtema 2.2 – “As disponibilidades hídricas” – pretende-se que os alunos compreendam a
importância de uma gestão racional da água num clima e num território com as características do de
Portugal. Pretende-se também valorizar a importância da quantidade e qualidade da água, tendo em vista a
saúde pública e o ordenamento do território.
Com o conteúdo 2.2.1 sugere-se uma inventariação das disponibilidades hídricas, tanto subterrâneas como
superficiais, relacionando-as com as características climáticas e com a natureza das rochas. Esta
inventariação deverá contemplar o caso das lagoas e das albufeiras, as primeiras muito relevantes no caso do
arquipélago dos Açores e as segundas no Continente. Um outro aspecto a salientar é o do carácter
concentrado da precipitação, relacionando-o com os seus efeitos quer ao nível da carga sólida que os cursos
de água podem transportar, quer em termos da ocorrência e da natureza das cheias. Sugere-se ainda que se
estabeleça a relação entre as cheias, o tipo de vale e o tipo de rede hidrográfica. A este propósito sugere-se a
problematização da ocupação e limpeza dos leitos de cheia, tanto nos grandes cursos de água como nas
pequenas ribeiras e dos impactes da desarborização nos troços mais altos e mais declivosos das bacias
hidrográficas.
Com o conteúdo 2.2.2 pretende-se salientar a necessidade de retenção da água num clima como o de
Portugal, equacionando os impactes positivos e os negativos que advêm da construção de barragens.
Considera-se importante salientar as diferenças nos usos da água das albufeiras públicas, a norte e a sul do
rio Mondego. Sugere-se ainda a análise do crescente aumento dos consumos doméstico e agrícola,
relacionando estes aumentos com a maior ou menor disponibilidade hídrica das diferentes regiões e com os
problemas decorrentes da sua utilização como, por exemplo, a sobre-exploração, a poluição difusa ou a
eutrofização dos aquíferos.
Com o conteúdo 2.2.3 pretende-se sensibilizar os alunos para os problemas relacionados com a gestão das
bacias hidrográficas nacionais e internacionais, nomeadamente as questões relacionadas com os caudais
ecológicos nos rios internacionais. Considera-se pertinente debater assuntos como a conflitualidade entre os
diferentes usos e a qualidade da água para o abastecimento municipal. Sugere-se a realização de um estudo
local sobre a situação do tratamento das águas residuais, da qualidade da água, quer para o consumo
doméstico, quer para o uso agrícola e mesmo para as actividades de lazer. Um outro aspecto a debater é o
dos custos dos diferentes tratamentos da água e o do seu posterior uso. A este propósito sugere-se o debate
dos custos da construção de infraestruturas de abastecimento e de saneamento relacionando-os com a
concentração e a dispersão do povoamento.
42
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
43
3.º Módulo
44
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
3.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
N.º DE UNIDADES
LECTIVAS*
3. As paisagens: imobilidade e mudança
3.1 – A variedade das paisagens em Portugal
3.1.1 – Os elementos identificadores da paisagem
- a unidade climática
- a unidade morfológica
- as actividades humanas e a organização do território
3.1.2 – O tradicionalismo das paisagens rurais
- o Noroeste
- o Nordeste
- o Sul
- o Centro
- o arquipélago dos Açores
- o arquipélago da Madeira
18
3.1.3 – O dinamismo das paisagens urbanas
(9 semanas)
- as áreas metropolitanas
- as grandes áreas urbanizadas
3.2 – As paisagens e o ambiente
3.2.1 – As paisagens como património a preservar
- as áreas litorais
- os estuários
- as áreas florestais
3.2.2 – A gestão e manutenção das paisagens
- as formas de gestão das paisagens
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: Na modalidade de frequência presencial, o n.º de Unidades Lectivas incorpora a
avaliação
45
Matriz: Competências/Módulos do 10.º ano
n.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.º
5.º
11.º Ano
6.º
7.º
8.º
12.º Ano
6
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
Sem relevância no Ensino Recorrente
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Competências a desenvolver
46
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
3.º Módulo
As paisagens:
imobilidade
e mudança
Conceitos
Noções básicas
Núcleo conceptual
Portugal enquanto território complexo e contrastado origina paisagens
diversificadas que importa compreender.
Subtema
3.1 – A variedade das paisagens em Portugal
3.1.1 – Os elementos identificadores da paisagem
Ambiente
Área metropolitana
Elementos da paisagem
Estrutura agrária
Espaço agrário
Espaço agrícola
Espaço rural
Exploração agrícola
Grande área urbanizada
Morfologia agrária
Paisagem
- a unidade climática
- a unidade morfológica
- as actividades humanas e a organização do território
3.1.2 – O tradicionalismo das paisagens rurais
- o Noroeste
- o Nordeste
- o Sul
- o Centro
- o arquipélago dos Açores
- o arquipélago da Madeira
3.1.3 – O dinamismo das paisagens urbanas
- as áreas metropolitanas
- as grandes áreas urbanizadas
Parcela agrícola
Património da
Humanidade
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Património paisagístico
Povoamento
Região geográfica
• Identificar os elementos de uma paisagem.
• Compreender as paisagens como resultado da interacção dos elementos
naturais e humanos.
• Caracterizar as diferentes paisagens rurais de Portugal.
• Caracterizar as paisagens urbanas de maior dinamismo.
• Discutir a importância da valorização da diversidade paisagística.
47
3.º Módulo
3.1 – As paisagens e o ambiente
As paisagens: imobilidade
e mudança
Sugestões Metodológicas
Na leccionação deste tema deve valorizar-se o recurso à análise de fotografias/diapositivos, de fotografias
aéreas, de maquetes, de mapas corográficos, de mapas topográficos e de videogramas de forma a
desenvolver competências relacionadas com a análise de imagens e de documentos cartográficos Sugere-se,
sempre que possível, a realização de trabalho-de-campo.
Com o subtema 3.1 – “A variedade das paisagens em Portugal” – pretende-se que, através do estudo da sua
diversidade, se valorizem as paisagens como património natural e construído e como locais de memória das
diferentes comunidades. Torna-se indispensável a articulação com o Tema do 4.º módulo do programa da
disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território – “A Leitura das Paisagens”.
Com o conteúdo 3.1.1 pretende-se que seja feita uma reflexão sobre o conceito de paisagem, para o que é
necessário a identificação dos critérios que permitem individualizar paisagens nomeadamente, a morfologia,
o clima, a cobertura vegetal e as características da implantação humana. A este propósito considera-se
pertinente veicular o conceito de região geográfica como uma área de ocorrência de um determinado tipo de
paisagem.
Com o conteúdo 3.1.2 pretende-se que, utilizando de uma forma integrada os conteúdos dos temas
anteriores, se trace um retrato das várias paisagens do país que apresentam uma feição predominantemente
rural e tradicional, destacando os factores que as explicam.
Sugere-se, assim, a identificação e a caracterização de algumas paisagens-tipo, não numa perspectiva de
análise e individualização exaustivas, mas de destaque daquelas que, pelo seu tradicionalismo, possam
contribuir para a potencialização do turismo e valorização da identidade das regiões.
Com o conteúdo 3.1.3 sugere-se a caracterização das áreas metropolitanas e das grandes áreas urbanizadas,
identificando os factores que contribuíram para a sua evolução. Deve, contudo, ter-se em atenção que este
assunto será abordado no 11º ano, onde serão feitas análises de pormenor.
Considera-se importante finalizar este subtema com uma reflexão acerca da valorização patrimonial e
económica das diferentes paisagens em Portugal, debatendo a importância da classificação, pela UNESCO,
das paisagens como Património da Humanidade.
48
3.º Módulo
Núcleo conceptual
As paisagens:
imobilidade
e mudança
Portugal
Conceitos
Subtema
enquanto
território
complexo
e
contrastado
origina
paisagens
diversificadas que importa compreender.
Noções básicas
3.2 – As paisagens e o ambiente
Área de paisagem
protegida
Biodiversidade
Duna
Equilíbrio ambiental
Parque nacional
3.2.1 – As paisagens como património a preservar
- as áreas litorais
- os estuários
- as áreas florestais
3.2.2 – A gestão e manutenção das paisagens
- as formas de gestão das paisagens
- o ambiente e as actividades turísticas
Parque natural
Património
Paúl
Rede Natura
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Região de turismo
Reserva florestal
• Identificar paisagens de equilíbrio ambiental frágil.
Reserva natural
• Reconhecer a necessidade de preservação das paisagens.
Sapal
• Conhecer níveis de intervenção na preservação das paisagens.
• Reflectir sobre a participação dos diversos agentes na implementação das
medidas de gestão e manutenção das paisagens.
• Salientar a importância da preservação do património natural como medida
para alcançar o desenvolvimento sustentável.
• Debater a importância da valorização dos espaços naturais como recursos
endógenos fundamentais no ordenamento do território.
49
3.º Módulo
3.2 – As paisagens e o ambiente
As paisagens: imobilidade e
mudança
Sugestões Metodológicas
Com o subtema 3.2 – “As paisagens e o ambiente” – pretende-se evidenciar a necessidade de preservar e
valorizar áreas que a nível nacional, europeu e/ou mundial constituem patrimónios naturais cada vez mais
raros.
Com o conteúdo 3.2.1 sugere-se a valorização dos espaços naturais, evidenciando as áreas de grande
fragilidade ambiental, nomeadamente, as áreas litorais, os estuários e as florestas, salientando formas que
possibilitem a preservação desses espaços.
Relativamente às áreas litorais e aos estuários pretende-se que se debatam os problemas resultantes da
excessiva carga demográfica. Sugere-se que, a propósito das áreas litorais, se salientem os riscos de
construção sobre a linha de costa, bem como os riscos de poluição resultante dos efluentes urbano-industriais
e da poluição difusa. No que se refere aos estuários deve salientar-se a importância dos respectivos
ecossistemas nomeadamente dos sapais como áreas a proteger e a valorizar e, ainda, a sua posição
relativamente às rotas migratórias de muitas aves.
No que diz respeito às áreas florestais é importante identificar as grandes manchas florestais do nosso País
destacando os riscos resultantes da monocomposição florestal, da falta de limpeza do sub-bosque e da falta
de aceiros. No estudo da cobertura vegetal sugere-se que se recuperem conteúdos de outras disciplinas
relativos à identificação de elementos vegetais, nomeadamente, os pinheiros manso e bravo, os carvalhos de
folha caduca, o sobreiro, a azinheira, a oliveira, a alfarrobeira, o loureiro, o medronheiro e as plantas
aromáticas. Neste âmbito deve ser feita uma menção particular à laurissilva, na ilha da Madeira. É também
importante realçar a necessidade de valorizar a biodiversidade existente em Portugal no contexto da U.E. em
geral e, da Península Ibérica em particular. Assim, considera-se importante fazer referência aos objectivos da
Rede Natura.
Com o conteúdo 3.2.2 pretende-se a identificação dos vários agentes responsáveis pela gestão e manutenção
das paisagens, enfatizando o papel do indivíduo enquanto “utilizador” das mesmas, debatendo os grandes
problemas que se põem a uma correcta gestão racional das florestas portuguesas. Nesse sentido, devem
localizar-se os principais parques naturais, as reservas naturais e as áreas protegidas do país. Sugere-se ainda
a análise de situações de áreas naturais pouco transformadas, de áreas com problemas resultantes de má
gestão territorial, e de áreas que tenham sido alvo de estratégias adequadas de valorização, recorrendo,
sempre que possível, a exemplos relativos à área envolvente da escola. Considera-se também relevante a
comparação de diferentes propostas de recuperação paisagística e o debate sobre a conciliação entre a
utilização da floresta e a preservação ambiental.
50
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
51
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos – 11º ano
TEMAS / CONTEÚDOS
N.º DE UNIDADES
LECTIVAS*
4.º Módulo
4 - A dinâmica da população portuguesa
4.1 – A população e o território
22
4.1.1 – A distribuição espacial
(11 semanas)
4.1.2 – A mobilidade espacial da população
4.2 – As estruturas demográficas
4.2.1 – Os (des)equilíbrios da estrutura etária
4.2.2 – A estrutura da população activa
4.2.3 – A valorização da população como recurso
5º Módulo
5 - A (re)valorização do espaço urbano
5.1 – A organização do espaço urbano
22
5.1.1 – As cidades em Portugal
(11 semanas)
5.1.2 – A paisagem urbana e os seus elementos
5.1.3 – A estrutura funcional
5.2 – A qualidade de vida nas cidades portuguesas
5.2.1 – As condições de vida urbana
5.2.2 – A requalificação das cidades
5.2.3 – A (re)valorização das cidades e o desenvolvimento das regiões
6º Módulo
6 – As transformações no espaço rural
6.1 – A actividade agrícola
22
6.1.1 – A persistência da agricultura tradicional
6.1.2 – As novas práticas agrícolas
(11 semanas)
6.2 – Os novos usos do espaço rural
6.2.1 – Os novos padrões residenciais
6.2.2 – As actividades turísticas e recreativas no espaço rural
6.2.3 – A valorização das paisagens rurais e o desenvolvimento das regiões
TOTAL DE UNIDADES LECTIVAS
66
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: na modalidade de frequência presencial o número de unidades lectivas previsto inclui a avaliação
52
4.º Módulo
53
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
4.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
N.º DE UNIDADES
LECTIVAS*
4 - A dinâmica da população portuguesa
4.1 – A população e o território
4.1.1 – A distribuição espacial
- a litoralização /o despovoamento do interior
- o povoamento nos arquipélagos
4.1.2 – A mobilidade espacial da população
- os movimentos migratórios
22
(11 semanas)
4.2 – As estruturas demográficas
4.2.1 – Os (des)equilíbrios da estrutura etária
- o declínio da fecundidade
- o envelhecimento da população
4.2.2 – A estrutura da população activa
- os sectores de actividade
- os níveis de instrução e de qualificação profissional
4.2.3 – A valorização da população como recurso
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: Na modalidade de frequência presencial, o n.º de Unidades Lectivas incorpora a
avaliação
54
Matriz: Competências/Módulos do 10.º/11.º anos
n.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
4.º
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
7.º
8.º
12.º Ano
■
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
9
6.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
6
8
5.º
11.º Ano
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
● Competências a desenvolver no 10.º ano
■ Competências a desenvolver no 11.º ano
55
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
4.º Módulo
4-A dinâmica
da
população
portuguesa
Conceitos
Núcleo conceptual
As alterações demográficas da sociedade portuguesa constituem factores
condicionantes do desenvolvimento territorial e do dinamismo das
paisagens.
Subtema
Noções básicas
4.1 – A população e o território
Acessibilidade
4.1.1 – A distribuição espacial
- a litoralização /o despovoamento do interior
- o povoamento nos arquipélagos
Área atractiva
Área repulsiva
Assimetrias regionais
4.1.2 – A mobilidade espacial da população
- os movimentos migratórios
Centro urbano
Densidade populacional
Despovoamento
Emigração
Êxodo rural
Grande área urbana
Imigração
Litoralização do
povoamento
População absoluta
População rural
População urbana
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Explicar a distribuição da população no território continental.
• Explicar a distribuição da população nos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
• Enquadrar o padrão de distribuição da população portuguesa no da Europa.
• Referir o padrão de distribuição espacial dos centros urbanos em Portugal.
• Explicar a existência de áreas atractivas e repulsivas à população.
• Reconhecer a importância das acessibilidades na mobilidade da população.
• Caracterizar os movimentos migratórios em Portugal Continental e Insular, na
segunda metade do séc. XX.
• Debater estratégias para atenuar as assimetrias no povoamento do território
português.
56
Tema 4
4.1 – A população e o território
A dinâmica
da
população portuguesa
Nível de abordagem
Com o tratamento deste tema pretende-se que os alunos compreendam como as características da população
assim como a sua mobilidade espacial, motivada por factores de ordem socioeconómica, têm repercussões
tanto nas áreas de partida como nas áreas de chegada, acentuando disparidades regionais a diversos níveis
incluindo o das próprias paisagens e realçando a necessidade da valorização da população como um recurso. A
abordagem deste tema pressupõe, também, uma comparação com os diferentes países da UE no sentido da
criação de um quadro de referência mais preciso e uma análise diferenciada para as Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira.
O processo de ensino/aprendizagem deve basear-se na análise de dados estatísticos e na realização de
actividades que permitam o desenvolvimento de capacidades de selecção, de sistematização e de interpretação
de dados, assim como o uso de técnicas de expressão gráfica e cartográfica recorrendo, sempre que possível, às
TIC. Sugere-se a utilização do distrito como escala de análise por ser a unidade administrativa mais
significativa para os alunos, podendo no entanto, utilizar-se outras escalas como as NUT III ou outras
entendidas como mais convenientes.
Com o subtema 4.1. – A população e o território – pretende-se uma abordagem que permita ao aluno
compreender a distribuição espacial da população no continente e nas regiões autónomas, evidenciando os
contrastes no povoamento, bem como as suas implicações no desenvolvimento das regiões.
Com o conteúdo 4.1.1. sugere-se a análise da distribuição da população no nosso país, salientando o acentuar
da dicotomia litoralização/despovoamento do interior no território continental e o carácter litoral do
povoamento nos arquipélagos. Esta análise deve recuar apenas até à segunda metade do séc. XX. Neste âmbito,
é importante o conhecimento dos factores naturais e humanos que condicionam essa distribuição. Considera-se
ainda relevante a referência ao padrão de distribuição dos centros urbanos, no qual se destaca a existência de
grandes áreas urbanas no litoral de Portugal Continental e ao papel dinamizador de algumas cidades e vilas do
interior na atracção e/ou na fixação de população, através da implantação de actividades económicas
diversificadas, geradoras de emprego à escala local/regional.
Com o conteúdo 4.1.2. pretende-se que os alunos analisem de que forma a mobilidade da população se reflecte
no padrão de organização regional. Neste contexto, sugere-se que se discuta a importância da acessibilidade na
mobilidade da população assim como os desequilíbrios espaciais que caracterizam, actualmente, o território
português. O estudo dos movimentos migratórios pressupõe a revisão dos respectivos critérios de classificação,
assim como a referência às migrações internas, à emigração durante a 2.ª metade do século XX e, nas últimas
décadas, ao retorno dos emigrantes e à imigração, nomeadamente dos países da CPLP, da União Europeia e do
Leste europeu.
Por fim, atendendo à importância da distribuição populacional para o ordenamento do território, sugere-se a
discussão de medidas conducentes ao reequilíbrio da distribuição da população portuguesa.
57
4.º Módulo
4-A dinâmica
da
população
portuguesa
Conceitos
Noções básicas
Desemprego
Emprego temporário
Envelhecimento
Esperança média de vida
Estrutura activa
Estrutura etária
Núcleo conceptual
As alterações demográficas da sociedade portuguesa constituem factores
condicionantes do desenvolvimento territorial e do dinamismo das paisagens.
Subtema
4.2 – As estruturas demográficas
4.2.1 – Os (des)equilíbrios da estrutura etária
- o declínio da fecundidade
- o envelhecimento da população
4.2.2 – A estrutura da população activa
- os sectores de actividade
- os níveis de instrução e de qualificação profissional
4.2.3 – A valorização da população como recurso
Índice de envelhecimento
Índice de renovação de
gerações
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Índice sintético de
fecundidade
• Enquadrar as estruturas demográficas de Portugal no contexto das da U.E.
Pirâmide de idades
• Caracterizar a estrutura etária da população portuguesa.
Política demográfica
• Explicar os factores do envelhecimento da população.
Recurso humano
Rejuvenescimento
• Explicar os contrastes espaciais da estrutura etária.
Sectores de actividade
• Caracterizar a estrutura da população activa portuguesa.
Subemprego
• Explicar os contrastes espaciais da estrutura da população activa.
Taxa de analfabetismo
Taxa de crescimento
efectivo
• Caracterizar os recursos humanos em Portugal quanto aos níveis de instrução e
de qualificação profissional.
• Referir as consequências socioeconómicas das estruturas demográficas.
• Reflectir sobre as consequências demográficas resultantes dos actuais
movimentos migratórios em Portugal.
58
Tema 4
4.2 – As estruturas demográficas
A dinâmica
da
população portuguesa
Nível de abordagem
O tratamento do subtema 4.2 – As estruturas demográficas – deve privilegiar uma abordagem que saliente as
consequências inerentes à evolução recente das estruturas etária e activa da população portuguesa, bem
como os seus impactos, tanto ao nível regional como nacional e eventuais medidas tendentes à resolução dos
problemas identificados.
Com o conteúdo 4.2.1 sugere-se uma abordagem que possibilite aos alunos uma análise comparativa da
estrutura etária nas últimas décadas, nomeadamente através do recurso à análise de pirâmides de idades de
diferentes datas, enfatizando os aspectos específicos da estrutura etária da população portuguesa como o
envelhecimento pela base, pelo meio e pelo topo da pirâmide. Esta análise implica uma reflexão sobre os
factores que explicam o declínio da fecundidade e o envelhecimento progressivo da população.
Com o conteúdo 4.2.2 pretende-se que os alunos caracterizem a estrutura activa da população portuguesa.
Assim, sugere-se uma abordagem que permita aos alunos analisar a evolução da percentagem de actividade
por sector, bem como os níveis de instrução e de qualificação profissional da população nas últimas décadas.
É ainda importante analisar a diferenciação regional da estrutura da população activa, reflectindo sobre os
seus impactos no desenvolvimento regional, salientando o caso particular do turismo.
Com o conteúdo 4.2.3 sugere-se que os alunos analisem os níveis de analfabetismo e indicadores da
iliteracia da população portuguesa, reflectindo sobre as questões relativas à situação perante o emprego.
Sugere-se também que, numa perspectiva de valorização da população como um recurso, se debata com os
alunos a importância do rejuvenescimento e da qualificação profissional da população, referindo medidas
concretas que podem ser tomadas.
59
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
60
5.º Módulo
61
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
5.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
N.º DE
UNIDADES
LECTIVAS*
5 - A (re)valorização do espaço urbano
5.1 – A organização do espaço urbano
5.1.1 – As cidades em Portugal
- os critérios de definição de cidade
- a dimensão e a distribuição espacial
5.1.2 – A paisagem urbana e os seus elementos
- a localização
- a morfologia urbana
- o uso do solo urbano
22
5.1.3 – A estrutura funcional
(11 semanas)
- as actividades terciárias
- a indústria
- a habitação
5.2 – A qualidade de vida nas cidades portuguesas
5.2.1 – As condições de vida urbana
- os factores de qualidade de vida urbana
5.2.2 – A requalificação das cidades
- o património a recuperar e as áreas a reabilitar
5.2.3 – A (re)valorização das cidades e o desenvolvimento das regiões
- o turismo, a cultura e o lazer
- as infraestruturas
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: Na modalidade de frequência presencial, o n.º de Unidades Lectivas incorpora a
avaliação
62
Matriz: Competências/Módulos do 10.º/11.º anos
N.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
4.º
●
●
●
■
5.º
11.º Ano
■
●
●
●
■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
8.º
12.º Ano
■
■
■
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
9
7.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
6
8
6.º
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
■
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
■
■
■
28
● Competências a desenvolver no 10.º ano
■ Competências a desenvolver no 11.º ano
63
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
5.º Módulo
5 - A
(re)valorização do
espaço urbano
Núcleo conceptual
As cidades são cada vez mais um motor de desenvolvimento das regiões onde se
inserem, o que pressupõe a valorização da sua diversidade funcional e da sua
especificidade socio-cultural.
CONCEITOS
NOÇÕES BÁSICAS
Subtema
5.1 – A organização do espaço urbano
5.1.1 – As cidades em Portugal
Área funcional
Área metropolitana
Área periurbana
Área suburbana
Área urbana
Cidade
Deseconomia de
aglomeração
Economia de aglomeração
- os critérios de definição de cidade
- a dimensão e a distribuição espacial
5.1.2 – A paisagem urbana e os seus elementos
- a localização
- a morfologia urbana
- o uso do solo urbano
5.1.3 – A estrutura funcional
- as actividades terciárias
- a indústria
- a habitação
Espaço urbano
Estrutura urbana
Função urbana
Industrialização
Morfologia urbana
Periurbanização
Planta funcional
Rede de transporte
Rede urbana
Renda fundiária
Segregação espacial
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Debater os critérios utilizados na definição de cidade.
• Caracterizar o sistema urbano português.
• Relacionar a ocorrência de grandes áreas urbanas no território nacional com a
implantação de indústrias e de actividades terciárias.
• Explicar a formação das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
• Caracterizar os vários tipos de planta de uma cidade.
Sistema urbano
• Relacionar a morfologia urbana com as fases de crescimento da cidade.
Sítio
• Caracterizar a estrutura morfo-funcional da cidade.
Suburbanização
• Explicar as alterações nas localizações urbanas da indústria.
Taxa de urbanização
Terciarização
Tipos de plantas urbanas
• Relacionar a diferenciação residencial com o valor da renda fundiária.
• Relacionar o crescimento das cidades com a melhoria da acessibilidade.
Urbanismo
Urbanização
Valor do solo urbano
64
Tema 5
5.1 – A organização do espaço urbano
A (re)valorização do
espaço urbano
Nível de abordagem
Com o tratamento deste tema pretende-se que, a partir do estudo da distribuição dos centros urbanos e da
sua evolução recente, se debatam problemas de qualidade de vida e de organização territorial, a nível
nacional e regional associados a essa distribuição, enfatizando eventuais soluções para os mesmos, numa
perspectiva de valorização do território. A abordagem deste tema pressupõe, também, a comparação com
casos paradigmáticos existentes em outros países da UE e a explicítação da situação das Regiões Autónomas
sempre que for considerado conveniente.
A análise do espaço urbano deve basear-se na utilização de fotografias aéreas e de diferentes representações
cartográficas, no tratamento de indicadores estatísticos e na realização de actividades que facilitem o
desenvolvimento das capacidades de selecção, de sistematização e de interpretação de dados, e das técnicas
de expressão gráfica e cartográfica, recorrendo, sempre que possível às TIC.
Com o estudo do subtema 5.1 – A organização do espaço urbano – pretende-se uma abordagem que permita
aos alunos analisarem o espaço urbano português, quer ao nível da organização do sistema urbano nacional,
quer ao nível da organização interna das cidades, através da caracterização dos seus vários elementos, dos
respectivos padrões de distribuição e das relações que esses elementos estabelecem entre si.
O conteúdo 5.1.1 deve constituir uma introdução ao estudo do espaço urbano no qual se debatam os critérios
utilizados na definição de cidade e se reflicta sobre a necessidade de delimitar a cidade com vista à sua
administração e ao ordenamento urbano. Pretende-se, ainda, que o debate evidencie as disparidades nos
critérios de definição de cidade utilizados nos vários países e as dificuldades encontradas na delimitação das
cidades como, por exemplo, as decorrentes do atenuar da tradicional clivagem cidade/campo, o que tem
levado à substituição do conceito de cidade por outros, nomeadamente, o de centro urbano, de área urbana
ou o de área metropolitana. No que diz respeito à dimensão e distribuição espacial das cidades sugere-se, por
um lado, a análise das principais características do sistema urbano português e, por outro lado, que se
relacione o crescimento urbano com a implantação e desenvolvimento de actividades económicas, com
destaque para a indústria e o turismo. Neste âmbito, sugere-se a abordagem de aspectos como: a bipolaridade
do sistema urbano, o aparecimento de pólos economicamente atractivos, principalmente no litoral, que têm
levado ao crescimento de grandes áreas urbanas (áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e áreas não
metropolitanas, nomeadamente as de Braga, Aveiro, Faro e Funchal), a falta de centros urbanos intermédios
e a rede difusa de pequenas cidades. Na abordagem das áreas metropolitanas considera-se relevante
evidenciar as diferenças na sua génese e nos factores de crescimento.
Com o conteúdo 5.1.2 considera-se importante o conhecimento do espaço físico que suporta a vida de uma
cidade. Nesse sentido, é relevante a análise, feita pelos alunos, dos aspectos que caracterizam as paisagens
urbanas, nomeadamente o sítio, a posição geográfica, os tipos e os elementos das plantas e as funções
urbanas.
Com o conteúdo 5.1.3 pretende-se que se dê ênfase às actividades que são desenvolvidas no espaço urbano,
às suas inter-relações e interdependências. Sugere-se uma abordagem que permita evidenciar os padrões de
distribuição dessas actividades, destacando os seus factores de localização, nomeadamente a renda fundiária.
Como elemento fundamental na evolução da estrutura urbana é importante que os alunos analisem o papel
do desenvolvimento dos transportes, abordando alguns aspectos como a melhoria da acessibilidade, o
incremento e a rapidez das deslocações, o aumento das distâncias percorridas e, ainda, a necessidade de
gestão e de articulação entre os vários modos de transporte.
65
5.º Módulo
5 - A
(re)valorização do
espaço urbano
Conceitos
Noções básicas
Núcleo conceptual
As cidades são cada vez mais um motor de desenvolvimento das regiões onde se
inserem, o que pressupõe a valorização da sua diversidade funcional e da sua
especificidade socio-cultural.
Subtema
5.2 – A qualidade de vida nas cidades portugueses
5.2.1 – As condições de vida urbana
- os factores de qualidade de vida urbana
Especulação imobiliária
Êxodo urbano
5.2.2 – A requalificação das cidades
- o património a recuperar e as áreas a reabilitar
Habitação clandestina
Nível de conforto
5.2.3 – A (re)valorização das cidades e o desenvolvimento das regiões
Qualidade de habitação
- o turismo, a cultura e o lazer
- as infraestruturas
Qualidade de vida
Reabilitação urbana
Renovação urbana
Requalificação urbana
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Identificar os factores da qualidade de vida urbana.
• Debater os principais problemas que afectam a qualidade de vida urbana.
• Equacionar problemas resultantes da localização de funções urbanas em determinadas
áreas da cidade.
• Equacionar problemas de qualidade de vida decorrentes da dimensão das áreas
metropolitanas.
• Debater medidas que visam a solução de problemas nos transportes urbanos.
• Debater propostas de recuperação das áreas urbanas para a melhoria da qualidade de
vida.
• Inventariar medidas que têm sido tomadas para a recuperação das áreas urbanas.
• Reconhecer o papel dos centros históricos, dos espaços de lazer e dos bairros
residenciais na requalificação das cidades.
• Valorizar o património natural e cultural das regiões no desenvolvimento sustentável
das suas cidades.
• Reconhecer a importância das cidades no desenvolvimento das regiões envolventes.
• Debater medidas conducentes à valorização das cidades de pequena e de média
dimensão.
66
Tema 5
A (re)valorização do
espaço urbano
5.2 – A qualidade de vida nas cidades portuguesas
Nível de abordagem
Com o subtema 5.2 – A qualidade de vida nas cidades portuguesas – pretende-se analisar a qualidade de
vida nas cidades portuguesas identificando os principais problemas e enfatizando as medidas que têm sido
implementadas para a sua resolução, tanto ao nível do ordenamento interno da cidade, como ao nível das
regiões que com ela interagem, numa perspectiva de requalificação e de criação de condições para o
desenvolvimento de novas oportunidades de vida. Num Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e
Ambiente torna-se indispensável a articulação com o subtema 8.1 do programa da disciplina de Técnicas de
Ordenamento do Território – “As novas realidades da rede urbana nacional”.
No conteúdo 5.2.1 sugere-se a discussão acerca da qualidade de vida urbana a partir das experiências
quotidianas de vida. Para que esta análise se torne mais objectiva e mais sistematizada sugere-se o recurso ao
tratamento de indicadores estatísticos relativos aos principais aspectos da qualidade de vida tais como o
ambiente, o saneamento básico, os serviços ligados à saúde e à educação, a habitação, o trânsito, os
transportes, o património e os espaços verdes. É, também, importante discutir o acesso e o grau de satisfação
da população relativamente aos serviços prestados e às infraestruturas existentes salientando, o modo como
as desigualdades sociais condicionam esse acesso e interferem nessa avaliação.
Com o conteúdo 5.2.2 pretende-se uma abordagem do papel da requalificação urbana na transformação do
espaço urbano, salientando os objectivos que visam a eliminação de problemas motivados pelos conflitos na
utilização do solo urbano (resultado do aumento das cargas populacionais, transportes e infraestruturas), o
aumento da diversidade funcional e a melhoria da capacidade atractiva das cidades face ao aumento do
tempo de lazer da população e da procura turística e recreativa a que cada vez mais estão sujeitas. Neste
contexto, considera-se relevante a caracterização dos objectivos e dos processos de recuperação/reabilitação
urbana, no âmbito de programas como o PDM (Plano Director Municipal), o Polis (Programa de
Requalificação Urbana e Valorização Ambiental), o PROSIURB (Programa de Consolidação do Sistema
Urbano Nacional e Apoio à Execução dos Planos Directores Municipais) e outros. Sugere-se que os alunos
contactem directamente com alguns destes processos, que através de operações de renovação e/ou iniciativas
urbanísticas englobam aspectos como: o património edificado, o tecido urbano, as redes de transportes e a
acessibilidade, os equipamentos especializados e os espaços verdes.
No âmbito das acções de requalificação sugere-se ainda o debate sobre a existência de determinadas
incongruências entre o aproveitamento de algumas áreas da cidade, o valor do solo e o potencial urbanístico,
através da análise de exemplos próximos dos alunos e/ou de outros, nomeadamente as áreas que alojam usos
obsoletos (indústrias e armazéns), a existência de determinadas barreiras e descontinuidades (linhas férreas e
estações), as áreas necessitadas de melhorias (áreas portuárias), e as áreas que constituem bolsas de habitação
degradada.
Com o conteúdo 5.2.3 pretende-se que o processo de valorização da cidade seja também entendido na
perspectiva de que ela constitui um pólo de desenvolvimento da região onde se insere. Assim, considera-se
importante realçar que o reforço da diversidade das características funcionais da cidade e do espaço
periurbano (através do desenvolvimento de infraestruturas e da criação de actividades ligadas à indústria, ao
comércio e ao turismo e lazer) é fundamental na atracção de actividades e de população, a exemplo do que
tem acontecido em algumas cidades de pequena e média dimensão, nomeadamente as localizadas no interior
do país.
67
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
68
6.º Módulo
69
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
Portugal: País Atlântico por posição, Mediterrâneo por vocação
6.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
N.º DE UNIDADES
LECTIVAS*
6 – As transformações no espaço rural
6.1 – A actividade agrícola
6.1.1 – A persistência da agricultura tradicional
- os sistemas de cultura tradicionais
- a aptidão/ocupação do solo agrícola
6.1.2 – As novas práticas agrícolas
- a renovação dos sistemas de cultura
- a reconversão profissional e tecnológica
22
(11 semanas)
6.2 – Os novos usos do espaço rural
6.2.1 – Os novos padrões residenciais
- as relações cidade-campo
- a criação de infra-estruturas
6.2.2– As actividades turísticas e recreativas no espaço rural
- as formas de turismo
- o turismo como dinamizador de outros usos
6.2.3 – A valorização das paisagens rurais e o desenvolvimento das regiões
- o aproveitamento do património natural e cultural
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: Na modalidade de frequência presencial, o n.º de Unidades Lectivas incorpora a
avaliação
70
Matriz: Competências/Módulos do 10.º/11.º anos
n.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
4.º
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
■
■
8.º
12.º Ano
■
■
■
■
■
■
■
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
9
■
7.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
6
8
6.º
■
5.º
11.º Ano
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
28
● Competências a desenvolver no 10º ano
■ Competências a desenvolver no 11.º ano
71
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
6.º Módulo
6 - As
transformações
no
espaço rural
Conceitos
Noções básicas
Aceiro
Núcleo conceptual
As alterações nas paisagens rurais tradicionais são o reflexo de mudanças
económicas e sociais de origem endógena e/ou exógena.
Subtema
6.1 – A actividade agrícola
6.1.1 – A persistência da agricultura tradicional
Afolhamento
- os sistemas de cultura tradicionais
- a aptidão/ocupação do solo agrícola
Agricultura:
- tradicional
6.1.2 – As novas práticas agrícolas
- a renovação dos sistemas de cultura
- a reconversão profissional e tecnológica
- moderna
- de subsistência
- de mercado
- biológica
- integrada
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
Emparcelamento
Estrutura agrária
Estrutura fundiária
Latifúndio
Minifúndio
• Caracterizar os sistemas de cultura tradicionais em Portugal Continental e nos
arquipélagos dos Açores e da Madeira.
• Inventariar os problemas dos sistemas de cultura tradicionais.
Monocultura
• Debater medidas para uma adequada utilização do solo agrícola.
Morfologia agrária
• Conhecer os reflexos da Política Agrícola Comum na agricultura portuguesa.
Pluriactividade
• Caracterizar as novas práticas agrícolas.
Plurirrendimento
Policultura
Política Agrícola Comum
• Relacionar a reconversão profissional e tecnológica com a modernização da
agricultura.
(PAC)
Pousio
Região agrária
Rendimento
Rotação de culturas
SET-ASIDE
Sistema de cultura
Superfície Agrícola
Utilizada (SAU)
72
Tema 6
6.1 – A actividade agrícola
As transformações no
Espaço rural
Nível de abordagem
No tratamento deste tema pretende-se uma abordagem do espaço rural que valorize o património aí existente e a
forma como novos e mais adequados usos poderão promover a dinamização desses espaços contribuindo para
atenuar desequilíbrios no território nacional. Considera-se importante que os alunos façam uma análise
comparativa da situação da agricultura portuguesa com a de outros países da UE, nomeadamente quanto à
percentagem de população activa, à estrutura etária dessa população e ao grau de mecanização da actividade.
O processo de ensino/aprendizagem deve basear-se na análise de dados estatísticos sobre a actividade agrícola,
bem como a realização de actividades que permitam o desenvolvimento de capacidades de selecção, de
organização e de interpretação de dados, assim como o uso de técnicas de expressão gráfica e cartográfica,
recorrendo, sempre que possível, às TIC. Sugere-se também o recurso a mapas de diferentes escalas, fotografias e
outras imagens que permitam o desenvolvimento da capacidade de análise e sistematização de informação
diversificada.
A abordagem do subtema 6.1 – A actividade agrícola – deve privilegiar o estudo das características atlânticas e
mediterrâneas das paisagens rurais portuguesas, realçando as transformações recentes que estão progressivamente
a esbater o quadro tradicional.
Com o conteúdo 6.1.1. pretende-se que se caracterizem os sistemas de cultura tradicionais, evidenciando os
condicionalismos físicos e humanos que os explicam. Neste contexto, sugere-se que se realce a dicotomia entre a
pequena exploração familiar predominante nas regiões do norte e a grande exploração patronal das regiões do sul,
as quais apresentam também lógicas empresariais distintas. Nesta caracterização dos sistemas tradicionais
considera-se importante a análise dos problemas que os mesmos apresentam, nomeadamente a relação entre a sua
persistência e as características da mão-de-obra agrícola, a existência do plurirrendimento e da pluriactividade e o
desajustamento entre a aptidão do solo e a sua ocupação. Para além da inventariação dos problemas estruturais da
agricultura tradicional, sugere-se ainda que os alunos analisem a importância destes sistemas no equilíbrio da
nossa economia, sobretudo à escala regional. Sugere-se ainda o debate sobre os impactos da adesão de Portugal à
UE, nomeadamente no que respeita aos efeitos da PAC e das suas reformas, na nossa agricultura. Neste âmbito
propõe-se a análise das perspectivas de desenvolvimento, que se têm colocado à agricultura portuguesa, com a
integração na UE.
Com o conteúdo 6.1.2 sugere-se uma abordagem que permita aos alunos contactar com as novas formas de
agricultura, nomeadamente a agricultura biológica e a agricultura integrada, debatendo a importância da
especialização agrícola em função dos factores naturais e humanos, bem como a necessidade de formação
profissional e do fomento do associativismo dos agricultores portugueses.
Por último, considera-se também relevante que os alunos compreendam a necessidade da coexistência de dois
tipos de agricultura em Portugal (a persistência dos sistemas tradicionais e a emergência das novas práticas
agrícolas) reflectindo sobre a produtividade, o rendimento e os impactos ambientais de ambos.
73
6.º Módulo
6 - As
transformações
no
espaço rural
Conceitos
Noções básicas
Agroturismo
Núcleo conceptual
As alterações nas paisagens rurais tradicionais são o reflexo de mudanças
económicas e sociais de origem endógena e exógena.
Subtema
6.2 – Os novos usos do espaço rural
6.2.1 – Os novos padrões residenciais
- as relações cidade-campo
- a criação de infra-estruturas
Rurbanização
Turismo ambiental
6.2.2– As actividades turísticas e recreativas no espaço rural
Turismo cinegético
- as formas de turismo
- o turismo como dinamizador de outros usos
Turismo cultural
Turismo em Espaço Rural
6.2.3 – A valorização das paisagens rurais e o desenvolvimento das regiões
(T.E.R)
- o aproveitamento do património natural e cultural
Turismo termal
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Inventariar os novos usos do espaço rural.
• Caracterizar os novos padrões residenciais no espaço rural.
• Inventariar as modalidades de turismo em espaço rural.
• Discutir a importância do turismo na dinamização do espaço rural.
• Discutir a importância dos sistemas agrários tradicionais como património
cultural e paisagístico.
• Debater a importância dos novos usos do espaço rural na respectiva
dinamização.
• Valorizar as potencialidades das paisagens rurais numa perspectiva de
desenvolvimento das regiões.
74
Tema 6
6.2 – Os novos usos do espaço rural
Nível de abordagem
As transformações no
espaço rural
Com o subtema 6.2 – Os novos usos do espaço rural – pretende-se uma abordagem que permita aos alunos
compreenderem que, para além das novas oportunidades ligadas à modernização da agricultura, têm-se instalado
no espaço rural outras actividades, nomeadamente o turismo. Sendo, por isso, importante equacionar o papel que
as diferentes actividades têm na dinamização do espaço rural, numa perspectiva da valorização das suas vantagens
comparativas.
Com o conteúdo 6.2.1 pretende-se realçar a procura crescente de habitação no espaço rural, por parte de população
urbana. Sugere-se uma abordagem que permita aos alunos relacionar esta procura com novos tipos de emprego,
com situações de reforma, com a proliferação de residências secundárias e com a crescente desvalorização do
modo de vida urbano, factores que têm contribuído para o fenómeno de rurbanização. Neste âmbito pretende-se
que se evidencie o incremento da complementaridade entre cidade-campo e os seus factores explicativos, bem
como o consequente aparecimento de novas relações entre ambos os espaços, dos quais se destaca a ocupação do
tempo dedicado ao lazer, por parte da população urbana, o que vem contribuir para o desaparecimento da
tradicional dicotomia cidade/campo.
Com o conteúdo 6.2.2 pretende-se que os alunos analisem de que forma a ocupação do tempo destinado ao lazer
(através da função recreativa e da função turística) constitui uma das potencialidades de desenvolvimento do
espaço rural. Sugere-se que se debata, com os alunos, o papel do turismo como elemento dinamizador de outros
usos desse espaço, através do incremento de actividades como a restauração e hotelaria, o artesanato, a
gastronomia, a realização de feiras e outros eventos culturais.
Considera-se importante, a identificação das várias modalidades de turismo em espaço rural (T.E.R), definidos no
Plano Nacional de Turismo e na legislação emanada pelo Ministério da Economia, bem como as motivações dos
fluxos turísticos (o ambiente, a agricultura e a paisagem vincadamente rural). Sugere-se uma abordagem que
permita aos alunos caracterizar outros tipos de turismo realizados nas áreas rurais e não incluídos nas modalidades
de T.E.R., nomeadamente o cinegético, o termal e o cultural. Esta abordagem pode ser feita com o recurso a vários
exemplos a nível nacional e, sempre que possível, aos existentes na região em que vivem os alunos tendo como
referência o disposto na documentação oficial atrás citada e, também, nas Linhas Orientadoras para a Política de
Turismo em Portugal de Março de 1998.
Com o conteúdo 6.2.3 pretende-se que os alunos, tendo em conta a necessidade de desenvolver a região face à
crescente perda importância da actividade agrícola, debatam hipóteses de valorização das paisagens rurais,
susceptíveis de melhorar a qualidade de vida da população rural. Assim, sugere-se a inventariação de paisagens
rurais que constituem um património cultural e paisagístico dinamizador de novos usos, nomeadamente ao nível
das características ambientais, das formas de agricultura tradicional, das aglomerações rurais, das áreas florestais e
das superfícies aquáticas.
75
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
76
ESTUDO DE CASO
O estudo de caso apresenta-se, para os alunos, como uma metodologia de abordagem adequada ao
estudo experimental, permitindo uma concretização, aplicação e síntese das aprendizagens essenciais,
ao mesmo tempo que cria a possibilidade de utilização dos conhecimentos adquiridos durante os
10.º/11.º anos.
Neste estudo, pretende-se que os alunos compreendam a interdependência e a inter-relação dos vários
factores estudados (naturais e humanos) e se consciencializem da dificuldade de tomar decisões
(metodologia de análise de dilemas/cenários). Esta metodologia de abordagem pode aplicar-se ao tema
proposto ou a qualquer outro, considerado mais conveniente, desde que aplicado à região onde vive o
aluno. Neste contexto, o que se considera fundamental é a utilização da metodologia e a possibilidade
do estudo experimental, por isso este Estudo de Caso surge na sequência final do programa, mas pode
igualmente ser efectuado de forma transversal ao longo do desenvolvimento do mesmo.
Os alunos deverão utilizar os conhecimentos sobre a produção gráfica e cartográfica adquiridos na
disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território.
Sugere-se o recurso à metodologia de trabalho de projecto que envolva trabalho de campo, pesquisa
bibliográfica, recolha e tratamento de informação recorrendo a fontes diversas.
Cada região é um território complexo e diversificado, que resulta da interacção dos seus elementos
naturais e humanos, originando paisagens contrastadas. Propõe-se que os alunos realizem um estudo de
caso subordinado ao tema : “ A população e as actividades da minha região”
Pretende-se que o trabalho seja orientado para a análise dos aspectos demográficos e sócioeconómicos
da região, evidenciando a importância do património natural e construído, bem como as suas
problemáticas ambientais. Podem ser desenvolvidos quaisquer tipos de actividades que permitam aos
alunos interagir com a comunidade local, nomeadamente a apresentação de propostas concretas com o
intuito da valorização e preservação das paisagens da região.
77
ESTUDO DE CASO
Com esta metodologia pretende-se que os alunos sejam capazes de:
• Inventariar actividades específicas da região onde vivem.
• Reflectir sobre potencialidades naturais e humanas da sua região.
• Inventariar vantagens comparativas da sua região.
• Inventariar problemas ambientais da região onde vivem.
• Debater o papel do indivíduo e da sociedade na preservação do ambiente.
• Valorizar o património natural e cultural numa perspectiva de desenvolvimento regional.
• Compreender o papel do ordenamento do território no desenvolvimento de cada região.
• Apresentar propostas concretas de resolução dos problemas detectados na sua região.
78
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos - 12.º ano
12.ºAno – Geografia B
O ordenamento do território, um caminho para o desenvolvimento
N.º UNIDADES
TEMAS /SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
LECTIVAS
7º Módulo
7 – O território da União Europeia
7.1 – Do Tratado de Roma aos nossos dias
7.1.1 – A organização do espaço comunitário
7.1.2 – As tendências demográficas e socioeconómicas
7.2 – O Desenvolvimento no espaço comunitário
24
(12 semanas)
7.2.1 – As desigualdades entre os Estados-membros e entre as regiões
7.2.2 – As grandes regiões da UE
7.2.3 – Os problemas ambientais
8º Módulo
8 – O ordenamento do território no espaço comunitário
8.1– As regiões de desenvolvimento prioritário
8.1.1 – As regiões urbano-industriais antigas
8.1.2 – As regiões rurais profundas
8.1.3 – As regiões de fronteira
24
8.1.4 – As regiões costeiras e as ilhas
(12 semanas)
8.2 – As grandes opções territoriais
8.2.1 – A reorganização dos espaços urbano e rural
8.2.2 – O investimento nas infra-estruturas
8.2.3 – A preservação do património natural e cultural
9º Módulo
9 – Os desafios do desenvolvimento territorial
-
a reestruturação do território
-
a Europa das regiões
-
a reorganização político/administrativa
-
a mundialização da economia e o território
-
a sustentabilidade ambiental
18
(9 semanas)
TOTAL DE UNIDADES LECTIVAS
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: o número de unidades lectivas previsto inclui a avaliação na modalidade de frequência presencial
79
66
7º Módulo
80
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
12.ºAno – Geografia B
O ordenamento do território, um caminho para o desenvolvimento
7.º Módulo
N.º DE UNIDADES
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
LECTIVAS*
7– O território da União Europeia
7.1 – Do Tratado de Roma aos nossos dias
7.1.1 – A organização do espaço comunitário
- a construção da UE
- a organização político/administrativa da UE
7.1.2 – As tendências demográficas e socioeconómicas
- o envelhecimento da população
- os problemas do emprego
24
7.2 – O Desenvolvimento no espaço comunitário
(12 semanas)
7.2.1 - As desigualdades entre os Estados-membros e entre as regiões
- os “centros” e as “periferias”
- o emprego/o desemprego
7.2.2 - As grandes regiões da UE
- a cooperação inter-regional
os contrastes internos
-
7.2.3 – Os problemas ambientais
- a poluição atmosférica
- a crise dos recursos hídricos e dos solos
- a perda da biodiversidade
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: o número de unidades lectivas previsto inclui a avaliação na modalidade de frequência
presencial
81
Matriz: Competências/Módulos do 10.º/11.º/12.º anos
N.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
4.º
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
■
▲
■
■
■
▲
■
▲
■
■
▲
■
■
▲
■
8.º
12.º Ano
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
9
7.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
6
8
6.º
■
5.º
11.º Ano
■
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
▲
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
▲
●
●
●
■
▲
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
■
■
▲
■
■
▲
■
■
▲
▲
● Competências a desenvolver no 10.º ano
■ Competências a desenvolver no 11.º ano
▲ Competências a desenvolver no 12.º ano
82
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
7.º Módulo
Núcleo conceptual
7- O
território da
União
Europeia
A construção da União Europeia visa a promoção do desenvolvimento e a reafirmação da
Europa como centro de decisão no sistema mundial.
Conceitos
Subtema
Noções básicas
7.1 – Do Tratado de Roma aos nossos dias
Acordo Schengen
Acto Único Europeu
Banco Central Europeu
Comissão Europeia
Comunidade Económica
Europeia (CEE)
Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço
(CECA)
Comunidade Europeia de
Energia Atómica
(CEEA/EURATOM)
Conselho da União
Europeia
Desemprego estrutural
Deslocalização
Formas de Integração
Mercado Interno
Organização de
Cooperação e
Desenvolvimento
Económico (OCDE)
Parlamento Europeu
Plano Marshall
Plano Schuman
Princípio da
Subsidariedade
Taxa de Desemprego
Tratado de Amesterdão
Tratado de Nice
União Económica e
Monetária (UEM)
Zona Euro
7.1.1 – A organização do espaço comunitário
- a construção da UE
- a organização político/administrativa da UE
7.1.2 – As tendências demográficas e socioeconómicas
- o envelhecimento da população
- os problemas do emprego
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Conhecer o processo de construção da UE.
• Compreender o papel do processo de integração na consolidação do espaço
comunitário.
• Conhecer as competências dos órgãos de decisão da UE.
• Compreender as tendências demográficas na UE.
• Relacionar os problemas do emprego com a deslocalização das empresas
europeias.
• Explicar a mobilidade da mão-de-obra na UE.
• Inferir a necessidade de uma maior coesão económica e social no espaço
comunitário.
• Reflectir sobre o papel da UE no sistema mundial.
83
Tema 7
O território da União Europeia
7.1 – Do Tratado de Roma aos nossos dias
Nível de abordagem
O tratamento do tema 7 – O território da União Europeia – deve privilegiar uma abordagem que
permita aos alunos compreenderem o processo de construção da UE, os seus sucessivos alargamentos
espaciais e aprofundamento político-administrativo, realçando os objectivos que presidiram à sua formação,
reflectindo sobre as principais dificuldades que se têm vindo a colocar ao processo de construção europeia.
Esta abordagem pressupõe uma permanente actualização/adequação à evolução do processo de alargamento
e, ainda, a caracterização demográfica e sócio-económica da UE, a análise do seu desenvolvimento
territorial, assim como o seu contributo para a paz, a segurança e estabilidade.
A leccionação deste tema deve basear-se na análise de documentos publicados pelas instituições da UE, de
mapas temáticos e de dados estatísticos. Sugere-se a realização de actividades que permitam o
desenvolvimento de capacidades de selecção, de sistematização e de interpretação de informação
diversificada, assim como o uso de técnicas de expressão gráfica e cartográfica recorrendo, sempre que
possível, às TIC.
Com o subtema 7.1 – Do Tratado de Roma aos nossos dias –, pretende-se uma abordagem que permita aos
alunos compreenderem o processo de construção da União Europeia, sobretudo a partir do Tratado de Roma,
analisando a reformulação dos seus objectivos ao longo das suas diferentes etapas. Considera-se importante
fazer uma breve referência às diferentes instituições da UE, sobretudo no que respeita às suas competências.
Pretende-se ainda a caracterização da actual situação da UE, salientando-se a evolução do processo de
integração no progressivo redimensionamento do espaço comunitário e evidenciando os aspectos
demográficos e económicos mais significativos.
Com o conteúdo 7.1.1 considera-se importante fazer uma referência breve aos antecedentes da actual UE,
referindo factores que estiveram na sua origem, nomeadamente o papel desempenhado pelos Planos
Marshall e Schuman no processo de reafirmação da Europa do pós-guerra. Nesta abordagem, sugere-se uma
análise comparativa das linhas orientadoras dos principais tratados (de Roma, de Maastricht, de Amesterdão
e de Nice) que permita aos alunos compreender o processo de construção da União Europeia. Neste
contexto, considera-se importante a reflexão sobre alguns dos avanços mais significativos, nomeadamente o
Acordo de Schengen, o Acto Único Europeu e a União Económica e Monetária, abordando as questões
relacionadas com a adesão, ou não, dos diferentes países ao Euro e a importância da coesão económica e
social no processo de aprofundamento europeu. Por último, importa ainda salientar como o processo de
construção da União Europeia tem contribuído para a sua afirmação enquanto centro de poder e de decisão
no sistema mundial.
Com o conteúdo 7.1.2 pretende-se que os alunos expliquem as grandes tendências demográficas da UE,
nomeadamente o declínio demográfico e as alterações na estrutura etária. Sugere-se ainda uma abordagem
que permita aos alunos compreenderem os reflexos das características da mão-de-obra e das condições de
trabalho na União Europeia, na competitividade das empresas e no aumento do desemprego estrutural. É
também pertinente reflectir sobre a aparente contradição entre este aumento e as migrações de trabalho
envolvendo mão-de-obra de qualificação muito distinta (trabalhadores sem qualificação, por um lado, e os
de alta formação técnica, por outro lado). Por último, é conveniente uma reflexão sobre o modo como a
volatilidade do emprego desencadeia um aumento da mobilidade da população, a diversas escalas (interregional, intra-regional e intracomunitária) e de que forma o Acordo de Schengen vem solucionar, ou não,
esta problemática.
84
7.º Módulo
7 - O
território da
União Europeia
Conceito
Núcleo conceptual
A construção da União Europeia visa a promoção do desenvolvimento e a
reafirmação da Europa como centro de decisão no sistema mundial.
Subtema
7.2 – O desenvolvimento no espaço comunitário
Noções básicas
7.2.1 - As desigualdades entre os Estados–membros e entre as regiões
Centro/Periferia
Competitividade
Crescimento económico
Desenvolvimento
Exclusão social
Índice de
desenvolvimento
ajustado ao género
(IDG)
Índice de
desenvolvimento
humano (IDH)
Índice de pobreza humana
(IPH)
Índice de realização
tecnológica (IRT)
Índice sintético de
desenvolvimento
regional (ISDR)
Investigação &
Desenvolvimento
(I&D)
Investigação e
desenvolvimento
tecnológico (IDT)
Ordenamento territorial
Paridade do poder de
compra (PPC)
PIB per capita
PNB per capita
Produtividade
Regiões europeias
Regiões funcionais
Regiões homogéneas
Regiões reticulares
Segregação espacial
- os “centros” e as “periferias”
- o emprego/o desemprego
7.2.2 - As grandes regiões da UE
- a cooperação inter-regional
os contrastes internos
-
7.2.3 – Os problemas ambientais
- a poluição atmosférica
- a crise dos recursos hídricos e dos solos
- a perda da biodiversidade
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Debater a dificuldade de medir o desenvolvimento em diferentes realidades.
• Reconhecer as desigualdades de desenvolvimento entre os países da UE.
• Debater a necessidade de articulação entre a política económica e a de emprego.
• Reconhecer as disparidades entre as grandes regiões europeias.
• Debater a importância da cooperação inter-regional no atenuar das assimetrias.
• Reconhecer as desigualdades de desenvolvimento intra-regionais.
• Reflectir sobre a exclusão social e a segregação espacial no interior das regiões.
• Inferir a necessidade de uma maior coesão económica e social no espaço
comunitário.
• Conhecer os princípios fundamentais da política comunitária de ambiente.
• Analisar os impactos do modelo de crescimento económico e dos padrões de
consumo no ambiente.
• Explicar os problemas na qualidade e na quantidade da água disponível.
• Compreender os impactes das diferentes utilizações do solo na sua
degradação/valorização.
• Relacionar a poluição atmosférica com a produção e o consumo de energia.
• Explicar a perda da biodiversidade no espaço comunitário.
• Reflectir sobre a valorização da componente ambiental no ordenamento do
território.
85
Tema 7
1.2 – O desenvolvimento no espaço comunitário
O território da União Europeia
Nível de abordagem
O tratamento do subtema 7.2 – O desenvolvimento no espaço comunitário – deve evidenciar os
contrastes de desenvolvimento existentes entre os vários Estados-membros, salientando a necessidade de
atenuar as assimetrias regionais. Pretende-se ainda caracterizar as desigualdades existentes entre as várias
regiões da UE, assim como os contrastes no interior de cada região, o que pressupõe a inventariação dos
principais problemas ambientais.
Com o conteúdo 7.2.1 pretende-se que os alunos realizem uma análise comparativa de indicadores e índices
estatísticos que lhes permitam identificar os diferentes níveis de desenvolvimento dos vários Estadosmembros, nomeadamente o IDH, o IPH (1 e 2) e o PIB per capita em PPC. A este propósito, propõe-se uma
reflexão sobre a validade e as limitações dos indicadores/índices que normalmente são utilizados, bem como
a necessidade de efectuar diferenciações por género, por idade, por grupo étnico e/ou por escala de análise. É
importante também reflectir sobre o contributo das características da mão-de-obra nas desigualdades entre
Estados-membros, pelo que se sugere o debate sobre a flexibilização laboral interligada com a
formação/reconversão profissional e como forma de melhorar os níveis de produtividade e combater o
desemprego. Neste contexto, sugere-se que a análise destes dados seja feita à escala nacional e regional,
permitindo aos alunos compreenderem as dificuldades de concretização de um desenvolvimento territorial
equilibrado. Considera-se também importante a comparação das desigualdades de desenvolvimento entre os
países do espaço comunitário e dos países candidatos à UE, sugerindo-se a NUT II como a escala de análise
mais adequada.
No conteúdo 7.2.2 sugere-se uma abordagem que permita aos alunos debaterem os critérios de identificação
das regiões (as homogéneas, as funcionais e as reticulares), e uma análise que leve à caracterização das
grandes regiões europeias (a Diagonal Continental/Pentágono, o Arco Atlântico/Fachada Atlântica, o Arco
Mediterrânico, o Mediterrâneo e as regiões ultraperiféricas), identificando as assimetrias existentes entre
elas. Pretende-se que os alunos identifiquem contrastes no interior das grandes regiões e debatam questões
como a exclusão social e as bolsas de pobreza, cada vez mais acentuadas, salientando a sua persistência
mesmo nos centros urbanos de elevado crescimento económico. No final desta análise, sugere-se o debate
sobre a necessidade de uma maior cooperação no interior do espaço comunitário, bem como o papel que os
vários instrumentos da política regional podem ter no incremento dessa cooperação no atenuar dos
desequilíbrios inter e intra-regionais.
Com o conteúdo 7.2.3 pretende-se uma inventariação e caracterização dos problemas ambientais que
afectam o território comunitário, nomeadamente a poluição atmosférica relacionada com a produção e o
consumo de energia, a degradação dos recursos hídricos e dos solos, assim como a redução da
biodiversidade, fazendo uma especial referência aos resíduos sólidos. Sugere-se uma reflexão sobre o modo
como o modelo de crescimento económico associado aos padrões de consumo na Europa contribui para a
degradação e delapidação dos recursos naturais. Neste contexto, considera-se pertinente sensibilizar os
alunos para a importância das atitudes individuais e colectivas na solução das situações inventariadas.
86
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
87
8º Módulo
88
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
12.ºAno – Geografia B
O ordenamento do território, um caminho para o desenvolvimento
N.º DE UNIDADES
8.º Módulo
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
LECTIVAS*
8 – O ordenamento do território no espaço comunitário
8.1 – As regiões de desenvolvimento prioritário
8.1.1 – As regiões urbano-industriais antigas
8.1.2 – As regiões rurais profundas
24
(12 semanas)
8.1.3 – As regiões de fronteira
8.1.4 – As regiões costeiras e as ilhas
8.2 – As grandes opções territoriais
8.2.1 – A reorganização dos espaços urbano e rural
8.2.2 – O investimento nas infra-estruturas
8.2.3 – A preservação do património natural e cultural
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: o número de unidades lectivas previsto inclui a avaliação na modalidade de
frequência presencial
89
Matriz: Competências/Módulos do 10.º/11.º/12.º anos
n.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
4.º
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
8.º
12.º Ano
■
▲
▲
■
■
■
▲
▲
■
▲
▲
■
■
▲
▲
■
■
▲
▲
■
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
9
7.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
6
8
6.º
■
5.º
11.º Ano
■
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
▲
▲
●
●
●
■
▲
▲
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
▲
■
▲
■
▲
■
■
▲
▲
■
■
▲
▲
■
■
▲
▲
▲
▲
● Competências a desenvolver
■ Competências a desenvolver no 11.º ano
▲ Competências a desenvolver no 12.º ano
90
9.º
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
8.º Módulo
8 - O
ordenamento do
território no
espaço
comunitário
Conceitos
Núcleo conceptual
O ordenamento do território constitui um caminho para alcançar o desenvolvimento
territorial equilibrado e sustentável no espaço comunitário, através do reforço da
cooperação e da interdependência entre os seus territórios.
Subtema
8.1 – As regiões de desenvolvimento prioritário
Noções básicas
8.1.1 - As regiões urbano-industriais antigas
- o acentuar dos problemas sociais
- a degradação das infraestruturas
Águas territoriais
Complementaridade
8.1.2 – As regiões rurais profundas
Cooperação inter-
- a perda de importância da agricultura na economia
-regional
8.1.3 – As regiões de fronteira
Cooperação
- a periferização das fronteiras externas
- a cooperação transfronteiriça
transnacional
Deseconomia de escala
8.1.4 - As regiões costeiras e as ilhas
Economia de escala
- a dependência da actividade turística e/ou da pesca
- os custos da insularidade
Frota de pesca
Insularidade
Navegação de
cabotagem
Quotas de pesca
Recurso piscícola
Região industrial
especializada
Região periférica
Região transfronteiriça
Renovação tecnológica
Segregação social
Tecido industrial
Tipos de pesca
Zona Económica
Exclusiva (ZEE)
Zona de Protecção
Especial (ZPE)
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Conhecer os problemas que afectam as regiões urbano-industriais antigas.
• Relacionar o crescimento das pequenas e médias cidades com a criação de
incentivos à população.
• Conhecer os problemas de desenvolvimento do mundo rural.
• Debater a importância actual da agricultura na actividade económica.
• Valorizar a preservação da agricultura tradicional e a extensificação como factor de
desenvolvimento endógeno das regiões rurais.
• Explicar a tendência para a periferização das regiões de fronteira da UE.
• Explicar o papel da cooperação no desenvolvimento das regiões de fronteira dentro
do espaço comunitário.
• Reconhecer a grande diversidade de áreas costeiras e insulares existentes na UE.
• Debater a importância da actividade turística e/ou da pesca na economia das
regiões costeiras e insulares.
• Relacionar a dificuldade no desenvolvimento das ilhas com os custos da
insularidade.
91
TEMA 8
O ordenamento do território no
espaço comunitário
8.1 - As regiões de desenvolvimento prioritário
Nível de abordagem
O tratamento do tema 8 – O ordenamento do território no espaço comunitário – deve privilegiar uma
abordagem que permita aos alunos compreenderem como as grandes opções territoriais, para o espaço
comunitário, visam alcançar o desenvolvimento territorial integrado das suas regiões, com particular
destaque para aquelas que são consideradas de desenvolvimento prioritário. Considera-se pertinente efectuar
um balanço da Política de Coesão Económica e Social, salientando os aspectos menos bem sucedidos.
A leccionação deste tema deve ter como base a análise de relatórios e de outros documentos emanados da
UE, onde se apresentam as propostas e os projectos comunitários. Sugere-se a recolha e a análise de dados
estatísticos diversificados sobre este tema, designadamente a consulta das estatísticas do Eurostat e o recurso
sempre que possível, às TIC.
Com o subtema 8.1 – As regiões de desenvolvimento prioritário –, pretende-se uma caracterização das
regiões que são objecto de preocupação e de intervenção ao nível das políticas comunitárias, tendo em vista
o seu desenvolvimento.
Com o conteúdo 8.1.1 pretende-se uma inventariação dos problemas que caracterizam as áreas urbanas de
industrialização antiga e em declínio. Sugere-se que se equacionem aspectos como a perda de população, a
segregação socioeconómica, o aumento da população imigrante e a desadequação no uso do solo urbano
como consequência, em parte, do abandono e da degradação das infra-estruturas devido a deseconomias de
escala. A este propósito, sugere-se a referência às iniciativas comunitárias URBAN.
No conteúdo 8.1.2 propõe-se que se proceda à inventariação dos problemas que afectam as áreas rurais
profundas. Assim, considera-se importante avaliar o peso do sector agrícola na economia e realçar os
desequilíbrios entre os países do centro e os países da periferia da comunidade. Sugere-se ainda que se
debata a necessidade de preservação dos espaços agrários tradicionais, valorizando a prática de uma
agricultura menos intensiva, tendo em vista a manutenção de explorações familiares. A este propósito,
sugere-se a referência às iniciativas comunitárias LEADER
Com o conteúdo 8.1.3 considera-se pertinente caracterizar a natureza periférica das regiões fronteiriças da
UE, evidenciando o maior afastamento relativamente aos grandes centros de decisão e a possibilidade dessas
regiões virem a ocupar uma posição mais “central”, numa comunidade mais integrada. A este respeito, é
importante também abordar casos de cooperação entre regiões transfronteiriças, referenciando o papel de
iniciativas comunitárias como a INTERREG que inclui, também, programas de cooperação transnacional e
inter-regional. No momento da leccionação deste conteúdo, deve-se ter em atenção a situação das fronteiras
decorrente do alargamento do espaço comunitário.
Com o conteúdo 8.1.4 é importante evidenciar a diversidade das regiões costeiras e insulares em termos de
características geomorfológicas, de densidade populacional e da natureza das actividades económicas;
sugere-se também a análise da diferente repartição destas regiões pelos vários Estados-membros. Neste
âmbito, propõe-se o debate sobre a grande dependência que algumas destas regiões apresentam relativamente
à actividade turística e/ou piscatória e as consequências que daí advêm. Quanto à actividade da pesca, é
importante realçar os problemas resultantes da aplicação da Política Comunitária de Pescas, nomeadamente
em áreas onde esta actividade ocupa grande percentagem de população activa. No que concerne à actividade
turística, é relevante o tratamento do problema resultante da ocupação crescente dos terrenos costeiros para a
implantação de estâncias turísticas e de infra-estruturas de lazer e de tempos livres. No que diz respeito às
ilhas, é importante que se realce os maiores custos de transporte comparativamente às regiões continentais e
se debatam os problemas no desenvolvimento que daí advêm.
92
8.º Módulo
8 – O
ordenamento do
território no
espaço
comunitário
Núcleo conceptual
O
ordenamento
do
território
constitui
um
caminho
para
alcançar
o
desenvolvimento territorial equilibrado e sustentável no espaço comunitário
através do reforço da cooperação e da interdependência entre os seus territórios.
Conceitos
Subtema
Noções básicas
8.2– As grandes opções territoriais
8.2.1 – A reorganização dos espaços urbano e rural
Avaliação de impacte
ambiental
Cidade-compacta
Cidade-porta
Competitividade
territorial
Corredores ecológicos
Desenvolvimento
endógeno
Desenvolvimento
policêntrico
Esquema de
Desenvolvimento do
Espaço Comunitário
(EDEC)
Euro-corredor
Info-estruturas
Parcerias
Plano Nacional da Água
Rede Natura 2000
Região Metropolitana
Reserva Ecológica
Nacional
Ruralização
Teletrabalho
- a reestruturação do sistema urbano europeu
- o desenvolvimento do espaço rural
- as novas relações cidade-campo
8.2.2 – O investimento nas infra-estruturas
- a melhoria das redes de transporte e de comunicações
- a difusão da inovação e do conhecimento
8.2.3 – A preservação do património natural e cultural
- a gestão dos recursos naturais
- a gestão das paisagens naturais e culturais
No final deste subtema o aluno deve ser capaz de:
• Identificar os grandes objectivos da política de desenvolvimento territorial da
UE.
• Conhecer estratégias para um desenvolvimento territorial policêntrico.
• Discutir a necessidade de incrementar a competitividade das cidades.
• Conhecer estratégias diversificadas com vista ao desenvolvimento endógeno das
regiões rurais.
• Relacionar a valorização e preservação das paisagens rurais com as tendências de
ruralização.
• Debater a importância da complementaridade entre as cidades e as regiões
envolventes nas novas parcerias cidade–campo.
• Compreender o papel das redes de transporte e de comunicação no
desenvolvimento territorial equilibrado.
• Debater a importância da inovação e do conhecimento como factor atractivo de
uma região.
• Conhecer estratégias de reabilitação de paisagens rurais e urbanas, que
constituem património natural e cultural.
• Debater a importância da cooperação inter-regional e transnacional na gestão dos
recursos naturais.
93
Tema 8
8.2 - As grandes opções territoriais
O ordenamento do território no
espaço comunitário
Nível de abordagem
Com o subtema 8.2 – As grandes opções territoriais – pretende-se uma abordagem que permita aos alunos
compreenderem de que forma os três grandes objectivos preconizados pelo EDEC – a) a coesão económica e
social; b) a conservação e gestão dos recursos naturais e do património cultural; c) a competitividade mais
equilibrada do território comunitário – originam opções estratégicas diferenciadas a nível territorial, de
acordo com a situação económica, social e ambiental das várias regiões, mas tendo sempre em vista um
desenvolvimento territorial equilibrado. Na abordagem deste subtema, deve ser evidenciado o estatuto
voluntarista do EDEC, uma vez que a política de Ordenamento do Território não está consignada em
qualquer tratado, resulta apenas da vontade unânime dos Estados-membros.
Na leccionação do conteúdo 8.2.1 considera-se importante que os alunos analisem as diversas estratégias que
estão a ser implementadas com vista a um desenvolvimento do sistema urbano mais equilibrado e
policêntrico que promova simultaneamente a atractividade e a competitividade das cidades. Neste âmbito,
sugere-se a referência a alguns casos, como o desenvolvimento das cidades-porta (as que dão acesso ao
território comunitário) e das cidades-compactas (que visam o controle da expansão urbana excessiva).
Pretende-se também a análise de estratégias que visam o desenvolvimento endógeno das zonas rurais, as
quais procuram assegurar a sustentabilidade da agricultura e a diversificação dos usos dos solos agrícolas,
assim como o reforço das sinergias entre espaço rural e espaço urbano, procurando ultrapassar a tradicional
clivagem cidade/campo.
Com o conteúdo 8.2.2 considera-se importante que os alunos compreendam de que forma a integração dos
sistemas de transporte e de comunicações contribuem para o desenvolvimento equilibrado do território
comunitário e são um factor determinante na difusão da inovação e no acesso ao conhecimento. Neste
âmbito, considera-se pertinente salientar o papel das TIC, não só na sua difusão, como também na educação
e na formação/reconversão profissional, tendo em conta que o desenvolvimento das info-estruturas e das
telecomunicações desempenha um papel fundamental no processo de integração europeia e no aumento da
competitividade das cidades e das regiões. Sugere-se o debate sobre as consequências que o “trabalho
electrónico” terá na localização/deslocalização das empresas e no comportamento humano.
No conteúdo 8.2.3 pretende-se que os alunos compreendam como os problemas ambientais têm também uma
componente social e política, devendo ser destacado que a UE procura compatibilizar, cada vez mais, o
crescimento económico com a protecção ambiental e a gestão dos recursos. Na preservação do património,
considera-se pertinente salientar a importância da Rede Natura 2000, nomeadamente o papel das Zonas de
Protecção Especial (ZPE) e dos corredores ecológicos. É ainda importante debater a gestão criativa do
património natural e cultural, veiculando a ideia de que as paisagens culturais são a expressão da identidade
europeia e são importantes não só no ambiente quotidiano, como também um atractivo turístico, factor
relevante no desenvolvimento territorial.
94
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem como das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
95
9º Módulo
96
Gestão dos Temas/Subtemas/Conteúdos
12.ºAno – Geografia B
O ordenamento do território, um caminho para o desenvolvimento
9.º Módulo
N.º DE UNIDADES
TEMAS/SUBTEMAS/ CONTEÚDOS
LECTIVAS*
9 – Os desafios do desenvolvimento territorial
18
-
a reestruturação do território
-
a Europa das regiões
-
a reorganização político/administrativa
-
a mundialização da economia e o território
-
a sustentabilidade ambiental
(9 semanas)
TOTAL DE UNIDADES LECTIVAS
* Unidades lectivas de 90 minutos
Nota: o número de unidades lectivas previsto inclui a avaliação na modalidade de
frequência presencial
97
66
Matriz: Competências/Módulos do 10.º/11.º/12.º anos
N.º da
competência
1
2
3
4
5
Número do Módulo
1.º
2.º
10.º Ano
3.º
4.º
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
8.º
12.º Ano
■
▲
▲
▲
■
■
■
▲
▲
▲
■
▲
▲
■
■
▲
▲
▲
■
■
▲
▲
▲
■
9.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
7
9
7.º
Sem relevância no Ensino Recorrente
6
8
6.º
■
5.º
11.º Ano
■
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
▲
▲
●
●
●
■
■
■
●
●
●
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
▲
▲
▲
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
▲
■
▲
■
▲
■
■
▲
▲
▲
■
■
▲
▲
▲
■
■
▲
▲
▲
▲
▲
▲
● Competências a desenvolver
■ Competências a desenvolver no 11.º ano
▲ Competências a desenvolver no 12.º ano
98
Especificação dos Temas/Subtemas/Conteúdos
9.º Módulo
9 - Os desafios
do
desenvolvimento
territorial
Conceitos
Núcleo conceptual
Os desafios e as prioridades que se colocam ao desenvolvimento territorial do
espaço comunitário para o século XXI são geradores de novas dinâmicas de
transformação da sociedade e da economia.
Tema
9 – Os desafios do desenvolvimento territorial
Noções básicas
Ambientalismo
Comité das Regiões
Critérios de adesão
Globalização
-
a reestruturação do território
-
a Europa das regiões
-
a reorganização político/administrativa
-
a mundialização da economia e o território
-
a sustentabilidade ambiental
Glocalização
Índice de Sustentabilidade
Ambiental
Industrialismo
Mundialização
Política Europeia de
Segurança Comum
(PESC)
No final deste tema o aluno deve ser capaz de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Problematizar os impactos do alargamento do espaço comunitário.
Compreender a emergência das regiões enquanto agentes de negociação e do
aprofundamento da UE.
Equacionar os constrangimentos dos modelos de organização política da UE.
Debater a necessidade de conciliação entre o processo de alargamento e o
processo de aprofundamento.
Reconhecer os impactos da mundialização na economia nos territórios
comunitários.
Compreender a necessidade da valorização/protecção como forma de gestão
equilibrada dos recursos hídricos e dos solos.
Equacionar estratégias de conservação e gestão racional dos recursos
energéticos.
Conhecer as principais opções estratégicas para a manutenção da
biodiversidade.
Inventariar os sectores económicos beneficiados pelas políticas de protecção
ambiental.
Equacionar a necessidade de uma nova atitude face ao consumo no sentido de
um ambiente sustentável.
Debater a necessidade de procurar novos modelos de desenvolvimento com base
na sustentabilidade ambiental.
99
TEMA 9
Os desafios do desenvolvimento
territorial
Tema 9 - Os desafios do desenvolvimento territorial
Nível de abordagem
O tratamento do tema 9 – Os desafios do desenvolvimento territorial – deve privilegiar uma abordagem que
possibilite aos alunos compreenderem que, num mundo em mudança acelerada, muitos são os desafios que
se colocam à União Europeia e para os quais se pretende mostrar uma visão global sobre as perspectivas
futuras, valorizando aspectos qualitativos e voluntaristas num contexto de múltiplas escolhas. Pretende-se
que esta abordagem tenha como base referencial os espaços/territórios (do local ao global, do rural ao
urbano) e as pessoas que os habitam. Neste tema optou-se pela não desagregação em subtemas, a fim de
valorizar uma visão mais integradora das questões aqui abordadas.
A leccionação deste tema deve ter como base a análise de relatórios e de outros documentos emanados da
UE, onde se apresentam as propostas e os projectos comunitários para os próximos anos. Sugere-se a recolha
e a análise de dados estatísticos diversificados sobre este tema, designadamente a consulta das estatísticas do
Eurostat e o recurso, sempre que possível, às TIC.
Pretende-se que os alunos equacionem os vários desafios que se colocam à União Europeia como seja o
alargamento a Leste e futuros alargamentos, reflectindo sobre os seus impactos, nomeadamente para
Portugal. É ainda de debater as alterações do poder de decisão dos diferentes países, a repartição dos fundos
comunitários, equacionando também os impactos da reestruturação do território comunitário para o
desenvolvimento dos vários países.
Considera-se igualmente pertinente o debate sobre a necessidade de uma nova organização política baseada
no Princípio da Subsidiaridade, questionando qual o modelo de organização mais adequado e que respeite a
diversidade nacional de cada Estado-membro. Neste âmbito, importa equacionar até que nível de
aprofundamento pode avançar a UE se não se concretizar a união política.
A “Europa das regiões” é outro dos desafios sobre o qual se sugere o debate onde se saliente a perspectiva,
cada vez mais acentuada, das regiões constituírem os interlocutores directos com os órgãos de poder e de
decisão da UE. Importa evidenciar os aspectos que unem as regiões, bem como aqueles que as dividem.
Neste contexto, sugere-se a referência ao dinamismo do Arco Atlântico/Fachada Atlântica, que procura criar
um eixo motriz de cooperação do litoral atlântico valorizando os recursos endógenos de toda esta região.
No que respeita às questões da mundialização da economia, sugere-se uma abordagem que permita aos
alunos analisarem os seus impactos a várias escalas de análise, bem como a compreensão das dificuldades de
competitividade sentidas pela União Europeia e que têm conduzido ao aumento do desemprego e à
diminuição dos salários reais, realçando assim a necessidade de uma maior coesão económica e social.
Por último, considera-se importante debater os desafios da política ambiental da UE, sobretudo no que
respeita à gestão da água e dos solos, ao equilíbrio da energia/ambiente e à manutenção da biodiversidade.
Neste âmbito, importa salientar a necessidade de avaliação das condicionantes/restrições ambientais, bem
como a obrigatoriedade de estudos de impacte ambiental, o que mostra o esforço da UE em integrar a
componente ambiental no ordenamento do território. Importa ainda reflectir sobre as dificuldades de
conciliação entre a competitividade das empresas da UE e a protecção ambiental, bem como a necessidade
de substituição do paradigma Industrialismo pelo paradigma Ambientalismo, como um dos grandes desafios
para o século XXI.
100
Sugestões de avaliação
Num currículo orientado para o desenvolvimento de competências a avaliação deve ser
centrada no desempenho em contexto real, ou seja as situações de aprendizagem são, também,
situações de avaliação. É do consenso geral que as competências não se desenvolvem
automaticamente. Enquanto indivíduos e pequenos grupos podem desenvolver conhecimentos
de forma informal, o desenvolvimento de grande parte das competências deve utilizar
metodologias mais formais porque as competências se desenvolvem como um processo activo
de aprendizagem individual, através da reflexão entre a prática e a cognição.
Para avaliar competências não servem os instrumentos tradicionais, pois não se colocam
apenas questões de conhecimento, é preciso criar tarefas complexas, integrar a avaliação no
trabalho quotidiano da aula, observar os alunos em situação de aprendizagem, observar séries
de desempenhos comparáveis, de forma a neutralizar efeitos aleatórios e a emitir juízos
fundamentados. O grau de desenvolvimento de competências de cada aluno é diferente, de
acordo com o seu ponto de partida, com os recursos cognitivos que mobiliza e com as
decisões que toma na realização das tarefas. Na realidade, o professor não pode avaliar
competências de forma padronizada, comparando desempenhos dos alunos, deverá antes, em
cada tarefa, comparar o que o aluno deveria ter feito se fosse competente e o que fez na
realidade.
Assim, do ponto de vista didáctico e, em particular, para os alunos na modalidade de
frequência presencial, é necessário criar situações de aprendizagem que lhes permitam
desenvolver competências diversificadas, nos domínios analítico-conceptual/técnico-metodológico bem com das atitudes. Neste contexto, é necessário diversificar os instrumentos de
avaliação — testes de conhecimento com questões de ensaio e questões objectivas, grelhas de
observação, listas de verificação de desempenhos, escalas de atitudes, escalas descritivas para
análise de trabalhos (individuais ou de grupo) e grelhas de observação da participação nos
debates — de acordo com as diferentes situações e aspectos a avaliar, o que pressupõe que
cada situação de aprendizagem e as suas exigências sejam conhecidas antes da avaliação,
valorizando, assim, a dimensão formativa do processo de avaliação.
Na modalidade de frequência não presencial, na concepção da prova escrita deve-se ter em
atenção a matriz de competências a desenvolver neste módulo.
101
ESTUDO DE CASO
O estudo de caso apresenta-se como uma oportunidade para os alunos realizarem um estudo
experimental aplicado à região onde vivem, utilizando para o efeito os conhecimentos que adquiriram
ao longo dos três anos lectivos. Neste estudo, pretende-se que os alunos compreendam a
interdependência e a inter-relação entre as políticas sectoriais da União Europeia, os planos nacionais e
regionais no âmbito do ordenamento do território e os seus impactos no desenvolvimento territorial da
região onde vive o aluno. Este facto não inviabiliza a possibilidade de os alunos realizarem trabalhos
sobre outras regiões, o que poderá constituir um factor de enriquecimento.
O estudo de caso apresenta-se como uma metodologia que permite a concretização, a aplicação e a
síntese das aprendizagens essenciais. Esta abordagem metodológica pode-se realizar a partir do tema
proposto ou de outro considerado mais conveniente, uma vez que o essencial são a metodologia e a
possibilidade do estudo experimental.
O facto de se inserir o estudo de caso no final do programa não significa que a sua realização não se
possa efectuar em qualquer outra altura do ano lectivo, dependendo esta decisão da forma como se
encarar a oportunidade da sua realização.
Considera-se essencial o recurso à metodologia de trabalho de projecto, incluindo o trabalho de campo,
a pesquisa bibliográfica, a recolha e o tratamento de informação recorrendo a fontes diversas. Sugere-se
ainda a possibilidade de elaboração de mapas com propostas de ordenamento de território da região
onde os alunos vivem, assim como actividades que lhes permitam interagir com a comunidade local.
Os alunos poderão articular este trabalho com outras disciplinas da componente científico–tecnológica,
nomeadamente a disciplina de especificação e, eventualmente preparar elementos que facilitem a
realização da prova de aptidão tecnológica (PAT).
O estudo de caso poderá ter como tema: “ O ordenamento do território e o desenvolvimento da
minha região”.
O trabalho deve ser orientado para a apresentação de propostas concretas de ordenamento do território
com o intuito da valorização e preservação das paisagens dessa região.
102
ESTUDO DE CASO
Neste contexto, sugere-se que se analisem alguns dos aspectos mais relevantes em termos de
ordenamento territorial da região estudada, nomeadamente os que dizem respeito à manutenção da
biodiversidade e à protecção de áreas sensíveis (no quadro dos objectivos da Rede Natura e da criação
de Zonas de Protecção Especial e/ou de Zonas Especiais de Conservação); à protecção e à valorização
das áreas costeiras e dos estuários (tendo por base os Planos de Ordenamento da Orla Costeira –
POOC, e/ou outros instrumentos de planeamento); à protecção da paisagem rural (através da
manutenção das populações no espaço rural e das suas actividades complementadas com novas
actividades ligadas aos serviços); e à intervenção em áreas críticas as quais constituem desafios à
recuperação ambiental e à reabilitação e dinamização da economia regional e local (áreas urbanas em
processo de despovoamento ou com actividade industrial antiquada, áreas de solos contaminados ou
com problemas de poluição difusa).
As sugestões anteriores podem ser complementadas ou substituídas por outras actividades,
consideradas mais adequadas ao contexto escolar, nomeadamente em articulação com o Projecto
Educativo de Escola.
No final do estudo de caso, pretende-se que os alunos sejam capazes de:
• Inventariar os instrumentos de planeamento/ordenamento implementados ou a implementar na
minha região.
• Identificar os instrumentos do QCA III disponíveis à escala da minha região.
• Relacionar o desenvolvimento regional com a aplicação de políticas comunitárias sectoriais.
• Inventariar problemas no ordenamento territorial na minha região.
• Debater a necessidade de articular o ordenamento a diferentes escalas.
• Valorizar a preservação do património natural e cultural nos planos de ordenamento do território.
• Investigar a presença da componente ambiental no ordenamento da minha região.
• Apresentar propostas concretas de resolução dos problemas territoriais detectados na minha região.
• Debater o impacto das estratégias de ordenamento do território implementadas na minha região.
103
PARTE IV
Bibliografia
104
Notas bibliográficas
Bibliografia de carácter pedagógico
García, A. (1995) - Didáctica e innovación curricular, Editorial. Universidad de Sevilha.
Esta obra é uma referência actualizada e rigorosa sobre o «desenho», o desenvolvimento, a
inovação e a avaliação curricular. Na primeira parte da obra, para além dos conceitos
fundamentais, pode encontrar-se uma boa fundamentação sobre teorias e modelos de análise
quanto ao «desenho», ao desenvolvimento e á avaliação curricular. A segunda parte apresenta
uma informação sobre as diversas perspectivas, modelos, processos de inovação na sala de
aula. Trata-se de uma obra de carácter geral, mas nem por isso menos importante, uma vez
que aborda os “grandes temas” e as diferentes perspectivas de análise sobre Didáctica e
Currículo.
Henriques, M e outros.(1999). (1999) - Educação para a cidadania, Lisboa: Plátano Editora.
Esta obra visa o ensino da cidadania com independência e sem endoutrinamento, levando a
conhecer factores sociais, conceitos teóricos, antecedentes históricos, ao mesmo tempo que
abre pistas de pesquisa e de aprofundamento. Apresenta-se sob a forma de um roteiro dividido
em sete unidades que ajudam a compreender a vida pública, local e nacional, e a avaliar o
lugar de Portugal na comunidade internacional. As matérias visam a compreensão básica de
temas de cidadania. Apresenta ainda instrumentos didácticos usuais no processo de
ensino/aprendizagem: sumários, enunciados de objectivos e palavras-chave, desenvolvimento
das matérias, boas práticas e testes de avaliação de conhecimentos.
Prieto, F.B.(1994). – La evaluación en la educación secundaria, Salamanca: Editorial Amarú.
Esta obra ajuda a compreender o papel desempenhado pela avaliação, assim como a sua
função e a contribuição do processo avaliativo no desenvolvimento das capacidades de todos
os alunos. Mostra também as possíveis relações com o desenvolvimento de projectos
curriculares. Nesta obra surgem, ainda, inúmeros instrumentos de grande utilidade para os
docentes uma vez que concretizam o modelo de avaliação em exemplos concretos muito
práticos para os professores. Trata-se de um livro actual, prático e concreto e onde se concilia
a teoria com a prática.
105
Bibliografia de Didáctica da Geografia
González, X.M. Souto.(1998) - Didáctica de la Geografía, Barcelona: Ediciones. Del Serbal,
Col. “La estrella Polar.”
Esta obra mostra como a Geografia favorece a compreensão de outras culturas, evidenciando
diferentes relações do homem com o ambiente. Nela se demonstra como a Educação
Geográfica permite desenvolver a autonomia do aluno, levando-o a levantar e a resolver
problemas geográficos.
O ensino da Geografia não se deve reduzir ao ensino de conceitos e teorias explicativas; é
importante conhecer os esquemas de conhecimento de cada aluno, tendo em consideração o
contexto social onde ele está inserido. Considerando estes dois vectores é possível
desenvolver actividades didácticas que sejam úteis na resolução de problemas sociais e
ambientais.
Merenne-Schoumaker, B. (1999) – Didáctica da Geografia, Porto: Edições Asa.
Esta obra procura articular Geografia e Pedagogia, teoria e prática, propondo aos educadores
um instrumento de autoformação, baseado em quatro questões: o que devem saber e saber
fazer os estudantes, o que ensinar e como avaliar as aprendizagens? São abordados temas que
visam várias problemáticas presentes no ensino da Geografia, nomeadamente, o tipo de
Geografia que deve ser ensinada na actualidade, bem como a forma de a ensinar; a forma de
fazer chegar a Educação Geográfica a todos os alunos; a organização das actividades
educativas em função da diversidade dos alunos ao nível das suas necessidades e dificuldades;
e a concretização de um ensino que privilegie o ensinar a aprender.
Bibliografia geral de carácter científico
Barreto, A. (org.) (2000) – A situação social em Portugal 1960-1999, vol. II:
Indicadores sociais em Portugal e na União Europeia, Ed. Imprensa de Ciências
Sociais, Instituto de Ciências Sociais, Lisboa.
Esta obra, de autores diversos, inclui indicadores representativos da situação social
portuguesa e indicadores relativos às empresas existentes e respectivos trabalhadores.
Apresenta ainda tabelas contendo as comparações desde 1960 entre os países da União
Europeia. Explora também as várias dimensões da análise demográfica de Portugal e da
União Europeia.
106
Brito, R. S. (dir.) (1994) – Perfil geográfico, Lisboa : Editorial Estampa.
Esta obra apresenta um quadro geográfico do território nacional. Nela se abordam questões
referentes à morfologia e climatologia, à distribuição da população, às actividades
económicas, ao povoamento, à importância dos transportes, aos desequilíbrios regionais e
também às relações entre Portugal e a União Europeia. Trata-se de uma obra colectiva
dirigida pela autora referida.
COMISSÃO EUROPEIA (1995) - A Europa em Números, Luxemburgo: Serviço das
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
Esta obra é uma síntese da integração europeia e das respectivas políticas sectoriais
nomeadamente, população e condições sociais, energia e indústria, agricultura e pesca,
comércio externo e balança de pagamentos, serviços e transportes, ambiente e
desenvolvimento, salientando factos relevantes da comunidade através de comentários,
gráficos, quadros estatísticos e mapas relevantes no momento da sua publicação e que ajudam
a compreender algumas das actuais reformas e directrizes comunitárias.
Daveau, S. (1998) – Portugal geográfico, Porto: Sá da Costa Editora.
Nesta obra, dividida em cinco partes, são expostos de uma forma simples dados de base que
permitem a qualquer cidadão entender o país. Na primeira parte aborda-se a posição de
Portugal no mundo, sendo analisada a sua situação em termos de ambiente natural e das
relações entre os homens. Na segunda parte, faz-se o enquadramento de Portugal no contexto
da Península Ibérica e do Atlântico. Na terceira parte, analisa-se a diversidade interna do
território, bem como os vários elementos se interligam entre si formando conjuntos regionais
diferenciados. Na quarta parte, abordam-se as marcas da vida rural nas paisagens. Por fim, as
áreas urbanizadas, a sua estrutura em constante mutação e as suas funções, constituem os
temas da última parte.
107
European Environment Agency (1998) – Europe’s environment: the second assessment,
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Elseier Science
Ltd, Oxford.
Nesta obra são descritos o estado do ambiente, os impactos e as políticas que visam dar
resposta aos doze maiores problemas ambientais europeus nomeadamente as alterações
climáticas; a depleção do ozono estratosférico; os lixos; a biodiversidade; a degradação das
águas doce e marinha, das áreas costeiras, dos solos e do ambiente urbano. Contém dados e
cartografia relevantes para a docência da disciplina de Geografia.
Gaspar, J. (1993) – As regiões portuguesas, Lisboa: Ministério do Planeamento e da
Administração do Território.
Esta obra traça um retrato sucinto das regiões portuguesas, apresentando as suas principais
características geográficas, históricas, culturais e socioeconómicas. Trata-se de uma obra
fundamental uma vez que apresenta as regiões portuguesas como espaços identificados com
características culturais próprias, resultantes da interacção de factores diversos e
correspondendo a realidades com contornos territoriais bem definidos. Esta publicação
apresenta uma série de fotografias e mapas ilustrativos das características apresentadas.
Medeiros, C. A (1996) – Geografia de Portugal: ambiente natural e ocupação humana: uma
introdução, Lisboa: Editorial Estampa.
Esta obra apresenta um quadro resumido das principais questões da Geografia de Portugal,
funcionando como uma introdução ao estudo aprofundado das mesmas. Por um lado, apoia-se
em trabalhos académicos, bem como em obras de base e, por outro lado, reflecte também a
concepção pessoal e a experiência do autor. As matérias estão divididas por vários capítulos
que tratam os diferentes temas da Geografia Física e da Geografia Humana de Portugal: o
território e a sua posição, o relevo, o clima, a população, as actividade económicas (rurais,
pesca e indústria), as aglomerações urbanas e a estruturação do território e as suas relações
com o exterior.
108
Ministério do Equipamento do Planeamento e da Administração do Território. (1999) –
Portugal – Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000-2006 –
Diagnóstico prospectivo, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, Lisboa.
Nesta obra, que contém dados e quadros estatísticos relevantes para a docência da disciplina
de Geografia, é avaliada a situação da sociedade e da economia portuguesas nos finais da
década de noventa e elaborada uma visão prospectiva para o século XXI.
Público & Universidade Autónoma de Lisboa (2000) – JANUS 2001, Anuário de relações
exteriores, Lisboa.
Esta obra é uma colectânea de artigos com pontos de vista de vários autores, organizados em
três capítulos distintos. No primeiro capítulo cujo tema é “Portugal e o Mundo” é feita uma
análise da conjuntura internacional. No segundo capítulo intitulado “A «arquitectura»
política europeia” é realizado um levantamento de posições que ajudam a compreender a
inserção portuguesa no espaço europeu e no contexto internacional. O terceiro capítulo, que
abrange cerca de metade da obra, constitui um dossier sobre a actualidade das migrações
internacionais e, ainda, sobre a emigração e a imigração em Portugal.
Salgueiro T. B., (1992) – A Cidade em Portugal, uma Geografia urbana, Lisboa: Edições.
Afrontamento.
Nesta obra faz-se uma sistematização e organização dos conhecimentos de Geografia Urbana
que possam ser utilizadas na definição de políticas urbanísticas. Numa primeira parte analisa
as características morfológicas das cidades portuguesas tendo em conta a sua evolução
histórica, e o papel dos diversos agentes e da legislação urbanística, na configuração do
território. Em seguida, explica a organização funcional do espaço urbano. Por fim aborda, o
tema das mutações que as cidades sofrem ao longo do tempo.
Bibliografia de carácter pedagógico
Bordenave, J.D. e Pereira, A.D. (1983) - Estratégias de ensino-aprendizagem, Petrópolis:
Edições Vozes.
Casanova, M. A (1995) – Manual de evaluación educativa, Madrid: Ediciones. La Muralla.
109
Coll, C. (1994) - La concepción construtivista y el planteamiento curricular de la reforma, in
Escaño, J.
Díaz, P. (1995) - La educación ambiental como projecto, Barcelona: Ediciones. Horsori.
Gimeno, J. (1988) - El curriculum: una reflexión sobre la prática, Madrid:Edicones. Morata.
Giordan, A. e Souchon, C. (1997) - Uma educação para o ambiente, Lisboa:IPAMB.
Novak, J. B. (1988) – Aprendiendo a aprender, Barcelona: Ediciones. Martínez Roca.
Novo, M. (1998) - La educacion ambiental, bases éticas, conceptuales y metodológicas.
Madrid: Ediciones. UNESCO.
Pacheco, J. (1996) - Currículo: teoria e práxis, Porto: Porto Editora.
Zabalza, M. (1994) - Planificação e desenvolvimento curricular na escola, Lisboa: Edições
Asa.
Serna, M. G, Cómo se aprende y cómo se ensenã, Barcelona: Ediciones Horsori.
Bibliografía de Didáctica da Geografia
Alexandre, F.; Diogo, J. (1990) – Didáctica da Geografia, contributos para uma educação no
ambiente. Lisboa: Texto Editora.
Bailey, P. (1981) - Didáctica de la Geografía, Madrid: Ediciones. Cincel.
Cachinho, H. e Reis, J. (1991) – Geografia Escolar – (Re)pensar e (re)agir, Revista Finisterra,
Vol. XXVI, nº52, pp. 429/443. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos.
Capel, H. e Urteaga, L. (1986) - La Geografía en un curriculum de ciencias sociales, Revista
Geocrítica, nº61, pp. 5/37.
Claval, P. (1989) - La place de la géographie dans l’ensegnement, Revista L’Espace
Géographique, Vol. XVIII, nº2, p.123/24.
Claval, P. (1993) – La Géographie au temps de la chute des murs, Paris: Editions
L’Harmattan.
110
Comissão da Educação Geográfica (1992) – Carta Internacional da Educação Geográfica,
Lisboa: Associação dos Professores de Geografia.
Fabregat, C. (1995) – Geografía y educacion, sugerencias didácticas, Madrid: Ediciones.
Huerga Fierro.
González, X. M .S. (1988) – Propuesta de diseño curricular de Geografía 12-16
años, Valência: Cultura, Educació i Ciència.
González, X.,M S. e Santos, R. (1996) – Ensenãr Geografía o educar geográficamente
a las personas, Didáctica de las Ciencias Sociais, Geografia e História, nº 9, IBER,
pp. 15/26.
Graves, N. (1985) - La enseñanza de la Geografía, Madrid: Ediciones.Visor.
Graves, N. (1989) - Nuevo método para la enseñanza de la Geografía Barcelona: Ediciones
Teide.
Jiménez, A M. e Gaite, M. J. M. (1995) – Enseñar Geografía, de la teoría a la práctica
Madrid: Ediciones Síntesis.
Lacoste, Y. (1986) - La enseñanza de la Geografía .Salamanca: ICE.
Lacoste, Y. (1999) – Géographie, éducation civique, Paris: Éditions de la Cité.
Merenne-Schoumaker, B. (1985) - Savoir penser l’espace. pour un renouveau conceptuel et
méthodologique de l’enseignement de la Géographie dans le secondaire, Revista
L’information Géographique, nº49, pp.151/60.
Bibliografia geral de carácter científico
Beaujeu-Garnier, J. (1980) – Geografia urbana, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Comissão Europeia (1998) – Retrato das regiões: Portugal, Luxemburgo: Serviço das
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
Daveau, S. (1987-1991) – Geografia de Portugal, Lisboa: Sá da Costa Editora.
111
Ferrão, J. (1992) – Serviços e inovação, Oeiras: Celta Editora.
Ferrão, J. (1996) – Educação, sociedade cognitiva e regiões inteligentes, Revista Inforgeo, nº
11, Associação Portuguesa de Geógrafos, pp. 97/104.
Ferrão, J. (2000) – Perspectivas e conceitos, problemas e soluções: ilações a retirar da história
da geografia, Revista Apogeo, n.º 19 e 20, Associação de Professores de Geografia, pp. 35/38.
Ferrão, J., Marques, S. T. (2002). Sistema Urbano Nacional - Síntese. Edição: Direcção Geral
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.
George, P. (1993) – O Homem na Terra – a Geografia em acção Lisboa: Edições 70.
Henriques E. B. (1996) – Lisboa turística, entre o imaginário e a cidade: a construção de um
lugar turístico urbano, Lisboa: Editora. Colibri.
Lopes, A S. (1995) – Desenvolvimento Regional, Lisboa: Edições Calouste Gulbenkian.
Mendes, C. (1990) – O planeamento urbano na Comunidade Europeia, Col. Universidade
Moderna, nº 91. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Ribeiro, O. (1970) – Ensaios de Geografia humana e regional, Lisboa: Sá da Costa Edições.
Ribeiro, O. (1986) – Iniciação em Geografia humana, Lisboa: Sá da Costa Edições.
Ribeiro, O. (1991) – Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico: esboço de relações geográficas,
Lisboa: Sá da Costa Edições.
Sá Marques, T. (2004). Portugal na Transição do Século: retratos e dinâmicas territoriais.
Santa Maria da Feira. Edições Afrontamento.
Soneiro, J. C. (1991) – Aproximacion a la Geografia del turismo, Madrid: Ediciones Sintesis.
Tenedório, J. (Dir. e Cord.).(2003). Atlas da Área Metropolitana de Lisboa. Edição: A.M.L..
Tomas, F. (1994) – Du paysage aux paysages, Revista Geographie de Lyon, Vol. 69, nº 4, pp.
277/286.
112
ENDEREÇOS NA INTERNET
www.aprofgeo.pt
Outras entradas inseridas na revista Geoboletim, publicação da Associação Portuguesa
de Professores de Geografia.
O INE na INTERNET
http://www.ine.pt
* Bibliografia específica do programa de12.º ano:
Notas Bibliográficas
Comissão Europeia (1999). EDEC – Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário.
Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
Esta obra é fundamental para a leccionação do programa do 12º ano de Geografia B do Curso
Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente uma vez que é um contributo para a
política de desenvolvimento territorial, uma nova dimensão da política europeia aprovada no
Conselho informal de Ministros responsáveis pelo Ordenamento do Território, em Maio de
1999. É constituída por duas partes, a primeira um contributo para um desenvolvimento
equilibrado e sustentável do território da UE; a segunda, relativa às tendências, perspectivas e
desafios do desenvolvimento territorial na UE.
MAOT (2001). Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (versão
para discussão pública). Lisboa: Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território.
Esta publicação, embora seja uma versão para discussão pública, contém as opções
estratégicas fundamentais relativas à Conservação da Natureza e à Biodiversidade. É
constituída por cinco capítulos dos quais se destacam os dois primeiros relativos aos
princípios, objectivos e opções estratégicas fundamentais que norteiam a referida Estratégia e
o terceiro capítulo onde se apresenta as orientações no sentido da integração de políticas e se
fixa as linhas orientadores para a elaboração de planos de acção.
113
MARN. (1995). Plano Nacional da Política de Ambiente. Lisboa: Ministério do Ambiente e
Recursos Naturais.
Esta obra, constituída por dois volumes é um documento que sistematiza as múltiplas
iniciativas que à data estavam previstas ou em curso no sentido de concretizar o primeiro
Plano Nacional de Política de Ambiente, é o instrumento de referência na condução de
Portugal para um modelo de desenvolvimento sustentável. O segundo volume apresenta, entre
outros anexos relevantes, a caracterização sumária do estado do ambiente.
Ministério do Planeamento (1999). Portugal, Plano de Desenvolvimento Regional 2000-2006.
Lisboa: Ministério do Planeamento.
Esta obra, dividida em nove capítulos, constituiu a proposta portuguesa de enquadramento,
orientação estratégica, sistematização operacional, programação financeira e estrutura
organizativa que deu origem ao estabelecimento do III Quadro Comunitário de Apoio (20002006). Articula-se com o pressuposto no Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social (PNDES) que tem uma abrangência e um alcance mais amplos que o PDR e ainda, na
perspectiva comunitária, com o processo de reforma dos Fundos Estruturais.
Bibliografia
Comissão Europeia (1999). EDEC – Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário.
Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
Comissão das Comunidades Europeias (1994). Europa 2000+. Luxemburgo: Serviço das
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
Comissão Europeia (2001). Sexto relatório periódico relativo à situação socioeconómica e ao
desenvolvimento das regiões da UE. Luxemburgo: Serviços da Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias.
Comissão Europeia (2001). Unidade Europa, Solidariedade dos Povos, Diversidade dos
Territórios. Luxemburgo: Serviços da Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.
114
Comissão Europeia (2002). Primeiro relatório preliminar sobre a Coesão. Luxemburgo:
Direcção-Geral da Política Regional.
Comissão Europeia e Ministério do Planeamento (2000).Quadro Comunitário de Apoio III,
Portugal 2000-2006. Lisboa: Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional.
Fernandes, A. J. (1989). Portugal face à Política Regional da Comunidade Europeia. Lisboa:
Publicações Dom Quixote.
Henriques, A. G.(1999). Planeamento de recursos hídricos rumo a um desenvolvimento
sustentável. Lisboa: Instituto da Água.
Mateus, A. e outros (1995). Portugal XXI, Cenários de Desenvolvimento. Lisboa: Bertrand
Editora.
MAOT (2001). Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (versão
para discussão púbica). Lisboa: Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território.
MEPAT/DGOTDU (1999). O Território para o Século XXI – Ordenamento, Competitividade
e Coesão – Seminário Internacional. Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT): Resumos. Lisboa: Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano.
MAOT/DGOTDU (2000). Relatório do Estado do Ordenamento do Território 1999. Lisboa:
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano.
Partidário, M.R. (1999). Introdução ao Ordenamento do Território. Lisboa: Universidade
Aberta.
PNUD (2001). Relatório de Desenvolvimento Humano 2001. Lisboa: Trinova Editora.
PNUD (2002). Relatório de Desenvolvimento Humano 2002. Lisboa: Mensagem – Serviço de
Recursos Editoriais.
115