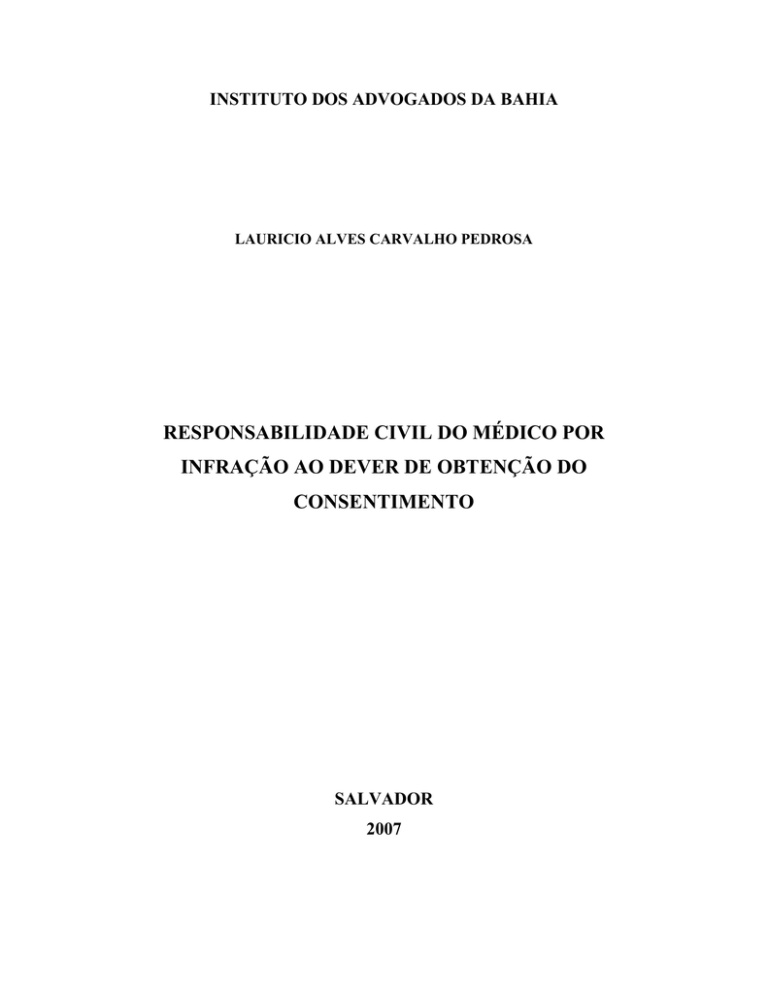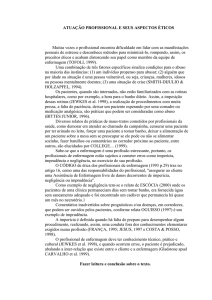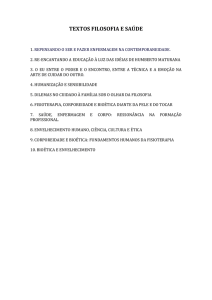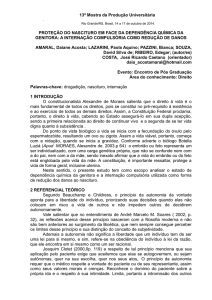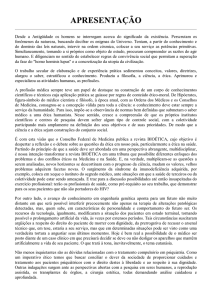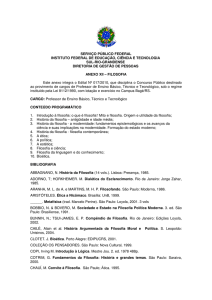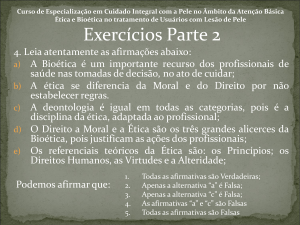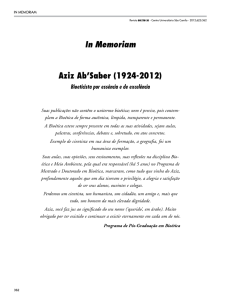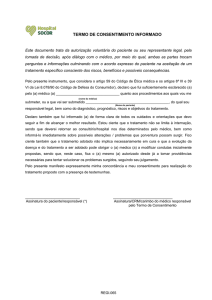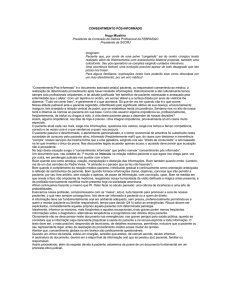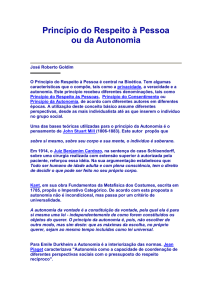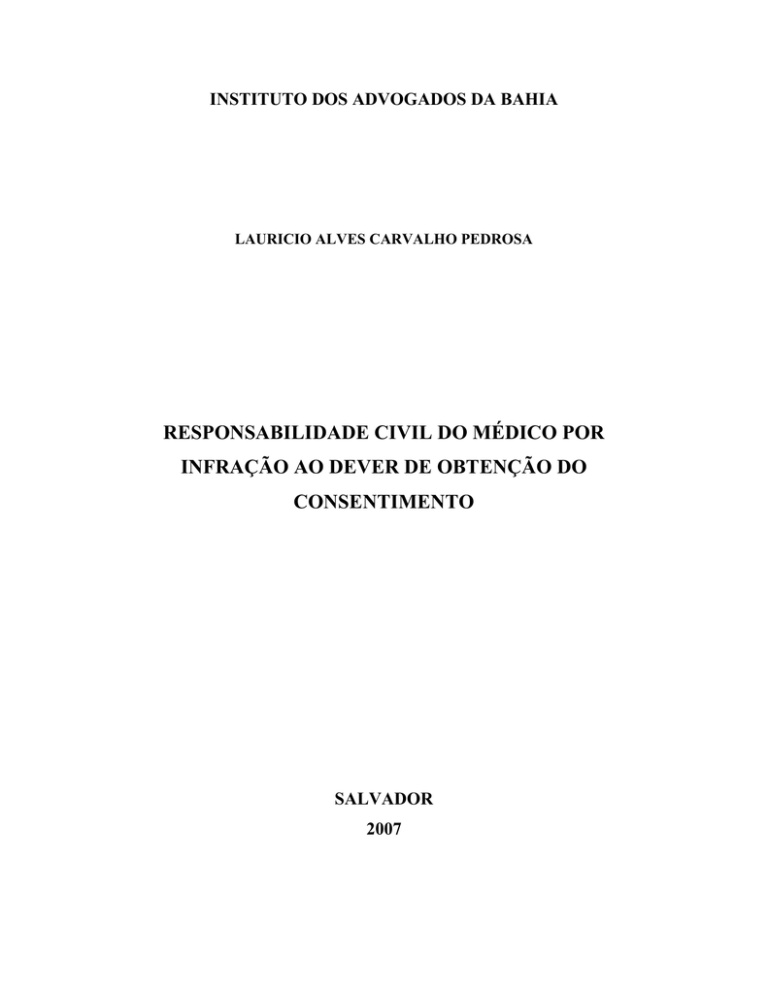
INSTITUTO DOS ADVOGADOS DA BAHIA
LAURICIO ALVES CARVALHO PEDROSA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR
INFRAÇÃO AO DEVER DE OBTENÇÃO DO
CONSENTIMENTO
SALVADOR
2007
LAURICIO ALVES CARVALHO PEDROSA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR
INFRAÇÃO AO DEVER DE OBTENÇÃO DO
CONSENTIMENTO
Monografia apresentada ao Instituto dos Advogados da
Bahia como requisito para o ingresso na Instituição.
SALVADOR
2007
2
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
05
CAPÍTULO 1 – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA
06
1.1. BIOÉTICA: ORIGEM E RELAÇÃO COM A ATIVIDADE MÉDICA
06
1.1.2. A Teoria Principialista
07
1.1.3. As primeiras perspectivas críticas
08
1.1.3.1. Os limites da Teoria Principialista
08
1.2. CRISE DO PATRIARCALISMO E PROPOSTA DE SUPERAÇÃO
09
1.3.CONCEITO DE AUTONOMIA
11
1.4. O PRINCÍPIO DO RESPEITO À AUTONOMIA
12
1.5. A CAPACIDADE
14
1.5.1. O conceito de capacidade
14
CAPÍTULO 2 – DO DEVER DE INFORMAR
17
2.1.O CONSENTIMENTO INFORMADO. DEFINIÇÃO
17
2.2. ELEMENTOS DO CONSENTIMENTO INFORMADO
17
2.3 A JUSTIFICAÇÃO DO CONSENTIMENTO INFORMADO
19
2.4. EXTENSÃO DO DEVER DE INFORMAR
20
2.5. FORMA E PROVA DO CONSENTIMENTO
21
2.5.1 A não-revelação intencional
23
2.5.2. A decisão substituta
23
2.5.3. Modelos de decisão substituta
24
2.5.3.1. Modelo do julgamento substituto
24
2.5.3.2. Modelo da pura autonomia
24
2.5.3.3. Modelo dos melhores interesses do paciente
25
2.5.4. O menor amadurecido
25
3
CAPÍTULO 3 – A RESPONSABILIDADE CIVIL
28
3.1- NOÇÕES GERAIS
28
3.2 –TEORIAS EXPLICATIVAS TRADICIONAIS: SUBJETIVA E OBJETIVA
31
3.2.1. Responsabilidade Objetiva: Origem e desenvolvimento
32
3.3 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NOÇÕES GERAIS
34
Capítulo 4- A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO
37
4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
37
4.2. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ART. 951)
37
4.2.1. Dirimentes da responsabilidade
38
4.3. DIFICULDADE PROBATÓRIA
39
4.3.1. Ônus da prova
39
4.3.2. Presunção relativa de culpa
40
4.3.3. Violação do dever de informar e a responsabilidade civil
42
CONCLUSÃO
45
REFERÊNCIAS
48
4
INTRODUÇÃO
A relação médico-paciente sofreu profundas transformações no último
século. Até então, o médico era visto como um ser acima da lei e do paciente, razão pela
qual não se encontrava submetido a qualquer limite no momento de proceder a uma
intervenção.
Diante das denúncias de abusos praticados por estes profissionais, começou
a ser desenvolvida a consciência acerca da necessidade de se impor limites éticos à sua
atuação.
A partir de então, começaram a ser desenvolvidas idéias, noções, com o
intuito de estabelecer uma ponte entre os valores éticos e os fatos biológicos. Verificou-se
ser necessário submeter o médico aos princípios e exigências albergados pela sociedade e,
conseqüentemente, pelo ordenamento jurídico, responsabilizando-o nas hipóteses de
violação.
Diante disso, fundamental papel passou a ser desempenhado pelo princípio
do respeito à autonomia do paciente, bem como pelo dever de obtenção do consentimento
informado, que serão analisados e desenvolvidos no presente trabalho.
Por outro lado, a responsabilidade civil, acompanhando as transformações
vividas pela sociedade contemporânea, também sofreu profundas modificações, o que
representou verdadeira mudança de paradigmas e passou a influir diretamente na relação
entre as ciências biomédicas e os pacientes.
O presente trabalho tem como objetivo analisar a natureza da
responsabilidade civil do médico, em especial, nas hipóteses de violação ao dever de
obtenção do consentimento.
O descumprimento do dever de obtenção do consentimento produz
importantes conseqüências no âmbito da responsabilidade civil. Serão objeto de análise tais
conseqüências, bem como o papel a ser desempenhado pelos tribunais no processo de
apuração da responsabilidade médico, uma vez que a dificuldade em se demonstrar a culpa
do médico não pode ser utilizada como um escudo intransponível, que impeça a obtenção
da justa indenização.
5
CAPÍTULO 1 – NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTONOMIA
1.1. Bioética: origem e relação com a atividade médica
A bioética surgiu em decorrência da constatação da necessidade de se
realizar uma vigilância ética, permeada por valores morais, através da ligação entre a
biologia e a ética, uma vez que o grande desenvolvimento tecnológico contribuiu para o
surgimento de novos dilemas morais, especialmente no âmbito da biologia.
A obra de Van Resselaer Potter1, publicada em 1971, é reconhecida como
marco histórico para a genealogia da disciplina. Potter estava preocupado com a
sobrevivência ecológica do planeta e com a democratização do conhecimento científico.
Por essa razão, defendeu a necessidade de se estabelecer uma ponte entre os
valores éticos (característicos do saber humanista) e os fatos biológicos, sob pena de se pôr
em risco a sobrevivência da vida na terra.
Assim, a bioética surge para unir os valores éticos e os fatos biológicos, a
fim de assegurar a sobrevivência de todo o ecossistema. Dessa forma, busca-se superar a
tendência pragmática do mundo moderno de aplicar o saber sem analisar o aspecto moral
da sua intervenção na vida.
Dentre os problemas que se destacaram no âmbito da bioética e que
desempenharam um papel decisivo na sua criação e desenvolvimento, encontra-se a questão
da relação entre médico e paciente.
Albert Jonsen fixa três acontecimentos que contribuíram para a consolidação
da disciplina: a denúncia da Jornalista Shana Alexander sobre pesquisas com seres
humanos sem que fosse obtido o consentimento de quem a elas foi submetido; a denúncia
do médico Henry Bacher acerca de pesquisas científicas com seres humanos pouco
respeitosas; a reação da opinião pública após a notícia do primeiro transplante de coração
de uma pessoa quase morta a um doente cardíaco2.
Aos poucos, foi sendo desenvolvida a consciência no sentido da necessidade
de formação de um discurso crítico no que toca à pesquisa científica. Começaram a surgir
dúvidas sobre os métodos utilizados na experimentação humana.
1
2
Bioethics: Bridge to the future. New Jersey: Prentice-Hall, 1971.
DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce.O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002, p. 14.
6
Até então, não havia limites bem definidos acerca da intervenção médica em
seres humanos. Diante da divulgação das práticas médicas da época, houve um declínio na
confiança nos médicos da família e nos seus princípios morais, fundados na ética da
confidência (ética à beira do leito). A bioética foi se desenvolvendo como uma instância
mediadora dos conflitos morais.
Diante das denúncias relacionadas às pesquisas com seres humanos e suas
repercussões, foi criado nos Estados Unidos um comitê denominado “Comissão Nacional
para a Proteção de Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e Comportamental” que, após
quatro anos de estudo, elaborou um documento que ficou conhecido como Relatório
Belmont.
Nesse relatório, foram eleitos três princípios éticos que, segundo os seus
autores, pertenciam à história moral do ocidente:
O princípio do respeito à pessoa, segundo o qual o indivíduo deve ser tratado
como agente autônomo e as pessoas com a autonomia reduzida devem ser protegidas de
abusos.
O princípio da beneficência, que significa o compromisso do pesquisador de
assegurar o bem estar das pessoas envolvidas com o experimento.
O princípio da justiça como reconhecimento da existência de necessidades
diferentes para defesa de interesses iguais.
O Relatório Belmont representou verdadeiro divisor de águas nos estudos da
ética aplicada.
Nos anos 1970, deu-se início à era acadêmica da bioética, a partir da
publicação dos primeiros livros e artigos sobre o tema. O precursor de uma série de estudos
sobre o tema foi o livro “Problemas Morais na Medicina” de Samuel Gorovitz.
1.1.2. A Teoria Principialista
A consolidação da força teórica da bioética somente veio a ocorrer com a
publicação da obra “Princípio da Ética Biomédica” do filósofo Tom Beauchamp e do
teólogo James Childress, que defendiam a idéia de que os conflitos morais poderiam ser
solucionados mediante a utilização de princípios éticos.
7
Foram eleitos quatro princípios éticos: autonomia (antes chamado de
respeito às pessoas), beneficência, não-maleficência e justiça. A adoção do princípio da não
maleficência e a substituição do princípio do respeito às pessoas pelo da autonomia
representaram mudanças de forte impacto para a bioética dos anos 1970.
A partir deste livro, a teoria principialista manteve-se como teoria dominante
por quase duas décadas.
A obra já retratava o caráter multidisciplinar da bioética e apontava a
falência da autoridade técnica no campo ético. O livro tinha como objetivo permitir uma
análise sistemática dos princípios morais que deveriam nortear a mediação de dilemas
relacionados à prática biomédica.
A partir de então, o debate sobre a autonomia tornou-se ponto chave para a
bioética. O consentimento informado foi a forma encontrada para que se pudesse garantir
os interesses e a proteção ao paciente.
1.1.3 As primeiras perspectivas críticas
1.1.3.1. Os limites da Teoria Principialista
Para Clouser e Gert “Princípios da Ética Biomédica”, a obra de Beauchamp
e Childress consistiu numa compilação grosseira de quatro grandes teorias da filosofia
moral em quatro princípios: a autonomia de Immanuel Kant, a beneficência de Jonh Stuart
Mill, a não-maleficência da tradição hipocrática e a justiça de Jonh Rawls3.
Não haveria, portanto, uma teoria moral que unisse os princípios. Não existia
uma hierarquia ou prioridades que determinassem qual princípio deveria predominar.
Entretanto, o que se verificou foi o predomínio do princípio da autonomia sobre os outros
três.
A segunda crítica referia-se à incapacidade dos princípios para orientar o
agente na tomada de decisões, diante de um conflito entre os quatros princípios
norteadores. Por outro lado, a interdependência social dos indivíduos e suas atitudes
solidárias na sociedade foram desconsideradas.
3
CLOUSER, K. Danner & GERT, Bernard. A critique of principialism. The Journal of Medicine and
Philosophy. N. 15, 1990, p.219-223 apud Débora Diniz; Dirce Guilhem. O que é bioética. São Paulo:
Brasiliense, 2002, p. 35.
8
Ademais, os limites mal definidos entre os princípios da beneficência e da
não-maleficência dificultam a definição de qual deles deve ser utilizado.
A aplicabilidade do princípio da justiça é bastante limitada, não obstante a
sua grande importância. Isso ocorre devido à dificuldade em se estabelecer o que é
necessário para a sociedade e simultaneamente adequado aos interesses individuais.
Ademais, o indivíduo idealizado pela teoria principialista como um sujeito
livre de hierarquias e opressão social inexiste no mundo real.
Por fim, a falência universalista da teoria principialista pôde ser verificada
diante da impossibilidade de aplicá-la às inúmeras nações do planeta, devido às grandes
divergências culturais existentes entre elas.
1.4. Crise do patriarcalismo e a proposta de superação
Para que possam ser compreendidas as atuais discussões e as diferentes
tendências da bioética, é necessário conhecer a evolução histórica do tema. Destacam-se
neste processo de evolução quatro etapas: a) a ética médica hipocrática; b) a moral médica
de inspiração teológica; c) a contribuição da filosofia moderna; d) a reflexão sobre os
direitos do homem na Europa pós-guerra.
O juramento de Hipócrates exerceu fundamental papel durante a
Antiguidade, uma vez que representava a própria cultura do seu tempo. Na época, a
profissão médica encontrava-se acima da lei, que era destinada apenas para os cidadãos
comuns.
A medicina tinha um aspecto transcendente, revestindo-se de forte caráter
sagrado. O pensamento hipocrático deu fundamento ao que hoje se denomina de
“paternalismo médico”. A idéia central consistia na afirmação de que se o médico tem
como função agir sempre para o bem do paciente, então o que ele prescreve não tem
necessidade de outras confirmações, nem sequer do consentimento daquele que necessita
dos cuidados médicos.
O juramento de Hipócrates fundamenta a moralidade do ato médico no
princípio do benefício e do não-malefício, ou seja, o médico deve agir sempre buscando o
bem-estar do paciente. Por ser esse o ethos do médico, não haveria necessidade de se
9
confirmar o que ele prescreve. O médico seria o guarda inapelável do paciente, acima da lei
e de qualquer suspeita.
Assim, a classe médica era considerada uma categoria acima da lei. A
profissão médica seria guiada por uma “moral forte”, que se expressava através do sentido
religioso do juramento.
O médico era visto como o guarda inapelável de uma moralidade fundada no
princípio sagrado do bem do paciente, por essa razão encontrava-se acima da lei e de
qualquer suspeita.
Com o surgimento do princípio da autonomia, do liberalismo ético e da
formulação dos direitos do homem e do cidadão, desenvolveu-se um “antipaternalismo
ético”, sem que com isso se anulasse o princípio de benefício como forma de validade do
ato e garantia, tanto para a autonomia do paciente como para a do médico.
Vale ressaltar, portanto, que a bioética atual remonta aos princípios do
benefício e do não-malefício, autonomia e justiça, cuja tradição histórica percorre toda a
evolução do pensamento ocidental.
O cristianismo acolheu e introduziu novos valores à ética hipocrática, tanto
através do ensino como da práxis assistencial. Dentre as contribuições, encontra-se a
elaboração do conceito de pessoa humana segundo a concepção teológica. A Igreja Católica
e a comunidade cristã passaram a se encarregar da saúde pública como um dever de
fraternidade e confirmação da autenticidade da mensagem.
O médico deixa de ser visto como um personagem acima da lei moral e
passa a ser entendido como um servidor dos sofredores. Em nome dessa teologia a igreja
começa a desenvolver uma moral que defende a sacralidade e a inviolabilidade da vida de
toda criatura humana, condenando o aborto, a eutanásia e as mutilações.
Os pronunciamentos da igreja acerca do assunto adquiriram bastante
relevância, não podendo o médico ignorá-las, seja em razão da sua crença, seja em razão da
obediência religiosa do paciente ou, até mesmo, em razão da objetividade sobre a qual se
funda a norma moral. As demais confissões religiosas também deram suas orientações aos
seus fiéis.
Após o processo de Nuremberg, quando o mudo conheceu as atrocidades
perpetradas contra os prisioneiros pelos nazistas, com a colaboração dos médicos, fora
10
constatado quantos crimes podem ser cometidos pelo poder absoluto, desvinculado de
valores morais.
Surgiu, então, uma vertente laica, de natureza jurídica e deontológica de
grande importância que, para alguns, coincidiu com o nascimento da bioética: a formulação
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e a aprovação dos “Códigos de
Deontologia Médica”.
Dentre as principais contribuições da corrente laica da bioética, destaca-se a
valorização do princípio da autonomia.
1.3. Conceito de autonomia
A palavra autonomia deriva do grego autos (“próprio”) e nomos (“regra”,
“governo”, “lei”)4 e foi inicialmente empregada para designar à autogestão ou o
autogoverno das cidades-estados independentes gregas.
A partir de então, passou a assumir diversos significados, tais como o de
autogoverno, direitos de liberdade, privacidade, escolha individual, liberdade de vontade,
de modo que não se trata de conceito unívoco.
É essencial ao conceito de autonomia pessoal - enquanto distinto daquele
referente ao autogoverno político - a noção de governo pessoal do “eu”, livre de
interferências controladoras por parte de outros e de limitações pessoais que obstam a
escolha expressiva da intenção, tais como a compreensão inadequada.5
Mesmo as pessoas capazes de governar falham em governar a si mesmas, em
razão de restrições temporárias impostas por doenças, pela depressão, por ignorância ou por
condições que restringem as opções.
Praticamente todas as teorias apontam duas condições como essenciais ao
conceito de autonomia: a) a liberdade, entendida como a independência de influências
controladoras; b) a qualidade do agente, ou seja, a capacidade de agir intencionalmente.
Uma ação pode ser considerada autônoma se o agente atuou de forma
intencional, com entendimento e sem influências controladoras que determinem sua ação.
4
5
BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. Princípios da ética biomédica. Loyola, 2002, p. 137.
Op. cit., p. 138.
11
Em relação ao agir de forma intencional, não há variação de grau. O agente
age de forma intencional ou não-intencional. Não há meio-termo.
Todavia, em relação às condições de entendimento e à ausência de
influências controladoras, não se pode exigir que sejam verificadas de forma absoluta para
que se possa reconhecer determinado sujeito como autônomo. Estas duas condições podem
ser satisfeitas de um modo mais ou menos completo.
As ações podem ter diferentes graus de autonomia, de acordo com os
diferentes graus de satisfação destas duas condições. Para que se possa considerar uma ação
autônoma, exige-se apenas um grau substancial de entendimento e de liberdade de alguma
coação.
Os pacientes, por exemplo, não tomam decisões inteiramente autônomas,
pois dificilmente poderão compreender todas as conseqüências possíveis de uma
intervenção médica. Ademais, não estarão jamais completamente livres de influências
externas controladoras, em razão da própria situação de vulnerabilidade em que se
encontram.
Vale ressaltar, ainda, que não há incompatibilidade entre autonomia e
autoridade, pois o indivíduo pode exercer sua autonomia ao decidir se submeter à
autoridade de uma instituição, tradição ou comunidade que considere fonte legítima de
direcionamento.
A moralidade não é um conjunto de regras criadas por indivíduos isolados na
comunidade. O fato de partilhamos princípios morais não impede que eles sejam princípios
pessoais do indivíduo. A vida comunitária e os relacionamentos humanos são
indispensáveis para o desenvolvimento de cada ser humano.
1.4. O princípio do respeito à autonomia
Respeitar a autonomia de outrem significa reconhecer o direito dessa pessoa
de ter suas opiniões, de fazer suas escolhas e de agir com base em valores e crenças
pessoais.
Para tanto, não basta apenas respeitar a obrigação de não intervir nas
decisões das pessoas, mas também sustentar as capacidades das mesmas para escolher
autonomamente, diminuindo seus temores e outras condições que arruínem a autonomia.
12
O respeito à autonomia exige que se trate a pessoa de forma a capacitá-la a
agir autonomamente, enquanto que o desrespeito envolve atitudes que ignoram, insultam ou
degradam a autonomia e negam uma igualdade mínima entre as pessoas. Violar a
autonomia de uma pessoa é tratá-la como meio, como instrumento de satisfação de
objetivos de outros, deixando de considerar os objetivos da própria pessoa.
O referido princípio, em sua forma negativa, consiste em não sujeitar as
ações autônomas a pressões controladoras de outros. Esse princípio encontrará limites em
considerações morais concorrentes.
Um exemplo de limitação ocorre quando o exercício da autonomia ameaça a
saúde pública, prejudicando inocentes. Neste caso, terceiros podem restringir o exercício da
autonomia de alguém.
Sendo assim, verifica-se que não se pode conceder um valor absoluto ao
princípio do respeito à autonomia, tendo em vista que ele não é o único imperativo moral.
Não pode, portanto, ser entendido como a única fonte das obrigações e dos direitos morais.
Na ética biomédica, por exemplo, o respeito à autonomia é menos
importante do que as manifestações de beneficência e compaixão, traduzidas na busca pela
preservação da capacidade de autonomia e de condições de vida com significado.
Por outro lado, o mencionado princípio possui exigência positivas,
representadas pelas obrigações positivas de tratamento respeitoso na revelação de
informações e de encorajamento na tomada de decisões autônomas.
O respeito à autonomia exige que os profissionais informem adequadamente,
verifiquem e se assegurem quanto ao esclarecimento e a voluntariedade e encorajem a
tomada da decisão adequada.
Respeitar a autonomia inclui encorajar o outro para que ele manifeste sua
opinião acerca dos próprios interesses. O princípio não se aplica às pessoas que não podem
agir de forma suficientemente autônoma, bem como àquelas que não podem se tornar
autônomas.
Muitas ações autônomas não poderiam ocorrer sem a cooperação material de
outros que tornem as opções acessíveis. Isso pode ser constatado no dever do médico de
informar o paciente a fim de obter o consentimento quanto a uma determinada intervenção.
13
Somente mediante o cumprimento de tal mister pelo médico - o que
representa uma cooperação material – permitirá ao paciente decidir de forma autônoma.
Existe na medicina a tentação de usar a autoridade do papel de médico para
fomentar ou perpetuar a dependência dos pacientes, ao invés de promover sua autonomia.
Trata-se de resquícios da medicina paternalista, ainda utilizada por muitos profissionais
como meio de se proteger, a fim de afastar uma futura responsabilização no âmbito civil ou
criminal.
O paradigma do respeito à autonomia na saúde, na política e em outros
contextos é o consentimento informado e expresso. Ele legitima formas de autoridade e
condutas que em sua ausência seriam ilegítimas.
Todavia, o princípio pode ser utilizado de forma injustificada mediante
ficções de consentimento enganosas e perigosas. Exemplo característico é a adoção do
consentimento presumido ou tácito no que diz respeito à doação de órgãos. Se não há
evidência do consentimento do falecido, a retirada do órgão consiste em expropriação do
órgão.
1.5. A capacidade
A capacidade para decidir está intrinsecamente ligada à autonomia na
tomada de decisões e às questões sobre a validade do consentimento.
Na área da saúde, os julgamentos sobre capacidade distinguem os indivíduos
cujas decisões autônomas devem ser respeitadas daqueles em que as mesmas precisam ser
checadas ou suplantadas por um representante.
Uma decisão capaz é aquela pela qual a pessoa pode ser considerada
responsável.
1.5.1. O conceito de capacidade
A medicina, a lei, a psiquiatria e a filosofia possuem diferentes concepções
acerca do termo capacidade e das habilidades que as pessoas devem ter para serem
consideradas capazes. Entretanto, nos vários contextos em que é utilizada, a capacidade
significa a liberdade de realizar uma tarefa.
14
A capacidade para decidir é relativa e depende da decisão particular a ser
tomada. Raramente se julga uma pessoa incapaz com respeito a todas as esferas da sua
vida. A capacidade deve ser entendida como algo específico e não como algo global.
A lei presumiu que a pessoa incapaz de administrar suas posses é também
incapaz de votar, tomar decisões médicas, casar, etc. Essas leis têm como objetivo proteger
a propriedade e não as pessoas e, portanto, não são apropriadas para decisões médicas.
Abaixo, segue um conceito de capacidade aplicável às decisões médicas:
“Um paciente ou sujeito é capaz de tomar uma decisão caso possua capacidade de
entender a informação material, fazer um julgamento da informação à luz dos
seus próprios valores, visar um resultado determinado e comunicar livremente o
seu desejo àqueles que o tratam ou que procuram saber qual a sua vontade.”6
Não obstante nem todos os indivíduos incapazes serem igualmente inábeis e,
nem todos os capazes igualmente hábeis, a função desempenhada pela capacidade exige
que se classifiquem as pessoas numa das duas classes: capazes ou incapazes. O propósito é
dividir as pessoas em classes e não estabelecer uma hierarquia com base no grau de
habilidades que cada uma possui.
A partir desta divisão, será possível determinar se, diante da necessidade de
uma intervenção médica, um indivíduo é capaz de tomar uma decisão, ou seja, de consentir
validamente.
O fato de não obter o consentimento do paciente ou de quem o represente
viola o princípio do respeito à autonomia e permite que o profissional médico venha a ser
responsabilizado, no âmbito cível ou criminal, pelos danos causados.
Os graus de capacidade variam de acordo com a complexidade da
intervenção e a relação com o perfil do paciente.
A capacidade deverá ser aferida no caso concreto. Na hipótese de urgência
da intervenção médica e, diante da impossibilidade de se aferir a vontade do paciente,
deverá ser levado em conta a idéia de se atender aos melhores interesses do paciente, ou
6
BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. op.cit. p. 154.
15
seja, o médico deverá intervir caso a atuação traga um benefício maior ao paciente do que a
não-intervenção.
Esta questão será abordada com maior profundidade no capítulo seguinte.
16
CAPÍTULO 2 – DO DEVER DE INFORMAR
2.1. O consentimento informado. Definição
A expressão consentimento informado pode ser compreendida de duas
formas.
No primeiro sentido, a expressão pode ser entendida como uma autorização
autônoma, dada por indivíduos para que seja realizada uma intervenção médica ou um
envolvimento numa pesquisa.
Neste sentido, a pessoa deve expressar mais do que uma mera concordância
ou anuência a uma proposta. Ela deve autorizar por meio de um ato de consentimento
informado e voluntário.
Para tanto, é necessário ter havido um entendimento substancial por parte do
paciente e que ele não esteja submetido a um controle por parte de terceiros, para, assim,
poder autorizar intencionalmente um profissional a proceder a uma intervenção.
No segundo sentido, o consentimento informado é analisado sob a
perspectiva das regras sociais de consentimento existentes nas instituições que precisam
obtê-lo, antes de realizar os procedimentos terapêuticos ou a própria pesquisa. Neste caso, o
consentimento informado refere-se apenas a autorizações que sejam efetivas sob o aspecto
legal ou institucional.
Ambos os sentidos se complementam. Faz-se necessário evitar que se
estabeleça um hiato entre eles. O consentimento informado deve ser obtido após um
entendimento substancial das informações fornecidas, desde que não haja um controle por
parte de terceiros e sejam atendidas as exigências legais e institucionais.
Trata-se, portanto, de processo dialógico em que são trocadas informações
recíprocas, com o intuito de se chegar a um entendimento quanto à atuação do profissional
médico, voltada para prevenir, detectar, curar doenças, ou para que se proceda a uma
experimentação.
2.2. Elementos do consentimento informado
Os componentes analíticos do consentimento informado são os seguintes: 1)
competência; 2) revelação; 3) entendimento; 4) voluntariedade e 5) consentimento.7
7
BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. op.cit. p. 166
17
Para que um indivíduo manifeste seu consentimento informado, é necessário
que seja capaz de agir, que receba uma exposição completa, a entenda, atue
voluntariamente e consinta na intervenção.
Vale ressaltar que a revelação é apenas um dos elementos do consentimento
informado, apesar de as convenções médicas a terem transformado no item principal.
Muitas vezes a revelação da informação é menos vital na medicina clínica do que a
recomendação de um profissional para que se realize uma ou mais ações.
A constatação de uma enfermidade grave será inócua se não vier
acompanhada de recomendações acerca do tratamento e das alternativas disponíveis para
curar o paciente.
Do ponto de vista moral, o consentimento informado está mais ligado às
escolhas autônomas dos pacientes e dos sujeitos da pesquisa do que às responsabilidades
dos profissionais como agentes de revelação. Há, na verdade, uma troca de informações
importantes entre os profissionais da área de saúde e os pacientes ou sujeitos da pesquisa.
Os pacientes e os sujeitos da pesquisa precisam entender pelo menos o que
um profissional de saúde acredita que eles devem entender e considerar importante, antes
de ser realizada a intervenção.
É essencial que sejam transmitidas informações acerca do diagnóstico, do
prognóstico, da natureza, do propósito da intervenção, bem como das alternativas
existentes, dos riscos envolvidos, benefícios e recomendações. Assim dispõe o Código de
Ética Médica, ao tratar da relação do médico com pacientes e familiares. 8
A voluntariedade significa a independência de uma pessoa em relação às
influências manipuladoras e coercitivas de outros. Uma pessoa age voluntariamente quando
quer a ação, sem que esteja sob controle de uma outra influência. Todavia, vale ressaltar
que nem toda influência é controladora. A opinião de um médico influenciará a decisão do
paciente, mas não poderá impor um determinado procedimento.
8
“É vedado ao médico:
(...)
Art. 59 - Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento,
salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação
ser feita ao seu responsável legal.” (Resolução n. 1246, de 26 de janeiro de 1988).
18
2.3. A justificação do consentimento informado
É indispensável que o paciente manifeste o seu consentimento informado e
esclarecido para legitimar a intervenção médica de diagnóstico ou terapêutica, exceto na
hipótese de iminente risco de vida, caso o paciente não possa manifestar o seu
consentimento - a exemplo do paciente inconsciente. Neste caso, o médico deverá agir para
salvá-lo.
O próprio Código de Ética Médica proíbe a realização de qualquer
procedimento sem o esclarecimento e o consentimento prévio do paciente ou do seu
representante legal, excetuando apenas a hipótese de iminente risco de vida.9
Na informação e esclarecimento devem estar incluídos os riscos possíveis,
bem como as conseqüências diretas e colaterais que possam ter significado para o paciente.
A doutrina do consentimento não deve funcionar para restringir a atuação
profissional do médico. Devem lhes ser asseguradas a liberdade e a independência no
exercício da profissão.
Liberdade significa não ser obrigado a praticar atos médicos que repudie. A
independência significa uma atuação técnica responsável e respeitadora das normas gerais
da profissão, mas autônoma, em relação à escolha da ação, dos meios e da oportunidade.
A liberdade para escolher os meios de diagnóstico e tratamento não se
confunde com arbitrariedade. Deve ser averiguado se a conduta médica foi, no caso
concreto, aquela que seria adotada pelos meios médicos.
Entretanto, a vontade do paciente deve merecer a atenção daquele
profissional. Deve ser ponderada a escolha do paciente por determinado tipo de
intervenção, bem como a decisão de querer se submeter à intervenção.
O Código de Ética Médica proíbe que o médico desrespeite o direito do
paciente de decidir acerca da execução de práticas diagnósticas e terapêuticas e apenas
ressalva a hipótese de iminente risco de vida.10
9
“É vedado ao médico:
Art. 46 - Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente
ou de seu responsável legal, salvo em iminente perigo de vida.” (Resolução n. 1246, de 26 de janeiro de
1988).
10
“É vedado ao médico:
Art. 56 - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou
terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.” (Resolução n. 1246, de 26 de janeiro de 1988).
19
São inquestionáveis tanto a independência dos médicos, no que se refere à
tomada de decisões profissionais, quanto a autonomia do paciente para exigir que as
intervenções médicas ocorram em harmonia com a sua vontade.
O paciente poderá escolher a intervenção que se lhe mostrar mais
conveniente, ainda que não seja a mais adequada tecnicamente.
Em matéria e saúde, havendo conflito entre interesse individual e coletivo,
deve o primeiro prevalecer, salvo nas hipóteses de grave risco à saúde pública, a exemplo
do tratamento de doenças capazes de causar epidemias, quando o médico estará obrigado a
atuar, independentemente do consentimento do paciente.
Caso o médico não informe o paciente sobre os pressupostos do tipo de
intervenção, suas seqüelas prováveis e os respectivos riscos, o consentimento dado pelo
paciente não terá sido esclarecido e, conseqüentemente, terá sido viciado pela falta ou
insuficiência da informação.
Para que se possa verificar o cumprimento do dever de informar o paciente,
a fim de obter um consentimento válido, será indispensável a análise do caso concreto.
É necessário também que seja apurada a capacidade do paciente de perceber
e entender as informações e as relacionar com a decisão a ser solicitada, ou seja, é
necessário que o médico dê relevo à autonomia do paciente.
O distanciamento da relação entre médico e paciente pode causar
dificuldades para a obtenção de um consentimento livre, informado e esclarecido, caso não
haja um esforço permanente, com o intuito de assegurar o cumprimento desta obrigação.
2.4. Extensão do dever de informar
A regulamentação da atividade médica não pode representar um obstáculo
ao desempenho da sua atividade essencial, consistente em curar, evitar ou diminuir o
sofrimento. Ao contrário, deverá servir para apoiar e encaminhar o médico nesta direção.
A regulamentação jurídica da atividade médica tem por objetivo proteger
valores como a vida, a liberdade, a integridade físico-psíquica e a dignidade. Sendo assim,
não é possível afastar a regulamentação jurídica do âmbito da medicina.
20
Entretanto, não é possível que o Direito possa exigir do médico mais do que
o respeito a um comportamento ético e técnico irrepreensível, ou seja, exigir o respeito pela
leges artis. Cabe ao Direito fiscalizar o cumprimento do dever de cuidado.
A tutela do Direito, ao impor responsabilidades ao exercício da Medicina, é
fundamental e se inicia pela exigência de intervenção desta quando se verifique um
condicionamento físico-psíquico que o provoque. A obrigação de atuar do médico poderá
ser juridicamente exigível e a sua recusa de auxílio censurável.
2.5. Forma e prova do consentimento
O consentimento pode ser presumido ou expresso. Há consentimento
presumido quando é possível supor que o titular do interesse teria eficazmente consentido
no fato, se conhecesse as circunstâncias em que é praticado. Equipara-se ao consentimento
efetivo.
O consentimento expresso engloba o consentimento oral, que poderá ainda
ser testemunhado ou confirmado, e o consentimento escrito em documento, por escrito do
paciente, escrito por testemunho de terceiro, ou obtido por outros meios de registro, a
exemplo da gravação da imagem e da voz.
A declaração de vontade pode ser feita validamente por quaisquer meios que
correspondam à noção de comportamento declarativo, mas é possível apontar uma escala
progressiva de eficácia.
No ordenamento jurídico português, a regra geral quanto à forma de
prestação do consentimento informado e esclarecido, no que se refere à generalidade dos
atos médicos, é a consensualidade, ou seja, admite-se que o consentimento possa ser
prestado por qualquer meio.
Entretanto, existe um rol de casos tipificados em que o consentimento deverá
respeitar determinados cânones.
São exemplos de procedimentos que exigem a manifestação do
consentimento por escrito no ordenamento português: a) as técnicas invasivas e os testes de
biologia molecular para diagnóstico pré-natal; b) a cessação voluntária da gravidez, quando
21
permitida; c) a esterilização voluntária, permitida apenas aos maiores de 25 anos (salvo
para fins terapêuticos); d) a participação em ensaios clínicos, dentre outros11.
No Brasil, a regra também é a consensualidade.
Nos casos em que a exigência da documentação é mais do que mero meio de
prova da lei, ou seja, em que é condição de eficácia da declaração, haverá negligência da
atuação médica que despreza os pressupostos formais da prestação de informação ou do
consentimento do paciente.
A ausência de consentimento ou o consentimento deficientemente prestado
por falta ou incorreção de informação ou esclarecimento implicam que o ato médico seja
configurado como não autorizado. Nestes casos, a prova da atuação arbitrária do agente
médico caberá ao paciente. É inegável que haveria uma absurda burocratização, caso fosse
estendida a todos os atos médicos a exigência de um consentimento prestado por escrito.
Se as minutas dos documentos forem encaradas como simples modelos
normalizados, voltados para atender as exigências burocráticas das instituições hospitalares,
o dever de esclarecimento não estará sendo cumprido e o consentimento, nestes casos, não
será válido.
No caso do consentimento reduzido a termo escrito, deverá sempre ser
entregue uma cópia ao paciente ou a quem este indique.
O autor João Vaz Rodrigues propõe como solução conciliatória entre a
ampliação da obrigatoriedade do consentimento escrito e o consentimento consensual, a
exigência de que o médico deva consignar no processo clínico do paciente sucessivas
sínteses das informações progressivamente fornecidas, que lhe será entregue para que possa
rubricar12.
Essa forma se coadunaria com o acompanhamento do paciente pela junta
médica e seria viável pela evidente simplicidade do procedimento. Entretanto, o autor
ressalta a possibilidade de virem a ser encontradas outras soluções que ele não tenha
percebido.
11
RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico
português. Coimbra: Ed. Coimbra, 2001, p.428/430.
12
Op.cit. , p.455.
22
2.5.1 A não-revelação intencional
A regra do consentimento informado admite exceções que permitem ao
profissional da área de saúde proceder sem o consentimento do paciente, a exemplo dos
casos de emergência, incapacidade ou renúncia.
Não obstante existirem controvérsias a respeito, o privilégio terapêutico é
considerado uma dessas exceções. Sua ocorrência se dá quando o médico acredita que
divulgar a informação seria bastante prejudicial a um paciente que se encontra deprimido,
emocionalmente esgotado ou instável.
Os defensores desta prática argumentam que informar determinados
pacientes poderia gerar inúmeros efeitos prejudiciais, a exemplo de ansiedade, estresse, a
motivação de decisões irracionais ou a ameaça à própria vida.
Entretanto, evidências empíricas indicam que os efeitos negativos apontados
pelos médicos não se concretizam.13 Por essa razão, somente poderá ser o descumprido o
dever de informar em hipóteses excepcionais, quando for evidente o prejuízo que o
conhecimento do seu estado causará ao paciente.
Essa conduta é admitida pelo Código de Ética Médica, como exceções, nos
arts. 59 e 70.14
2.5.2. A decisão substituta
Decisores substitutos são aqueles que tomam decisões por pacientes nãoautônomos ou cuja autonomia é incerta.
Kimberly A. Quid et al., “Informed Consent for a Precription Drug: Impact of Disclosed Information on
Patient Understanding and Medical Outcomes”, Patient Education and Counselling, 15 (1990): 249-59, apud
Tom Beauchamp e James Childress. Princípios da ética biomédica, p. 173.
14
“É vedado ao médico:
(...)
Art. 59 - Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento,
salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação
ser feita ao seu responsável legal.
(...)
Art. 70 - Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar
explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros. ”
(Resolução n. 1246, de 26 de janeiro de 1988).
13
23
2.5.3. Modelos de decisão substituta
Existem três modelos que podem ser utilizados pelos decisores substitutos: o
do julgamento substituto; o da pura autonomia e o dos melhores interesses do paciente.
2.5.3.1. Modelo do julgamento substituto
O modelo do julgamento substituto parte da premissa de que as decisões
sobre tratamentos pertencem propriamente ao paciente incapaz ou não autônomo, em
virtude dos direitos à autonomia e à vontade. O paciente tem direito à decidir, mas é
incapaz de exercê-lo15. Para decidir, o substituto deve buscar tomar a decisão que o incapaz
tomaria.
Este modelo deve ser utilizado apenas para os casos em que o paciente foi
um dia capaz e caso haja razões para crer que é possível decidir consoante o que o paciente
desejaria que fosse feito.
Para tanto, é preciso que o decisor substituto tenha tido uma relação bastante
íntima com o paciente. O aludido modelo não se aplica ao paciente que nunca foi capaz,
pois sua autonomia nunca fora envolvida.
Em verdade, este modelo desemboca no modelo da pura autonomia, que
busca respeitar as decisões autônomas anteriores dos pacientes.
2.5.3.2. Modelo da pura autonomia
O modelo da pura autonomia aplica-se exclusivamente a pacientes que já
foram autônomos e expressaram uma decisão autônoma ou uma preferência relevante.
Essa decisão pode ter sido manifestada por um documento escrito, ou por
uma diretriz dada a um membro da família, a um amigo ou profissional, através da análise
de suas crenças ou dogmas religiosos ou pelo seu padrão de conduta.
Neste modelo, surge o problema da confiabilidade da manifestação de
vontade e de como o substituto poderia interpretar ou escolher os valores do paciente. O
substituto poderia escolher de forma seletiva os valores do paciente que estivessem de
acordo com seus próprios valores.
15
BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. Princípios da ética biomédica. Loyola, 2002 .
24
Por outro lado, pode não haver certeza acerca da capacidade do paciente no
momento em que expressou a decisão ou até mesmo se expressou preferências relevantes.
Para que se possa solucionar esse conflito deve-se aplicar o modelo da pura
autonomia apenas aos pacientes que manifestaram autonomamente suas preferências de
forma inequívoca.
Quando a pessoa incapaz não deixou traços confiáveis acerca dos seus
desejos, os decisores substitutos devem aderir ao modelo dos melhores interesses.
2.5.3.3. Modelo dos melhores interesses do paciente
O modelo dos melhores interesses do paciente tem como objetivo proteger o
bem-estar de uma pessoa, avaliando os riscos e benefícios dos vários tratamentos e das
alternativas disponíveis.
O decisor substituto deve escolher dentre as alternativas que propiciem o
maior benefício ao paciente, analisando os riscos e custos inerentes a cada uma. Trata-se do
modelo mais apropriado para os pacientes que nunca foram capazes ou cujas preferências
não podem ser determinadas de maneira confiável.
Os julgamentos sobre os melhores interesses devem se concentrar em fatores
tangíveis, como o sofrimento físico e o diagnóstico do médico. Portanto, os modelos do
julgamento substituto e da pura autonomia se identificam, na medida em que buscam o
respeito à decisão do paciente.
Em princípio, o modelo da pura autonomia do paciente deve ser respeitado,
caso ele tenha expressado autonomamente suas preferências na forma de uma diretriz de
ação. Na hipótese da pessoa não ter deixado traços confiáveis acerca dos seus desejos ou
não seja capaz de fazê-lo, os decisores substitutos devem aderir ao modelo dos melhores
interesses do paciente.
2.5.4. O menor amadurecido
Questão que tem sido atualmente debatida refere-se à necessidade de
respeito à opinião do menor capaz de entender a natureza e as conseqüências da intervenção
médica, bem como de tomar decisões independentes.
25
Entende-se que o critério baseado apenas no limite de idade é insuficiente,
uma vez que existem inúmeros modelos de capacidade fornecidos pela ciência psiquiátrica
e pela ciência neurológica.16
Diante deste quadro, os defensores da idéia propõem que seja analisado o
caso concreto.
Consoante anteriormente afirmado, os graus de capacidade variam consoante
a complexidade da intervenção e a relação com o perfil do paciente.
Em verdade, a idade não é sinônimo de maturidade. Trata-se de opção feita
pelo legislador, com o intuito de atender aos interesses de ordem geral, relativos às
segurança e estabilidade das relações jurídicas.
O ordenamento jurídico brasileiro concede uma série de direitos e deveres ao
menor. A Constituição garante ao maior de 16 anos o direito de votar. 17 Ademais, o Código
Civil prevê hipóteses em que o maior de dezesseis anos possa ser emancipado.18
Também o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura aos menores o
gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e reconhece, como
conseqüência do direito de liberdade, o direito de opinião e expressão; além da
inviolabilidade das integridades físicas, psíquicas e morais, dentre outros direitos.19
Por essa razão, tem-se entendido que deve ser respeitada a opinião do menor
amadurecido, inclusive quando houver recusa a se submeter a determinados tratamentos.
De fato, diante de um menor que seja capaz de entender as informações
prestadas pelo profissional médico e as relacionar com a decisão a ser solicitada, é
necessário que seja dado relevo à opinião deste paciente. Verificando-se haver capacidade
de entendimento e ponderação, deverá ser respeitada a vontade do menor amadurecido.
Deve, neste caso, o médico manter o processo dialógico de troca de
informações com o mesmo, a fim de que seja ponderada a escolha do paciente por
determinado tipo de intervenção.
Todavia, em se tratando de intervenção de caráter emergencial, quando a
mesma for indispensável para salvar a vida do menor, deverá o médico atuar, ainda que
16
RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento jurídico
português. Coimbra: Ed. Coimbra, 2001, p.200/201
17
Constituição Federal, art. 14, §1º, II, “c”.
18
Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, art. 5º, parágrafo único.
19
Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990.
26
contra a vontade do paciente, uma vez que o menor ainda não possui maturidade e
experiência de vida suficiente para rejeitar determinada intervenção médica, indispensável
à manutenção de sua vida.
Ademais, vale ressaltar que o Código de Ética Médica determina que se
proceda à intervenção médica sem que se obtenha o esclarecimento e o consentimento
prévios dos pacientes, na hipótese de iminente risco de vida, seja o indivíduo maior ou
menor de idade, consoante fora demonstrado anteriormente.20
20
Vide item 2.3.
27
CAPÍTULO 3 – A RESPONSABILIDADE CIVIL
3.1- Noções Gerais
Por ser o âmbito da responsabilidade civil um dos campos do Direito onde
se verifica com maior velocidade mudanças na interpretação doutrinária, jurisprudencial e
na
própria
legislação,
em
decorrência
das
constantes
transformações
sociais,
freqüentemente constata-se a necessidade de adaptação de suas normas às novas realidades
surgidas dos fatos da vida.
Nas palavras do eminente doutrinador Aguiar Dias21:
“Para realizar a finalidade primordial de restituição do prejudicado à situação
anterior, desfazendo, tanto quanto possível, os efeitos do dano sofrido, tem-se o
direito empenhado extremamente em todos os tempos. A responsabilidade civil é
reflexo da própria evolução do direito, é um dos seus mais acentuados
característicos.”
Em virtude da intensa velocidade das mudanças sociais, com reflexos no
âmbito do direito, especialmente no campo da responsabilidade civil, onde foram sentidos
de modo acentuado, maiores são as dificuldades na elaboração de conceitos e na definição
dos seus elementos essenciais.
Relevante o papel da doutrina, uma vez que necessita adequar o instituto à
nova realidade, contribuindo para seu aperfeiçoamento e evolução. Importante frisar que,
pelas razões acima expostas, não há que se falar em conceitos universais e atemporais,
especialmente no âmbito da responsabilidade civil, sob pena de torná-los anacrônicos.
A responsabilidade consiste na obrigação legalmente imposta ao indivíduo
de assumir ou responder pelas conseqüências de determinados atos, comissivos ou
omissivos, oriundos de sua conduta. No âmbito específico do Direito, vinga o princípio,
consagrado por Ulpiano na máxima neminem laedere22, de que não se deve lesar a
ninguém.
21
DIAS, Aguiar. Da responsabilidade civil. 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense 1987, v. 1, p.18.
Digesto, Livro IX, Tít. II apud SILVA, Wilson Mello da. Responsabilidade sem culpa e socialização do
risco. Belo Horizonte: Ed. Bernardo Alvares, 1962, p.46.
22
28
A doutrina costuma classificar o dever genérico de não lesionar direitos de
outrem como dever jurídico originário, do qual decorre a responsabilidade, visualizada, em
conseqüência, como um dever jurídico sucessivo e resultante do malferimento do primeiro.
Trata-se de conceito abrangente, aplicável não somente à esfera civil, objeto
do presente estudo, como aos demais campos do direito, a exemplo do Direito Penal, do
Direito Administrativo e do Direito Tributário.
Uma das peculiaridades da responsabilidade civil é que ela impõe a
reparação de danos provocados à esfera alheia, mas que também causam perturbação social.
Nesta seara, todavia, o transtorno social aparece em dimensão menos significativa do que
aquele considerado na esfera do ilícito penal.
Distingue-se um do outro, na verdade, tão somente pela diversidade de grau
(intensidade) do desequilíbrio social provocado pela violação do dever jurídico originário
que, consoante referido anteriormente, consiste na obrigação genérica de não lesar direitos
alheios.
A responsabilidade civil pressupõe a existência de violação a um interesse
privado, ou seja, a um interesse particular, submetendo o infrator ao dever de recompor o
patrimônio lesado ao status quo ante ou, quando isto for impossível, à compensação
pecuniária.
Nas palavras do eminente doutrinador Caio Mário da Silva Pereira23, da
conceituação da responsabilidade civil emerge a idéia de um sentimento social e humano
que sujeita o causador de um mal à obrigação de repará-lo. São suas as seguintes
afirmações:
“Como sentimento social, a ordem jurídica não se compadece com o fato de que
uma pessoa possa causar mal a outra pessoa. Vendo no agente um fator de
desequilíbrio, estende uma rede de punições com que procura atender às
exigências do ordenamento jurídico.
...
Como sentimento humano, além de social, à mesma ordem jurídica repugna que
o agente reste incólume em face do prejuízo individual. O lesado não se
23
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2000, p.11.
29
contenta com a punição social do ofensor. Nasce daí a idéia de reparação, como
estrutura de princípios de favorecimento à vítima e de instrumentos montados
para ressarcir o mal sofrido”.
Tem-se, assim, presente no conceito da responsabilidade civil, a idéia da
punição ao infrator, aliada ao caráter pedagógico da sanção. Igualmente, a responsabilidade
consiste numa forma de garantia à vítima, no sentido de que a mesma deverá ser ressarcida,
estimulando a idéia de solidariedade entre os membros de uma sociedade.
São elementos da responsabilidade civil, em geral, uma conduta, positiva ou
negativa do causador do dano, o delineamento deste e o nexo de causalidade entre aquela e
o dano ou prejuízo. Fica, assim, excluída a culpa como elemento ou pressuposto da
responsabilidade civil.24
O
próprio
Código
Civil
Brasileiro
de
1916,
que
consagrou,
preferencialmente a teoria clássica, fundada na culpa, admitia expressamente a
responsabilidade independentemente da existência deste elemento subjetivo, como
evidenciava o preceito contido no art. 1519 25, reforçando o entendimento no sentido de que
aquela não constitui elemento ou pressuposto da responsabilidade civil.
No entanto, a despeito da existência de disposições expressas no próprio
Código Civil de 1916 e em legislação extravagante (a exemplo do Decreto 2681/1912),
havia forte resistência doutrinária e jurisprudencial ao reconhecimento da responsabilidade
sem culpa, até porque, durante muito tempo, esta foi considerada um pressuposto daquela.
Todavia, com o advento do novo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002),
que reconhece, expressamente, a teoria objetiva, a orientação dos que consideram a culpa
um pressuposto necessário à configuração da responsabilidade civil ficou enfraquecida,
fortalecendo-se, por conseguinte, a noção de risco como uma de suas fontes, ao lado da
culpa.
24
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil (abrangendo o
código civil de 1916 e o novo código civil). São Paulo: Saraiva, 2003, 3 v, p.28.
25
“Art. 1529. Aquele que habitar uma casa, ou parte dela, responde pelo dano proveniente das coisas que dela
caírem ou forem lançadas em lugar indevido”.
30
3.2 –Teorias Explicativas Tradicionais: Subjetiva e Objetiva
A teoria da responsabilidade subjetiva, desde a sua origem, baseia-se no
princípio da autonomia da vontade, ou seja, cada indivíduo suportará as perdas e os ganhos
decorrentes da sua atividade, salvo se na origem do dano ocorrer uma culpa lato sensu. 26
Neste sentido, a culpa em sentido amplo abrange o dolo e a culpa em sentido
estrito. O dolo é a intenção deliberada de causar o dano e a culpa em sentido estrito traduzse na falta de destreza, habilidade, diligência ou prudência, que causa prejuízo passível de
ser previsto.
A responsabilidade subjetiva tradicional tem, portanto, como fonte a conduta
culposa do agente causador do dano.
A culpa restará caracterizada quando se puder chegar à conclusão de que o
autor da ação omitiu-se no cumprimento do dever de cuidado, atuando com imperícia,
imprudência ou negligência e, por isso, causou dano a outrem e deve ser responsabilizado.
Durante séculos, a doutrina construiu o conceito de responsabilidade civil
fundada na Teoria da Culpa, reconhecendo apenas a responsabilidade subjetiva, em relação
à qual o conceito de ato ilícito adquire relevância.
Os atos ilícitos violam direitos ou interesses alheios e podem causar dano a
outrem, dando origem ao surgimento de obrigações civis para o responsável, que, todavia,
não será necessariamente o seu causador27. Em regra, acarretam conseqüências jurídicas
alheias à vontade do agente, em forma de sanção, pois viola um mandamento normativo.
Na doutrina da responsabilidade subjetiva, a noção de ato ilícito adquire
fundamental importância, porque erigida à categoria de pressuposto da obrigação de
indenizar, cujo conceito reivindica a configuração de um comportamento culposo do agente
(culpa em sentido amplo), absorvendo, em seu âmbito, não apenas a culpa propriamente
dita como também o dolo.
A culpa em sentido amplo ou culpa lato sensu consiste na inobservância de
um dever de conduta previamente imposto pelo ordenamento jurídico. Esse conceito
abrange tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito.
26
27
PEREIRA, Caio Mario da Silva, op.cit. p. 30.
Vide, v.g., o art. 932 do Código Civil.
31
A conduta (ação ou omissão) voluntária do agente que, consciente do dano
que dela advirá, prossegue de forma deliberada com o escopo de provocá-lo, constitui o
dolo.
A culpa em sentido estrito repousa na inobservância de um dever de
conduta, fazendo surgir, em conseqüência, a negligência, a imperícia ou a imprudência.
Cada uma dessas manifestações da lesão ao dever de cuidado tem suas próprias
características.
Assim, enquanto a negligência revela-se pela falta de um dever de cuidado,
traduzindo-se, então, em uma omissão, a imprudência decorre do desnecessário e incabível
enfrentamento do perigo. A imperícia, por sua vez, manifesta-se pela ausência de aptidão
ou de habilidade específica para a realização de atividade técnica ou científica.
Em qualquer uma dessas formas de conduta, porém, há lesão ao dever de
cuidado e dela pode resultar dano a outrem.
O ato ilícito é a violação a direito e o dano causado a outrem por culpa em
sentido amplo ou independentemente da sua ocorrência. A responsabilidade civil
pressupõe, portanto, a configuração da antijuridicidade.
A norma de conduta violada tanto pode ser legal como contratual. A sua
inobservância gera um desequilíbrio social e pode resultar de imprudência, imperícia ou
negligência (culpa em sentido estrito), ou de uma conduta consciente e deliberada do agente
no que diz respeito ao resultado (dolo). Essas são as formas de manifestação da culpa, na
esfera civil.
Na seara civil, o conceito de culpa tem natureza unitária, não obstante
existência de suas diversas modalidades. Em todos os casos, antes referidos, haverá
violação a um dever pré-existente, consistente em um erro de conduta.
3.2.1. Responsabilidade Objetiva: Origem e desenvolvimento
Somente a partir da segunda metade do século XIX, com o advento de
intensas transformações sociais, provocadas, sobremodo, pela Revolução Industrial e pelo
conseqüente incremento do fenômeno tecnológico, responsável pela multiplicação dos
riscos, os estudiosos do tema constataram que a aferição da conduta do autor de um ato
32
ilícito, vale dizer, da sua culpa, não mais atendia à finalidade objetivada pela
responsabilidade civil.
Inicialmente, verificou-se ser necessária a ampliação do conceito tradicional
de culpa, sob pena de admitir-se a consagração de injustiças, deixando as vítimas sem
reparação. Contudo, percebeu-se que até mesmo o alargamento do referido conceito era
insuficiente para abranger as novas situações surgidas com o desenvolvimento da
sociedade. Impunha-se a adoção de medidas que assegurassem o restabelecimento do
equilíbrio nas relações sociais.
Esta consciência deu lugar ao surgimento de diversos posicionamentos que
desembocaram nas teorias consagradoras da responsabilidade objetiva.
Tem-se, assim, que a responsabilidade objetiva foi fruto das mutações
sociais. O processo de industrialização, o surgimento de aglomerações urbanas, além de
outros fatores, provocaram um estreitamento das relações humanas, multiplicando as
possibilidades de condutas humanas abusivas e ilícitas.
O movimento da população em direção às grandes cidades, em busca das
oportunidades de emprego surgidas com o surto fabril, teve como conseqüência o intenso
crescimento da densidade demográfica. Essa aproximação intensificou o entrechoque de
interesses e o surgimento de novas invenções contribuiu para a criação de novos riscos.
Aliado a isso, as novas invenções elaboradas para oferecer conforto e
facilidades aos membros da coletividade traziam intrinsecamente riscos de acidentes, em
virtude da falta de experiência em sua utilização e da impossibilidade de previsão de todas
as conseqüências que poderiam advir do seu uso.
Com isso, as causas produtoras do dano foram intensificadas e passaram a
representar verdadeiras ameaças à segurança de todo e qualquer indivíduo. Os riscos se
tornaram anônimos.
Passou-se a entender que, impor a vítima, não criadora do fato, o ônus de
arcar com o dano, em decorrência da impossibilidade de se comprovar a conduta culposa
do agente, ofendia o princípio da equidade. Qualquer dano, seja à pessoa, seja aos seus
bens, deve ser compreendido como um menoscabo para a vítima e para a sociedade, vez
que provoca uma diminuição da riqueza circulante. Percebe-se, portanto, que os interesses
dos membros da sociedade se interpenetram com aqueles titularizados pelos indivíduos.
33
Verificou-se ser necessário buscar princípios mais equânimes e menos
herméticos que garantissem a preservação da ordem e da paz social, haja vista que o ato
ilícito e o dano também ofendem a segurança jurídica.
O fato de alguém ter o seu patrimônio atingido por um ato danoso, sem que
possa ser ressarcido, em virtude da impossibilidade de demonstrar a presença de culpa do
seu causador, gera insegurança material a todos os indivíduos, e não somente à sua vítima
direta, tornando pertinentes as palavras de Saleilles28:
“Vale mais a certeza da responsabilidade brotada no risco que a
incerteza gerada da culpa.”
Na França, aquele autor surgiu, ao lado de Josserand, como um dos maiores
defensores da responsabilidade objetiva, mas enquanto o primeiro defendia a sua
prevalência, o segundo entendia que ela representava mais um fundamento voltado ao
ressarcimento do dano, e não acarretava a eliminação da teoria clássica ou subjetiva, com a
qual, na sua compreensão, poderia conviver.
3.3 - Responsabilidade Objetiva. Noções Gerais
Diante das transformações vivenciadas pela sociedade, os juristas
perceberam a necessidade de utilização de princípios novos, mais equânimes e adaptados
aos novos problemas perante os quais se deparavam, capazes de permitir a adoção de uma
solução mais justa para os conflitos instaurados na seara da responsabilidade civil.
Buscaram, então, meios de ultrapassar a sólida barreira da culpa exigida, de modo
exclusivo, no passado.
Para tanto, começaram flexibilizando ou alargando o conceito de culpa, com
o intuito de abranger, na esfera da responsabilidade civil, situações anteriormente não
previstas pelo legislador. Aos poucos, essa evolução foi caminhando em direção ao
reconhecimento da necessidade de aplicação da responsabilidade objetiva.
A responsabilidade objetiva consiste na imputação do dever de indenizar
independentemente da análise da conduta adotada por alguém que causou dano a outrem e
28
Lês accidents du travail et la responsabilité civile, p.77, apud SILVA, Wilson Mello da. op.cit. , p. 34.
34
deve repará-lo. Em sua órbita afasta-se, assim, a possibilidade de fazer-se uma análise da
conduta ou atuação do agente. Abstrai-se, portanto, o elemento culposo para a aferição da
conduta lesiva.
Neste caso, o dano emerge do próprio fato que lhe deu origem, violando
direito alheio, tornando irrelevante e dispensável a análise da culpabilidade do agente.
A questão passa a ser examinada tão somente sob o ponto de vista da
autoria, do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade de risco encetada pelo seu
causador. Desse modo, o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima excluem
a responsabilidade civil, exatamente porque provocam o rompimento desse nexo de
causalidade.
Com o escopo de justificar a aplicação da responsabilidade objetiva,
inúmeras orientações surgiram buscando fundamentar a sua adoção, a exemplo da equidade
genérica, do dever de segurança, do dever de garantia, do risco proveito, do risco amplo, do
risco criado, do risco determinado por energias acumuladas e do risco profissional, dentre
outras.29
Não terá o presente estudo o objetivo de discorrer acerca de cada um dos
posicionamentos doutrinariamente adotados em face da responsabilidade civil objetiva,
valendo ressaltar que o Novo Código Civil acolheu a teoria do risco criado, que, salvo
melhor juízo, parece ser aquela que melhor se adapta às necessidades trazidas pelas
mudanças sociais.
Segundo essa teoria, se alguém exerce determinada atividade que implica o
surgimento de riscos a direitos titularizados por outrem, deverá responder pelos eventos
danosos dela decorrentes. A pessoa que, no seu interesse, desenvolve uma atividade capaz
de criar um risco de dano a terceiros, terá de repará-lo, quando o mesmo restar configurado.
Com ressalva da culpa, os elementos da responsabilidade objetiva são os
mesmos encontrados na teoria clássica, a saber: uma conduta, positiva ou negativa de
determinado agente, o dano e o nexo de causalidade entre estes dois últimos e aquela.
Nesta seara, todavia, a noção de risco decorrente do exercício de
determinada atividade possui fundamental importância.
29
Wilson Mello da. op.cit. , p. 60.
35
Nas hipóteses em que a responsabilidade objetiva encontra-se expressamente
prevista em lei, a presença do risco inerente à atividade ou à própria coisa é previamente
reconhecida pelo ordenamento, em virtude de fatos extraídos da própria experiência comum
dos homens, a exemplo do que ocorre com a responsabilidade por dano nuclear, com o
dono ou o detentor do animal ou do proprietário de edifício ou de obra em construção pelos
prejuízos que, assumindo essas qualidades, causem a terceiros.
A atividade de risco deve ser entendida como aquela que “contenha em si
uma grave probabilidade, uma notável potencialidade danosa, em relação ao critério da
normalidade média e revelada por meio de estatísticas, de elementos técnicos e da própria
experiência comum”.30
Nos demais casos, caberá ao aplicador do direito, diante do caso concreto,
decidir se a atividade normalmente desenvolvida pelo responsável civil implica, por sua
natureza, riscos a direitos de outrem, ou não.
30
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8ª ed., rev. de acordo com o novo código civil (Lei
10.406, de 10.01.2002). São Paulo: Saraiva, 2003, p.255.
36
CAPÍTULO 4- A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO
4.1. Considerações gerais
A gradativa deterioração dos serviços médicos, a falta de discussões sobre a
Bioética, as precárias condições de trabalho contribuem para o aumento do número de
denúncias e demandas existentes contra a classe médica.
Meirelles, Drummond e França traçam o perfil do profissional e das
condições facilitadoras do erro médico:
“ ... profissional com mais de dez anos de graduação, procedimentos de pequeno
porte, falha na comunicação com os familiares, prontuários incompletos,
múltiplos empregos, omissão no atendimento; condições que facilitam o ato
médico imperfeito: pequenos procedimentos, exigüidade de tempo e indisposição
pessoal, instalações inadequadas, má comunicação entre médico e paciente,
anotações lacônicas ou inexistentes, prescrições verbais, decisões açodadas.”31
4.2. Responsabilidade subjetiva (art. 951)
No Brasil, a responsabilidade civil do médico é subjetiva. O artigo 951 do
Código Civil brasileiro de 2002, ao tratar da responsabilidade dos profissionais de saúde,
faz expressa menção à necessidade de se verificar a ocorrência de negligência, imprudência
ou imperícia, ou seja, culpa32.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078 de 11 de setembro de 1990),
na seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, também reconhece a
necessidade de verificação da culpa na apuração da responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais. Assim dispõe o §4º do art. 14 do CDC.33
31
MEIRELLES GOMES, Júlio Cezar; FREITAS DRUMMOND, José Geraldo de; e VELLOSO DE
FRANÇA, Genival. Erro médico. 3 ed. Montes Claros: Unimontes, 2001, p. 39, apud KFOURI NETO,
Miguel. Culpa médica e o ônus da prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002 , p. 20.
32
“Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele
que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do
paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”
33
“Art. 14.
(...)
§4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”
37
Ademais, o Código de Ética Médica, ao tratar da responsabilidade
profissional, proíbe a prática de atos médicos que possam ser caracterizados como
imperícia, imprudência e negligência.34
Portanto, a legislação brasileira adota como regra para a responsabilidade
civil dos médicos o critério subjetivo.
Sendo assim, na apuração da responsabilidade, deve ser analisado se, no
caso concreto, o médico atuou conforme o cuidado, a perícia e os conhecimentos exigíveis
de um profissional prudente.
Deve-se apurar se o mesmo atuou de acordo com os ensinamentos que
compõe a base de sua arte.
4.2.1. Dirimentes da responsabilidade
Tratando-se de responsabilidade subjetiva, o dever de indenizar pode ser
afastado caso o médico demonstre a ausência de culpa ou a ruptura do nexo de causalidade.
Desfazem o nexo de causalidade: a) a culpa exclusiva da vítima; b) caso
fortuito; c) fato de terceiro, não imputável ao médico.
Na primeira hipótese, o paciente adota comportamentos que agravam o seu
estado de saúde ou impedem o seu pleno restabelecimento. Neste caso, rompe-se o nexo
causal entre o dano e a conduta do profissional da medicina.
A culpa deverá ser afastada quando restar demonstrado que o dano foi
produzido por circunstância imprevisível e inevitável, pois escapava ao domínio da ciência
(caso fortuito). Tal aferição é casuística e levará em conta o aparelhamento e os meios
disponíveis ao médico.
A conduta de terceiro também rompe o nexo de causalidade se for
determinante do evento danoso. Como exemplo, pode ser citada a hipótese de o paciente
abandonar o tratamento médico para se submeter a um tratamento de cunho pseudoreligioso, indicado e prescrito por um charlatão. Neste caso, não há relação entre a conduta
do médico e o dano causado pela interrupção do tratamento.
“É vedado ao médico:
Art. 29. Praticar atos danosos ao paciente que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou
negligência (Resolução n. 1246, de 28 de janeiro de 1988).
34
38
4.3. Dificuldade probatória
Por um lado, não se pode olvidar que a medicina não é uma ciência exata e
que pessoas acometidas por uma mesma moléstia reagem diferentemente à mesma
medicação. Não há doenças, mas doentes.
Por outro lado, esta escusa não pode ser utilizada como forma de acobertar
os erros médicos, de forma a impedir que a vítima seja ressarcida dos danos nela
provocados.
A noção de culpa médica evoluiu da total ausência de responsabilidade,
passando pelo seu reconhecimento apenas nas hipóteses de erro grosseiro, notórias
negligência ou imprudência, ignorância inescusável, para o estágio atual, em que qualquer
tipo de negligência é suficiente para fundamentar a responsabilidade civil do médico.
Desde que o juiz entenda que um profissional diligente, nas mesmas
circunstâncias, teria se comportado de forma diversa, deverá condenar o acusado à
reparação.
4.3.1. Ônus da prova
Na relação entre médico e paciente, as partes não estão em pé de igualdade,
já que o paciente não sabe nada de medicina. Em verdade, a questão do ônus da prova passa
a ter relevância quando não se produz a prova de fatos significativos e controversos no
âmbito de uma demanda judicial.
Nas ações de responsabilidade civil por ato médico, tais profissionais
encontram-se em melhores condições de demonstrar que agiram corretamente, sem culpa.
Em regra, os atos ocorrem na sala de cirurgia, onde se encontram apenas os
médicos e os profissionais que compõem a sua equipe, daí todas as dificuldades impostas
ao paciente em demonstrar o ato culposo do médico.
Relevante papel deverá ser desempenhado pelo juiz. Caberá a ele estimular
as partes a adotar uma postura ativa na colheita de prova.
Nas demandas onde se discute o erro médico, o juiz não pode aguardar o
encerramento da instrução, para somente então aplicar a as regras de distribuição do ônus
da prova. Caberá ao juiz indicar qual das partes é mais idônea a apresentar a prova dos
fatos.
39
Tem sido admitida a relativização da regra geral referente ao ônus da prova.
Se a parte intencionalmente impede ou dificulta a produção de prova, os princípios sobre o
ônus da prova perdem seu valor e o juiz deve considerar a prova como realizada em
desfavor da parte que dificultou a sua obtenção.
Neste sentido, dispõe o Código de
Processo Civil, no artigo 359.35
As partes devem procurar se desfazer da visão mais rigorosa acerca da
repartição do ônus da prova. Devem trazer aos autos todos os subsídios (literatura médica,
histórico clínico, laudos de testemunha, etc.), a fim de permitir que o julgador realize a
reconstituição dos fatos.36
Por ser o juiz, em regra, leigo em medicina e, diante da natureza técnica da
investigação probatória, a perícia somente se torna dispensável por exceção. Em sua defesa,
caberá ao médico apresentar toda a prova de que dispõe: documentos, literatura médica,
laudos periciais, etc.
Por conseguinte, se o médico não tiver agido com culpa, não deve ser
responsabilizado. Entretanto, a dificuldade em se demonstrar a culpa do médico não pode
ser utilizada como um escudo intransponível, que impeça a obtenção da justa indenização.
4.3.2. Presunção relativa de culpa
Diante das transformações sociais sofridas pela sociedade, perceberam os
juristas a dificuldade que era imposta à vítima quando se exigia que ela demonstrasse não
apenas o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, mas também a culpa
daquele, ou seja, que a sua atuação prejudicial decorrera de imprudência, imperícia ou
negligência.
Em
muitas
situações,
tais
imposições
terminavam
impedindo
o
ressarcimento da vítima, culminando na consolidação de uma verdadeira injustiça e no
surgimento de evidente insegurança para os membros da sociedade.
Assim, considerando os dados da experiência e atendo-se ao que se
verificava em casos semelhantes - apesar de ter o agente agido com culpa, a vítima não
35
“Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou
da coisa, a parte pretendia provar:
I – se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 357;
II – se a recusa for havida por ilegítima.”
36
KFOURI NETO, Miguel. Op cit., p. 55.
40
conseguia demonstrá-la - a doutrina e a jurisprudência passaram a defender hipóteses de
presunção de culpa daquele a quem era atribuída a provocação do dano, permitindo-lhe,
todavia, afastar a sua responsabilidade quando demonstrasse que a ocorrência de prejuízo
resultara de causa estranha à sua conduta.
Então, em determinadas situações, o legislador passou a presumir a culpa do
agente, fixando que o fato por ele praticado já era, por si só, considerado culposo. Assim
atuando, estabeleceu presunções relativas, admitindo, conseqüentemente, prova em sentido
contrário, impondo àquele ao qual fora atribuída a prática do ato ilícito o ônus de
demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de
terceiro, como forma de isentar-se da responsabilidade.
Em verdade, a fixação legal de presunção de culpa acarreta a inversão do
ônus da prova, geralmente atribuído a quem formula determinada alegação, já que a lei
impõe ao agente da conduta lesiva a tarefa de comprovar a sua atuação diligente diante da
situação concreta, afastando o enquadramento de seu comportamento em qualquer uma das
formas de manifestação de culpa: imperícia, imprudência e negligência.
Atualmente, a doutrina tem admitido que o juiz, ao verificar que as provas
apresentadas pelas partes se mostram deficientes ou não produzem a convicção
imprescindível sobre a certeza dos fatos alegados, poderá recorre à prova de presunções, a
fim de esclarecer os acontecimentos.
Neste caso, é aliviado o ônus que recai sobre o paciente, praticamente
eliminando-se a exigência de se provar a culpabilidade. Bastaria demonstrar a existência do
nexo de causalidade entre o evento danoso e o tratamento anterior.
As presunções são consideradas modalidades de prova indireta, pois se parte
de um raciocínio baseado em um fato conhecido e provado para se chegar, dedutivamente,
a outro fato.Todavia, não se trata de meio de prova, mas de uma operação mental que
conduz à aceitação de um fato independentemente de prova.
Vale ressaltar que não é possível suprir através de presunções a ausência de
uma prova direta exigida pela lei ou passível de ser obtida por meios idôneos.
41
Trata-se de obrigação do médico fornecer ao paciente laudo médico,
prontuário, ficha clínica ou similares, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para
terceiros.37
Entende Irany Novath Moraes que, na hipótese de haver reclamação, seja na
justiça, ou no Conselho Regional de Medicina, a melhor defesa para o médico será o
prontuário. Para tanto, é necessário que esteja corretamente elaborado, “com todos os
procedimentos registrados, mostrando os comemorativos da doença e quais os
procedimentos tomados a cada alteração na evolução38.”
Se o profissional médico se omite, nega-se a entregar o histórico-clínico do
paciente, tais fatos devem ser considerados presunções desfavoráveis ao médico, diante da
dificuldade que se impõe para a obtenção de prova de fatos ocorridos na relação médicopaciente.
Na verdade, o prontuário consiste em importante meio de prova, na medida
em que relata os procedimentos adotados em relação ao paciente e demonstra se o fora
concedida a atenção necessária ao adequado tratamento da enfermidade.
4.3.3. Violação do dever de informar e a responsabilidade civil
Em muitos casos, a ausência de consentimento pode constituir lesão
autônoma, por si só danosa e passível de indenização.
Caso o médico não informe adequadamente o paciente, de modo a obter o
seu consentimento, estará deixando de observar um dever de conduta previamente imposto
pelo ordenamento, o que, consoante anteriormente demonstrado, constitui um ato culposo39.
37
“É vedado ao médico:
(...)
Art. 70 - Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar
explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para terceiros.
Art. 71 - Deixar de fornecer laudo médico ao paciente, quando do encaminhamento ou transferência para fins
de continuidade do tratamento, ou na alta, se solicitado.” (Resolução n. 1246, de 28 de janeiro de 1988).
38
Erro médico e justiça, p. 556.
39
RESPONSABILIDADE CIVIL. Médico. Consentimento informado. A despreocupação do facultativo em
obter do paciente seu consentimento informado pode significar - nos casos mais graves - negligência no
exercício profissional. As exigências do princípio do consentimento informado devem ser atendidas com
maior zelo na medida em que aumenta o risco, ou o dano. Recurso conhecido. (REsp 436827 / SP, T-4,
Ministro Ruy Rosado De Aguiar, DJ 18.11.2002, p. 228).
42
Inexistindo consentimento do paciente, a intervenção médica é ilícita e
deverá o profissional que assim procedeu ser responsabilizado civilmente. Havendo nexo
de causalidade entre a falta de informações e o dano, deverá ser responsabilizado o médico.
Ademais, ainda quando a intervenção médica é correta, é possível se
vislumbrar a responsabilidade civil do médico. Neste caso, a culpa decorre do não
cumprimento do dever de informar ou pela informação incorreta, o que levou o paciente a
se submeter a um risco do qual não fora avisado.
Para tanto, faz-se necessário demonstrar o não-cumprimento do dever de
obter, junto ao paciente, o consentimento esclarecido.
O consentimento para uma cirurgia desnecessária é inválido, assim como o
ato que ocasione diminuição permanente da integridade física. Assim dispõe o artigo 13 do
Código Civil.40
Além do dever de agir com cautela e tomar as precauções necessárias à
proteção da vida e da saúde dos pacientes, impõe-se o dever de informá-los acerca de todas
as conseqüências que podem advir de uma intervenção cirúrgica.
Consoante afirmado em momento anterior, o consentimento informado é o
resultado de um diálogo travado entre médico e paciente, em que ambas as partes trocam
informações e interrogam-se reciprocamente.
Deverá ser responsabilizado o médico que aceita proceder a uma intervenção
perigosa ou pouco útil em relação ao risco que a mesma cria41.
Constatado que o consentimento fora deficientemente prestado ou a falta de
comprovação do assentimento haverá a presunção de que o ato médico se realizou sem a
aquiescência do enfermo. Caso advenha o dano, poderá responder civilmente o médico.42
40
“Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar
diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em
lei especial.”
41
Ana Cláudia Pirajá Bandeira. Consentimento no transplante de órgãos, p. 134.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Hospital. Santa Casa. Consentimento informado. A Santa Casa, apesar de
ser instituição sem fins lucrativos, responde solidariamente pelo erro do seu médico, que deixa de cumprir
com a obrigação de obter consentimento informado a respeito de cirurgia de risco, da qual resultou a perda da
visão da paciente. Recurso não conhecido. (REsp n.467878 / RJ, T-4, Rel Ministro Ruy Rosado De Aguiar,
DJ 10.02.2003 p. 222).
42
43
O documento constitui importante meio de prova. Todavia, uma vez
caracterizada a culpa do médico, não será o documento que comprova o consentimento
informado que irá isentá-lo do dever de indenizar.
Em muitos casos, o documento poderá fazer prova do erro na formulação do
consentimento. Isso ocorre nas hipóteses de documentos mal elaborados, cuja redação é
deficiente, vaga, imprecisa, incapaz de cumprir o dever de transmitir a informação
adequadamente.
Contudo, vale ressaltar que o documento não substitui o diálogo e a troca de
informações que devem ser realizados entre o médico e o paciente. O documento deve
representar apenas um meio de prova, o resultado do processo de troca de informações
entre as partes.
44
CONCLUSÃO
Constata-se ser necessário superar a tendência pragmática do mundo
moderno de aplicar o saber sem analisar o aspecto moral da sua intervenção na vida.
Pode-se considerar autônoma uma decisão em que o agente atuou de forma
intencional, com entendimento e sem influências controladoras que determinem sua ação.
Exige-se apenas um grau substancial de entendimento e de liberdade de alguma coação.
O respeito à autonomia exige que se trate a pessoa de forma a capacitá-la a
agir autonomamente, enquanto que o desrespeito envolve atitudes que ignoram, insultam ou
degradam a autonomia e negam uma igualdade mínima entre as pessoas.
O respeito à autonomia exige que os profissionais informem adequadamente,
verifiquem e se assegurem quanto ao esclarecimento e a voluntariedade e encorajem a
tomada da decisão adequada.
O paradigma do respeito à autonomia na saúde, na política e em outros
contextos é o consentimento informado e expresso. Ele legitima formas de autoridade e
condutas que em sua ausência seriam ilegítimas.
O fato de não obter o consentimento do paciente ou de quem o represente
viola o princípio do respeito à autonomia e permite que o profissional médico venha a ser
responsabilizado, no âmbito cível ou criminal, pelos danos causados.
O consentimento informado deve ser obtido após um entendimento
substancial das informações fornecidas, desde que não haja um controle por parte de
terceiros e sejam atendidas as exigências legais e institucionais.
É essencial que sejam transmitidas informações acerca do diagnóstico, do
prognóstico, da natureza, do propósito da intervenção, bem como das alternativas
existentes, dos riscos envolvidos, benefícios e recomendações.
Caso o médico não informe o paciente sobre os pressupostos do tipo de
intervenção, suas seqüelas prováveis e os respectivos riscos, o consentimento dado pelo
paciente não terá sido esclarecido e, conseqüentemente, terá sido viciado pela falta ou
insuficiência da informação.
A ausência de consentimento ou o consentimento deficientemente prestado
por falta ou incorreção de informação ou esclarecimento implicam que o ato médico seja
configurado como não autorizado.
45
Por outro lado, a idade não é sinônimo de maturidade. Trata-se de opção
feita pelo legislador, com o intuito de atender aos interesses de ordem geral, relativos às
segurança e estabilidade das relações jurídicas. Verificando-se haver capacidade de
entendimento e ponderação, deverá ser respeitada a vontade do menor amadurecido.
Todavia, em se tratando de intervenção de caráter emergencial, quando a
mesma for indispensável para salvar a vida do menor, deverá o médico atuar, ainda que
contra a vontade do paciente, uma vez que o menor ainda não possui maturidade e
experiência de vida suficiente para rejeitar determinada intervenção médica, indispensável
à manutenção de sua vida.
Diante do exposto, verifica-se não ser mais admitido que o médico atue
como um ser superior, acima da lei e do paciente, uma vez que a sociedade exige que este
profissional respeite os valores e princípios por ela acolhidos.
Deve ser mantido um diálogo contínuo entre médico e paciente, através do
qual haverá uma troca de informações importantes para ambas as partes, a fim de se obter o
consentimento informado e esclarecido. A exigência de obtenção do consentimento atende
ao princípio do respeito à autonomia que, salvo em situações extremas, deve ser respeitado.
Deve ser utilizado o modelo de decisão substituta, baseado no critério dos
melhores interesses do paciente, quando não for possível averiguar, em determinadas
situações, qual seria a vontade do paciente.
Diante da dificuldade probatória, decorrente da posição de vulnerabilidade
do paciente na relação com o médico, admite-se a relativização das regras concernentes ao
ônus da prova, podendo-se até invertê-las. Para tanto, deverá o julgador adotar uma postura
ativa durante a colheita da prova, incentivando as partes a trazer ao processo todos os
elementos que possuam.
A responsabilidade civil do médico é subjetiva. Portanto, diante do caso
concreto, deverá ser averiguado se houve dolo ou culpa em sentido estrito, ou seja,
imperícia, negligência ou imprudência do referido profissional.
Inexistindo consentimento do paciente, a intervenção médica é ilícita e
deverá o profissional que assim procedeu ser responsabilizado civilmente. Havendo nexo
de causalidade entre a falta de informações e o dano, deverá ser responsabilizado o médico.
46
Ademais, ainda quando a intervenção médica é correta, é possível se
vislumbrar a responsabilidade civil do médico. Neste caso, a culpa decorre do não
cumprimento do dever de informar ou pela informação incorreta, o que levou o paciente a
se submeter a um risco do qual não fora avisado.
47
REFERÊNCIAS:
AGUIAR, Mônica. Direito à filiação e bioética. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
ALVIM, Agostinho. Da inexecucção das obrigações e suas consequências. 3ª ed., Rio de
Janeiro-São Paulo: Jurídica universitária,1965.
BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese.
São Paulo: Atlas, 2004.
BEAUCHAMP, Tom; CHILDRESS, James. Princípios da ética biomédica. Loyola, 2002
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed., 3 Tir., São
Paulo: Malheiros, 2000.
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. O risco na sociedade moderna e seus reflexos na
teoria da responsabilidade civil e na natureza jurídica do contrato de seguro. Revista
Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ- Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº 5, agosto
2001. Disponível em http:// www.direitopúblico.com.br. Acesso em 14 de maio 2004.
DIAS, Aguiar. Da responsabilidade civil. 8ª ed., Rio de Janeiro: Forense 1987.
DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce.O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002.
FEIJÓ, Ricardo. Metodologia e filosofia da ciência: aplicação na teoria social e estudo de
caso. São Paulo: Atlas, 2003.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil
(abrangendo o código civil de 1916 e o novo código civil). São Paulo: Saraiva, 2003, 3
v.
GOMES. Orlando. Introdução ao direito civil. 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 8ª ed., rev. de acordo com o novo
código civil (Lei 10.406, de 10.01.2002). São Paulo: Saraiva, 2003.
GRAU, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1988.
--------Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2ª ed., São Paulo:
Malheiros, 2003.
KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e o ônus da prova. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.
48
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 2ª ed., Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1969.
LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2ª ed., São Paulo, 1999. Revista dos Tribunais, 1999.
LUBISCO, Nídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico:
monografias, dissertações e teses; revisão e sugestões de Isnaia Veiga Santana. 2 ed.
rev. e ampl. Salvador: EDUFBA, 2003.
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual da monografia jurídica. 3ª ed., rev. e ampl. São
Paulo: Saraiva, 2001.
MARTINS COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo
obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
MACHADO NETO, A. L. Compêndio de introdução à ciência do direito. 5ª ed., São
Paulo: Saraiva, 1984.
MORAES, Irany Novah Moraes. Erro médico e a justiça. 5ª ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003.
OLIVEIRA, Nuno Manuel Pinto. O direito geral de personalidade e a “solução do
dissentimento”: Ensaio sobre um caso de “constitucionalização do direito civil.
Coimbra : Coimbra, 2002.
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense,
2000.
RODRIGUES, João Vaz. O consentimento informado para o acto médico no ordenamento
jurídico português. Coimbra: Ed. Coimbra, 2001.
RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2002. 4 v.
SILVA, Wilson Mello da. Responsabilidade sem culpa e socialização do risco. Belo
Horizonte: Ed. Bernardo Alvares, 1962.
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
VENOSA, Silvio de Salvo. A responsabilidade objetiva no novo código civil. Escritório online.
Brasília,
fev.
2003.
Disponível
em:
http:
www.escritórioonline.com/webnews/noticia.php?idnoticia=3017&. Acesso em 14 de
maio de 2004.
49