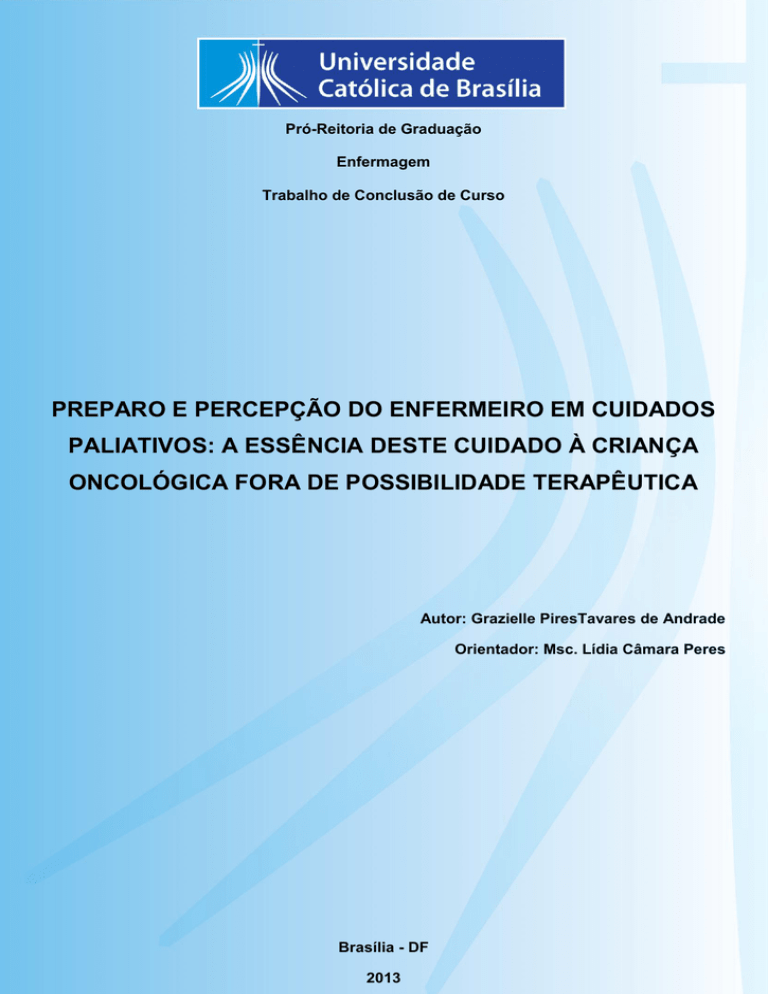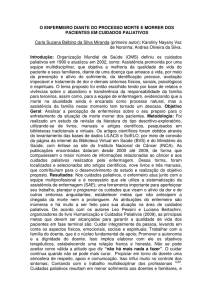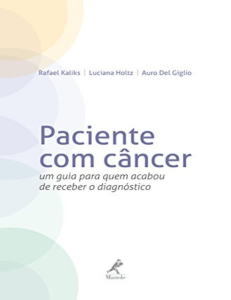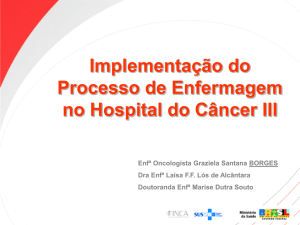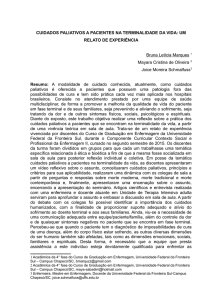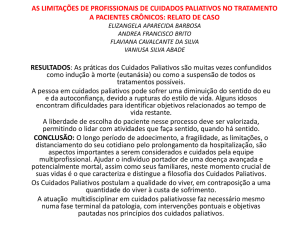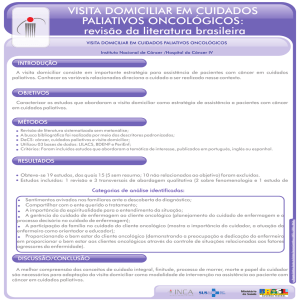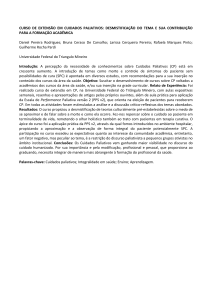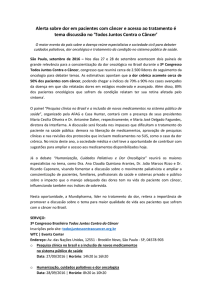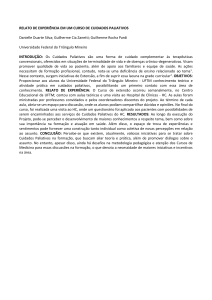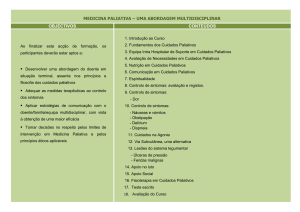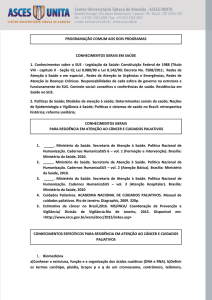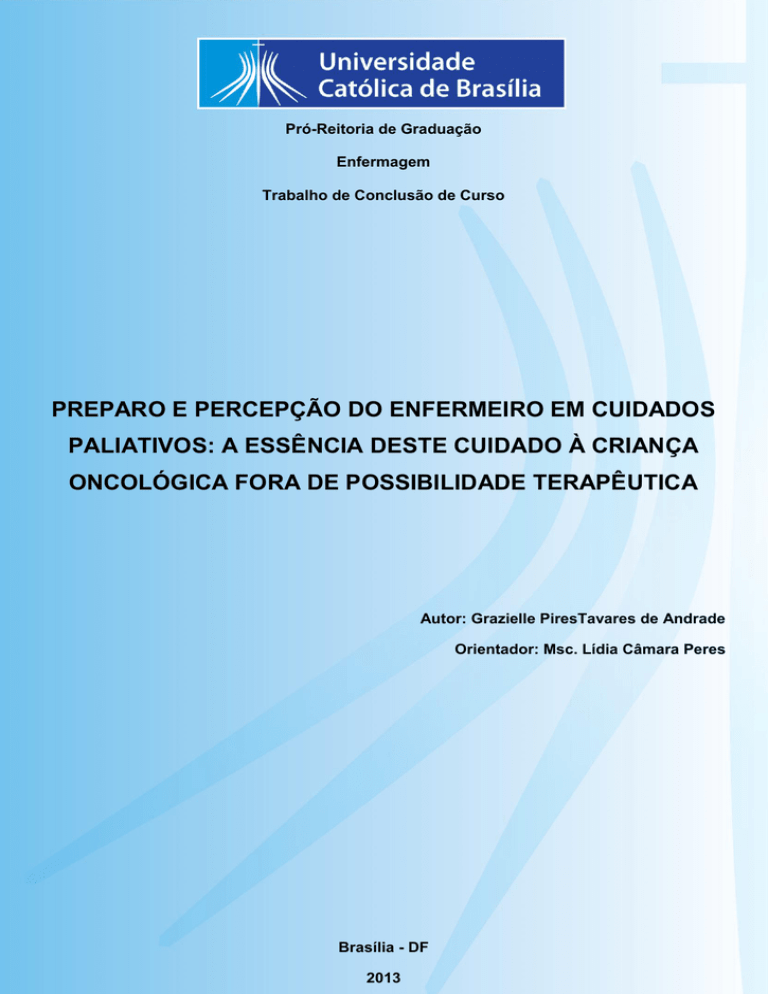
Pró-Reitoria de Graduação
Enfermagem
Trabalho de Conclusão de Curso
PREPARO E PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS
PALIATIVOS: A ESSÊNCIA DESTE CUIDADO À CRIANÇA
ONCOLÓGICA FORA DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA
Autor: Grazielle PiresTavares de Andrade
Orientador: Msc. Lídia Câmara Peres
Brasília - DF
2013
GRAZIELLE PIRES TAVARES DE ANDRADE
PREPARO E PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO EM CUIDADOS PALIATIVOS: A
ESSÊNCIA DESTE CUIDADO À CRIANÇA ONCOLÓGICA FORA DE
POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA
Trabalho de Conclusão de Curso a ser
apresentado no curso de graduação em
Enfermagem da Universidade Católica de
Brasília, para obtenção do título de
bacharel em Enfermagem.
Orientadora: Msc. Lídia Câmara Peres
Brasília - DF
2013
Monografia de autoria de Grazielle Pires Tavares De Andrade, intitulada “Preparo
e percepção do enfermeiro em cuidados paliativos: a essência desse cuidado à
criança oncológica fora de possibilidade terapêutica.” apresentada como
requisito parcial para obtenção do título de Enfermeiro, da Universidade Católica de
Brasília, defendido e aprovado, 28 de novembro de 2013, pela banca examinadora
constituída por:
_________________________________________________
Professora Msc. Lídia Câmara Peres
Orientadora
___________________________________________________
Professor Msc. Maurício de Oliveira Chaves
Examinador Interno
__________________________________________________
Professora Esp. Valéria Fernandes Segatto
Examinadora Interna
Brasília - DF
2013
RESUMO
ANDRADE, Grazielle Pires Tavares de. Preparo e percepção do enfermeiro em
cuidados paliativos: a essência desse cuidado à criança oncológica fora de
possibilidade terapêutica. 2013. 39f. Monografia (Graduação em Enfermagem).
Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013.
O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a
proliferação descontrolada de células anormais que pode ocorrer em qualquer local
do organismo, este representa cerca de 0,5% a 3% de todos os cânceres na maioria
das populações. Na Oncologia Pediátrica, o enfermeiro deve ter amplo
conhecimento técnico-científico sobre fisiopatologia dos diferentes tipos de câncer,
bem como preparo físico e mental para melhor lidar com a morte iminente do
enfermo sem possibilidade terapêutica curativa. O estudo apresentou como objetivo
geral a análise da percepção do profissional enfermeiro sobre cuidados paliativos à
criança oncológica sem possibilidade de cura, e seu nível de preparo. A metodologia
científica utilizada para alcançar os objetivos propostos foi configurada através de
revisão bibliográfica, com produção científica, em recorte temporal de 2007 a 2013,
a partir das bases de dados da BVS e de vias não sistematizadas. A pesquisa
revelou que, diante da vivência dos momentos permeados pela perda do paciente
terminal, o profissional enfermeiro se depara com percepções negativas diante da
atuação na assistência prestada aos pacientes nesta fase, evidenciando a
necessidade do preparo do profissional de forma mais adequada desde sua
formação acadêmica, de maneira que o possibilite a lidar consigo e principalmente
com todas as necessidades do enfermo.
Descritores: Enfermagem oncológica, cuidados de enfermagem, enfermo terminal e
cuidados paliativos.
ABSTRACT
ANDRADE, Grazielle Pires Tavares de. Preparation and perception of de nurse in
palliative care: the essence of this child care oncology without therapeutic
possibility. 2013. 39l. Monograph (Undergraduate Nursing). Catholic University of
Brasília, Brasília, 2013.
The pediatric cancer corresponds to a group of several diseases which have in
common the uncontrolled proliferation of abnormal cells that can occur anywhere in
the body, this represents about 0.5% to 3 % of all cancers in most populations. In
Pediatric Oncology, nurses should have extensive technical and scientific knowledge
on the pathophysiology of different types of cancer as well as physical and mental
preparation to better cope with the impending death of the patient without curative
therapeutic option. The study had as main objective the analysis of the nurses'
perceptions about palliative oncological curability child without care, and their level of
professional preparation. The scientific methodology used to achieve the proposed
objectives was configured through literature review, with scientific production in time
frame from 2007 to 2013, from databases BVS and unsystematic way. The survey
revealed that, given the experience of time permeated by loss of terminal patients,
the nurse is faced with negative perceptions on the role in assisting patients at this
stage, highlighting the need to prepare the most appropriate way since his
professional training academic, so that makes it possible to deal with and especially
with all the needs of the patient.
Keywords: Oncology nursing, nursing care, terminally ill and palliative care.
SUMÁRIO
1.
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 6
2.
JUSTIFICATIVA ..................................................................................................................... 10
3.
OBJETIVOS .......................................................................................................................... 11
3.1 GERAL .......................................................................................................................................... 11
3.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 11
4.
FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA................................................................................................ 12
4.1 CÂNCER NA INFÂNCIA: UM BREVE RELATO ................................................................................ 12
4.2 A CRIANÇA FORA DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA, A FAMÍLIA E O ENFERMEIRO .................... 13
4.3 A ESSÊNCIA DO CUIDAR .............................................................................................................. 15
4.4 CUIDADOS PALIATIVOS ............................................................................................................... 16
4.4.1 História ................................................................................................................................. 16
4.4.2 Conceitos e princípios .......................................................................................................... 18
4.4.3 Cuidados Paliativos e a Enfermagem ................................................................................... 20
5.
MATERIAIS E MÉTODOS....................................................................................................... 22
6.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ...................................................................................... 23
6.1 A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RELAÇÃO À CRIANÇA FORA DE POSSIBILIDADE
TERAPÊUTICA SOB CUIDADOS PALIATIVOS....................................................................................... 26
6.2 O PREPARO DOS ENFERMEIROS EM CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA ...... 29
7.
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 31
8.
REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 33
6
1. INTRODUÇÃO
Em meados do século XX, o Brasil e o mundo sofreram grandes alterações em
seus perfis epidemiológicos e demográficos, associado ao declínio das taxas de
mortalidade por doenças infecciosas, ocorrendo aumento substancial na expectativa
de vida da população e na proporção dos óbitos por doenças crônicas como o
câncer em paciente fora de possibilidades terapêuticas (BOING; VARGAS; BOING,
2007 aput COSTA et al, 2008).
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer foi considerado a
quinta maior causa de óbito em pessoas de 1 a 19 anos. (CAMARGO; KURASHIMA,
2007 aput MONTEIRO; RODRIGUES; PACHECO, 2012). O câncer infantil é
considerado uma doença rara, se comparado a todos os tipos de cânceres que
acometem os humanos, no entanto, ao longo dos últimos anos, o câncer constitui a
principal causa de morte em crianças abaixo de 12 anos de idade (AVANCI et al,
2009).
A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo, e foi
utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, que viveu entre 460 e
377 a.C. O câncer não é uma doença nova, o fato de ter sido detectado em múmias
egípcias comprova que ele já comprometia o homem há mais de três mil anos antes
de Cristo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Atualmente, a definição científica de câncer refere-se ao termo neoplasia, como
sendo uma doença caracterizada pela proliferação celular anormal, descontrolada e
autônoma de células transformadas, o agrupamento destas células praticamente
idênticas recebe o nome de tumor. Essas células ainda podem adquirir a capacidade
de disseminação, crescendo em áreas do corpo distante do seu órgão de origem
originando a metástases, um importante obstáculo ao controle do câncer (TONANI,
2007).
Os cânceres em crianças se diferem dos de adulto, na criança é responsável
pela maioria das mortes, já representa a primeira causa de morte por doença, após
um ano de idade, até o final da adolescência, é considerado raro quando comparado
aos tumores que afetam os adultos por apresentarem diferenças de localização
primária, diferentes origens histológicas e diferentes comportamentos clínicos. Cerca
7
de 1% a 3% de todos os tumores malignos na maioria da população ocorrem em
crianças e adolescentes (INCA, 2010).
Do ponto de vista clínico, os tumores pediátricos apresentam menores períodos
de latência; em geral, crescem rapidamente e são mais invasivos; porém respondem
melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico (MONTEIRO;
RODRIGUES; PACHECO, 2012).
As neoplasias mais frequentes na infância são as leucemias, os linfomas e os
tumores do sistema nervoso central. Na criança, geralmente, o câncer afeta as
células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto no adulto afeta
as células do epitélio, que recobrem os diferentes órgãos (INCA, 2013).
As crianças com distúrbios crônicos que desencadeiam o risco de morte, como é
o exemplo do câncer, sofrem impactos influenciados por diversos fatores, como a
idade do desenvolvimento da criança, a experiência da criança com o diagnóstico,
estresse imediato representado pela dor física desencadeado pela doença, traços de
personalidade e qualidade de suas relações parentais (MALTA; SCHALL; MODENA,
2009).
Em face de tais flagelos pertinentes a doença, os cuidados prestados à criança
com câncer podem ser preventivos, curativos e paliativos. O cuidado preventivo
pode ser oferecido a partir de ações anteriores ao nascimento, como o
aconselhamento genético, e durante a infância, através da manutenção de hábitos
saudáveis de vida. O cuidado curativo consiste no diagnóstico, tratamento e controle
do câncer, entretanto, com a trajetória e evolução da doença, pode-se chegar a uma
fase crítica em que o paciente não responde mais às terapias convencionais
oferecidas pela equipe de saúde e, então, não se busca alcançar a cura da
neoplasia, mas sim, oferecer um cuidado interdisciplinar objetivando fornecer
suporte, informação e conforto para pacientes com a doença incurável e seus
familiares, o que caracteriza os Cuidados Paliativos (SCHINZARI et al, 2013).
Neste momento, quando durante o tratamento oncológico algumas crianças não
respondem a terapêutica curativa, mesmo após de se utilizarem todos os recursos
oferecidos para o tratamento, elas passam a ser consideradas como crianças as
quais não foi possível curar; pacientes fora de possibilidade de cura atual ou
pacientes terminais (CARNEIRO; SOUZA, 2009).
Entretanto, cabe ressaltar que isso não significa dizer que elas não necessitam
de cuidados dos profissionais de saúde; mesmo que não possam ser curadas, ainda
8
se pode fazer muita coisa, do ponto de vista da manutenção da dignidade do ser
humano-criança, contribuindo, assim, para um cuidado centrado nas suas
necessidades (AYOUB, 2000, aput MONTERIO et al, 2012).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu em 1990 e revisou em 2002 o
conceito de cuidados paliativos, como cuidados ativos e totais ao paciente cuja
doença não responde mais ao tratamento curativo. Trata-se de uma abordagem de
cuidado diferenciada que visa melhorar a qualidade de vida do paciente e seus
familiares, por meio da adequada avaliação e tratamento para alívio da dor e
sintomas, além de proporcionar suporte psicossocial e espiritual (ARAÚJO, 2007
aput BRAGA, 2010).
Em pediatria, o cuidado paliativo é definido como um programa organizado,
voltado para a criança com vida limitada devido a uma doença atualmente incurável.
Este se torna eficaz com o controle dos sintomas e quando são fornecidos apoio
psicológico e espiritual para o paciente e suporte para a família na tomada de
decisões (MONTEIRO et al, 2012).
Cabe ressaltar que ao papel da família é muito importante durante o tratamento
da criança, visto que passa a se apresentar como unidade de cuidado. A cura não
pode basear-se somente na recuperação biológica, mas também no bem-estar e na
qualidade de vida do paciente, para que este também seja apoiado e amparado em
suas necessidades de âmbito social e psicológico. A família vem se tornando um
grande pilar ao paciente oncológico, ofertando apoio, conforto e ajuda nas situações
difíceis que o doente precisa enfrentar (FERREIRA et al, 2010).
Avanci et al (2009), descreve que o cuidado de enfermagem em Oncologia
Pediátrica vem se especializando e modificando com o passar do tempo.
Anteriormente, a família não participava do processo do cuidado hospitalar da
criança. Hoje em dia, a família se faz presente e é muito importante neste momento
crítico em que a criança se encontra.
Dada a preocupação com o cuidado à criança com câncer, é necessário maior
compreensão do impacto da doença na perspectiva dos membros familiares, pois
todos são afetados por ela. Em virtude disso, reflexões e adaptações são
importantes para a nova realidade que a família enfrenta, sendo necessários ajustes,
organizações e redefinições de papéis para o equilíbrio familiar (NASCIMENTO et al,
2005 aput FERREIRA et al, 2012).
9
Pequenos gestos no ato de cuidar, como um simples toque, um gesto de carinho,
faz o paciente apreciar pequenas ações e momentos, oferecendo assim, maior
qualidade ao tempo de vida que ele tem, a enfermagem deve exercer o seu cuidado
de forma mais humanista, um cuidado mais abrangente que entenda as
necessidades psicológicas, sociais e espirituais do paciente (GARGIULO et al,
2007).
O enfermeiro que atua em cuidados paliativos deve desempenhá-los a partir de
uma visão humanística, em que apesar da impossibilidade da cura, a sua relação
com o paciente não deve deixar de acontecer, o que poderá trazer benefícios para
ambos (LOPES; SILVA; ANDRADE, 2007).
O enfermeiro ainda deve possuir conhecimento sobre a fisiopatologia dos
diferentes tipos de cânceres e suas opções de tratamento, bem como compreender
o processo de crescimento e desenvolvimento normal da criança, para que seja
competente na assistência à criança com câncer e possa discutir junto à equipe as
diferentes abordagens no tratamento do paciente (AVANCI et al, 2009).
Para Lemos e Santana (2011), assistir o paciente no processo de morte e morrer
pode acarretar percepções negativas diante de sentimentos de impotência,
insegurança, o que vai exigir tanto um preparo emocional como também um preparo
físico e psicológico, pois assim haveria um melhor cuidado devido a segurança do
profissional em prestar a assistência.
Espera-se que a utilização deste trabalho venha colaborar na melhoria da
prestação de assistência de enfermagem direcionada à criança com câncer, em
especial nos cuidados paliativos, reforçando a importância do preparo do profissional
que atua nesta área, de modo que os estes apresentem percepções mais positivas
ao assunto pertinente.
10
2. JUSTIFICATIVA
A escolha por essa temática ocorreu após a experiência em acompanhar uma
criança com câncer em fase terminal, fato este que despertou grande interesse e
motivou o estudo e intenção de ampliar horizonte e conhecimento. Outro fato que
impulsionou a realização deste trabalho foi o desejo de compreender com mais
detalhes os recursos e ferramentas oferecidos a estes pacientes, a fim de prestarlhes um serviço de qualidade, proporcionando ao paciente e seus familiares uma
assistência humanizada em cuidados paliativos.
Para tanto, aprecio o grande valor que traz este tema, pois abrange
horizontes ainda indefinido, ou pouco explorado, como a morte iminente de muitos
destes pacientes atrelada a responsabilidade atribuída ao enfermeiro perante este
processo. Porém, enquanto acadêmicos não nos é lecionado como lidar e cuidar
com enfermo terminal, na verdade oncologia nem é contemplada em nossa carga
horaria, no máximo aprendemos em como tentar evitar a morte e posteriormente em
como preparar o corpo daquele que não está mais entre nós.
Diante do desejo de ampliar os conhecimentos nesta área, resolvi explorar a
ciência referente a esta temática na realização deste trabalho. Pesquisando sobre
possíveis áreas de atuação para enfermagem, me interessei muito por essa
modalidade que vem se expandindo bastante, a assistência de enfermagem em
oncologia. Evidenciando a colossal importância do papel do enfermeiro, é primordial
sua presença, principalmente ao se referir a sua essencial ferramenta de trabalho, o
cuidar.
As ações do enfermeiro compreendem, em sua essência, o cuidado em si,
independente do objetivo do tratamento ser preventivo, curativo, de reabilitação ou
paliativo. A enfermagem é a arte de cuidar de doentes, com compromisso,
sinceridade e conhecimento técnico-científico, necessária a todo ser humano em
algum momento ao longo da sua vida (UNIC, 2009).
Analisar a assistência à criança com diagnóstico de câncer, a vivência e o
preparo do profissional enfermeiro diante da criança fora de possibilidade
terapêutica curativa é principal justificativa deste trabalho.
11
3. OBJETIVOS
3.1 GERAL
Analisar através de revisão bibliográfica a percepção do profissional
enfermeiro sobre os cuidados paliativos à criança oncológica sem possibilidade de
cura, e seu nível de preparo.
3.2 ESPECÍFICOS
Analisar o conhecimento e o preparo do enfermeiro ao lidar com a criança com
câncer sob cuidados paliativos;
Averiguar a importância do preparo profissional e os benefícios para o enfermeiro
e a criança oncológica fora de possibilidade terapêutica.
12
4. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA
4.1 CÂNCER NA INFÂNCIA: UM BREVE RELATO
Câncer é um crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os
tecidos e órgão. Estas células dividem-se rapidamente e tendem a ser muito
agressivas e incontroláveis. Determinando a formação de tumores ou neoplasias
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Pode-se classificar tumor como um termo que indica o aumento anormal de
uma parte ou da totalidade de um tecido. E neoplasia é o processo patológico que
resulta no desenvolvimento de um neoplasma, isto é, o crescimento anormal,
incontrolado e progressivo de tecido, mediante proliferação celular. Na verdade as
palavras tumor e neoplasia são sinônimas. Tanto o tumor quanto a neoplasia podem
ser benignos ou malignos. Quando uma neoplasia ou tumor é maligno, denomina-se
câncer (INCA, 2013).
O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em
comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em
qualquer local do organismo. As causas dos tumores pediátricos ainda são pouco
conhecidas, embora em alguns tipos específicos já se tenha embasamento científico
de que sejam determinados geneticamente (ZEVALLOS, 2013).
O câncer pediátrico representa de 0,5% a 3% de todos os tumores na maioria
das populações. Internacionalmente, os tumores pediátricos mais comuns são as
leucemias, os linfomas e os tumores do Sistema Nervoso Central (INCA, 2013).
Também acometem crianças o neuroblastoma (tumor de células do sistema
nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tipo
de tumor renal), retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho), tumor germinativo
(das células que vão dar origem aos ovários ou aos testículos), osteossarcoma
(tumor ósseo) e sarcomas (KYLE, 2011).
O progresso no desenvolvimento do tratamento do câncer na infância foi
espetacular nas últimas quatro décadas. Estima-se que em torno de 70% das
crianças
acometidas
de
câncer
podem
ser
curadas,
se
diagnosticadas
precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria dessas crianças terá
boa qualidade de vida após o tratamento adequado (LIMA et al, 2011).
13
Mesmo com a complexidade que envolve o tratamento desta doença, tem
havido melhora significante sobre o conhecimento científico em relação ao câncer
infantil, participação em pesquisas, ensaios clínicos (ESTEVES, 2010).
O câncer no Brasil atinge entre 12 e 13 mil crianças, anualmente. Estima-se
que em torno de 70% das crianças acometidas de câncer podem ser curadas, se
diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria
dessas crianças terá boa qualidade de vida após o tratamento adequado (INCA,
2009).
4.2 A CRIANÇA FORA DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA, A FAMÍLIA E O
ENFERMEIRO
O processo de adoecimento gera no âmbito das experiências pessoais a
procura por uma alternativa transformadora: a cura. Ainda hoje, principalmente nos
bancos acadêmicos, a cura está relacionada com o sucesso e a vitória em uma
batalha contra um inimigo biológico, sendo esta visão um reflexo do modelo
biomédico de atenção à saúde; a problemática torna-se ainda mais complexa
quando a cura não é mais possível inclusive quando o indivíduo em processo de
morte é uma criança, pois afloram no imaginário coletivo, com significativa
intensidade, os medos e as concepções mais íntimas sobre o que é morrer (SILVA;
ISSI; MOTA, 2011).
Um dos aspectos mais difíceis e dolorosos na oncologia pediátrica é aprender
a aceitar e lidar com a morte da criança terminal. Ao mesmo tempo, pode vir a ser
uma experiência pessoal de valor, pelo conforto que se pode proporcionar e a
recompensa profissional por meio da sensação de ter feito o máximo para amenizar
o sofrimento do paciente e da família, proporcionando uma morte com dignidade
(MENDES; LUSTOSA; ANDRADE, 2009).
Embora a elaboração de um conceito para o paciente em fase terminal seja
complexa, terminologicamente, na medicina, a estas crianças as quais não
respondem à terapêutica mesmo depois de submetidas a todos os recursos
oferecidos para o tratamento, passam a ser consideradas como crianças fora de
possibilidade terapêutica curativa; enfermo sem possibilidade de cura, ou como
paciente terminal. (MONTEIRO; RODRIGUES; PACHECO, 2012).
14
Pelo fato da morte ser negada, tanto pela equipe como pelo familiar, é
possível que diante da terminalidade se crie um vínculo de ajuda e de conflitos.
Neste contexto, laços de amizade e apoio mútuo estreitam a cumplicidade e facilitam
a aceitação da impotência gerada pela fragilidade do momento (MONTEIRO et al,
2008).
A família e a criança portadora de uma doença crônica como o câncer merece
atenção especial, não somente do ponto de vista biológico, mas nas dimensões
psicológicas, sociais, econômicas e espirituais (CASTRO; PICCININI. 2002 aput
BELTRÃO, 2007) Além disso, ancora-se a ideia de ser parte do suporte social que
auxilia a terapêutica, juntamente com os amigos e o hospital. Nesta perspectiva, os
serviços de saúde, na busca da excelência, vêm percorrendo novos paradigmas
assistenciais, considerando além das necessidades da criança, a sua família,
ampliando dessa maneira o cuidado (BELTRÃO, 2007).
Desta forma evidencia-se que a presença dos pais é essencial para a equipe,
pois são os porta-vozes da criança, representam os sentimentos, as atitudes, os
comportamentos socioculturais internalizados no mundo da vida da criança. São os
mediadores da criança no mundo do hospital. Além disso, a criança e sua família
convivem muito tempo no ambiente hospitalar. Isso faz com que se facilite a
aproximação entre estes e a equipe de enfermagem, a qual deve ser pautada na
confiança, na esperança e no respeito, potencializando uma relação de singular
intimidade nesses momentos derradeiros da existência. (SILVA, 2011).
Em acordo com Silva, as autoras Almeida e Sabatés (2008, p.95) ressaltam
ainda que:
A presença dos pais é fundamental nesse momento, contudo eles
precisam de apoio para conseguir permanecer junto ao filho que está
morrendo. Se os familiares não estiverem presentes, cabe à equipe
de enfermagem ficar junto à criança. Não deixá-la sozinha, tocá-la e
transmitir-lhe carinho, pois ela teme a separação e o desconhecido.
Identificar e respeitar a fase de depressão, própria do estágio de
desengajamento, pois animá-la demais nesse momento pode irritar e
atrapalhar o processo de luto.
Para Camargo e Kurashima (2007), o enfermeiro deve estabelecer uma
aliança com o paciente e sua família, proporcionando condições necessárias para o
15
atendimento de suas necessidades nesta fase, no local de preferência da criança e
de sua família.
A criança com doença oncológica demanda cuidados muito específicos e
dinâmicos, pois a mudança de quadro clínico ocorre de forma muito rápida devido ao
rápido avanço da doença. Perante os cuidados ofertados aos enfermos, a
enfermagem é peça fundamental do tratamento, principalmente à criança com
doença crônica degenerativa. A prestação de cuidados especializados de
enfermagem é primordial para a excelência na assistência a criança com câncer que
necessita frequentemente destes cuidados (CARMO, 2007).
4.3 A ESSÊNCIA DO CUIDAR
O cuidado é um sentimento inerente ao ser humano que percorre toda
humanidade e está presente em nossa vivência diária, na família, no trabalho, no
convívio social, fortalecendo sentimentos e conservando a relação entre quem cuida
e quem é cuidado (GARGIULO, 2007).
A enfermagem, enquanto ciência é a arte de cuidar dos seres humanos em
suas necessidades humanas básicas, devendo o cuidar/cuidado ser uma
experiência vivida por meio de uma inter-relação pessoa com pessoa, lembrando
que tão importante quanto o cuidar é estar atento ao efeito que o cuidado produz no
paciente (MIRANDA, 2009).
A assistência em oncologia desenvolve-se pelo cuidado preventivo, curativo e
paliativo. O cuidado preventivo no campo da pediatria oncológica pode ser
desenvolvido por ações antes do nascimento da criança e durante a infância, por
exemplo, através de aconselhamento genético e com orientações acerca de hábitos
de vida saudáveis. O cuidado curativo envolve as fases de diagnóstico, tratamento e
controle. O cuidado paliativo desenvolve-se através de assistência multiprofissional,
com a inter-relação de ações de suporte e conforto para a criança e sua família
(CAMARGO; KURASHIMA, 2007).
Ter pensamentos e atitudes que demonstrem cuidados como ser atencioso,
gentil, preservar a dignidade do paciente, expressar-se com empatia, ser paciente,
estar emocionalmente presente, reconhecer a humanidade do outro, fazer ao outro o
16
que gostaria que fosse feito a si mesmo, e ser eficaz nas suas ações profissionais
são algumas das ações de cuidado da enfermagem (GARGIULO, 2007).
O cuidado, essência da enfermagem, volta-se para a busca da qualidade de
vida e para a compreensão do ser humano como um todo. É necessário estar
sempre atento para que se possa conhecer, entender o que o outro necessita e
como ajuda-lo neste processo (BARBOSA, 2004 aput ARAÚJO, 2012).
O processo de cuidar envolve relacionamento interpessoal originado no
sentimento de ajuda e confiança mútuas. Logo cuidar é servir, é perceber o outro em
pequenos gestos, em pequenas falas, em suas limitações, para realizar esse cuidar,
é preciso que os profissionais tenham afinidade e afetividade em relação aos
pacientes, principalmente no caso dos portadores de câncer (FERNANDES et al,
2012).
O cuidar é de grande importância quando dispensado ao paciente e torna-se
mais relevante ainda, quando é direcionado as pessoas com neoplasias malignas. O
profissional enfermeiro que se depara com a assistência a esses pacientes tem o
desafio de encontrar significados e respostas aos questionamentos do processo
viver - adoecer, curar, morrer – e de implementar medidas para promover a vida ou
aliviar o sofrimento (PREARO et al, 2011).
O conhecimento e a experiência, também são estratégias muito utilizadas
pela enfermagem para o alcance de uma assistência de qualidade. O saber
originado no cotidiano da prática associado ao suporte teórico sinaliza a
necessidade de resolução das limitações, propiciando em cuidado, melhor
fundamentado (SALIMENA et al, 2007).
O conhecimento serve de base e suporte para a enfermeira que cuida, pois
ao técnico e ao teórico, se aliam a cientificidade do fazer profissional gerando o
cuidado (GARGIULO, 2007).
4.4 CUIDADOS PALIATIVOS
4.4.1 História
Etimologicamente a palavra “paliativo” advém do verbo palliare, que significa
manto ou capa (proteção), sendo assim o verbo paliar assumi vários significados tais
17
como: tornar menos duro, remediar e aliviar. Os cuidados paliativos caracterizam-se
com esta noção, pois um tratamento paliativo é aquele que “remedeia
momentaneamente
um
problema,
mas
não
o
resolve
definitivamente”
(MAGALHÃES, 2009).
Em 1967 teve inicio a história dos cuidados paliativos com o movimento
hospice, como reação à tendência desumanizante da medicina moderna. Em 1967
Cecily Saunders – enfermeira, assistente social e médica - fundou o St. Christopher
Hospice, sendo o primeiro serviço a oferecer cuidado integral ao doente, que incluía
o controle dos sintomas, como o alívio da dor, e do sofrimento psicológico. Tornouse assim, o primeiro hospício a adotar um modelo assistencial de cuidados
paliativos. Esta unidade foi também responsável pela proliferação do movimento dos
hospícios no mundo (DOYLE et al., 2006 apud FREITAS, 2012).
A Enfermeira, assistente social e também médica associa-se a políticos,
advogados e à igreja, com o intuito de promover a integração dos Cuidados
Paliativos no sistema nacional de saúde inglês, além de propagar a necessidade de
formação de profissionais de saúde com conhecimentos específicos sobre o
acompanhamento de doentes terminais (LEMOS; SANTANA, 2011). Os movimentos
de protesto contra o abandono dos moribundos pelo sistema de saúde inglês
expandiram-se e, em 1985 foi fundada a Associação de Medicina Paliativa da GrãBretanha e Irlanda. Em 1987, a Inglaterra é o primeiro país a reconhecer a nova
especialidade médica (MENEZES, 2006).
Nos Estados Unidos o encontro de Cicely Saunders com a psiquiatra norteamericana Elizabeth Klüber-Ross, fez crescer também lá o movimento Hospice. No
final dos anos de 1970 e início dos 1980, era uma organização popular, comunitária,
dirigida por voluntários e enfermeiras, com pouco envolvimento de médicos. A partir
da metade dos anos 1980, o surgimento da epidemia de AIDS marca uma crescente
expansão do movimento pelos hospícios e a rápida apropriação de um controle dos
Cuidados Paliativos pelos médicos (PERES et al, 2007).
Por ser baseado no princípio de qualidade de vida para o paciente e seu
entorno e por considerar a globalidade do paciente e de suas necessidades, os
cuidados paliativos constituem um complemento ao positivismo médico, graças à
humanização das práticas no tratar e cuidar (SCHRAMM, 2004 apud, LEMOS,
SANTANA, 2011). Não se trata de rejeitar os avanços científicos, mas unir o novo e
o antigo, a ciência e a compaixão. O “cuidado hospice” foi aplicado ao paciente
18
terminal, cuidado que embora seja holístico não deixa de ser científico. E assim
nasceu a medicina paliativa (DOYLE; MAC DONALD, 2006).
Os Cuidados Paliativos postularam uma nova forma de atendimento e
acompanhamento do último período de vida dos pacientes com doença crônica
degenerativa. Seu pressuposto fundamental consiste no trabalho de uma equipe
multiprofissional, voltada a prestar assistência à “totalidade bio-psico-socialespiritual” dos pacientes e de seus familiares e amigos. Baseados na prevenção e
alívio do sofrimento, identificando e tratando a dor e outros problemas físicos,
psicossociais e espirituais. Contrapondo-se ao modelo de assistência médica
eminentemente curativa, no qual o doente é despossuído de voz, a inovadora
modalidade valoriza a expressão do enfermo (SCHRAMM, 2004 apud, LEMOS,
SANTANA, 2011).
4.4.2 Conceitos e princípios
O conceito de Cuidados Paliativos foi redefinido em 2002 pela OMS,
enfatizando a prevenção do sofrimento. Eis o novo conceito: Cuidados Paliativos é a
abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de
doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alivio do
sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor
e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (SOUZA; SOUZA,
2009).
Esta modalidade de assistência tornou-se um modelo de assistência, ensino e
pesquisa no cuidado aos pacientes e suas famílias e tem como alvos pacientes
diagnosticados como “fora de possibilidades de cura” (MACIEL, 2008). Pacientes
diagnosticados com doença avançada e incurável e, no qual muitos experimentam
um prolongamento da vida a qualquer custo pelo entendimento médico da morte
como um fracasso (DOYLE; MAC DONALD, 2006).
Logo se entende que todo paciente com prognóstico desfavorável de uma
doença crónico degenerativa, sem resposta terapêutica curativa, deve ter acesso
aos cuidados paliativos.
Os cuidados podem ser prestados em ambientes de internação hospitalar,
ambulatorial e domiciliar. A prática adequada dos Cuidados Paliativos preconiza
atenção individualizada ao doente e à sua família, busca da excelência no controle
19
de todos os sintomas e prevenção do sofrimento, possibilitando simultaneamente
sua maior autonomia e independência (BERNARDO et al, 2010). Deve ser adaptada
a cada país ou região de acordo com aspectos relevantes como: disponibilidade de
recursos materiais e humanos, tipo de planejamento em saúde existente, aspectos
culturais e sociais da população atendida (MACIEL, 2008).
O Cuidado Paliativo não se baseia em protocolos, mas em princípios. Não se
fala mais em terminalidade, mas em doença que ameaça a vida, indica-se o cuidado
desde o diagnostico, expandindo o campo de atuação do enfermeiro (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2011).
Juntamente com o conceito, a OMS reafirmou em 2002 os princípios que
regem a atuação da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos. Essa equipe é
formada por profissionais devidamente habilitados e comprometidos com a causa
“alívio do sofrimento”, adequadamente treinados e experientes no controle de
sintomas de natureza não apenas biológica (LEMOS, 2011). Pessoas que possuem
controle dos seus limites de competência dentro de uma equipe, basicamente
formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, nutricionistas, religiosos e voluntários (MATOS; MORAES,
2006).
Os princípios estão listados da seguinte forma:
- Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis;
- Não acelerar nem adiar a morte;
- Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente;
- Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão
ativamente quanto possível até o momento da sua morte;
- Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do
paciente e o luto;
- Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos
pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto;
- Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença;
- Iniciar o mais precocemente possível o Cuidado Paliativo, juntamente com
outras medidas de prolongamento da vida, como quimioterapia e radioterapia,
e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e
controlar situações clínicas estressantes (ANCP, 2009);
20
4.4.3 Cuidados Paliativos e a Enfermagem
Para a enfermagem, que tem como principio fundamental em seu código de
ética o comprometimento com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e
coletividade, a filosofia de cuidados paliativos não é totalmente nova, vem aprimorar
o que já está enraizado na profissão, o cuidado (LEMOS; SANTANA, 2011).
O enfermeiro exerce seu essencial papel desenvolvendo ações práticas e
gerenciais em maior consonância com toda a equipe de saúde, cujos profissionais,
nesse momento tão específico do tratamento terapêutico, convergem seus discursos
para a estrutura do cuidado ante a estrutura da cura. Tem-se então um ambiente
genuíno para a prática da enfermagem fundamental (ANCP, 2009).
A atuação da equipe de enfermagem é primordial e indispensável para
proporcionar o máximo de conforto ao paciente sob cuidados paliativos, ajudando-o
a vivenciar o processo de morrer com dignidade, para que utilize da melhor forma
possível, o tempo que lhe resta. Isto significa ajudar o ser humano a buscar
qualidade de vida, quando não é mais possível acrescer quantidade (ARAUJO;
SILVA, 2007).
Por analogia, infere-se que o enfermeiro que atua ou atuara nessa área não
precisará de maiores competências clinicas nem experiência em lidar com equipe
multiprofissional. De uma forma muito mais inconsciente do que consciente, a
desvalorização social do paciente dito “terminal” é transferida para a enfermeira que
dele cuida (CASTANHA, 2004).
No entanto, no que diz respeito a sua competência clinica, e necessário
destacar a sapiência do enfermeiro no controle da dor, visto ser esse um dos
sintomas que mais impõem sofrimento aos pacientes dos Cuidados Paliativos (CIE,
2007).
O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE, 2007), fundado em 1989,
reconhece os Cuidados Paliativos como uma questão atual da saúde e da sociedade
e também vê neles a importância do controle da dor pela enfermeira, em conjunto
com a necessidade de prover auxilio no controle dos demais sintomas e prestar
apoios psicológico, social e espiritual para os pacientes sob seus cuidados.
Ações objetivas, de cunho pragmático, como domínio da técnica de
hipodermoclise, curativos nas lesões malignas cutâneas – frequentemente ditas
21
“feridas tumorais” – técnicas de comunicação terapêutica, cuidados espirituais, zelo
pela manutenção do asseio e da higiene, medidas de conforto e trabalho junto às
famílias são requisitos fundamentais para a melhor atuação do enfermeiro em
Cuidados Paliativos (VASQUES, 2012).
As habilidades dos enfermeiros deverão estar voltadas para a avaliação
sistemática dos sinais e sintomas, para o auxilio da equipe multiprofissional no
estabelecimento de prioridades para cada paciente, bem como para a própria equipe
e para a instituição que abriga o atendimento designado como Cuidados Paliativos,
na interação da dinâmica familiar e, especialmente, no reforço das orientações feitas
pelos demais profissionais da equipe de saúde, de modo que os objetivos
terapêuticos sejam alcançados (ANCP, 2009).
Por isso, é que as competências clinica e relacional do enfermeiro recebe
destaque nos Cuidados Paliativos. Adicionalmente, tanto para a equipe, quanto para
o paciente e para a instituição, e necessário que o profissional tenha habilidades de
comunicação, posto que assegura o melhor desenvolvimento de suas praticas
clinicas (AIRES, 2011).
22
5. MATERIAIS E MÉTODOS
O método de pesquisa cientifica abordado neste estudo foi de revisão
bibliográfica de natureza descritiva, pois utilizou como fonte de coleta de dados a
bibliografia, entendida como um conjunto de publicações encontrado em periódicos,
livros textos e documentos elaborados por instituições governamentais e
sociedades/associações científicas (MOREIRA; CALLEFE, 2006).
Os trabalhos de revisão são definidos por Noronha e Ferreira (2000, p.191)
como: estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática,
dentro de um recorde de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do
estado-da-arte sobre um tópico específico, evidenciando novas ideias, métodos,
subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada.
Após a definição do tema foi feita uma busca em base de dados virtuais em
saúde, das publicações apresentadas no Sistema Latino-Americano e do Caribe de
informação em Ciências da Saúde - LILACS, Scientific Electronic Library Online –
SciELO, National Library of Medicine – MEDLINE; Bancos de Dados em
Enfermagem - BDENF, American Psychological Association PsycINFO e vias nãosistematizadas – UNIFRAN (Universidade de Franca), BEPA (Boletim de
Epidemiologia Paulista), REME (Revista Mineira de Enfermagem) e FUG (Faculdade
União de Goyazes) . Foram utilizados os descritores: Enfermagem oncológica,
enfermagem pediátrica, cuidados de enfermagem, enfermo terminal, assistência
terminal e cuidados paliativos.
Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos em português,
disponíveis gratuitamente nas referidas bases de dados descritas acima, no período
de 2007 a 2013, e que elencassem no mínimo três dos descritores em um único
artigo.
Para o resgate histórico utilizou-se livros, manuais e revistas impressas que
abordassem o tema e possibilitasse acrescer um breve relato sobre câncer,
cuidados paliativos e assistência de enfermagem a criança terminal.
Realizada a leitura exploratória e seleção do material, iniciou a leitura
analítica, por meio da leitura das obras selecionadas, que possibilitou a organização
das ideias.
23
6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Foram encontrados 278 artigos na base de dados da BVS, e 5 de outras
bases de dados (FUG, BEPA, REME). Com base nos critérios de inclusão, foram
selecionados 34 artigos, destes, 12 eram artigos que não continham informações
sobre a atuação ativa do enfermeiro e foram descartados. Dos 22 restantes, 8 foram
encontrados na SciELO; 9 no LILACS; 2 na UNIFRAN; 1 na FUG; 1 no BEPA e 1 na
REME.
No que concerne à metodologia adotada nos trabalhos, dos 22 do resultado
final, 13 eram pesquisa de campo e 9 revisão bibliográfica. Em relação à
abordagem, dois artigos são de abordagem fenomenológica e 20 de abordagem
qualitativa.
Com relação ao ano de publicação, dois estudos foram de 2006, cinco de
2007, um de 2008, cinco de 2009, dois de 2010, três de 2011, três de 2012 e 1 de
2013.
No que tange ao periódico de publicação, a parcela maior – 4 trabalhos – foi
publicado na Revista da Escola de Enfermagem Anna Nery, seguidos de três da
REME, dois da Revista Investigação, dois da Sociedade Brasileira de Cancerologia,
dois da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, um da Revista Vita et Satinas,
um da Revista UNISA, um da PsycINFO, uma da BEPA, um da Revista de
Enfermagem da USP, um da Revista Arquivos de Ciência da Saúde , um da Revista
Cuidado Ciência e Saúde, um do Jornal de Pediatria, um da Revista Brasileira de
Enfermagem.
Tais informações serão evidenciadas nos quadros a seguir:
24
Quadro 01 – Amostra da pesquisa
Amostra da pesquisa
Artigos excluídos
Artigos incluídos
35%
65%
Fonte: Dados da pesquisa 2013.
Quadro 2 – Amostra da pesquisa; autoria, título, periódico e ano de
publicação.
Autor
A1
A2
A3
A4
A5
ARAUJO, M.M.T; SILVA,
M.J.P.
AVANCI, B.S. et al.
BELTRAO, M.R, et al.
BRAGA,
FERRACIOLI,
CARVALHO, G.L.A.
CARNEIRO,
E.M;
K.M;
D.M.S;
Título
A comunicação com o
paciente
em
cuidados
paliativos: valorizando
a
alegria e o otimismo.
Revista
Ano
Revista
da
Escola
de
Enfermagem da
USP
2007
Cuidados paliativos à criança
oncológica na situação do
viver/morrer: a ótica do
cuidar em enfermagem.
Revista
da
Escola
de
Enfermagem
Anna Nery
2009
Câncer infantil: percepções
maternas e estratégias de
enfrentamento frente
ao
diagnóstico.
Jornal
de
Pediatria RJ.
2007
Cuidados
paliativos:
a
enfermagem e o doente
terminal.
Revista
Investigação
2010
Cotidiano
Revista
de
mães
da
2009
25
SOUZA,
C.C.
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
I.E.O;
PAULA
COSTA, J.C.
ESTEFÂNIA, M.B; KARLA,
M.F; ROSÂNGELA, C.C;
GLÓRIA, L.A.F.
FERNANDES, Ana Fátima
Carvalho et al.
FERREIRA, N.M.L.A. et al.
GARCIA-SCHINZARI, N.R;
SPOSITO,
A.M.P;
PFEIFER, L.I.
GARGIULO C.A; et al.
LEMOS, A.M. SANTANA,
N.S.
LIMA, S.S.C; BOTELHO,
H.R.S; SILVESTRE, M.M.
infantil.
A 14
LOPES, V.F; SILVA, J.L.L;
ANDRADE, M.
A 15
MALTA, J.P.S; SCHALL,
V.T; MODENA C.M.
A 16
MENDES, J.A; LUSTOSA,
M.A; ANDRADE, M.C.M.
acompanhantes de filhos que
foram a óbito: contribuições
para
a
enfermagem
oncológica.
Escola
de
Enfermagem
Anna Nery
O enfermeiro frente ao
paciente
fora
de
possibilidades
terapêutica
oncológicas: uma revisão
bibliográfica.
Revista Vita et
Sanitas
2008
Cuidados
Paliativos
a
enfermagem e o doente
terminal.
Revista
Investigação
2010
Significado
do
familiar
a
mastectomizada.
Cuidado
mulher
Revista
da
Escola
de
Enfermagem
Anna Nery
2012
Câncer
na
infância:
conhecendo a experiência do
pai.
Revista Mineira
de Enfermagem
2012
Cuidados paliativos junto a
crianças e adolescentes
hospitalizados com câncer: o
papel da terapia ocupacional.
Revista
Brasileira
de
Cancerologia.
2013
Vivenciando o cotidiano do
cuidado na percepção de
enfermeiras oncológicas.
Revista Mineira
de Enfermagem
2007
Cuidados paliativos: o olhar
de uma graduanda de
enfermagem.
Revista
de
Enfermagem da
UNISA
Câncer infantil: aspectos
emocionais e o sistema
imunológico
como
possibilidade de um dos
fatores da constituição do
câncer
Revista
Sociedade
Brasileira
Psicologia
Hospitalar.
A percepção de profissionais
de
enfermagem
sobre
cuidados
paliativos
ao
paciente
oncológico
pediátrico
fora
de
possibilidade de cura: um
estudo
na
abordagem
fenomenológica das relações
humanas.
Revista on-line
Brasileira
de
Enfermagem
2007
O momento do diagnóstico e
as dificuldades encontradas
pelos
oncologistas
pediátricos no tratamento de
câncer em Belo Horizonte
Revista
Brasileira
de
Cancerologia
2009
Paciente terminal, família e
equipe de saúde.
Revista
Sociedade
Brasileira
Psicologia
Hospitalar.
2009
da
2011
de
da
de
26
A 17
A 18
A 19
A 20
MONTEIRO,
A.C.M.;
RODRIGUES,
B.M.R.D.;
PACHECO, S.T.A.
PERES M.F.P. et al.
PREARO, C. et al;
SALIMENA A.M.O. et al.
A 21
SILVA, A.F; ISSI,
MOTTA, M.G.C.
A 22
SOUZA,
R.A
T.R.C;
H.B;
SOUZA,
O enfermeiro e o cuidar da
criança com câncer sem
possibilidade de cura atual.
Revista
da
Escola
de
Enfermagem
Anna Nery.
2012
Importância da integração da
espiritualidade
e
da
religiosidade no manejo da
dor
e
dos
cuidados
paliativos.
Revista
Sociedade
Brasileira
Psicologia
Hospitalar.
2007
de
Percepção do enfermeiro
sobre o cuidado prestado
aos pacientes portadores de
neoplasia.
Revista
Arquivos
Ciência
Saúde.
de
e
Vivenciando o cotidiano do
cuidado na percepção de
enfermeiras oncológicas.
Revista Mineira
de Enfermagem
2007
Família
oncológica
paliativos.
Revista Ciência,
Cuidado
e
Saúde.
2011
BEPA
2009
da
em
criança
cuidados
Políticas
públicas
em
cuidados
paliativos
na
assistência
às
pessoas
vivendo
com
HIV/Aids
(PVHA).
da
2011
No intuito de alcançar os objetivos propostos neste estudo, os textos foram
organizados de acordo os temas centrais que apresentavam, os quais foram
aproximados à temática e deram origem às seguintes categorias: 1) A percepção
dos enfermeiros em relação à criança fora de possibilidade terapêutica sob cuidados
paliativos; 2) O preparo dos enfermeiros em cuidados paliativos em oncologia
pediátrica.
6.1 A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RELAÇÃO À CRIANÇA FORA
DE POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA SOB CUIDADOS PALIATIVOS
A primeira categoria revela a percepção dos enfermeiros em relação à criança
fora de possibilidade terapêutica sob cuidados paliativos. Analisando os artigos,
observou-se a afinidade dos profissionais em relacionar a percepção diante da
criança com câncer sob cuidados paliativos aos seus sentimentos e as suas
emoções pessoais.
27
Isto se confirma em vários textos que exemplificam através de palavras que
demonstram o sentimentalismo do profissional em lidar com crianças, principalmente
com câncer, que muitos destes, embora com conhecimento, ainda assim associam
câncer a sofrimento e morte iminente.
Gargiulo et al (2007) justifica que a morte é um fato consumado e ao mesmo
tempo inaceitável para o ser humano, principalmente para a criança, pois no
vivemos como se nunca fossemos morrer, ou ao menos até envelhecer
Para Avanci et al (2009), os enfermeiros em sua maioria, apresentam grande
desconforto em lidar com a morte da criança, pois os indivíduos durante a infância
são vistos pela sociedade como portadores de alegria e vida, qualidades que se
opõe a morte.
Reforçando o pensamento de Avanci et al (2009), Monteiro (2012)expõe que
o cuidar de crianças fora de possibilidade de cura em oncologia é bastante difícil,
visto que o enfermeiro, muitas vezes, não consegue lidar com a morte e o morrer
como uma possibilidade do fim do ciclo da vida. Sendo assim, enquanto a criança se
encontra em um momento de maior necessidade de cuidado e atenção, os
profissionais nem sempre estão preparados para compartilhar esse momento tão
difícil, demonstrando que prestar assistência à criança com câncer sob cuidados
paliativos é um processo de sofrimento e um misto de emoções para o profissional.
Esta percepção também é vista por Lopes et al (2007) que afirma que o
câncer é uma doença que impõe grande sofrimento biopsicossocial para os
indivíduos que são acometidos por essa patologia, bem como uma série de
situações desgastantes tanto para suas famílias quanto para o profissional visto que
esta doença traz consigo estigmas relacionado a morte.
A expressão “paciente sob cuidados paliativos” já remete a ideia de uma
assistência prestada ao enfermo cuja doença não responde mais ao tratamento
curativo, associando à doença a morte iminente. O enfermeiro ao prestar os
cuidados a este enfermo, no seu subconsciente, já se depara com seus sentimentos
de medo, anseio e impotência.
Ferreira et al (2012) expressa que o sentimento de fracasso e impotência,
frequentemente são relacionados aos profissionais, pois os mesmos são preparados
em sua formação para trazer a cura, e a morte não é vista como possibilidade para o
cuidado.
28
Com esta afirmação, percebe-se a dificuldade do acompanhamento de um
paciente terminal se as pessoas não aceitam e não trabalham para aceitar a própria
morte. Visto que os cuidados aos doentes sem possibilidade de cura representam
um grande desafio para os enfermeiros, pois estes são o personagem mais presente
na assistência.
O enfermeiro é a peça fundamental do cuidado, e deve estar preparado
emocionalmente para lidar com situações de morte, tendo em vista que isto é bem
presente no seu dia-a-dia. Pois a partir do momento em que este é formado e passa
a exercer a profissão, deve estar preparado para toda e qualquer situação, embora
se confronte com seu lado emocional.
É evidente que a preparação tanto tecno-cienfica quanto psicoemocional é
fundamental para que um bom enfermeiro se sobressaia na assistência oncológica
pediátrica, todavia, não distante a convivência com tais pcientes promove um bem
interiorar maior, éo que nos assegura Gargiulo et al (2007) em seus pensamentos
altruístas quando expõe que cuidar de pacientes portadores de câncer, apesar de
causar algum sofrimento, poderá produzir um sentimento de gratificação nas
profissionais.
Tentando desvendar e solucionar esta dificuldade que o profissional
apresenta ao lidar com o paciente com o prognóstico possível e elevado de óbito,
Prearo et al (2011) revela que este problema ocorre quando o profissional
demonstra envolvimento emocional com o paciente além dos limites, o que acaba
comprometendo-o, tornando o envolvimento algo prejudicial, dificultando muitas
vezes o próprio cuidar em enfermagem. Descreve que embora o envolvimento
emocional seja essencial na terapêutica do cliente, o profissional além de um
preparo científico, necessita também de um preparo físico e psicológico para atingir
o objetivo esperado. Então, envolvendo-se, o enfermeiro aprenderá a lidar com as
emoções, mas também crescerá enquanto pessoa, além de beneficiar o principal
agente da profissão engajada no cuidar, o paciente.
Gargiulo et al (2007 ) reforça a ideia sobre o preparo discorrendo sobre a
importância e necessidade das profissionais aprimorarem seus conhecimentos e
habilidades específicas para poder, com segurança e eficiência, cuidar dos
portadores de câncer sob cuidados paliativos e sua família.
29
6.2 O PREPARO DOS ENFERMEIROS EM CUIDADOS PALIATIVOS EM
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Nesta categoria, a análise dos artigos levantou informações pertinentes ao
preparo/capacitação do profissional em cuidados paliativos, e sua relevância na
assistência à criança oncológica.
Avanci et al (2009), já assegura de início que o enfermeiro, na oncologia
pediátrica deve ter conhecimento sobre fisiopatologia dos diferentes tipos de câncer
e suas opções de tratamento, bem como compreender o processo de crescimento e
desenvolvimento normal da criança, para que seja competente na assistência à
criança com câncer e possa discutir junto à equipe as diferentes abordagens no
tratamento deste paciente.
Lopes (2007) diz que estudos sobre morte-morrer demonstram que a
justificativa do despreparo em lidar com tal fenômeno é atribuída muitas vezes à
formação acadêmica, e salientam ainda que a graduação continua a não preparar os
profissionais para vivenciarem o processo terminalidade de um paciente sob
cuidados paliativos.
Costa et al (2008) se sobrepõe de uma forma mais rude atribuindo a
dificuldade do enfermeiro ao lidar com tais pacientes às lacunas existentes no
conhecimento defasado adquirido na instituição de ensino.
O que lamentavelmente é verídico, levando em consideração estudos
apresentado neste trabalho anteriormente.
Prearo et al (2011) percebe uma carência no que diz respeito ao preparo
deles para vivenciar o processo morte-morrer, sendo esta carência relacionada
principalmente à questão emocional. Os artigos evidenciam que a graduação
oferece um satisfatório preparo quanto aos procedimentos técnicos, deixando uma
lacuna no tocante aos aspectos psicológicos.
Sem dúvida as faculdades apresentam um aparato legal, no currículo escolar
no que diz respeito às praticas e técnicas que oferece o curso, entretanto é a
maioria, se não todas, falham no quesito: apoio psicológico ao futuro profissional
enfermeiro, dentro das grades curriculares.
Mendes (2009) relata que o despreparo da equipe de enfermagem para lidar
com situações de terminalidade tem duas consequências para os profissionais. A
primeira representa a sensação de fracasso do que seria a sua missão: curar o
30
doente, do qual decorre o abandono do paciente a seu próprio destino. A segunda
consequência se manifesta no afastamento que impede o profissional de conhecer o
universo desse paciente, suas queixas, suas esperanças e desesperanças, em
suma, tudo o que ele sente e pensa nesse período de sua vida e cujo conhecimento
o ajudaria a se aproximar do terminal.
Reforçando este pensamento Gargiulo (2007) afirma que ensino científico
direcionado para aprendizagem dos aspectos técnicos reforça o modelo biomédico e
dificulta uma maior aproximação com o cliente, pois, quando formados, os
profissionais tendem a ter uma maior preocupação em atender às necessidades
biológicas do indivíduo, colocando em segundo plano o envolvimento com outros
aspectos do ser humano.
Cabe ressaltar que não somente o conhecimento técnico-cinético forjaria um
profissional de excelência, além da sapiência o enfermeiro necessita também de
preparo mental e psicológico para saber lidar consigo mesmo e também com os
pacientes, sejam eles da assistência baixa ou de alta complexidade.
31
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O câncer por ser uma doença impactante, leva tanto o paciente e a sua
família, quanto o profissional ao sofrimento e dor. Estes sentimentos estão inerentes
à condição de incertezas, que aflige o ser humano através das adversidades e
circunstâncias da sua existência.
Embora a morte seja um fato inevitável e estar presentes cotidianamente nas
nossas vidas, percebe-se a dificuldade em aceitar nossa terminalidade e lidar com a
terminalidade dos enfermos. A morte não deveria ser vivenciada pelos profissionais
de saúde como um processo comum ou ser banalizada.
É sempre um desafio ter como oficio um ambiente que nos proporcione
vivenciar a morte a qualquer momento. Neste sentido, o profissional que trabalha
com cuidados paliativos deve estar preparado a lidar com sentimentos que irão
emergir durante o seu trabalho.
O estudo dos artigos revelaram que percepção do profissional enfermeiro
diante da criança com câncer sob cuidados paliativos está intimamente relacionada
aos seus sentimentos e as suas emoções pessoais. Os profissionais se vêm
despreparados emocionalmente para cuidar de pacientes oncológicos fora de
possibilidade terapêuticas, tornando muitas vezes a assistência puramente
mecânica reforçando o modelo biomédico o que se contrapõe ao tratamento correto
para estes pacientes.
Muitos profissionais não escolhem tratar o paciente de forma mecanicista ou
assisti-lo de forma fria, esta forma de lidar com o enfermo muitas vezes ocorre como
um mecanismo de autodefesa, o que mais uma vez evidencia o despreparo
psicoemocional deste profissional.
O profissional enfermeiro é um ser dotado de emoções e sentimentos como
qualquer outro ser humano, o preparo desde sua formação é necessário, pois este
lida com situações agradáveis e desagradáveis a todo instante e seu preparo diante
de tais situações promoverá benefícios tanto para sí quanto pra quem dele
necessita.
Todavia, não se pretende findar a criação de novos estudos nem sanar as
questões que envolvam a problemática, mas sim discutir e trazer à tona para servir
de reflexão aos profissionais da área de saúde que integram o setor de
32
oncopediatria, a fim de que sejam mais vigorosos em sua capacitação e colaborar
para o crescimento da enfermagem como um todo, além de fornecer subsídios para
o ensino e a pesquisa nesta área, assim como estimular a participação ativa dos
enfermeiros nestas equipes de preparo.
É notório que não há como erradicar o despreparo, ainda, destes profissionais
que saem das faculdades sem uma qualificação especifica em oncologia, devido à
ausência deste conteúdo na grade curricular da graduação. Entretanto, estimular a
busca de aperfeiçoamento, dos profissionais deste setor. Pois a melhoria da
percepção e preparo não se trata de um fato isolado, mas de ações rotineiras e
contínuas.
33
8. REFERÊNCIAS
ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS (ANCP). Manual de cuidados
paliativos. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2009. 320p.
AIRES, E.M. Cuidados paliativos: paciente, família e equipe. In: Congresso
Interamericano de Psicologia da Saúde, 6., 2011, São Paulo. Anais... São Paulo,
2011, p. 31-32.
ALMEIDA, F. A.; SABATÉS, A. L. Enfermagem pediátrica: a criança, o
adolescente e sua família no hospital. Barueri: Manole, 2008 p.421.
ARAUJO, M.M.T; SILVA, M.J.P. A comunicação com o paciente em cuidados
paliativos: valorizando a alegria e o otimismo. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo,
v. 41, n. 4, Dec. 2007.
ARAUJO,
R.A.
et
al
.
Contribuições da
filosofia
para
a
pesquisa
em
enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 16, n. 2, June 2012
AVANCI, B.S. et al. Cuidados paliativos à criança oncológica na situação do
viver/morrer: a ótica do cuidar em enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v.
13, n. 4, 2009.
BELTRAO, M.R, et al. Câncer infantil: percepções maternas e estratégias de
enfrentamento frente ao diagnóstico. J. Pediatr. (Rio J.), Porto Alegre, v. 83, n.
6, Dec. 2007.
BERNARDO, C.L.E. et al. Educação em Cuidados Paliativos na rede municipal de
saúde de Campinas. In: Congresso Internacional de Cuidados Paliativos, 4., 2010,
São Paulo. Anais... São Paulo, 2010. p. 14-16.
BRAGA, E.M; FERRACIOLI, K.M; CARVALHO, G.L.A. Cuidados paliativos: a
enfermagem e o doente terminal. Investigação, v. 10, n. 1, p. 26-31, 2010.
34
CAMARGO, B.; KURASHIMA, A. Y. Cuidados paliativos em oncologia pediátrica:
o cuidar além do curar. São Paulo: Lemar, 2007.
CARMO, S.A. Atuação do enfermeiro frente à família da criança com câncer:
produção científica nacional no período de 2000 a 2005. 2007. 24 f. Monografia
(Especialização em Enfermagem Pediátrica). Escola de Enfermagem Anna Nery,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.
CARNEIRO, D.M.S; SOUZA, I.E.O; PAULA C.C. Cotidiano de mães acompanhantes
de filhos que foram a óbito: contribuições para a enfermagem oncológica. Esc. Anna
Nery. 13(4): 757-62, dez 2009.
CASTANHA, M. L. A. In: Visibilidade da prática de cuidar do ser enfermeiro sob
o olhar da equipe de saúde. 2004. 11f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.
CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS (Genebra). La enfermería
importa. Cuidados paliativos. Página informativa. [ca.2007]. Disponível em:
<http://www.icn.ch/matters_palliativesp.pdf>. Acesso em: 4 nov 2013.
COSTA, J.C. et al. O enfermeiro frente ao paciente fora de possibilidades
terapêutica oncológicas: uma revisão bibliográfica.
Rev. Vita et Sanitas,
Trindade/Go, v. 2, n . 02, 2008.
DOYLE, D.W.C.G; MAC DONALD, H.N. As origens da medicina paliativa.
Coletânea de textos sobre cuidados paliativos e tanatologia. São Paulo: UNIFESP;
p. 14-5, 2006.
ESTEFÂNIA, M.B; KARLA, M.F; ROSÂNGELA, C.C; GLÓRIA, L.A.F. Cuidados
Paliativos a enfermagem e o doente terminal. Investigação, v. 10, n. 1, p. 26-31,
2010.
35
ESTEVES, A. V. F. Compreendendo a criança e o adolescente com câncer em
tratamento quimioterápico diante da utilização do brinquedo. 2010. 179 f. Tese
(Doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.
FERNANDES, Ana Fátima Carvalho et al. Significado do Cuidado familiariz a mulher
mastectomizada. Esc. Anna Nery , Rio de Janeiro, v 16, n. 1, março de 2012
FERREIRA, N.M.L.A. et al. Câncer na infância: conhecendo a experiência do pai.
REME, Minas Gerais, v. 16, n.3, p. 348-354, jul./dez., 2012.
FREITAS, N.A.D. Medicina e cuidados paliativos: O conceito de “boa morte” na
contemporaneidade. 2009. Dissertação (Mestre em Medicina) – Universidade da
Beira Interior, Covilhã, 2012.
GARCIA-SCHINZARI, N.R; SPOSITO, A.M.P; PFEIFER, L.I. Cuidados paliativos
junto a crianças e adolescentes hospitalizados com câncer: o papel da terapia
ocupacional. Revista Brasileira de Cancerologia. vol. 59(2): 239-247, 2013.
GARGIULO C.A; et al. Vivenciando o cotidiano do cuidado na percepção de
enfermeiras oncológicas. Juiz de Fora – MG: Universidade de Juiz de Fora/UFJF;
2007.
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Incidência de câncer no Brasil em
crianças e adolescentes. Rio de Janeiro: INCA, 2010.
______. Particularidade do câncer infantil. Rio de Janeiro. INCA, 2013. Disponível
em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=343>. Acesso em 17 março de
2013.
KYLE, T. Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1064p. ISBN 978-85-277-1750-2.
LEMOS, A.M. SANTANA, N.S. Cuidados paliativos: o olhar de uma graduanda de
enfermagem. Rev Enferm UNISA; 12(1): 52-z, 2011.
36
LIMA, S.S.C; BOTELHO, H.R.S; SILVESTRE, M.M. Câncer infantil: aspectos
emocionais e o sistema imunológico como possibilidade de um dos fatores da
constituição do câncer infantil. Rev. SBPH, Rio de Janeiro , v. 14, n. 2, dez. 2011 .
LOPES, V.F; SILVA, J.L.L; ANDRADE, M. A percepção de profissionais de
enfermagem sobre cuidados paliativos ao paciente oncológico pediátrico fora de
possibilidade de cura: um estudo na abordagem fenomenológica das relações
humanas. Online Brazilian Journal of Nursing. abr; 6(3), 2007.
MACIEL, M.G.S. Definições e princípios. In: Oliveira RA, coordenador. Cuidados
Paliativos. São Paulo: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo;
p.215-32, 2008.
MAGALHÃES, J. C. Cuidar em fim de vida: experiências durante a formação inicial
de enfermagem. Lisboa: coisas de ler; p.109, 2009.
MALTA, J.P.S; SCHALL, V.T; MODENA C.M. O momento do diagnóstico e as
dificuldades encontradas pelos oncologistas pediátricos no tratamento de câncer em
Belo Horizonte. Revista Brasileira de Cancerologia. vol. 55(1): 33-39, 2009.
MATOS, F.A.; MORAES, T.M. A enfermagem nos cuidados paliativos. In:
Figueiredo MTA, coordenador. Coletânea de textos sobre cuidados paliativos e
tanatologia. São Paulo: UNIFESP; 2006. p. 49-61.
MENDES, J.A; LUSTOSA, M.A; ANDRADE, M.C.M. Paciente terminal, família e
equipe de saúde. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, jun. 2009.
MENEZES, R.A. Etnografia de um hospital de cuidados paliativos. Tanatologia e
subjetividades. Rev Núcleo Est Pesq Tanatol Subjet UFRJ; 1(1), 2006.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Instituto Nacional de Câncer (INCA). ABC do câncer:
abordagens básicas para o controle do câncer. Rio de Janeiro: Inca, 2011. 128 p.: il.
37
MIRANDA,
A.
C.
familiar/acompanhante
Do
e
diagnóstico
seu
ao
processo
de
tratamento
adaptação.
de
24f.
câncer:
o
Monografia
(Graduação em Enfermagem). Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina,
Nov/Dez 2009).
MONTEIRO, A.C.M. O enfermeiro e a criança no contexto da doença oncológica
fora de possibilidade de cura atual. 2012. 45 f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem, Universidade de Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro.
MONTEIRO, A.C.M.; RODRIGUES, B.M.R.D.; PACHECO, S.T.A. O enfermeiro e o
cuidar da criança com câncer sem possibilidade de cura atual. Escola Anna Nery
(impr.), p. 741-746 out/dez, 2012.
MOREIRA, H; CALEFFE, LG. Metodologia da pesquisa para o professor
pesquisador. Rio de Janeiro: DP&A; 2006.
NORONHA, D.P; FERREIRA, S.M. Revisões de literatura. In: CAMPELLO,
Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite
(orgs.) Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo
Horizonte: UFMG, 2000.
PERES M.F.P. et al. Importância da integração da espiritualidade e da religiosidade
no manejo da dor e dos cuidados paliativos. Rev. de Psiq Clín; 34(1): 82-7, 2007.
PREARO, C. et al. Percepção do enfermeiro sobre o cuidado prestado aos pacientes
portadores de neoplasia. Arq Ciênc Saúde; 18(1):20-7 jan-mar 2011.
SALIMENA A.M.O. et al. Vivenciando o cotidiano do cuidado na percepção de
enfermeiras oncológicas. Juiz de Fora – MG: Universidade de Juiz de Fora/UFJF;
2007.
38
SCHINZARI, N. R. et al. Cuidados Paliativos junto a Crianças e Adolescentes
Hospitalizados com Câncer: o Papel da Terapia Ocupacional. Revista Brasileira
de Cancerologia, 59(2): 239-247, 2013.
SILVA, A.F; ISSI, H.B; MOTTA, M.G.C. Família da criança oncológica em cuidados
paliativos. Ciência, Cuidado e Saúde; 10(4): 820-827, 2011;
SOUZA, T.R.C; SOUZA, R.A. Políticas públicas em cuidados paliativos na
assistência às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). Bepa; 6(70):19-24. 2009.
TONANI, M. Risco de câncer e comportamentos preventivos: a persuasão
como uma estratégia de intervenção. Dissertação (mestrado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007.
UNIDADE DE CUIDADOS (UNIC). Manual de cuidados paliativos em pacientes
com câncer. Rio de Janeiro: UNATI/UERJ, 2009.
VASQUES, T.C.S. Percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca dos
Cuidados Paliativos e de sua implementação. 2012. 91f. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) – Escola de Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande.
ZEVALLOS, P. O câncer infantil. Disponível em: <http://br.guiainfantil.com/cancerinfantil.html>. Acesso em 02 de novembro de 2013.