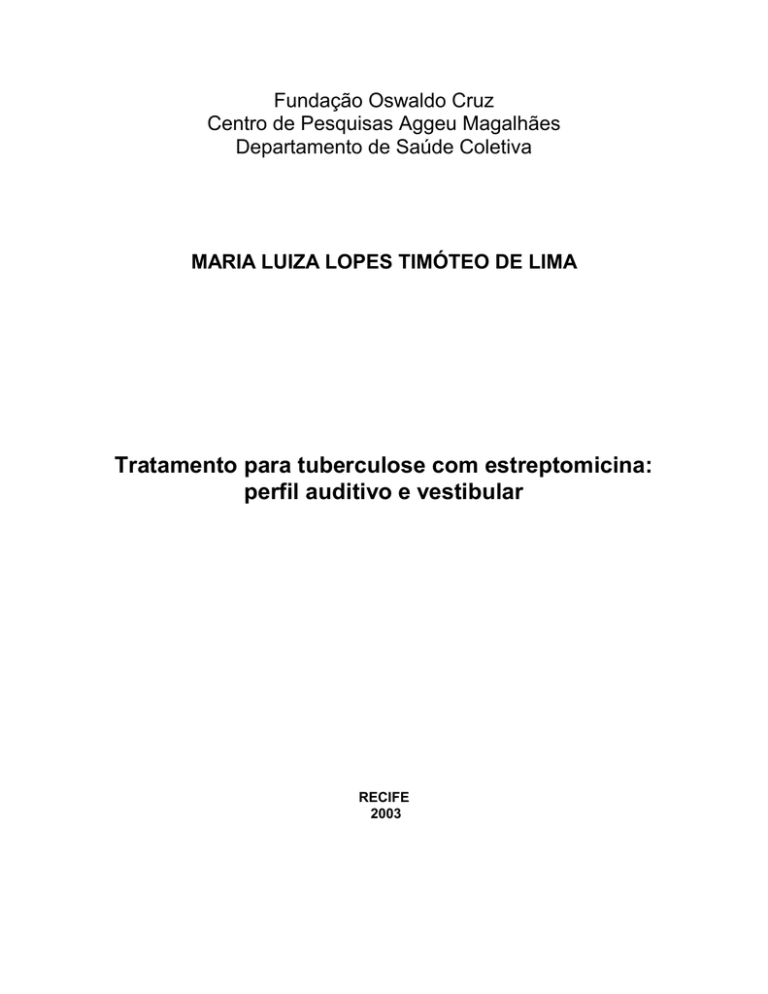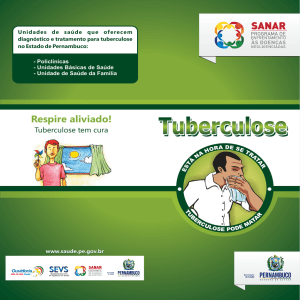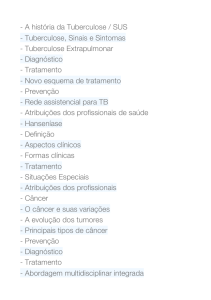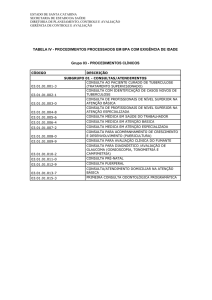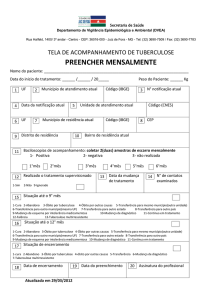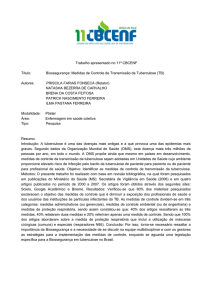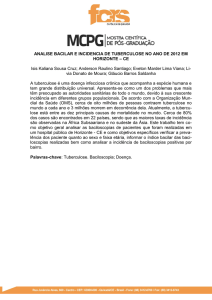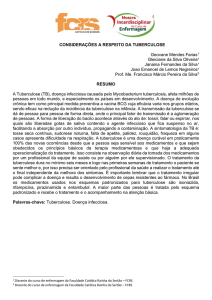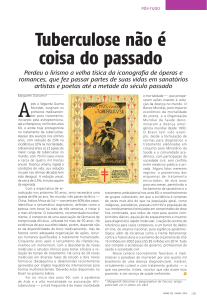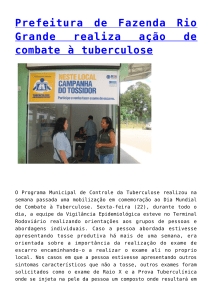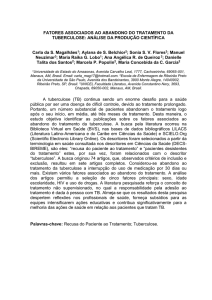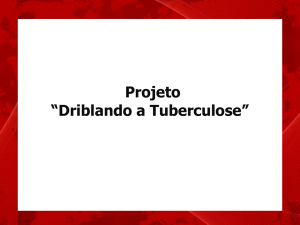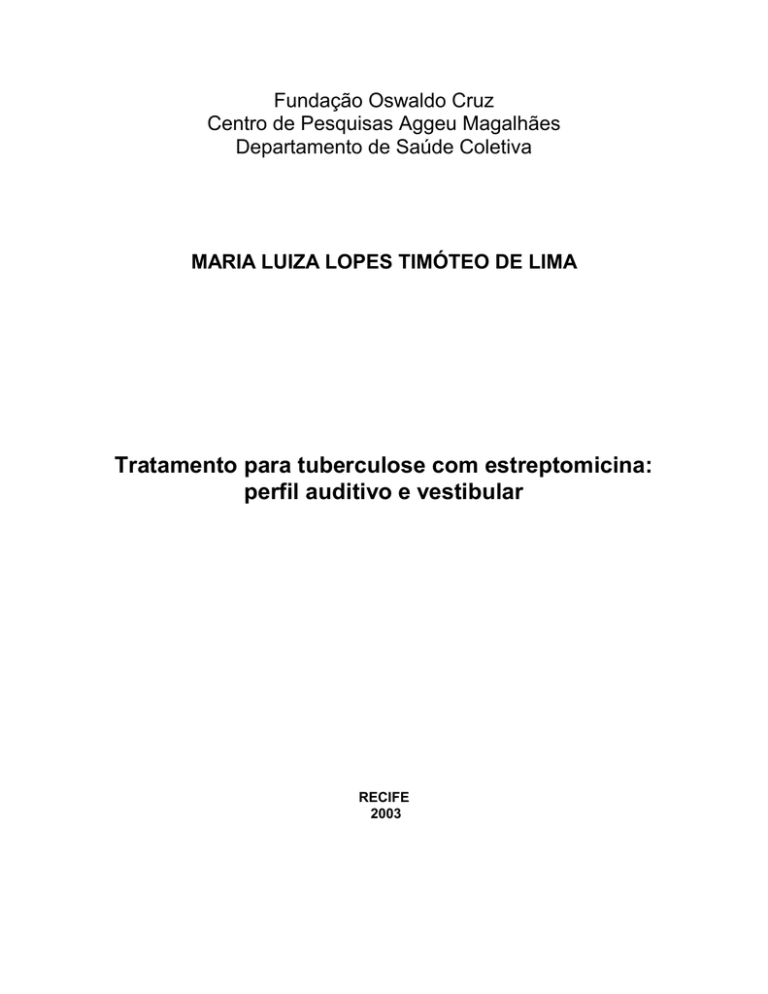
Fundação Oswaldo Cruz
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães
Departamento de Saúde Coletiva
MARIA LUIZA LOPES TIMÓTEO DE LIMA
Tratamento para tuberculose com estreptomicina:
perfil auditivo e vestibular
RECIFE
2003
MARIA LUIZA LOPES TIMÓTEO DE LIMA
Tratamento para tuberculose com estreptomicina:
perfil auditivo e vestibular
Dissertação
apresentada
à
Banca
Examinadora, como requisito parcial à obtenção
do Grau de Mestre do Curso de Mestrado em
Saúde Pública do Departamento de Saúde
Coletiva-NESC/CpqAM/FIOCRUZ.
ORIENTADORA:
Profa. Dra. Zulma Maria Medeiros
CO-ORIENTADOR:
Prof. Fábio José Delgado Lessa
RECIFE
2003
616-002.5
L732t
Lima, Maria Luiza Timóteo de.
Tratamento para tuberculose com estreptomicina:
perfil auditivo e vestibular/Maria Luiza Lopes Timóteo de
Lima. – Recife, 2003.
115 p.: il., tabs.
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) –
Departamento de Saúde Coletiva, Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 2003.
Orientador: Zulma Medeiros.
Co-orientador: Fábio José Delgado Lessa .
1. Tuberculose. 2. Tratamento – Efeitos adversos.
3.Perda da audição. 4. Vertigem. I. Medeiros, Zulma.
II. Lessa, Fábio José Delgado. III. Título.
CDU 616-002.5
Dedico este trabalho à minha família,
pelo incentivo e apoio
incondicionais.
AGRADECIMENTOS
À Dra. ZULMA MEDEIROS, pela dedicação como orientadora e por acreditar no
desenvolvimento deste trabalho.
A FÁBIO LESSA, não só pela dedicação ao trabalho como co-orientador, mas pela
presença amiga nos momentos necessários.
À Dra. FÁTIMA MILITÃO e ANA MARIA AGUIAR, pelo acompanhamento do
trabalho e valiosas sugestões na aula de qualificação.
Às Fonoaudiólogas ADELIA ROCHA, ALICE CAVALCANTE, CLEIDE TEIXEIRA,
LILIAN MUNIZ e LUCIANA PIMENTEL pela disponibilidade e apoio constante.
A DOMICIO SÁ, CRISTINE BOMFIM, CLAUDIA CASTRO e CONCEIÇÂO
OLIVEIRA, pelo apoio nos momentos de construção deste trabalho.
Às estagiárias SIMONE FONSECA e VANESSA LIMA, pela contribuição na coleta
dos dados.
A MARCOS ROCHA e CARLOS AGUIAR, pela disponibilidade e profissionalismo
no resgate dos pacientes.
Às orientações estatísticas do Prof. JOSÉ EDMILSOM MAZZA.
Ao NESC, pelo acompanhamento e apoio constante.
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos
a vida inteira que podia ter sido e não foi
tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico
diga 33, 33, 33
Então, doutor, é possível tentar o pneumotórax?
Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
(Pneumotórax, Manoel Bandeira)
RESUMO
A tuberculose é uma doença endêmica, cuja incidência aumentou nos últimos
anos. O tratamento é realizado com a administração de drogas tóxicas; face à
multirresistência, o uso de drogas com potencial de toxicidade tende a aumentar.
A toxicidade pode causar alterações no funcionamento do organismo, acarretando
deficiências e incapacidades em sistemas vitais, inclusive o auditivo. A
estreptomicina é uma droga usada no tratamento da tuberculose, para os casos
de falência a tratamentos anteriores, e descrita na literatura como tóxica ao
sistema vestibular e auditivo. Este trabalho tem por objetivo descrever o perfil
auditivo
de
pessoas
que
realizaram
tratamento
para tuberculose, com
estreptomicina, no Recife, nos anos de 2000 e 2001. Através do banco de dados
do SINAN, para tuberculose, identificou-se as pessoas que utilizaram a
estreptomicina, para tratamento da tuberculose, em 2000 e 2001. A amostra foi
constituída por 36 pessoas tratadas com estreptomicina por, no mínimo, 15 dias.
Os pacientes foram submetidos a entrevista, meatoscopia, audiometria e ao teste
de emissões otoacústicas. As características predominantes foram: sexo
masculino (79,4%), forma pulmonar da doença (94,4%) e faixa etária média de
38,8 anos. Apenas uma pessoa fez uso da combinação de drogas que inclui a
estreptomicina, preconizada pelo PNCT; os demais foram submetidos a
tratamento com 12 diferentes combinações de drogas e mais a estreptomicina.
Dentre os 36 pacientes, 75,1% apresentaram algum tipo de alteração auditiva,
sendo a mais freqüente a sensório-neural (63,9%), na forma bilateral (62,9%), com
predomínio das freqüências agudas, a partir de 4.000Hz. As emissões
otoacústicas transientes e produto de distorção apresentaram resultados
compatíveis com os das audiometrias. Não houve comprovação de associação
significativa entre as alterações auditivas e vestibulares, quando comparadas com
as variáveis: sexo, faixa etária, número de drogas associadas à estreptomicina,
tempo de uso da estreptomicina, tratamento anterior, doenças associadas, casos
de tuberculose na família, antecedentes de alteração auditiva e exposição ao
ruído. Os resultados deste estudo sugerem a necessidade de estruturação de um
sistema de monitoramento auditivo para melhor atendimento desta população.
ABSTRACT
Tuberculosis is an endemic disease that has increased recently as to its incidence.
Therapy in this case use to be with toxic drugs but what has been occurred is
multiresistence which leads to administrate toxic substances more and more.
Toxicity causes organic function changes. It provokes, among several deficiencies,
hard hearing system damage. Streptomycin is a kind of drug for tuberculosis
therapy for serious disease occurrance observed in anterior treatments and it is
also described in literature as a toxic substance that can induce auditory and
vestibular system disorder. This present study aims to describe hearing profile in
humans who were submitted to treatment for tuberculosis with streptomycin in
Recife between 2000 and 2001. Trough SINAN data for tuberculosis (Deep Noting
Information Department) these patients were identified on that time. 36 patients
were treated with streptomycin during fifteen days. They were interviewed,
submitted to meatuscopy, audiometry and otoacustic emissions. This group were
formed by masculine sex prevalently (79,4%), with pulmonary tuberculosis (94,4%)
and aged 38. Just one of the patients evaluated took combining drugs including
streptomycin predicted by PNCT and there were twelve different types of combined
drugs with streptomycin. From those 36 patients (75,1%) who showed some
hearing alteration, the most frequent form was observed in the neuro-sensorium
system (63,9%) bilaterally (62,9%) and recorded acute frequencies prevalently
starting from 4.000 Hz. Otoacustic emissions tests showed suitable results to
audiometry ones. There was no record to confirm significant association among
auditory and vestibular changes when compaired to these factors: sex, age, drugs
related to streptomycin, period of streptomycin administration, anterior therapy,
correlated diseases, familiar tuberculosis history and anterior hearing changes due
to noise exposition. This study conclusions suggest needing of improvement as to
infra-structural monitoring system to follow people hearing troubles.
Sumário
Pag.
LISTA DE SIGLAS...........................................................................................
08
LISTA DE TABELAS........................................................................................
09
LISTA DE GRÁFICOS......................................................................................
13
LISTA DE QUADROS......................................................................................
14
1- INTRODUÇÃO.............................................................................................
15
1.1 Tuberculose como problema de saúde pública .................................
16
1.2 Tratamento da tuberculose...................................................................
22
1.3 A audição e a tuberculose.....................................................................
32
1.4 Monitoramento auditivo na ototoxicidade...........................................
36
2- OBJETIVOS..................................................................................................
39
2.1 Geral........................................................................................................
40
2.2 Específicos.............................................................................................
40
3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....................................................
41
3.1 Área de estudo.......................................................................................
42
3.2 População estudada e período de referência.....................................
42
3.3 Desenho do estudo................................................................................
44
3.4 Coleta dos dados...................................................................................
44
3.4.1 Dados secundários..........................................................................
44
3.4.2 Dados primários...............................................................................
45
3.5 Elenco de variáveis...............................................................................
46
3.5.1 Variáveis dependentes...................................................................
46
3.5.2 Variáveis independentes.................................................................
46
3.6 Processamento dos dados e plano de descrição e análise..............
48
3.7 Controle de “bias” ...............................................................................
49
3.8 Considerações éticas ..........................................................................
49
4- RESULTADOS.............................................................................................
50
5-DISCUSSÃO..................................................................................................
80
6- CONCLUSÕES.............................................................................................
91
7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................
93
8- ANEXOS......................................................................................................
99
8
LISTA DE SIGLAS
AIDS
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
ANSI
American National Standard Institute
ASHA
American Speech-Language-Hearing Association
BAAR
Bácilo álcool-ácido-resistente
BCG
Bacilo Calmette-Guérin
dB
Decibel
dBNA
Decibel nível de audição
dBNPS
Decibel nível de pressão sonora
DOTS
Tratamente diretamente observado de curta duração
E
Etambutol
Et
Etionamida
H
Isoniazida
HIV
Vírus da Imunodeficiência Adquirida
I
Esquema I de tratamento da tuberculose
III
Esquema III de tratamento da tuberculose
IR
Esquema I reforçado de tratamento da tuberculose
kHz
Quilohertz
OMS
Organização Mundial de Saúde
OPAS
Organização Pan-Americana de Saúde
PNCT
Programa Nacional de Controle da Tuberculose
PE
Pernambuco
PPD
Derivado protéico purificado
R
Rifampicina
S
Estreptomicina
SES
Secretaria Estadual de Saúde
SMS
Secretaria Municipal de Saúde
SINAN
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
TBMDR
Tratamento Multidrogarresistennte
Z
Pirazinamida
9
LISTA DE TABELAS
Pág.
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Distribuição dos casos de tratamento da tuberculose, com
estreptomicina – Recife, 2000-2001...................................................
43
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a unidade de saúde Recife, 2000-2001...............................................................................
43
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária - Recife,
2000-2001...........................................................................................
52
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a forma da tuberculose Recife, 2000-2001...............................................................................
52
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior
para tuberculose - Recife, 2000-2001.................................................
53
Esquema de drogas usadas por pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina - Recife, 2000-2001..............
54
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tipo de alteração
auditiva - Recife, 2000-2001...............................................................
56
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento da
tuberculose, com estreptomicina, segundo a lateralidade da
alteração auditiva - Recife, 2000-2001...............................................
56
Média, desvio padrão e coeficiente de variação dos resultados das
audiometrias de pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a freqüência testada por
orelha - Recife, 2000-2001.................................................................
57
Audiometrias de pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, em freqüências agrupadas, grave
e aguda, por orelha - Recife, 2000-2001............................................
58
Alterações auditivas e vestibulares (queixas) em pessoas que
realizaram tratamento para tuberculose, com estreptomicina-Recife,
2000-2001...........................................................................................
60
10
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
Tabela 17
Tabela 18
Tabela 19
Tabela 20
Tabela 21
Tabela 22
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife, 20002001....................................................................................................
60
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife,
2000-2001...........................................................................................
61
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária - Recife,
2000-2001...........................................................................................
61
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária Recife, 2000-2001..............................................................................
62
Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tipo de perda por faixa
etária - Recife, 2000-2001..................................................................
63
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior
para tuberculose - Recife, 2000-2001................................................
63
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento
anterior para tuberculose - Recife, 2000-2001...................................
64
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o uso de estreptomicina
com 5 e 6, 3 e 4 drogas - Recife, 2000-2001.....................................
65
Alterações vestibulares em pessoas que fizeram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o uso de estreptomicina
com 5 e 4, 3 e 2 drogas - Recife, 2000-2001......................................
65
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a duração do tratamento
- Recife, 2000-2001............................................................................
66
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo a duração do
tratamento - Recife, 2000-2001..........................................................
67
11
Tabela 23
Tabela 24
Tabela 25
Tabela 26
Tabela 27
Tabela 28
Tabela 29
Tabela 30
Tabela 31
Tabela 32
Tabela 33
Condição da audiometria em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo o tempo de uso da
droga - Recife, 2000-2001..................................................................
67
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo todas as doenças
associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................
68
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo todas as doenças
associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................
68
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo algumas doenças
associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................
69
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo algumas doenças
associadas à tuberculose - Recife, 2000-2001...................................
70
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo os casos de tuberculose
na família - Recife, 2000-2001............................................................
71
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo os casos de
tuberculose na família - Recife 2000-2001 ........................................
71
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo os antecedentes de
alteração auditiva - Recife 2000-2001................................................
72
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo os antecedentes de
alteração auditiva - Recife 2000-2001................................................
73
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o trabalho em ambiente
ruidoso - Recife, 2000-2001................................................................
73
Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo o trabalho em
ambiente ruidoso – Recife, 2000-2001...............................................
74
12
Tabela 34
Tabela 35
Tabela 36
Tabela 37
Tabela 38
Tabela 39
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões
otoacústicas por transientes - Recife, 2000-2001...............................
75
Relação das emissões otoacústicas por transientes nas orelhas
direita esquerda das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina – Recife, 2000-2001.......................
75
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões
otoacústicas por transientes na orelha direita - Recife, 2000-2001....
76
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões
otoacústicas por transientes na orelha esquerda - Recife, 20002001....................................................................................................
76
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões
otoacústicas, produto de distorção à direita - Recife, 2000-2001.......
77
Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões
otoacústicas, produto de distorção à esquerda - Recife, 20002001...................................................................................................
78
13
LISTA DE GRÀFICOS
Pág.
Gráfico 1:
Gráfico 2:
Gráfico 3:
Gráfico 4:
Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para
tuberculose com estreptomicina, segundo o sexo - Recife,
2000-2001................................................................................
Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para
tuberculose com estreptomicina, segundo a ocorrência de
alterações auditivas - Recife, 2000-2001.................................
Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para
tuberculose com estreptomicina, segundo as queixas de
alterações vestibulares - Recife, 2000-2001............................
Distribuição das médias da audiometria, por freqüência e por
orelha, das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose com estreptomicina - Recife, 2000-2001..............
51
55
55
59
14
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Esquema básico (esquema I) de tratamento para tuberculose............
Pág.
23
Quadro 2 Esquema básico + etambutol (esquema IR) de tratamento para
tuberculose............................................................................................
24
Quadro 3 Esquema de tratamento para tuberculose meningoencefálica
(esquema II)..........................................................................................
25
Quadro 4 Esquema para falência ao tratamento da tuberculose (esquema III)...
25
Quadro 5 Efeitos menores causados pelo tratamento da tuberculose.................
29
Quadro 6 Efeitos maiores causados pelo tratamento da tuberculose..................
29
Quadro 7 Distribuição das reações adversas (queixas) das pessoas que
realizaram tratamento para tuberculose, com estreptomicina - Recife,
2000-2001.............................................................................................
54
15
1- INTRODUÇÃO
16
1.1 Tuberculose como problema de saúde pública
Atualmente, a comunidade científica é unânime em considerar a tuberculose como um
problema de saúde pública, ao contrário do que se imaginava na década de 70, de que,
com os avanços da quimioterapia, este problema estaria solucionado. Em meados da
década de 80 esta enfermidade recrudesceu, associada a alguns fatores, dentre os
quais: epidemia de AIDS, permanência dos bolsões de pobreza, intensificação dos
movimentos migratórios e desestruturação dos serviços de saúde.
A tuberculose é uma doença crônica, causada pelo Mycobacterium tuberculosis,
também conhecido como bacilo de Koch, em homenagem ao seu descobridor, Robert
Koch, em 1882. Foi introduzida, em nosso país, pelos portugueses. Acomete povos de
todas as nações, tendo maior prevalência nas regiões menos desenvolvidas (CAMPOS,
1987). Muitas vidas ilustres foram ceifadas por esta enfermidade que, no dizer popular,
“não escolhia suas vítimas”: Amadeus Mozart, Castro Alves, Cruz e Souza, Manoel
Bandeira, Álvares de Azevedo, D. Pedro I (CAMPOS et al., 2000; LEITE; TELAROLLI
Jr., 1997).
Estima-se que 1,7 bilhões de indivíduos, em todo o mundo, estejam infectados pelo
Mycobacterium tuberculosis, correspondendo a 30% da população mundial. Nos países
desenvolvidos, cerca de 40.000 mortes são devidas à tuberculose e mais de 400.000
casos novos são descobertos, a cada ano. Nestes países, a tuberculose é mais
freqüente entre as pessoas idosas, minorias étnicas e imigrantes. Nos países em
desenvolvimento estima-se que ocorrem cerca de 2,8 milhões de mortes por
tuberculose e 7,5 milhões de casos novos, por ano, atingindo todos os grupos etários,
com maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (BRASIL, Ministério da
Saúde, 2002a) .
Um outro fator importante, ao se considerar o aumento no número de casos da
tuberculose, é a sua associação com a AIDS, um dos principais fatores nas mudanças
epidemiológicas
da
tuberculose,
modificando
o
caráter
da
doença,
de
17
uma evolução crônica para aguda, podendo levar os pacientes a óbito, em poucas
semanas. Em países em que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é
endêmica, a tuberculose é comumente a causa individual mais importante de
morbimortalidade, em pacientes com AIDS/SIDA (DANIEL, 1995). A freqüente
concomitância da AIDS e da tuberculose constitui uma realidade que vem exigindo, dos
microbacteriologistas, o desenvolvimento de técnicas que facilitem o diagnóstico e,
assim, agilizem o início do tratamento, vez que os métodos clássicos são demorados
(LEITE; TELAROLLI Jr., 1997).
A doença está fora de controle, em muitas partes do mundo, e é hoje a principal causa
de morte por um único agente (RANG; DALLE; RITTER, 2001). Entre 1986 e 1998, o
número de casos notificados pela OPAS, nas Américas, foi estimado em 230 mil a 250
mil casos novos por ano, com uma taxa de incidência de 30 a 35 por 100 mil habitantes,
respectivamente. De acordo com as notificações nos 33 países das Américas, foram
registrados, em 1998, 251.613 casos de todas as formas de tuberculose (OPAS, 2000).
Nas Américas, há países com diferentes graus de severidade para a situação da
tuberculose, o que permite uma classificação, visando eleger prioridades. Em 3 países,
Bolívia, Haiti e Peru, as taxas são superiores a 85 casos por 100 mil habitantes e, com
taxas entre 50 e 85 casos por 100 mil habitantes, encontram-se 6 países: Brasil,
República Dominicana, Equador, Honduras, Nicarágua e Panamá. Argentina, Bahamas,
Chile, Guatemala, Guiana, Paraguai e Venezuela têm taxas entre 25 e 50 casos por
100 mil habitantes. Os países com taxas abaixo de 25 casos por 100 mil habitantes
são: Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Porto
Rico, Suriname, Trinidad e Tobago e Uruguai (OPAS, 2000).
A situação do Brasil não é satisfatória, quando comparada a países vizinhos com
economias, características territoriais e culturais semelhantes. O Brasil e a Argentina
apresentam taxas de morbidade em ascensão, nos últimos anos, baixos percentuais de
cura, resistência bacteriana primária relativamente elevada e crescente. Por outro lado,
o Uruguai apresenta indicadores favoráveis, em todos os campos. O Paraguai ocupa
uma situação intermediária. Nesses quatro países do MERCOSUL, são conhecidas e
18
passíveis de execução as medidas tendentes a erradicar ou minimizar a problemática
da tuberculose; o difícil é colocá-las em prática (PILHEU; CUESTA ARAMBURU, 1998).
No Brasil, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória e de investigação
obrigatória, realizada através de fichas padronizadas, a partir das unidades básicas de
saúde para as secretarias estaduais, que as consolidam. O Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) é o principal instrumento de coleta de dados das
doenças de notificação compulsória e outros agravos. Instituído em 1996, o objetivo do
SINAN é dotar os municípios e os estados de uma infra-estrutura tecnológica básica
para transferência de informações, dentro do Sistema de Informação em Saúde
(BRASIL. Ministério da Saúde, 2002b). O Ministério da Saúde agrupa estas
informações, analisa e divulga através de relatórios e boletins (MELO; HIJJAR, 1996).
Estima-se que ocorram 129.000 casos de tuberculose por ano, dos quais são
notificados cerca de 90.000. Em 1998, o coeficiente de mortalidade foi de 3,5 por
100.000 habitantes. Esses números, entretanto, podem não representar a realidade do
País, considerando que uma parte dos casos não são diagnosticados, nem registrados
oficialmente (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a). A maioria dos casos ocorreu na
região Sudeste (48%) e Nordeste (29%). A distribuição, por faixas etárias, evidenciou
maior concentração de casos entre 20 e 49 anos (MELO; HIJJAR,1996).
Para os atuais programas de governo, a tuberculose constitui um problema de saúde
prioritário no Brasil que, juntamente com outros 21 países em desenvolvimento,
albergam 80% dos casos mundiais da doença (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a).
Segundo dados da OMS (1997), o Brasil ocupa o sexto lugar, em número de casos de
tuberculose, depois da Índia, Indonésia, China, Filipinas e Paquistão.
Dentre os estados, Pernambuco ocupa o sexto lugar, em número de casos novos,
sendo responsável por aproximadamente 6,6% dos casos, no País. No Estado, o
número de casos registrados pelo SINAN vem diminuindo, em 2000, 2001 e 2002,
tendo sido registrados, 4.055, 3.994 e 2.578 casos da doença, respectivamente,
(PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde, 2003).
19
Estes casos têm acometido predominantemente o sexo masculino: 2.550, 2.575 e 1622
casos, nos anos 2000, 2001 e 2002, contra 1.397, 1.414 e 952 casos femininos,
respectivamente. A faixa etária mais acometida, nestes últimos três anos, no sexo
masculino, foi entre 30 e 39 anos, e, para o sexo feminino, de 20 a 29 anos. Nestes
mesmos anos, 86,9%, 86,8 e 89% dos casos, respectivamente, apresentaram a forma
pulmonar da doença (PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde, 2003).
Torres et al. (1996), ao estudarem o comportamento da tuberculose em Pernambuco,
no período de 1982-1992, constataram que a distribuição anual de casos variou de
4.542 a 3.714, sendo os maiores e menores coeficientes de incidência por mil
habitantes registrados em 1984 (68,7) e 1991 (51,6), respectivamente.O coeficiente de
mortalidade sofreu uma pequena queda, passando o maior valor de 6,4, em 1983, para
4,6, em 1992, o equivalente, em média, a uma morte a cada dia. Os índices de
morbimortalidade não se alteraram significativamente, no período estudado.
No município do Recife, foram notificados, em 2000, 2001 e 2002, 1.373, 1.277 e 839
casos de tuberculose, respectivamente, representando, neste último ano, 32,5% da
casuística estadual. Entre os homens, nos três anos acima mencionados, o maior
número de casos ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos, comportamento semelhante
ao observado para o Estado de Pernambuco, como um todo. No sexo feminino, em
2000 e 2001, o maior número de casos ocorreu entre 35 e 40 anos, e, em 2002, entre
30 e 34 anos (PERNAMBUCO. Secretaria Estadual de Saúde, 2003). A cidade do
Recife é considerada de alto risco para a tuberculose, devido aos dados relatados
(RECIFE. Secretaria Municipal de Saúde, 2002).
O Ministério da Saúde define a tuberculose como prioridade, entre as políticas
governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes para as ações e fixando metas para
o alcance de seus objetivos. As ações para o controle da tuberculose, no Brasil, têm
como meta diagnosticar, pelo menos, 90% dos casos esperados, e curar, no mínimo,
85% dos casos diagnosticados. A expansão das ações de controle para 100% dos
municípios complementa o conjunto de metas a serem alcançadas. Essa expansão darse-á no âmbito da atenção básica, cabendo aos gestores municipais, juntamente com o
20
gestor estadual, agir de forma planejada e articulada, para garantir a implantação das
ações de controle da tuberculose (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a).
Ott (1993) relata que a tentativa de combater a tuberculose em bases científicas data
do século passado, antes mesmo da descoberta do agente etiológico, por Robert Koch,
em 1882. Fato que pode ser comprovado pela análise do temário do Primeiro
Congresso Médico Internacional, celebrado em Paris, em 1867, com várias sessões
dedicadas ao assunto. Contudo, mesmo depois de descoberto o bacilo da tuberculose,
por falta de tecnologia apropriada, as “medidas de controle” se resumiam a
“tratamentos” higiênico-dietéticos, repouso no leito e isolamento dos doentes, em
estabelecimentos especializados (sanatórios), construídos a partir do fim do século
passado.
A primeira tentativa de debelar epidemias, por parte do governo, foi feita através de
campanhas. Havia uma mobilização de recursos financeiros, materiais e humanos,
visando combater o agravo. Essas campanhas eram temporárias e a maior parte, ou
mesmo a totalidade dos recursos, eram provenientes de fontes externas, cessando tão
logo a doença era erradicada ou controlada (OTT,1993).
No Brasil, foi instituída, por Decreto-Lei do Presidente da República, em 1946, a
Campanha Nacional contra a Tuberculose, sob a orientação e fiscalização do Serviço
Nacional de Tuberculose, criado em 1941. Muitos dispensários de tuberculose,
sanatórios e pavilhões de tisiologia, anexos a hospitais de caridade ou universitários,
foram financiados e implantados, durante anos, com esses recursos (OTT,1993).
Ainda segundo Ott (1993), as campanhas eram muito onerosas, e as doenças
infecciosas, muitas vezes endêmicas, nos países do Terceiro Mundo apresentavam
surtos eventuais, na ausência de controle permanente. Os programas de controle foram
criados com base na mesma lógica científica das campanhas. A diferença fundamental,
em relação às campanhas, consiste no caráter permanente das ações e na utilização
de redes de unidades locais para execução das atividades. Esta estratégia viabiliza o
desenvolvimento de um programa de controle de casos, bem como a descoberta de
novos casos; por outro lado, a proximidade com a comunidade facilita o conhecimento
21
das ações desenvolvidas para erradicar o problema e motivar a participação nas
atividades.
Na década de 70 foi implantado, pelo Ministério da Saúde, o Programa Nacional de
Controle
da
Tuberculose
(PNCT),
que
vem
sendo
desenvolvido
de
forma
descentralizada e hierarquizada, incluído nos cuidados primários da saúde. Segundo
sua definição, o PNCT:
“é um conjunto de ações integradas desenvolvidas pelos diferentes níveis de governo, com a
participação da comunidade, visando modificar a situação epidemiológica através da redução da
morbidade, da mortalidade, e atenuar o sofrimento humano causado pela doença, mediante o
uso adequado dos conhecimentos técnicos e científicos e dos recursos disponíveis e
mobilizáveis” (MELO; HIJJAR,1996).
Desde 1976, no Brasil, a prevenção da doença é feita através da aplicação da vacina
BCG (Bacilo de Calmette-Guérin), obtida pela atenuação do Micobacterium bovis,
sendo capaz de induzir resistência ao indivíduo, sem transmitir a doença. É
prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para
os menores de um ano, como dispõe a portaria nº 452, de 6/12/76, do Ministério da
Saúde (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002a). Em Pernambuco, a cobertura vacinal
com BCG intradérmica, em menores de um ano, teve uma ascensão significativa, nos
últimos anos, de 35,7%, em 1983, para 78,0%, em 1992 (TORRES et al., 1996).
Dados do PNCT, de 1993, evidenciam que as ações de diagnóstico e tratamento estão
disponíveis em 80% dos municípios brasileiros, onde vive cerca de 90% da população.
Isto não significa que a doença esteja efetivamente coberta, pois nem todas as
unidades públicas de saúde dispõem do programa integrado em suas atividades. A
análise desta integração, pelo tipo de unidade, evidencia que 30% de todos os
hospitais, 60% dos centros de saúde e somente 9% das unidades mais simples
exercem atividades de diagnóstico e tratamento da tuberculose (MELO; HIJJAR, 1996).
As grandes dificuldades na implantação/implementação de um programa de controle da
tuberculose, no Brasil, estão permeadas de determinantes em diferentes campos,
especialmente no que concerne a uma decisão política nos mais diversos níveis
governamentais, nas academias, para o ensino do tema, enfim, um conjunto de
22
decisões e ações visando desfazer o mito de que este é um problema do passado,
substituindo deste modo uma visão essencialmente biológica por uma visão holística
(RUFFINO-Netto, 2000).
1.2 Tratamento da tuberculose
O diagnóstico da doença deve ser primeiramente guiado pela história clínica e o exame
físico, a radiografia do tórax pode auxiliar, em muitos casos. Neste diagnóstico, a
bacteriologia desempenha um papel de fundamental importância, permitindo, através
da análise da biologia do bacilo, sua correta identificação. Em alguns casos, pode ser
necessário recorrer à broncoscopia, e mesmo à biopsia pulmonar, para estabelecer o
diagnóstico (CAMPOS et al., 2000).
O caso é confirmado de tuberculose quando:
Na forma pulmonar: escarro positivo: paciente com duas baciloscopias diretas positivas,
ou uma baciloscopia direta positiva e cultura positiva ou uma baciloscopia direta
positiva e imagem radiológica sugestiva de tuberculose, ou duas ou mais baciloscopias
negativas e cultura positiva. Escarro negativo: paciente com duas baciloscopias
negativas, com imagem radiológica sugestiva e achados clínicos ou outros exames
complementares que permitam ao médico efetuar um diagnóstico de tuberculose.
Na forma extrapulmonar: paciente com evidências clínicas, achados laboratoriais,
inclusive histopatológicos compatíveis com tuberculose extrapulmonar ativa, em que o
médico toma a decisão de tratar com esquema específico; ou paciente com, pelo
menos, uma cultura positiva para M. tuberculosis, de material proveniente de uma
localização extrapulmonar (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002 a).
O tratamento da tuberculose é fundamentalmente quimioterápico. Somente com o
aparecimento das drogas antituberculosas, no século passado, nas décadas de 40 e
50, realmente se estabeleceu um conceito real de cura para o mal. A quimioterapia
reduz drasticamente a mortalidade, o período de transmissibilidade e, quando usada
profilaticamente, previne o adoecimento, constituindo, assim, a ferramenta mais
importante no controle da doença (MELO; HIJJAR, 1996).
23
Há cerca de 50 anos foram desenvolvidas novas drogas, cuja administração fez com
que a tuberculose passasse a ser considerada uma doença de fácil cura. Atualmente,
este conceito não é mais verdadeiro, uma vez que cepas resistentes às múltiplas
drogas já se tornaram comuns (RANG; DALE; RITTER, 2001).
O Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, normatiza
alguns esquemas de tratamento (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c), conforme
explicitado no quadro 1.
Quadro 1 -Esquema básico (esquema I ) de tratamento para tuberculose
Fases do
tratamento
Drogas
Até 20 kg
Peso do doente
Mais de 20 kg Mais de 35 kg e até 45
kg
e até 35 kg
Mg/dia
mg/dia
300
450
200
300
1.000
1.500
300
450
200
300
Mg/kg/dia
1.ª fase
R
10
(2 meses –
H
10
RHZ)
Z
35
2.ª fase
R
10
(4 meses H
10
RH)
Siglas: Rifampicina = R;
Isoniazida = H;
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c.
Mais de 45 kg
Mg/dia
600
400
2.000
600
400
Pirazinamida = Z.
Esquema I (Esquema de Primeira Linha): indicado nos casos novos de todas as formas
de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto meningite. O tratamento dos “casos
novos” de tuberculose pulmonar com baciloscopia positiva poderá ser iniciado por
auxiliar capacitado e sob supervisão constante do coordenador municipal ou do distrito
de saúde, em unidade de saúde sem médico permanente, porém com prescrição do
médico.
O esquema I tem mostrado alta efetividade, com cerca de 80% de resultados
favoráveis, apesar da taxa de abandono, em torno de 15%. Esta taxa de abandono vem
aumentando, principalmente nas capitais brasileiras, atingindo 25%, em média. A
grande preocupação com a efetividade do tratamento deve-se ao fato de que
tratamentos irregulares, além de não curarem os doentes, podem transformá-los em
portadores de formas resistentes às drogas usuais (MELO; HIJJAR, 1996).
24
Quadro 2 - Esquema básico + etambutol (esquema IR) de tratamento para
tuberculose
Peso do doente
Mais de 20 kg e até Mais de 35 kg e até Mais de 45 kg
Drogas
35 kg
45 kg
mg/kg/dia
Mg/dia
mg/dia
mg/dia
R
10
300
450
600
1.ª fase
H
10
200
300
400
(2 meses –
Z
35
1.000
1.500
2.000
RHZE)
E
25
600
800
1.200
2.ª fase
R
10
300
450
600
(4 meses –
H
10
200
300
400
RHE)
E
25
600
800
1.200
Isoniazida = H;
Pirazinamida = Z;
Etambutol = E
Siglas: Rifampicina = R;
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c.
Fases do
tratamento
Até 20 kg
Esquema IR (Esquema de Retratamento): indicado nos casos novos de retratamento,
em recidivantes, e retorno, após abandono do esquema I. Os casos de recidiva de
esquemas alternativos por toxidade ao esquema I devem ser avaliados em unidades de
referência, para prescrição de esquema individualizado, conforme quadro 2 .
Quadro 3 - Esquema para tuberculose meningoencefálica (esquema II)
Fases do
tratamento
1.ª fase
(2 meses)
RHZ
Drogas
R
H
Z
Doses para
todas as idades
mg/kg/dia
10
10
35
2.ª fase
R
10
(7 meses)
H
10
RH
Isoniazida = H;
Siglas: Rifampicina = R;
Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.
Peso do doente
Mais de 20 kg Mais de 35 kg e Mais de 45 kg
e até 35 kg
até 45 kg
mg/kg/dia
mg/dia
mg/dia
300
450
600
200
300
400
1.000
1.500
2.000
300
200
450
300
600
400
Pirazinamida = Z.
Esquema II: nos casos de concomitância entre tuberculose meningoencefálica e de
qualquer outra localização. O tratamento deve ser desenvolvido conforme o quadro 3.
25
Quadro 4 - Esquema para falência ao tratamento da tuberculose (esquema III)
Peso do doente
Mais de 20 kg e
Mais de 35 kg e
Drogas
até 35 kg
até 45 kg
mg/kg/dia
mg/dia
mg/dia
S
20
500
1.000
1.ª fase
Z
35
1.000
1.500
(3 meses – SZEEt)
E
25
600
800
Et
12
250
500
2.ª fase
E
25
600
800
(9 meses – EEt)
Et
12
250
500
Siglas: Estreptomicina = S; Pirazinamida = Z; Etambutol = E; Etionamida = Et.
Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.
Fases do
tratamento
Até 20 kg
Mais de 45
kg
mg/dia
1.000
2.000
1.200
750
1.200
750
Esquema III (Esquema para Falência): indicado nos casos de falência ao tratamento
com os esquemas I, IR e II (QUADRO 4).
Os casos de falência do esquema III devem ser considerados como portadores de
tuberculose multidrogarresistente (TBMDR). Estes pacientes serão atendidos por
equipe multiprofissional especializada, em centros de referência que cumpram as
normas de biossegurança e sejam credenciados pelas coordenadorias municipais e
estaduais de tuberculose (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).
O tratamento para este grupo deve durar pelo menos 12 meses. Os esquemas de
tratamento que vêm sendo testados no Brasil são: esquema A, inclui as drogas:
estreptomicina, ofloxacina, terizidona, clofazimina, etambutol e rifabutina; esquema B:
capreomicina, ofloxacina, terizidona, clofazimina (DALCOLMO, 1999; TRUJILLO, 2001).
Este esquema deve ser realizado em unidades mais complexas. Sempre que possível,
deve-se realizar o teste de sensibilidade às drogas, no início do tratamento, para definir
claramente a possibilidade de sucesso desse esquema ou sua modificação (BRASIL.
Ministério da Saúde, 2002c).
Há duas modalidades de tratamento: ambulatorial e hospitalar. A recomendação é de
que, sempre que a situação permitir, o tratamento seja ministrado no ambulatório
(TOLEDO Jr., 1998). As indicações de hospitalização, segundo o Ministério da Saúde,
ocorrem em casos de emergência grave, meningite tuberculosa, casos excepcionais de
26
indicação cirúrgica exclusiva, pacientes com intolerância medicamentosa incontrolável e
casos graves ou pacientes em condições socioeconômicas precárias (BRASIL.
Ministério da Saúde, 1995).
O tratamento da tuberculose é longo, geralmente por um período de seis meses. Como
ocorre uma melhora clínica, no primeiro ou segundo mês, com certa freqüência o
tratamento é interrompido, por decisão do paciente, antes de uma completa
esterilização bacteriológica. No Brasil, como os regimes recomendados são
ambulatoriais e auto-administrados, torna-se difícil o controle do uso das drogas, sendo
comum as irregularidades e o abandono do tratamento (MELO; HIJJAR, 1996).
Segundo Campos(1996), já em 1907 Oswaldo Cruz enfatizava o embate ao abandono
do tratamento e a produção de bacilos resistentes como prioridades no tratamento da
doença. Este é também o pensamento de Pereira (1998), que considera a interrupção
no tratamento da tuberculose como um desafio para a Saúde Coletiva, pelas
dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam no tratamento e controle da
mesma.
A associação medicamentosa adequada, administrada em doses corretas e por tempo
suficiente, sob supervisão quanto à tomada dos medicamentos, constitui o meio para
evitar a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência às drogas,
assegurando assim a cura do paciente. Antes de iniciar a quimioterapia, é necessário
orientar o paciente quanto ao tratamento. Para isso, deve-se explicar, em entrevista
inicial e usando linguagem acessível, as características da doença e o esquema de
tratamento que será seguido: drogas, duração, benefícios do uso regular da medicação,
conseqüências advindas do abandono do tratamento (BRASIL. Ministério da Saúde,
2002c).
Descobrir uma “fonte de infecção”, ou seja, diagnosticar um paciente com tuberculose
pulmonar bacilífera, não é suficiente, se não for instituído o tratamento quimioterápico
adequado, que garanta a sua cura. Compete aos serviços de saúde prover os meios
necessários para garantir que todo indivíduo com diagnóstico de tuberculose possa,
sem atraso, ser adequadamente tratado (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).
27
O abandono ao tratamento da tuberculose leva naturalmente o paciente ao
retratamento. Um estudo desenvolvido por Campos (1999), no município do Recife,
revelou que a população em retratamento representa 16,2% do total de casos de
tuberculose; em 1997, o abandono ao tratamento anterior foi o principal motivo para o
retratamento, sendo que 42% dos casos tinham história de dois ou mais tratamentos
anteriores.
Ainda segundo Campos (1999), estes pacientes são predominantemente do sexo
masculino, grupo etário entre 30 e 49 anos, nível de escolaridade até o primeiro grau e
acometidos, principalmente, da forma pulmonar da doença. Dentre os casos de
retratamento, 27,1% o iniciaram sem antes realizar a pesquisa BAAR (bacilo álcoolácido-resistente) no escarro, e apenas 5% realizaram cultura para BK (bacilo de Koch),
com teste de sensibilidade. O esquema IR foi o mais utilizado, nestes casos de
retratamento.
Ribeiro et al. (2000) estudaram casos de abandono ao tratamento, no Centro de Saúde
da Escola Paulista de Medicina, no período de 1995 a 1997, verificaram que os
pacientes do sexo masculino, com média de idade de 39 anos, foram os que mais
abandonaram o tratamento. Desses pacientes, 96% relataram ter local fixo de
residência, e 21% estavam desempregados no início do tratamento. Antecedentes de
alcoolismo foram relatados por 36%, tabagismo por 67%, e uso de drogas ilícitas por
15% do total de participantes.
O abandono ao tratamento da tuberculose, independente das causas motivadoras,
acarretam prejuízos ao paciente. No reinício do tratamento, o uso de drogas, sem ser
precedido pelo teste de sensibilidade, pode desenvolver uma resistência à medicação;
sendo assim, um número considerável de doentes faz uso de drogas mais tóxicas, com
efeitos colaterais sérios.
Os efeitos provocados pelas drogas usadas contra a tuberculose são de freqüência
variável. As reações mais severas, que exigem interrupção e troca de droga, são mais
raras. Para as drogas do esquema I, os resultados variam conforme o tipo de estudo.
28
No Brasil, as reações adversas são estimadas entre 5% e 26%. Os medicamentos do
esquema III apresentam maior intolerância e toxicidade (MELO; HIJJAR, 1996).
O Ministério da Saúde classifica as reações ao tratamento como efeitos adversos
menores (QUADRO 5) e maiores (QUADRO 6); os primeiros, em sua maioria, requerem
condutas que podem ser executadas em unidades básicas de saúde, enquanto os
efeitos adversos maiores necessitam atendimento especializado, em unidades de
referência (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).
Os efeitos menores ocorrem em 5% a 20% dos casos e são assim classificados porque
não implicam em modificação imediata do esquema padronizado; os efeitos maiores
são aqueles que implicam interrupção ou alteração do tratamento e são menos
freqüentes, ocorrendo em torno de 2%, podendo chegar a 8%, em serviços
especializados (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).
29
Quadro 5- Efeitos menores causados pelo tratamento da tuberculose
EFEITO
Irritação gástrica (náusea, vômito)
Epigastralgia e dor abdominal
DROGA
Rifampicina
Isoniazida
Pirazinamida
Artralgia ou artrite
Pirazinamida
Isoniazida
Neuropatia periférica (queimação das Isoniazida
extremidades)
Etambutol
Cefaléia e mudança de comportamento
Isoniazida
(euforia, insônia, ansiedade e sonolência)
Suor e urina cor de laranja
Rifampicina
Prurido cutâneo
Isoniazida
Rifampicina
Hiperuricemia (com ou sem sintomas)
Pirazinamida
Etambutol
Febre
Rifampicina
Isoniazida
Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.
CONDUTA
Reformular os horários de
administração da medicação e
avaliar a função hepática
Medicar com ácido acetilsalicílico
Medicar com piridoxina (vit. B6)
Orientar
Orientar
Medicar com anti-histamínico
Orientação dietética (dieta
hipopurínica)
Orientar
Quadro 6 - Efeitos maiores causados pelo tratamento da tuberculose
EFEITO
Exantemas
DROGA
Estreptomicina
Rifampicina
Hipoacusia
Estreptomicina
Vertigem e nistagmo
Estreptomicina
Psicose, crise convulsiva, Isoniazida
encefalopatia
tóxica e
coma
Neurite ótica
Etambutol
Isoniazida
Hepatotoxicidade
Todas as drogas
(vômitos,
hepatite,
alteração das provas de
função hepática)
Trombocitopenia,
Rifampicina
leucopenia, eosinofilia,
Isoniazida
anemia hemolítica,
agranulocitose, vasculite
Nefrite intersticial
Rifampicina
principalmente
intermitente
Rabdomiólise com
Pirazinamida
mioglobinúria e
insuficiência renal
Fonte: BRASIL.Ministério da Saúde, 2002c.
CONDUTA
Suspender o tratamento;
Reintroduzir o tratamento, droga a droga, após
resolução;
substituir o esquema, nos casos graves ou
reincidentes.
Suspender a droga e substituí-la pela melhor
opção.
Suspender a droga e substituí-la pela melhor
opção.
Substituir por estreptomicina + etambutol.
Substituir.
Suspender o tratamento
temporariamente, até resolução.
Dependendo
da
gravidade,
suspender
o
tratamento e reavaliar o esquema de tratamento.
Suspender o tratamento.
Suspender o tratamento.
30
Intolerância gástrica, manifestações cutâneas variadas, icterícia e dores articulares são
os efeitos mais freqüentemente descritos, durante o tratamento com o esquema I
(BRASIL. Ministério da Saúde,2002c).
Uma das reações adversas mais comuns e mais graves da estreptomicina é a
ototoxicidade e a toxicidade renal, respectivamente (VARELA; ALVARADO, 1993). A
ototoxicidade envolve tanto alteração auditiva como disfunção vestibular (OMS,1997).
As reações adversas às drogas utilizadas no tratamento para tuberculose foram
estudadas por Mostajo et al. (1987), em 6.545 pacientes do Programa de Controle da
Tuberculose do Hospital Cayetano Herdia, no Peru, entre 1972 e 1983. A comparação
ocorreu entre os dois esquemas preconizados naquele país: o tratamento acordado,
durante 8 meses, com as seguintes drogas: 1º fase=estreptomicina+ pirazinamida+
rifampicina+isoniazida, 2 vezes por semana, durante 50 dias; 2º fase=estreptomicina+
isoniazida, 2 vezes por semana, durante 6 meses; e o normatizado, durante 52
semanas, com as seguintes drogas: 1º fase=S+H+T(tiacetazona), 6 vezes por semana,
durante 8 semanas, e 2º fase=estreptomicina+isoniazida, 2 vezes por semana, durante
44 semanas. A estreptomicina, quando analisada isoladamente, foi responsável pelo
maior percentual de reações adversas, 37,5%, no primeiro esquema, e 62 %, no
segundo.
Ramiro et al. (1994), ao estudarem as reações adversas ao tratamento da tuberculose,
sem o uso da estreptomicina, em 121 pacientes menores de 15 anos, atendidos no
Departamento de Pediatria do Hospital Materno-Infantil de Germán Urquidi-Bolívia,
durante 4 anos, identificaram, como principal complicação, as reações gástricas, não
referindo nenhuma alterações auditiva.
Ao estudar a toxicidade de algumas associações medicamentosas do tratamento para
tuberculose, em 119 pacientes atendidos no Hospital Guilherme Álvaro, Santos/SP, nos
esquemas: Isoniazida + Etambutol + Estreptomicina, ou Isoniazida + Etambutol +
Rifampicina, considerando que os 2 esquemas diferem apenas por um medicamento,
Castro (1981) concluiu que a estreptomicina se mostrou mais tóxica, pelo menos
durante o tempo de sua observação.
31
A estreptomicina foi isolada de uma cepa de Streptomyces griséus, por Waksman et al.,
em 1944, apud Jawetz (1994), e utilizada no tratamento da tuberculose, com relatos a
partir de 1945. Hinshaw apresentou o primeiro relatório sobre estreptomicina à
comunidade científica, em 1946 (apud ROM; GARAY, 1996). É provavelmente o melhor
e mais conhecido aminoglicosídeo, ainda usada como droga no tratamento da
tuberculose (PEDROSO, 2000).
O sulfato de estreptomicina é ativo contra vários germes Gram-positivos e Gramnegativos, bem como para o bacilo da tuberculose. Inibe a síntese protéica bacteriana,
mas não burla a leitura do código genético, e as mutações para resistência à
estreptomicina são relativamente freqüentes; desde seu aparecimento, já se observava
a presença de bacilos naturalmente resistentes (TRABULSI; SOARES, 1998).
A estreptomicina, no Brasil, constitui ainda um importante medicamento utilizado no
tratamento da tuberculose, como esquema III, principalmente nos casos de falência nos
tratamentos anteriormente realizados. Neste caso, entende-se por falência a
persistência da positividade do escarro, ao final do 4.º ou 5.º mês de tratamento
(BRASIL. Ministério da Saúde, 2002c).
A concentração máxima do sulfato de estreptomicina no organismo é alcançada uma
hora após a administração, mantendo o nível detectável no soro durante 12 a 24 horas,
após a injeção intramuscular de 0,5 a 1 g, respectivamente. Sua meia vida, no sangue
de adultos normais, é de 120 a 180 minutos. Distribui-se bem pelos tecidos e líquidos
orgânicos, porém não é capaz de atravessar a barreira hemoliquórica, em indivíduos
com meninges normais. Atravessa a placenta e atinge, no sangue fetal, concentração
aproximadamente igual à metade da concentração plasmática da mãe. Administrada
por via oral, é eliminada quase por completo nas fezes, sob a forma de substância ativa
(TRABULSI; SOARES, 1998).
Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a estreptomicina atualmente é a droga
suplementar de primeira linha menos prescrita, devido à sua toxicidade, porém, nos
países em desenvolvimento, em virtude de sua eficácia e baixo custo, ainda é muito
utilizada no tratamento da tuberculose (RANG; DALE; RITTER, 2001). Concentra-se
32
bem no tecido caseoso e na parede das cavernas pulmonares das lesões tuberculosas.
Na terapêutica da tuberculose, deve ser usada na dose diária intramuscular de 1g, para
adultos, e de 20 a 40 mg, para crianças (TRABULSI; SOARES, 1998).
1.3 A audição e a tuberculose
A audição é, sem dúvida, um sentido que funciona como ponte entre o homem e o
mundo. As agressões físicas, químicas e biológicas em qualquer faixa etária podem ser
acompanhadas de danos orgânicos e psicossociais de difícil estimativa.
A audição (limiar auditivo) é definida, pela American National Standards Institute - ANSI
(1973), como o nível mínimo de pressão sonora de um sinal acústico que produz
sensação auditiva. A audiometria é o exame mais utilizado para medir os níveis de
audição. O equipamento utilizado é o audiômetro, que possibilita a investigação das
respostas auditivas a diferentes freqüências (125 a 16.000 Hz) e intensidades ( -10 dB
a 120 dB) (YANTIS,1999, apud KATZ, 1999).
Muitas são as patologias que podem atingir o órgão da audição, tanto a parte periférica
como a central. Aproximadamente 200 drogas têm sido rotuladas como ototóxicas
(ASHA,1994). As ototoxicidades são afecções iatrogênicas, provocadas por drogas
medicamentosas, que alteram a orelha interna. Essas drogas podem afetar o sistema
coclear ou o sistema vestibular, ou ambos, alterando duas funções importantes do
organismo: audição e equilíbrio (OLIVEIRA, 1994,1998,1999). Qualquer droga com
potencial para causar reações tóxicas às estruturas da orelha interna, incluindo a
cóclea, vestíbulo, canais semicirculares e otólitos, é considerada droga ototóxica
(ASHA,1994).
Dos grupos de drogas ototóxicas, os aminiglicosídeos são os mais estudados, entre
eles: estreptomicina, diidrostreptomicina, neomicina, kanamicina A e B, paramomicina,
aminosidina, gentamicina, amicacina, tobramicina, netilmicina (OLIVEIRA, 1994, 1998,
1999). Todos os aminoglicosídeos são potencialmente tóxicos para os dois ramos do 8º
par craniano (TRABULSI; SOARES, 1998), porém, desde a introdução da
estreptomicina, em 1940, os aminoglicosídeos têm sido usados amplamente
(ASHA,1994).
33
Os efeitos adversos dos aminoglicosídeos foram inicialmente observados por Hinshaw,
em 1945, na primeira pesquisa clínica sobre o uso da estreptomicina no tratamento da
tuberculose. A partir desta época, foram relatados casos de surdez irreversível e
distúrbios de equilíbrio, decorrentes da utilização desta droga (SANTOS et al., 2000).
A freqüência com que ocorre otoxicidade, associada ao uso de drogas específicas, não
está muito clara; os achados ainda são inconsistentes. A cocleotoxidade, causada por
aminoglicosideos, tem sido registrada, numa variação de 0% a 63% (ASHA,1994). Para
Oliveira (1999), a freqüência de ocorrência da ototoxicidade é variável, entre os
diferentes grupos e tipos de drogas, o mesmo ocorrendo com os registros, na literatura.
Estudos recentes com aminoglicosídeos constataram 15% de labirintopatia, em
conseqüência de sua utilização.
As drogas administradas, principalmente, pelas vias intramuscular e endovenosa,
atingem a circulação, daí passando para todos os líquidos do organismo. Chegam à
endolinfa, através da estria vascular, sendo possível ocasionar a primeira lesão
ototóxica. A estria vascular é uma estrutura responsável pela produção e absorção da
endolinfa, podendo ter suas funções prejudicadas, diminuindo o tempo de absorção da
droga, aumentando a permanência em contato com o órgão de Corti. Dissolvida na
endolinfa, a droga geralmente lesa, em primeiro lugar, as células ciliadas externas do
órgão de Corti e, em seguida, as células ciliadas internas e os neurônios (CALDAS;
CALDAS Neto,1994).
Estas drogas se combinam com receptores das membranas das células ciliadas do
órgão de Corti, da cóclea ou das máculas sacular e utricular e cristas do sistema
vestibular. Estes receptores são os polifosfoinositídeos, lipídios componentes, com
papel importante nos eventos bioelétricos e na permeabilidade da membrana, por
interação com íon de cálcio. A formação de complexos, entre os antibióticos
aminiglicosídeos e polifosfoinositídeos, produz modificações na fisiologia da membrana
e em sua permeabilidade, acabando por afetar a estrutura e função dos cílios, da
própria membrana e, posteriormente, destruir as células receptoras (SCHACHT, 1986).
34
Os resultados de estudos histológicos evidenciaram lesão em quase todos os níveis da
cóclea, sob tratamento crônico com aminoglicosídeos, sendo que as células ciliadas
externas basais eram mais vulneráveis (GOVAERTS;RYBAK, 1986; apud LONSBURYMARTIN et al., 2001).
Os efeitos das drogas ototóxicas devem ser avaliados, pelo seu potencial de dano
permanente à orelha interna. No tratamento da tuberculose, a equipe de saúde deve
considerar o papel da audição e do equilíbrio na manutenção da qualidade de vida pósterapia. A perda de audição e os distúrbios de equilíbrio causados por droga ototóxica
podem levar a sérias conseqüências vocacionais, educacionais e sociais (ASHA, 1994).
Em se tratando de aminoglicosídeos, o paciente pode apresentar sintomas e sinais
relacionados a lesão coclear: zumbidos, plenitude auditiva, ou lesão vestibular:
vertigens, desequilíbrio, nistagmo, manifestações neurovegetativas, osciloscopia. A
alteração auditiva é sensório-neural, atingindo inicialmente a base da cóclea,
irreversível, pode ser rápida ou progressiva, uni ou bilateral (OLIVEIRA, 1998;
OLIVEIRA; DEMARCO; ROSSATO, 2000).
O grau da alteração auditiva depende da concentração de ototóxico, duração do
tratamento e sua associação com outras drogas ototóxicas (OLIVEIRA, 1998;
OLIVEIRA; DEMARCO; ROSSATO, 2000), estado do paciente (função renal, idade,
nutrição)
(TRABULSI;
HUMES,1998),
dose
SOARES,
diária
1998),
utilizada,
susceptibilidade
terapia
prévia
com
individual
(BESS;
aminoglicosídeos,
hereditariedade, exposição a ruídos, prejuízo da função renal, alteração auditiva
sensório-neural anterior (SANTOS et al., 2000).
O zumbido de alta freqüência, geralmente, é o primeiro sintoma a surgir, seguido de
hipoacusia, após alguns dias de administração (SANTOS et al., 2000). Por ser a
alteração auditiva inicial em altas freqüências, correlacionando-se com lesão inicial nas
células externas da camada basal da cóclea, pode passar despercebida, sendo
diagnosticada mais tarde, quando a perda progride para a faixa de baixa freqüência
(OLIVEIRA; DEMARCO; ROSSATO, 2000; SANTOS et al., 2000).
35
O comprometimento vestibular pode ocorrer, mesmo quando a medicação é ministrada
por pouco tempo e nas doses recomendadas; em alguns casos, a persistência dos
sintomas vestibulares dura mais de um ano, o que faz com que o prognóstico nem
sempre seja otimista (BARRIONUEVO et al., 1987). Quando ocorre lesão coclear, há
destruição das células ciliadas do órgão de Corti, para o que não há tratamento.
Quando a lesão é vestibular, pode ocorrer um mecanismo de compensação central e,
com o tempo, os sinais e sintomas desaparecem (OLIVEIRA, 1999).
No caso da estreptomicina, as perturbações vestibulares são mais freqüentes que as
auditivas, embora ambas possam ocorrer, dependendo do tempo e da dosagem
utilizada (JAWETZ, 1994; OLIVEIRA, 1999 RANG; DALE; RITTER, 2001). A
ototoxicidade é mais freqüente em pacientes com mais de 40 anos, nos quais a cura
dos fenômenos tóxicos é mais lenta e menos completa que nos pacientes mais jovens.
Além disso, é mais freqüente em pacientes com dano auditivo prévio e naqueles que
usam, concomitantemente, outros medicamentos ototóxicos (PICON et al., 2002).
Soriano Romero et al. (1988) estudaram um grupo de pacientes diagnosticados com
tuberculose, em 1986 e 1987, na República Dominicana. Cada paciente recebeu uma
dose diária de 1g de estreptomicina, por 3 meses, e depois doses bi-semanais. Através
dos resultados dos exames audiométricos, concluiram que 30% das pessoas
apresentaram hipoacusia grave, e 47% hipoacusia moderada.
Segundo concluíram Montaner et al. (1982), estudando 225 pacientes com diferentes
formas de tuberculose, em tratamento com o esquema terapêutico que inclui isoniazida,
rifampicina, e estreptomicina, na Faculdade de Medicina de Buenos Aires, a hipoacusia
foi o fenômeno tóxico mais freqüente.
As lesões por ototoxicidade são, muitas vezes, irreversíveis, sendo a profilaxia a melhor
maneira de combatê-las. O uso criterioso, com avaliação de riscos versus benefícios, a
administração correta da dose, pelo menor tempo possível, e o acompanhamento
constante do paciente sob tratamento são medidas que podem minimizar os riscos.
Nunca se deve administrar um ototóxico quando houver à disposição drogas não
36
tóxicas, capazes de oferecer o mesmo resultado terapêutico (CALDAS; CALDAS
Neto,1994).
1.4 Monitoramento auditivo na ototoxicidade
A monitorização clínica cuidadosa das funções auditivas e vestibulares constitui
procedimento obrigatório, mas o dano anatômico irreversível pode acontecer antes que
surjam os sintomas. Os problemas auditivos e vestibulares podem surgir nos primeiros
dias ou até semanas após o término do tratamento (GIROD; TUCCI; RUBEL, 1991).
Os pacientes em uso de estreptomicina devem ser monitorados cuidadosamente
quanto aos efeitos adversos. Compete ao profissional que prescreve ou acompanha o
tratamento com aminoglicosídeos indagar do paciente quanto aos sinais e sintomas
auditivos e vestibulares, com o objetivo de detectar precocemente estas alterações. A
equipe de saúde deve, quando possível, estar conectada a um serviço de distúrbios da
comunicação, para que audiometrias seriadas possam ser realizadas (GLASHAN,
1996).
A avaliação audiológica ideal deve ser realizada numa cabina acústica. Quando o
paciente é incapaz de se deslocar, o teste audiométrico pode ser feito ao lado da cama.
Geralmente, as freqüências mais altas são menos vulneráveis ao ruído ambiental
(ASHA,1994).
A ASHA (1994) padronizou um protocolo, com alguns procedimentos para monitorar a
audição de pacientes em tratamento com drogas ototóxicas:
1) Anamnese e otoscopia; 2) Audiometria tonal liminar ( faixa de freqüência
convencional): pode detectar perdas auditivas entre 250 e 8.000 Hz; 3) Audiometria de
alta freqüência: pode detectar perdas auditivas acima de 8.000Hz e até 20.000 Hz; 4)
Logoaudiometria: investiga os níveis mínimos de respostas para a fala, bem como as
habilidades para discriminação dos sons da fala; 5) Imitanciometria: detecta a presença
do reflexo estapediano e integridade da orelha média; a imitanciometria e ou teste de
condutividade óssea devem ser feitos, para diferenciar a perda sensório-neural da
condutiva.
37
Ainda de acordo com a ASHA (1994), os pacientes podem ser categorizados, para que,
a partir de seu comportamento, seja escolhido o teste mais adequado para cada caso.
Os pacientes responsivos são capazes de proporcionar respostas comportamentais
confiáveis para avaliação auditiva. Os pacientes responsivos-limitados podem
apresentar respostas confiáveis, por curtos períodos, por causa de doenças, condição
física ou fatores relacionados à idade. Já os pacientes não-responsivos não
apresentam respostas comportamentais confiáveis, devendo ser avaliados através de
medidas objetivas, como: audiometria de tronco cerebral e emissões otoacústicas.
As emissões otoacústicas identificam se as orelhas têm função coclear normal,
independente da colaboração do indivíduo. As emissões otoacústicas produto de
distorção detectam precocemente o dano das células ciliadas externas e auxiliam na
determinação dos efeitos adversos (MUNHOZ, 2000). Para a ASHA (1994), embora as
emissões otoacústicas constituam um novo e entusiástico recurso para monitorar a
cocleotoxidade, sua aplicação não tem sido avaliada de modo a capacitar a formulação
de protocolo específico.
A audiometria de altas freqüências tem sido o método mais utilizado na detecção
precoce da alteração auditiva induzida por drogas ototóxicas. Este exame possibilita a
detecção de alterações auditivas, antes mesmo que as freqüências mais importantes
para a compreensão da fala fiquem comprometidas (FAUSTI et al. 1998).
Estudos utilizando alta freqüência audiométrica têm demonstrado que a cocleotoxidade
pode ocorrer, inicial ou unicamente, na série de alta freqüência de 9 a 20 KHZ. Os
testes realizados na maioria dos estudos utilizam as freqüências convencionais,
potencialmente obscurecendo o risco atual de alteração auditiva causada por drogas
(ASHA,1994).
Durante a monitorização auditiva para detecção da ototoxicidade, os testes devem ser
feitos, pelo menos uma vez, antes do tratamento, uma a duas vezes por semana,
durante o tratamento, e até 3 meses após o término do tratamento (OLIVEIRA, 1999;
SANTOS et al. 2000). A logoaudiometria e as medidas de imitanciometria são obtidas
38
na primeira avaliação e não necessariamente retestadas nas avaliações subseqüentes,
a menos que sejam percebidas mudanças nos limiares auditivos (ASHA, 1994).
Talvez, a monitorização auditiva seja, no momento, a única maneira de minimizar os
efeitos decorrentes da ação tóxica da estreptomicina na audição. Para O’ Brien (1985),
apud Trujillo (2000), não há novos fármacos para a tuberculose, pelas seguintes
razões:
as
indústrias
farmacêuticas,
no
geral,
não
estão
interessadas
no
desenvolvimento de antimicrobianos, porque o custo é muito alto; não têm incentivo
financeiro para a pesquisa; os ensaios clínicos para tuberculostáticos são longos, com
duração de cinco anos ou mais, além de que os fármacos atualmente padronizados são
eficazes.
A tuberculose é uma doença endêmica, cuja incidência aumentou nos últimos tempos,
com o advento da AIDS e a desestruturação dos serviços de saúde, incapazes de
promover a cura dos casos e solucionar o problema do abandono ao tratamento.
Acrescente-se o fato de que o tratamento é realizado com a administração de drogas
tóxicas e, com o advento da multirresistência, tende a aumentar o uso de drogas com
potencial de toxicidade.
A toxicidade pode ocasionar alterações no funcionamento do organismo, acarretando
deficiências e incapacidades em sistemas vitais, inclusive o auditivo. Faz-se necessário
estudos para melhor conhecimento do perfil auditivo e vestibular da população
recifense que usa medicação ototóxica para tuberculose, a fim de possibilitar a adoção
de medidas de prevenção e monitoramento que gerem saúde e melhorem a qualidade
de vida.
39
2-OBJETIVOS
40
2.1 GERAL
Descrever o perfil auditivo e vestibular de pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose com estreptomicina, no município do Recife, de 2000 a 2001.
2.2 ESPECÍFICOS
•
Descrever as características das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo sexo, faixa etária, forma da tuberculose,
tratamento anterior para tuberculose, esquemas de drogas usadas no tratamento da
tuberculose, reações adversas (queixas) ao tratamento da tuberculose, alterações
auditivas, alterações vestibulares, lateralidade da alteração auditiva, limiares auditivos
por freqüências isoladas e agrupadas.
•
Analisar a relação entre as alterações auditivas e vestibulares com: sexo, faixa
etária, forma da tuberculose, tratamento anterior para tuberculose, esquemas de
drogas usadas no tratamento da tuberculose, duração do tratamento com
estreptomicina, reações adversas ao tratamento, doenças associadas à tuberculose,
casos de tuberculose na família, antecedentes de alteração auditiva e ruído em
ambiente de trabalho
•
Comparar as alterações auditivas com as emissões otoacústicas.
41
3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
42
3.1 Área de estudo:
O estudo foi realizado no município do Recife, capital do Estado de Pernambuco,
situado no litoral oriental da região Nordeste do Brasil. Para as doenças de notificação
compulsória o município é considerado hiperendêmico para hanseníase e de alto risco
para tuberculose (RECIFE. Secretaria Municipal de Saúde, 2002).
Este município possui 40 unidades de saúde com o Programa de Controle da
Tuberculose, distribuídas em seis distritos sanitários. Dentre elas, estão incluídas as
unidades que notificaram, no último ano, pelo menos um caso da doença, assim
distribuídas: 04 unidades no distrito sanitário I; 13 unidades no distrito sanitário II; 08
unidades no distrito sanitário III; 04 unidades no distrito sanitário IV; 05 unidades no
distrito sanitário V e 06 unidades no distrito sanitário VI (RECIFE, Secretaria Municipal
de Saúde, 2002).
3.2 População estudada e período de referência:
No Recife, nos anos de 2000 e 2001, 78 pessoas fizeram uso da estreptomicina, para o
tratamento da tuberculose, segundo registros do SINAN (Sistema de Informação de
Agravos de Notificação).
Dentre estas 78 pessoas, 5, com idades acima de 59 anos, e 2, com idades abaixo de
18 anos, foram excluídos da amostragem. A exclusão do idoso deu-se em função da
necessidade de controle de viés, pois, a partir desta idade (59 anos) há elevada
prevalência de presbiacusia. Quanto aos adolescentes e crianças, a exclusão foi devida
às dificuldades para a avaliação auditiva, nestas faixas etárias.
Foram incluídos neste trabalho as pessoas que fizeram uso da estreptomicina por, pelo
menos, 15 dias, mesmo sem a conclusão do tratamento.
Após o uso dos critérios de exclusão, a população foi composta por 71 pessoas,
distribuídas como mostra a tabela 1:
43
Tabela 1 - Distribuição dos casos de tratamento da tuberculose, com
estreptomicina, no município do Recife, 2000 e 2001
Situação
Participaram da pesquisa
Falecidos
Não foram localizados
Endereço localizado, mas haviam mudado
Presidiários
Negou-se a participar
TOTAL
Nº
36
19
11
02
02
01
71
%
50,7
26,7
15,5
2,8
2,8
1,4
100,0
A distribuição das pessoas pesquisadas, por unidade de saúde, está explicitada na
tabela 2, verificando-se que maioria fez o tratamento no Centro de Saúde Lessa de
Andrade ou no Centro de Saúde Amauri de Medeiros.
Tabela 2 - Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose,
com estreptomicina, segundo a unidade de saúde – Recife, 2000-2001
Unidade de Saúde
Centro de Saúde Lessa de Andrade
Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros
Posto de Saúde de Afogados
Unidade Mista 14 p, de Brasília Teimosa
Unidade Móvel do Posto do Pombal
Nº
08
07
04
03
02
%
Casa de Saúde Gouveia de Barros
Posto de Saúde Joaquim Cavalcante
02
02
5,1
5,1
Posto de Saúde de Santo Amaro
Casa de Saúde Albert Sabin, Recife
02
01
5,1
2,7
Hospital das Clínicas
Unidade de Saúde Iná Rosa Borges
01
01
2,7
2,7
Hospital Geral Otávio de Freitas
Posto de Saúde de Cavaleiro
01
01
2,7
2,7
Posto de Saúde do Sancho
TOTAL
01
36
22,2
19,4
11,1
8,3
5,1
2,7
100,00
44
3.3 Desenho de estudo:
Inicialmente, o estudo foi proposto para ser seccional, incluindo o universo de casos de
tratamento da tuberculose, com estreptomicina. Devido às perdas no decorrer do
trabalho, achou-se mais pertinente classificá-lo como um estudo de série de casos. O
estudo tipo série de casos abrange um grupo maior de pacientes quando, comparado
com o estudo de caso, permite a realização de testes estatísticos para descartar a
participação do acaso. Contudo, este tipo de estudo apresenta algumas limitações: não
possibilitar inferências para a população, e não ter grupo para comparação
(FLETCHER, R.; FLETCHER,S.; WAGNER, 1996).
3.4 Coleta de dados
3.4.1 Dados secundários
Os dados secundários foram obtidos mediante acesso ao banco de dados do SINAN
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação), para tuberculose, no município do
Recife. Após obter autorização para usar o banco de dados, fornecida pela Diretoria de
Epidemiologia do Município, as variáveis importantes para o desenvolvimento do
trabalho foram identificadas e exploradas.
O SINAN iniciou seu processo de implantação a partir de 1992. Tem por objetivo o
registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação compulsória, em todo
o território nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade, e
contribuindo, desta forma, para a tomada de decisões nas esferas municipal, estadual e
federal (BRASIL. Ministério da Saúde, 2002b). Os dados utilizados neste trabalho foram
disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Recife.
A coleta de dados secundários foi realizada através de análise dos prontuários, na
unidade de saúde em que o tratamento para tuberculose foi realizado, a fim de corrigir
possíveis erros de transcrição e resgatar as variáveis não preenchidas na ficha do
SINAN ou que não constem na ficha (ANEXO A).
45
3.4.2 Dados primários
Com base nas informações coletadas no banco de dados relativo à tuberculose, no
município do Recife, foi realizada uma visita domiciliar, para sensibilizar e motivar os
pacientes tratados com estreptomicina, nos anos de 2000 a 2001. Aqueles que
concordaram em participar do trabalho foram agendados para a realização dos exames
audiológicos e a entrevista, no Ambulatório de audiologia do Curso de Fonoaudiologia
da UFPE. Para as 11 pessoas não localizadas, foram enviadas carta-convite,
registradas (ANEXO B), destas, nenhuma pessoa entrou em contato.
Os dados foram coletados por fonoaudiólogos, no Ambulatório de Audiologia do Curso
de Fonoaudiologia da UFPE, no período de julho a outubro de 2002. Os pacientes
foram entrevistados e, posteriormente, submetidos a meatoscopia, audiometria
convencional, audiometria de altas freqüências, imitanciometria e exame de emissões
otoacústicas. Concomitante aos exames, foi realizada uma entrevista, com questionário
fechado, contendo variáveis direta e indiretamente relacionadas com a tuberculose. A
entrevista foi feita pela autora e constou de 31 perguntas, distribuídas em 3 blocos:
dados pessoais, dados referentes ao passado otológico e hábitos auditivos e dados
relativos à tuberculose e ao tratamento (ANEXO C).
A meatoscopia revelou a desobstrução da orelha externa, para que a audiometria fosse
realizada. Usou-se otoscópio, de marca GOOWLLANDS.
Foi realizada audiometria de tom puro convencional, para a via aérea, nas freqüências:
0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6 e 8 KHz e, para a via óssea, nas freqüências: 0,5, 1, 2, 3, e 4
KHz. Audiometria de tom puro, em altas freqüências, foi feita na freqüência de 12,5
KHz. A técnica de apresentação do estímulo na forma pulsátil partiu da audibilidade
para a condição de inaudibilidade. Foi utilizado um audiômetro clínico de 2 canais,
marca DAMPLEX, modelo 65, com calibração segundo o padrão ANSI S3.6, 1989,
fones TDH39. Foi realizada calibração biológica, para a freqüência de 12,5 KHz, pelo
fato de, nesta cidade não existir equipamentos para calibração de tal freqüência.
Considerando-se dentro da normalidade os limiares auditivos menores ou iguais a 20
dBNA.
46
A imitanciometria teve por finalidade atender os critérios de inclusão e exclusão, para
realização do exame de emissões otoacústicas. Considerou-se normal a altura da curva
timpanométrica entre 0,3 e 1,6 ml, e pico entre –100 e +50 daPa.
As emissões otoacústicas por transiente e produto de distorção foram realizadas nas
orelhas que apresentaram imitanciometria normal. Foi utilizado equipamento da marca
Madsem, modelo CAPELLA. As emissões otoacústicas por transientes foram evocadas
por clique, estímulo não linear, na intensidade de 80 dBNPS, abrangendo na entrada as
freqüências de 500 a 4000 Hz, com respostas nas bandas de freqüência 1, 2, 3, 4 e 5
KHz. Foram consideradas presentes quando apresentavam uma reprodutibilidade de
50% nas duas primeiras bandas de freqüência e 70% nas demais, com uma relação
sinal/ruído maior ou igual a três nas duas primeiras bandas de freqüência e seis nas
outras bandas. Para as emissões otoacústicas produto de distorção o estímulo, um tom
puro, foi apresentado para as freqüências primarias, f1 e f2, nas freqüências 1; 1,5; 2; 3;
4 e 6, numa razão f2/f1= 1,22, com variação de intensidade de 10 dBNPS, onde L1> L2
(65-55). Foi adotado um padrão de normalidade fornecido pelo fabricante do
equipamento e as emissões foram classificadas como presentes, parcialmente
presentes e ausentes.
3.5 Elenco de variáveis
3.5.1 Variáveis dependentes
Alterações auditivas: alterações ocorridas quando da realização da audiometria,
qualquer freqüência testada com resultados acima de 20 dB.
Alterações vestibulares: entendidas quando o paciente referir, na entrevista, alteração
no equilíbrio, durante o tratamento com estreptomicina, para tuberculose.
3.5.2 Variáveis independentes
Sexo: referido pelo paciente no ato da entrevista: masculino e feminino.
Faixa etária: idade, em anos completos, referida pelo paciente, assim categorizada: 21
– 39 e 40 – 59.
47
Forma da tuberculose: conforme o referido pelo paciente, pulmonar, extra-pulmonar e
pulmonar+extra-pulmonar.
Tratamento anterior para tuberculose: conforme o referido pelo paciente: não; sim,
curou; sim, abandonou; falência no tratamento; mudança de esquema.
Esquemas de drogas usadas no tratamento da tuberculose: conforme a ficha do
SINAN, item 40:1- para sim, 2- para não, e 9- para ignorado. Para: rifampicina,
isoniazida, pirazinamida, etambutol, etionamida, estreptomicina e outras.
Reações adversas ao tratamento (queixas): quando na entrevista forem relatados sinais
e sintomas surgidos durante o tratamento para tuberculose, como: alteração auditiva,
alteração vestibular (desequilíbrio), náuseas, dor de cabeça.
Tipo de alteração auditiva: sensório-neural, quando, na audiometria, em qualquer
freqüência testada, os limiares auditivos, por via aérea e óssea, estivessem iguais e
ambos alterados ou quando houvesse alteração apenas na via aérea das freqüências
de 6, 8 e 12,5 KHz. As alterações auditivas condutivas foram consideradas, quando, na
audiometria, os limiares auditivos nas freqüências testadas estiveram normais, por via
óssea, e alterados, por via aérea, com diferença aéreo-óssea de, pelo menos, 15 dB,
em uma freqüência. As alterações auditivas mistas foram assim denominadas quando,
na audiometria, pelo menos um limiar obtido por freqüência testada estivesse alterado
por via aérea e por via óssea, e existisse, entre estas duas vias, uma diferença de, pelo
menos, 15 dB.
Lateralidade da alteração auditiva: entendida conforme conste na audiometria, se a
alteração auditiva é na orelha direita, orelha esquerda, ou em ambas (bilateral).
Antecedentes de alteração auditiva: considerados conforme o paciente refira, na
entrevista; sim: para alteração auditiva anterior ao tratamento da tuberculose, e não:
para a ausência de alteração auditiva, antes do tratamento da tuberculose.
Freqüências agrupadas: o audiograma foi dividido didaticamente em bloco de
freqüências, sendo consideradas freqüências graves, aquelas entre 250 e 2000 Hz; e
agudas, aquelas entre 3000 e 12500 Hz.
48
Duração do tratamento para tuberculose: tempo, em meses, em que o paciente foi
submetido a tratamento para tuberculose, com estreptomicina, conforme relato.
Doenças associadas: quando, além da tuberculose, foram referidas outras doenças
associadas, como: AIDS, diabetes, pressão alta, problemas renais, caxumba, sífilis.
Casos de tuberculose na família: referidos pelo paciente, como outros casos da doença
em componentes da família.
Ruído em ambiente de trabalho: assim entendido quando, em seu depoimento, o
paciente referir que não é possível conversar no ambiente de trabalho, sem a
interferência do ruído ambiente. Para estabelecer a diferença entre a intensidade do
ruído e da fala, no local de trabalho, foi usado, como indicador de predição, o
entendimento da fala em presença do ruído: sim, para relação sinal (fala) ruído < 1 e
não, para a relação sinal (fala) ruído >1.
3.6 Processamento dos dados e plano de descrição e análise
Para a análise dos dados, foram obtidas distribuições absolutas e percentuais, medidas
estatísticas: média, desvio padrão e coeficiente de variação de algumas variáveis
numéricas.
Utilizou-se também os testes estatísticos: Qui-quadrado ou o Exato de Fisher (quando
as condições para utilização do teste Qui-quadrado não foram verificadas).
Foram também utilizados os testes de Man Witney, Mc-Nemar, t-Student pareado, ou
de Wilcoxon de Postos Sinalizados e o teste t-Student para a hipótese de correlação
nula entre as medidas da emissão acústica, nas orelhas direita e esquerda. A escolha
entre o teste t-Student pareado e o de Wilcoxon de Postos Sinalizados foi feita
considerando a verificação ou não da hipótese de normalidade da variável diferença
entre os lados, ou entre as freqüências graves e agudas.
Quando a hipótese de normalidade foi verificada, utilizou-se o teste t-Student pareado
e, em caso contrário, o teste de Wilcoxon de Postos Sinalizados. A hipótese de
49
normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk para
normalidade.
Para as tabelas bivariadas de dimensão 2 x 2, envolvendo as alterações auditivas e
vestibulares, obteve-se a razão das proporções de perda e um intervalo de 95,0% para
a proporção da perda populacional. O nível de significância considerado para a decisão
dos testes estatísticos foi de 5,0% (0,05) e o programa estatístico utilizado foi o SAS
(Statistical Analysis System), na versão 8.0.
3.7 Controle de “bias”
O controle das “bias” de seleção, ao que se pretendia, teria por base o universo de
pessoas expostas à estreptomicina, para o tratamento da tuberculose, nos anos de
2000 e 2001. Contudo, vários motivos foram responsáveis pela redução do universo
inicial: ocorrência de alta mortalidade, mudanças de endereço, alguns morando em
locais de difícil acesso, entre outras.
O controle de “bias” de aferição foi realizado através da calibração de todos os
equipamentos utilizados para a coleta dos dados.
As “bias” de memória foram amenizadas, quando as pessoas foram orientadas para, no
ato da entrevista, trazerem anotações referentes ao tratamento da tuberculose.
3.8 Considerações éticas
Após concordância verbal e assinatura do Termo de Consentimento (ANEXO D) pelas
pessoas, foram realizadas a entrevista e os exames. Cada indivíduo recebeu o
resultado do exame, após a realização do mesmo. Com a identificação das alterações
auditivas, os pacientes foram agendados para acompanhamento otorrinolaringológico.
Além disso, foram seguidas as Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas
Biomédicas envolvendo seres humanos, elaboradas pelo Conselho para Organizações
Internacionais de Ciências Médicas (CIOMS), em colaboração com a OMS – 1993. O
projeto em pauta foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães – CPqAM/FIOCRUZ (ANEXO E )-
50
RESULTADOS
51
Os resultados são apresentados inicialmente com as principais características da
população estudada e depois com as associações entre as variáveis dependentes e as
independentes.
No gráfico 1 observa-se que, dos 36 pacientes pesquisados, 27 (75,0%) eram do sexo
masculino e 9 (25,0%) do sexo feminino.
Gráfico 1 – Distribuição das pessoas que fizeram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife, 2000-2001
Fem inino
25,0%
Masculino
75,0%
A idade variou de 21 a 57 anos, com média de 38,86 anos e desvio padrão de 11,37
anos, medidas estas que resultam num coeficiente de variação de 29,27%. Na tabela 3
consta a distribuição dos pacientes, segundo a idade, verificando-se percentuais
aproximados, em cada faixa etária.
52
Tabela 3 – Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo faixa etária - Recife, 2000-2001
Faixa etária (anos)
N
%
21 – 39
40 – 59
20
16
55,6
44,4
TOTAL
36
100,0
A distribuição das formas da tuberculose na população estudada está apresentada na
tabela 4 - 94,4% das pessoas apresentaram a forma pulmonar da doença, uma pessoa
(2,8%) apresentou uma forma extra pulmonar da doença e uma (2,8%) a combinação
da doença, na sua forma pulmonar e extra-pulmonar.
Tabela 4–Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose,
com estreptomicina, segundo a forma da tuberculose - Recife, 2000-2001
Forma da tuberculose
N
%
Pulmonar
34
94,4
Extra-pulmonar
01
2,8
Extra-pulmonar + pulmonar
01
2,8
TOTAL
36
100,0
Em relação ao tratamento anterior para a tuberculose, o maior percentual (38,9%) não
tinha sido submetido ao tratamento; 30,5% já tinha se submetido a tratamento anterior,
mas havia abandonado; e apenas 16,7%, correspondendo a 6 pacientes, tinham se
curado, após completar o tratamento anterior (Tabela 5).
53
Tabela 5 – Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior para
tuberculose - Recife, 2000-2001
Tratamento anterior
N
%
Não
Sim,curou
Sim, abandonou
Falência
Mudança de esquema
14
6
11
3
2
38,9
16,7
30,5
8,3
5,6
TOTAL
36
100,0
Os resultados dos esquemas das drogas utilizadas no tratamento da tuberculose estão
descritos na tabela 6, verificando-se a presença de 12 esquemas distintos; dez
pacientes utilizaram três drogas no tratamento, 17 utilizaram quatro drogas, sete
utilizaram cinco drogas e dois utilizaram seis drogas. Os esquemas mais utilizados
foram: H+E+S+ET, com sete casos, R+Z+H+S e R+Z+H+E+S, com cinco casos, cada,
e H+S+ET, com quatro casos. Os outros oito esquemas tiveram freqüências de, no
máximo, dois pacientes.
54
Tabela 6 –Esquema de drogas usadas por pessoas que realizaram
tratamento da tuberculose, com estreptomicina - Recife, 2000-2001
Esquema das drogas usadas
N
%
R+Z+S
H+E+S
H+S+ET
E+S+ET
R+Z+H+S
Z+H+E+S
Z+H+E+ET
Z+E+S+ET
H+E+S+ET
R+Z+H+E+S
R+Z+H+S+ET
R+Z+H+E+S+ET
2
2
4
2
5
3
1
1
7
5
2
2
5,6
5,6
11,1
5,6
13,9
8,3
2,8
2,8
19,4
13,4
5,6
5,6
36
100,0
TOTAL
Fonte: SINAN/2000-2001.
Estreptomicina = S; Pirazinamida = Z; Etambutol = E; Etionamida = Et; Rifampicina =R;
Isoniazida = H
Os resultados das reações adversas (queixas) ao tratamento estão registrados no
quadro 7, verificando-se que a queixa mais freqüente referiu-se a alterações
vestibulares (desequilíbrio, 61,1%), seguido de dor de cabeça (55,6%). As alterações
auditivas foram as menos referidas.
Quadro 7–Distribuição das reações adversas (queixas) das pessoas que
realizaram tratamento para tuberculose, com estreptomicina-Recife, 2000-2001
Tipo de reações adversas
N
%
Alterações vestibulares
Cefaléia
Náuseas
Alterações auditivas
Sem reação
22
20
18
11
8
61,1
55,6
50,0
30,6
22,2
55
As alterações auditivas foram verificadas em 27 pessoas (75,0%) e estavam ausentes
em nove (25,0%), conforme resultados ilustrados no gráfico 2.
Gráfico 2 – Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a ocorrência de alterações
auditivas na audiometria - Recife, 2000-2001
Sem alteração
25,0%
Com alteração
75,0%
As alterações vestibulares foram verificadas em 22 pessoas (61,1%) e não foram
verificadas em 14 (38,9%) (Gráfico 3).
Gráfico 3–Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose,
com estreptomicina, segundo as alterações vestibulares - Recife, 2000-2001
S e m a lte ra ç ã o
3 8 ,9 %
C o m a lte ra çã o
6 1 ,1 %
A perda sensório–neural foi o tipo mais freqüente, aludida por 63,9% dos pacientes,
enquanto os casos de pessoas sem alteração auditiva representam 1/4 da amostra
56
estudada. As formas condutiva e mista de alteração auditiva apresentaram dois casos
cada uma, conforme pode ser verificado na tabela 7.
Tabela 7 – Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose,
com estreptomicina, segundo o tipo de alteração auditiva - Recife, 2000-2001
Tipo de perda
N
%
Normal (sem perda)
Sensório - neural
Condutiva
Mista
9
23
2
2
25,0
63,9
5,6
5,6
TOTAL
36
100,0
Dos 27 casos de perda, 22 foram do tipo bilateral, dois do tipo unilateral à direita, três
unilateral à esquerda (tabela 8).
Tabela 8–Distribuição das pessoas que realizaram tratamento da tuberculose, com
estreptomicina, segundo a lateralidade da alteração auditiva–Recife, 2000-2001
Lateralidade da alteração auditiva
N
%
Unilateral (direita)
Unilateral (esquerda)
Bilateral
Sem perda
2
3
22
9
5,5
8,3
61,1
25,0
TOTAL
36
100,0
Analisando a tabela 9, é possível constatar: para as freqüências até 3000 Hz, as
médias oscilaram entre 16,25 e 18,59 dB, na orelha direita, e de 14,70 dB a 20,00 dB,
na orelha esquerda. Para as freqüências de 4000 a 12500 Hz, as médias oscilaram de
57
22,34 a 45,97 dB, na orelha direita, e de 21,52 a 38,03 dB, na orelha esquerda. Entre a
orelha direita e a esquerda, as maiores diferenças médias ocorreram para 12500 Hz,
8000 Hz e 1000 Hz, sendo os valores mais elevados na orelha direita. Com exceção de
3000 e 6000 Hz, todas as demais médias foram mais elevadas na orelha direita. A
única diferença significativa, entre os lados direito e esquerdo, foi verificada na
freqüência de 12000 Hz.
Tabela 9 – Média, desvio padrão e coeficiente de variação dos resultados das
audiometrias de pessoas que realizaram tratamento para tuberculose, com
estreptomicina, segundo as freqüências testadas por orelha - Recife, 2000-2001
Freqüências
Testadas (Kz)
Estatísticas
Orelha
Direita
Esquerda
250
Média (3)
Desvio padrão (3)
Coeficiente de variação (4)
18,13
8,01
44,18
17,42
7,19
41,29
P (1) = 0,5410
500
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
16,25
7,73
47,54
15,61
7,26
46,54
P (1) = 0,4782
1000
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
16,88
8,30
49,21
14,70
6,95
47,31
P (1) = 0,1153
2000
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
16,41
10,94
66,70
15,91
11,56
72,63
P (1) = 0,6383
3000
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
18,59
13,33
71,71
20,00
13,92
69,60
P (1) = 0,0918
4000
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
22,34
16,51
73,89
21,52
14,66
68,12
P (2) = 0,6624
6000
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
30,28
20,67
68,25
31,06
17,44
56,16
P (2) = 0,2304
8000
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
30,00
24,70
82,33
27,12
19,57
72,15
P (2) = 0,7721
Valor de P
58
12500
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
45,97
26,96
58,65
38,03
25,65
67,44
P (1) = 0,0051*
(*) – Diferença significativa, ao nível de 5,0%.
(1) – Através do teste Wilcoxon de Postos Sinalizados.
(2) – Através do teste t-Student pareado.
(3) – Medidas em dB.
(4) – Medida em percentual.
Foram excluídas da média as orelhas que apresentaram perda auditiva condutiva (2) e mista (2)
A tabela 10 apresenta a relação das audiometrias conforme o tipo de freqüência, grave
ou aguda, por orelha. Nota-se que o valor médio da audiometria foi bem mais elevado
nas freqüências agudas do que nas graves. Aplicando o teste de Wilcoxon de Postos
Sinalizados, comprovou-se diferença fortemente significativa entre as freqüências
graves e agudas, para cada orelha (P < 0,001).
Tabela 10–Audiometrias das pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, em freqüências agrupadas, grave e aguda, por
orelha-Recife, 2000-2001
Orelha
Estatísticas
Audiometrias
Grave
Aguda
Direita
Média (2)
Desvio padrão (2)
Coeficiente de variação (3)
16,91
7,87
46,51
27,72
18,31
66,06
P (1) < 0,001 *
Esquerda
Média
Desvio padrão
Coeficiente de variação
15,91
6,76
42,51
27,55
16,06
58,30
P (1) < 0,001 *
Valor de P
* - Diferença significativa, ao nível de 5,0%.
(1) – Através do teste de Wilcoxon de Postos Sinalizados.
(2) – Medidas em dB.
(3) – Medida em percentual.
Foram excluídas da média as orelhas que apresentaram perda auditiva condutiva (2) e mista (2).
59
O gráfico 4 expressa o comportamento das freqüências e intensidades, verificando-se
que à proporção que a freqüência aumenta, elevam-se também os limiares auditivos
médios.
Gráfico 4 – Distribuição das médias da audiometria, por freqüência e por
orelha, das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose, com
12500 Hz
8000 Hz
6000 Hz
4000 Hz
3000 Hz
2000 Hz
1000 Hz
500 Hz
250 Hz
estreptomicina - Recife, 2000-2001
Média da audiometria dB
0
10
20
30
Direito
Esquerdo
40
50
A tabela 11 apresenta a relação entre as queixas auditivas e vestibulares; 33,3% das
pessoas apresentaram alterações vestibulares e não auditivas, sendo a distribuição
estatisticamente significante (p = 0,024).
60
Tabela 11 – Alterações auditivas e vestibulares (queixas) em pessoas que
realizaram tratamento para tuberculose, com estreptomicina-Recife, 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Sim
10
23,8
1
2,8
11
36,6
Não
12
33,3
13
36,1
25
69,4
Grupo total
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Alterações auditivas
TOTAL
Teste Exato de Fisher: P = 0,024
Na tabela 12 é possível verificar que o percentual de pacientes com alterações
auditivas foi aproximadamente igual, entre os sexos (74,1%, entre os homens, 77,8%,
mulheres), portanto, não foi comprovada associação significativa entre o sexo e as
alterações auditivas, conforme os resultados do teste Exato de Fisher e o Intervalo de
Confiança para a razão entre as proporções de pacientes com alterações auditivas (P >
0,05 e IC para a razão, contendo o valor 1,00).
Tabela 12 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Masculino
20
74,1
7
25,9
27
100,0
Feminino
7
77,8
2
22,2
9
100,0
Grupo total
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Sexo
Teste Exato de Fisher: P =1,000;
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,95;
IC = (0,63 a 1,44).
TOTAL
61
A tabela 13 evidencia que o percentual de pacientes com alterações vestibulares foi
mais elevado entre as mulheres do que entre os homens (77,8% versus 55,6%,
respectivamente); entretanto, sem comprovação de associação significativa (P> 0,05).
Tabela 13 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o sexo - Recife, 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Masculino
15
55,6
12
44,4
27
100,0
Feminino
7
77,8
2
22,2
9
100,0
Grupo total
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Sexo
TOTAL
Teste Exato de Fisher: P = 0,4315;
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,71; IC = (0,44 a 1,16).
Em relação à faixa etária, constata-se que o percentual de alterações auditivas foi
11,3% mais elevado entre as pessoas com 40 a 59 anos, do que entre as com 20 a 39;
entretanto, sem associação significativa entre a faixa etária e a ocorrência ou não de
alterações auditivas, conforme valor de P (> 0,05) e o intervalo de confiança para RP,
que inclui o valor 1,00 (Tabela 14).
Tabela 14 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária - Recife, 2000-2001
Faixa etária (anos)
Alterações auditivas
Sim
N
%
N
Não
TOTAL
%
N
%
40 – 59
13
81,3
3
18,7
16
100,0
20 – 39
14
70,0
6
30,0
20
100,0
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,7003;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,16; IC = (0,80 a 1,68).
62
A ocorrência de alterações vestibulares foi percentualmente mais elevada entre os mais
jovens (70,0% versus 50,0%), entretanto sem comprovação de associação significativa
entre as duas variáveis (P > 0,05 e IC que inclui o valor 1,00) (tabela 15).
Tabela 15 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a faixa etária - Recife, 2000-2001
Faixa etária (anos)
N
Alterações vestibulares
Sim
Não
%
N
%
TOTAL
N
%
40 – 59
8
50,0
8
50,0
16
100,0
20 – 39
14
70,0
6
30,0
20
100,0
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Grupo total
χ = 1,4961; P = 0,2213;
Teste Qui-Quadrado: χ
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,71; IC = (0,40 a 1,26).
2
Na tabela 16 estão apresentados os resultados da avaliação do tipo de perda, segundo
a faixa etária do paciente. Analisando a tabela, é possível destacar que, entre as
pessoas com idade de 40 a 59 anos, o maior percentual (81,3%) apresentava perda do
tipo sensório-neural e o restante era normal. Das pessoas com idade entre 20 a 39
anos, metade (50,0%) tinha perda sensório-neural, 10,0% perda condutiva e 10,0%
perda do tipo mista. Ao nível de significância considerado, não se comprovou
associação significativa entre a faixa etária e o tipo de perda, conforme resultados do
teste Exato de Fisher (P > 0,05).
63
Tabela 16 – Distribuição das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose,
com estreptomicina, segundo o tipo de perda por faixa etária - Recife, 2000-2001
Faixa etária (anos)
Normal
Tipo de perda
SensórioCondutiva
neural
N
%
N
%
N
%
N
%
Mista
TOTAL
N
%
40 a 59
3
18,7
13
81,3
-
-
-
-
16
100,0
20 a 39
6
30,0
10
50,0
2
10,0
2
10,0
20
100,0
9
25,0
23
63,9
2
5,6
2
5,6
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,1667.
A presença de alterações auditivas foi percentualmente mais elevada entre os
pacientes que já tinham realizado tratamento anterior para tuberculose do que entre os
que não tinham realizado tratamento (86,4% versus 57,1%); entretanto, sem
comprovação de associação significativa (tabela 17).
Tabela 17 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior para
tuberculose - Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
Tratamento
anterior
TOTAL
N
%
N
%
N
%
Sim
19
86,4
3
13,6
22
100,0
Não
8
57,1
6
42,9
14
100,0
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,1111;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,51; IC = (0,93 a 2,45).
64
Em relação à presença de alterações vestibulares, é possível verificar, na tabela 18,
que o percentual correspondente a esta condição foi apenas 6,5%, mais elevado entre
os pacientes que já tinham realizado tratamento anterior para tuberculose (63,6%) do
que nos componentes do grupo que não o tinha realizado (57,1%). Portanto, não houve
associação significativa entre a ocorrência ou não de tratamento anterior e a ocorrência
ou não de alterações vestibulares.
Tabela 18 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo o tratamento anterior para
tuberculose - Recife, 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Sim
14
63,6
8
36,4
22
100,0
Não
8
57,1
6
42,9
14
100,0
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Tratamento anterior
Grupo total
TOTAL
χ = 0,1518; P = 0,6968.
Teste Qui-quadrado: χ
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,11; IC = (0,64 a 1,93).
2
A ocorrência de alterações auditivas foi 11,1% mais elevada entre os pacientes que
utilizaram menos drogas no tratamento, em relação aos que utilizaram mais drogas
(77,8% versus 66,7%), sem associação significativa (P > 0,05) entre o número de
drogas utilizadas no tratamento e a ocorrência ou não de alterações auditivas (tabela
19).
65
Tabela 19 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o uso de estreptomicina com 5 e 6,
3 e 4 drogas - Recife, 2000-2001
Número de drogas utilizadas
no tratamento
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
TOTAL
N
%
Estreptomicina + (5 – 6) drogas
6
66,7
3
33,3
9
100,0
Estreptomicina + (3 – 4) drogas
21
77,8
6
22,2
27
100,0
Grupo total
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Teste Exato de Fisher: P = 0,6604;
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,86; IC = (0,52 a 1,42).
Quanto às alterações vestibulares, foram 7,4% mais elevadas entre os pacientes que
utilizaram 5 a 6 drogas no tratamento, em relação aos que utilizaram 3 e 4 drogas
(66,7% versus 59,3%, respectivamente). Portanto, sem comprovação de associação
significativa entre as duas variáveis (tabela 20).
Tabela 20 – Alterações vestibulares em pessoas que fizeram tratamento para
tuberculose com estreptomicina, segundo o uso de estreptomicina com 5 e 4,
3 e 2 drogas - Recife, 2000-2001
Número de drogas utilizadas
no tratamento
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
TOTAL
N
%
Estreptomicina + (5 – 6) drogas
6
66,7
3
33,3
9
100,0
Estreptomicina + (3 – 4) drogas
16
59,3
11
40,7
27
100,0
Grupo total
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Teste Exato de Fisher: P = 1,000;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,13; IC = (0,64 a 1,96).
66
Analisando a tabela 21, verifica-se que metade das pessoas realizaram tratamento com
duração superior a 2 meses e a outra metade com duração até 2 meses. Contudo, as
alterações auditivas no 1º grupo foram superiores em apenas 5,6% em relação ao 2º
(77,8% versus 72,2%), não se comprovando, deste modo, associação significativa entre
tempo de duração do tratamento e ocorrência de alterações auditivas.
Tabela 21 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo a duração do tratamento
Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
Duração do
tratamento (meses)
TOTAL
N
%
N
%
N
%
>2
14
77,8
4
22,2
18
100,0
Até 2
13
72,2
5
27,8
18
100,0
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 1,000;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,08; IC = (0,74 a 1,57)
Em relação às alterações vestibulares, verifica-se, na tabela 22, que foram mais
elevadas nos pacientes com duração de tratamento para tuberculose superior a dois
meses (72,2%), em relação aos pacientes com tratamento durante até dois meses
(50,0%). Contudo, não se comprovou associação significativa, ao nível de significância
considerado.
67
Tabela 22–Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo a duração do tratamento-Recife, 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
>2
13
72,2
5
27,8
18
100,0
Até 2
9
50,0
9
50,0
18
100,0
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Duração do tratamento
(meses)
Grupo total
TOTAL
Teste Qui-Quadrado: χ2 = 1,8701 ; P = 0,1715
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,44; IC = (0,84 a 2,49).
Comparando o resultado da audiometria em relação aos meses de uso da
estreptomicina, constata-se a presença de alterações auditivas nos pacientes que
fizeram uso da medicação por um período maior de tempo, porém sem significância
estatística (tabela 23)
Tabela 23 – Condição da audiometria em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo o tempo de uso da estreptomicina Recife, 2000-2001
Tempo de uso da
estreptomicina
Condição da audiometria
Alterado
Normal
Média (meses)
2,63
2,00
Desvio padrão (meses)
1,49
0,97
Valor de P
P (1) = 0,2830
1 – Através do teste de Mann-Whitney.
Em relação às alterações auditivas, os resultados foram idênticos entre os que tiveram
e os que não tiveram doenças associadas (75,0% x 75,0%), não se comprovando
associação significativa entre as duas variáveis (Tabela 24).
68
Tabela 24 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo todas as doenças associadas à
tuberculose - Recife, 2000-2001
Doenças associadas
Alterações auditivas
Sim
N
%
N
Não
TOTAL
%
N
%
Sim
12
75,0
4
25,0
16
100,0
Não
15
75,0
5
25,0
20
100,0
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 1,000;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,00; IC = (0,68 a 1,46).
Quanto às alterações vestibulares, foram 13,7% mais elevadas entre os pacientes que
já tiveram doenças associadas, em relação aos que não as tiveram (68,7% versus
55,0%, respectivamente). Não se comprovou associação significativa entre estas
variáveis (tabela 25).
Tabela 25 - Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo todas as doenças associadas à
tuberculose - Recife, 2000-2001
Doenças
associadas
Alterações vestibulares
Sim
Não
TOTAL
N
%
N
%
N
%
Sim
11
68,7
5
31,3
16
100,0
Não
11
55,0
9
45,0
20
100,0
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,5007;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,25; IC = (0,75 a 2,09).
69
Os dados apresentados na tabela 26 evidenciam a ocorrência de AIDS em quatro
pacientes, hipertensão em cinco e diabetes em dois pacientes. Devido ao reduzido
número de casos de cada doença, deixa-se de apresentar testes estatísticos de
associação entre cada uma delas e a ocorrência de alterações auditivas. Destaca-se
que, dos quatro casos de pacientes com AIDS, dois apresentavam alterações auditivas
e, dos cinco casos de pacientes com hipertensão, três apresentavam estas alterações.
Tabela 26 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo algumas doenças associadas Recife, 2000-2001
Doenças associadas
Alterações auditivas
Sim
N
%
N
Não
TOTAL
%
N
%
• AIDS
Sim
Não
2
25
50,0
78,1
2
7
50,0
21,9
4
32
100,0
100,0
TOTAL
27
75,0
9
25,0
36
100,0
••Hipertensão
Sim
Não
3
24
60,0
77,4
2
7
40,0
22,6
5
31
100,0
100,0
TOTAL
27
75,0
9
25,0
36
100,0
•• Diabetes
Sim
Não
1
26
50,0
76,5
1
8
50,0
23,5
2
34
100,0
100,0
TOTAL
27
75,0
9
25,0
36
100,0
70
Resultados similares foram encontrados para as alterações vestibulares, com as
mesmas freqüências em cada doença, ou seja, dois pacientes, entre os quatro com
AIDS, três, entre os cinco com hipertensão, e um, entre os dois com diabetes
apresentavam alterações vestibulares (tabela 27).
Tabela 27 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as doenças associadas à tuberculose Recife, 2000-2001
Doenças associadas
N
Alterações vestibulares
Sim
Não
%
N
TOTAL
%
N
%
• AIDS
Sim
Não
2
20
50,0
62,5
2
12
50,0
37,5
4
32
100,0
100,0
TOTAL
22
61,1
14
38,9
36
100,0
••Hipertensão
Sim
Não
3
19
60,0
61,3
2
12
40,0
38,7
5
31
100,0
100,0
TOTAL
22
61,1
14
38,9
36
100,0
•• Diabetes
Sim
Não
1
21
50,0
61,8
1
13
50,0
38,2
2
34
100,0
100,0
TOTAL
22
61,1
14
38,9
36
100,0
O percentual de pacientes com alterações auditivas foi menor entre os que tinham
casos de tuberculose na família, em relação aos que não tinham (60,0% versus 80,8%),
indicando que a presença de casos de tuberculose na família não é um fator que
aumenta a probabilidade de ocorrência desta condição. Através do teste Exato de
Fisher, não se comprovou associação significativa entre os casos de ocorrência ou não
de tuberculose na família e alterações auditivas (tabela 28).
71
Tabela 28 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo os casos de tuberculose
na família - Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Casos de tuberculose
na família
Não
TOTAL
N
%
N
%
N
%
Sim
6
60,0
4
40,0
10
100,0
Não
21
80,8
5
19,2
26
100,0
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,2262;
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,74; IC = (0,43 a 1,27).
O percentual de pacientes com alterações vestibulares foi mais elevado entre os que
tinham casos de tuberculose na família, em relação aos que não tinham (80,0% versus
53,8%), porém, o teste Exato de Fisher não comprovou associação significativa entre a
presença ou ausência de casos de tuberculose na família e a ocorrência de alterações
auditivas (tabela 29).
Tabela 29 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram
tratamento para tuberculose, com estreptomicina, segundo os casos de
tuberculose na família – Recife, 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
TOTAL
N
%
Sim
8
80,0
2
20,0
10
100,0
Não
14
53,8
12
46,2
26
100,0
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Tuberculose na família
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,2545
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,49; IC = (0,93 a 2,38).
72
Os dados explicitados na tabela 30 evidenciam que a maioria das pessoas (28) não
tinham antecedentes de alteração auditiva e sua ocorrência foi 16,1% mais elevada
entre os pacientes com antecedentes, em relação aos sem antecedentes (87,5% versus
71,4%, respectivamente); entretanto, não foi comprovada associação significativa entre
as duas variáveis.
Tabela 30 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo os antecedentes de alteração
auditiva - Recife 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
Antecedentes de
perda auditiva
TOTAL
N
%
N
%
N
%
Sim
7
87,5
1
12,5
8
100,0
Não
20
71,4
8
28,6
28
100,0
27
75,0
9
25,0
36
100,0
Grupo total
Teste Exato de Fisher: P = 0,6478;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,23; IC = (0,86 a 1,74).
Embora o percentual de pacientes com alterações vestibulares tenha sido bem mais
elevado entre aqueles com antecedentes de alteração auditiva, em relação aos sem
antecedentes (67,9% versus 37,5%), não se comprovou associação significativa entre
as duas condições (tabela 31).
73
Tabela 31 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo os antecedentes de alteração
auditiva - Recife 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Sim
3
37,5
5
62,5
8
100,0
Não
19
67,9
9
32,1
28
100,0
22
61,1
14
38,9
36
100,0
Antecedentes de perda
Auditiva
Grupo total
TOTAL
Teste Exato de Fisher: P = 0,2169.
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,55; IC = (0,22 a 1,40).
Apenas dois pacientes estavam sujeitos a ruído no ambiente de trabalho; nestes, foram
detectadas alterações auditivas. Contudo, 76,7% das pessoas não sujeitas a ruído no
ambiente de trabalho também apresentaram alterações auditivas (tabela 32).
Tabela 32 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose com estreptomicina, segundo o trabalho em ambiente ruidoso Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Sim
2
100,0
-
-
2
100,0
Não
23
76,7
7
23,3
30
100,0
25
78,1
7
21,9
32
100,0
Exposição a ruído no
Ambiente de trabalho
Grupo total (1)
(1) Para 4 pacientes não se dispõe desta informação.
TOTAL
74
Na tabela 33 constata-se que, das duas pessoas que referiram exposição a ruídos no
ambiente de trabalho, uma apresentou alterações vestibulares sem, no entanto,
associação estatística significante.
Tabela 33 – Alterações vestibulares em pessoas que realizaram
tratamento para tuberculose, com estreptomicina, segundo o trabalho em
ambiente ruidoso – Recife, 2000-2001
Alterações vestibulares
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Sim
1
50,0
1
50,0
2
100,0
Não
19
63,3
11
36,7
30
100,0
Grupo total (1)
20
62,5
12
37,5
32
100,0
Exposição a ruído em
ambiente de trabalho
TOTAL
Teste Exato de Fisher: P = 1,0000
Razão entre as proporções de perda: RP = 0,79; IC = (0,19 a 3,24).
(1) Para 4 pacientes não se dispõe desta informação.
Na tabela 34 estão explicitados os resultados da emissão otoacústica, por paciente, e,
nas tabelas 35 e 36, os mesmos resultados são apresentados, por orelha. Na tabela 34
constata-se que as alterações auditivas foram percentualmente mais elevadas nos
subgrupos de pacientes em que a emissão otoacústica estava alterada, em relação aos
que não apresentavam alteração (84,2% versus 61.5%); entretanto, sem comprovação
de associação significativa entre as duas variáveis.
75
Tabela 34 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões otoacústicas por
transientes - Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
TOTAL
N
%
Alterada
16
84,2
3
15,8
19
100,0
Normal
8
61,5
5
38,5
13
100,0
Grupo total
24
75,0
8
25,0
32
100,0
Emissão otoacústica (1)
1- Para quatro pesquisados não se dispõe da informação
Teste Exato de Fisher: P = 0,4251;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,30; IC = (0,80 a 2,10).
Na tabela 35 estão relacionados os resultados da emissão otoacústica, nas duas
orelhas do mesmo indivíduo. Em 15 pacientes (48,4%), os resultados das duas orelhas
estavam alterados, em 16 (41,9%) os dois exames foram normais e em 3 casos não
houve coincidências, entre as duas orelhas. O teste de Mc-Nemar não comprovou
diferenças entre os resultados das duas orelhas (P > 0,05).
Tabela 35 – Relação das emissões otoacústicas por transientes(1) nas orelhas
direita e esquerda das pessoas que realizaram tratamento para tuberculose, com
estreptomicina - Recife, 2000-2001
Emissão otoacústica
(orelha direita)
Emissão otoacústica (Orelha esquerda)
Alterada
Normal
N
%
N
%
TOTAL
N
%
Alterada
15
48,4
1
3,2
16
51,6
Normal
2
6,4
13
41,9
15
48,4
17
54,8
14
45,2
31
100,0
Grupo total
1- Para cinco pessoas não se dispõe da informação
2
χ = 0,3333; P = 0,5637.
Teste de Mc-Nemar: χ
76
Os resultados das emissões otoacústicas por orelha foram bastante similares quando a
análise foi realizada por paciente, com percentuais de alterações auditivas mais
elevados entre aqueles em que as emissões estavam alteradas (Tabelas 36 e 37).
Tabela 36– Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões otoacústicas por
transientes na orelha direita - Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
TOTAL
N
%
Alterada
14
82,3
3
17,7
17
100,0
Normal
9
60,0
6
40,0
15
100,0
(1)
23
71,9
9
40,0
32
100,0
Emissão otoacústica
(orelha direita) (1)
Grupo total
1 – Para quatro pessoas não se dispõe da informação
Teste Exato de Fisher: P = 0,2433;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,37; IC = (0,86 a 2,19).
Tabela 37 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento para
tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões otoacústicas por
transientes na orelha esquerda - Recife, 2000-2001
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Alterada
15
83,3
3
16,7
18
100,0
Normal
10
62,5
6
37,5
16
100,0
25
73,3
9
26,5
34
100,0
Emissão otoacústica
(orelha esquerda) (1)
Grupo total
(1)
1- Para duas pessoas não se dispõe da informação
Teste Exato de Fisher: P = 0,2497;
Razão entre as proporções de perda: RP = 1,33; IC = (0,87 a 2,05).
TOTAL
77
No tocante à orelha direita, o percentual de pacientes com alterações auditivas foi
menos elevado (63,2%) entre os que apresentavam emissões produto de distorção
presente e ocorreu em todos os que não apresentavam emissões ausentes. Entretanto,
não se comprovou associação significativa entre as duas variáveis, ao nível de
significância considerado (P > 0,05) (tabela 38).
Tabela 38 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões
otoacústicas produto de distorção à direita - Recife, 2000-2001
Emissões PD no lado
direito (1)
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Presente
12
63,2
7
36,8
19
100,0
Parcialmente presente
6
75,0
2
25,0
8
100,0
Ausente
5
100,0
-
-
5
100,0
Grupo total
23
71,9
9
28,1
32
100,0
Para quatro pesquisados não se dispõe da informação
Teste Exato de Fisher: P = 0,3516.
TOTAL
78
No que se refere à orelha esquerda (tabela 39), o percentual de pacientes com
alterações auditivas foi menos elevado (58,8%) entre os que apresentavam emissões
produto de distorção (presente) e em todos os cinco pacientes que não apresentavam
emissões (ausente), mas apresentaram alterações auditivas. Contudo, não foi
comprovada associação significativa entre as duas variáveis, ao nível de significância
considerado (P > 0,05).
Tabela 39 – Alterações auditivas em pessoas que realizaram tratamento
para tuberculose, com estreptomicina, segundo as emissões otoacústicas
produto de distorção à esquerda - Recife, 2000-2001
Emissões PD no lado
Esquerdo (1)
Alterações auditivas
Sim
Não
N
%
N
%
N
%
Presente
10
58,8
7
41,2
17
100,0
Parcialmente presente
10
83,3
2
16,7
12
100,0
Ausente
4
100,0
-
-
4
100,0
Grupo total
24
72,7
9
27,3
33
100,0
1 – Para três pesquisados não se dispõe da informação
Teste Exato de Fisher: P = 0,1998.
TOTAL
79
V – DISCUSSÃO
80
Apesar da estreptomicina ser uma medicação utilizada desde os primórdios do
tratamento para tuberculose, ainda não foi bastante estudada, no Brasil, no que diz
respeito aos danos auditivos.
Campos (1999), ao estudar o retratamento da tuberculose, no município do Recife,
constatou que 72,5% dos pacientes eram do sexo masculino, resultados semelhantes
aos deste estudo. Tais achados indicam maior risco, para os homens, em conseqüência
do abandono ao tratamento, levando à necessidade de retratamento e uso de
esquemas de terapia com drogas mais tóxicas. São 24,2% os homens com desfecho
desfavorável
ao
tratamento
da
tuberculose,
contra
15,6%
nas
mulheres
(ALBUQUERQUE et al., 2001).
Ao estudar as alterações auditivas em pessoas que usavam a estreptomicina no
tuberculose, Soriano Romero et al. (1988) concluiram que 80% dessas alterações,
ocorreram no sexo masculino. Neste estudo, as alterações auditivas e vestibulares,
predominaram no sexo feminino, em discordância com aqueles achados. È importante
enfatizar que, na maioria dos estudos sobre ototoxicidade, a variável sexo não é
mencionada como fator de risco (SANTOS et al., 2000), necessitando assim, estudos
complementares.
A alteração auditiva tende a aumentar com a idade, acometendo 33% daqueles entre
65 e 74 anos, 45% das pessoas entre 75 e 84 anos e 62% dos que têm mais de 85
anos (WEINSTEIN, 1999). Para Santos et al. (2000), os idosos acima de 60 anos são
mais susceptíveis à ototoxicidade. Considerando este fato, recomenda-se que, em
maiores de 60 anos, a estreptomicina seja administrada na dose de 0,5g/dia, ou em
dias alternados, na dose de 1g/dia, para evitar nefrotoxicidade e ototoxicidade
(BRANCO et al., 2000).
Para Sharma et al.(1989) a surdez em pacientes que usaram a estreptomicina pode
atingir todos os grupos etários, porém a maior proporção de pessoas afetadas é em
faixa etárias mais levadas. Da amostragem deste estudo foram excluídas as pessoas
acima de 59 anos de idade, vez que este fator acarreta alterações auditivas com
características semelhantes às causadas pela ototoxicidade. A média de idade do
grupo foi de 38 anos e as pessoas entre 40 e 59 anos de idade apresentaram um
81
percentual maior de alterações auditivas, 81,3%, contra 70% entre 21-39 anos de
idade. Já as alterações vestibulares foram mais citadas pelos adultos jovens. Portanto,
o maior percentual de alterações auditivas em pessoas com mais idade era esperado,
considerando que, quanto mais jovem, melhores os limiares auditivos.
São altos os percentuais das pessoas que desenvolvem a forma pulmonar da doença
(CAMPOS, 1987), com exceção para os grupos populacionais de crianças, jovens e
pessoas com AIDS, cuja freqüência das formas da tuberculose extra-pulmonar pode ser
superior. Neste estudo, a tuberculose se apresentou predominantemente na forma
pulmonar. A discussão é extremamente importante, uma vez que a tuberculose extrapulmonar é mais difícil de ser diagnosticada e tratada.
Campos (1999), ao estudar o retratamento da tuberculose no município do Recife,
verificou que 55,8% das pessoas tinham abandonado o tratamento anterior. Resultados
semelhantes foram encontrados no Chile, onde 56,2% dos pacientes retratados tinham
abandonado o tratamento anterior (VALENZUELA; ROJAS; ZUÑIGA, 1996). Em
análise, neste estudo, sobre o tratamento anterior para tuberculose, verificou-se que
30,5% das pessoas que usaram estreptomicina, abandonaram a terapia, informação
coincidente com os trabalhos citados, constatando que o percentual de abandono, nos
grupos em retratamento, é maior do que em grupos que realizam o primeiro tratamento.
Um fato que merece comentário é que: 38,9% das pessoas referiram não ter se
submetido a tratamento anterior para tuberculose, levantando a questão: se não fizeram
tratamento anterior para tuberculose, como então usaram a estreptomicina, uma droga
indicada para os casos de falência a outros tratamentos? Para verificar a veracidade da
informação, aparentemente contraditória, foi feito um levantamento, no banco de dados
do SINAN, que a confirmou, diferindo em apenas um caso, ou seja, 36,1% das pessoas
estudadas não haviam realizado tratamento anterior para tuberculose.
Também no banco de dados do SINAN foi verificado se estas pessoas haviam
realizado a cultura do escarro, exame para detecção de sensibilidade às drogas,
verificando-se que apenas três pessoas o haviam realizado, levando a concluir que a
82
indicação da estreptomicina, no primeiro tratamento para tuberculose, não está
obedecendo as recomendações do PNCT.
Ademais, o esquema de tratamento preconizado pelo PNCT, com estreptomicina,
constitui o esquema III, indicado nos casos de falência de tratamento dos esquemas I e
IR, e compreende uma associação com mais três drogas: pirazinamida, etambutol e
etionamida. No estudo em questão, identificou-se o uso de 12 diferentes esquemas de
tratamento, em associação à estreptomicina e que apenas uma pessoa usou a
combinação recomendada pelo PNCT. É importante salientar que estas informações
foram retiradas do banco de dados do SINAN, e que podem ter ocorrido algumas falhas
no registro.
Há uma flexibilidade na composição dos esquemas de tratamento, principalmente em
se tratando de multirresisntência. Contudo, o achado levanta a suposição de que ocorre
uma desorganização nas unidades de saúde responsáveis pelo tratamento dessas
pessoas. Informações semelhantes foram registradas por Campos (1999), pesquisando
os casos de retratamento da tuberculose no município do Recife; verificaram que, não
obstante o PNCT preconizar o esquema IR para o retratamento, 25,2% dos casos foram
retratados com o mesmo esquema I.
Picon et al. (2002), estudando o tratamento da tuberculose com estreptomicina,
isoniazida e etambutol, identificaram a vertigem como o efeito adverso mais freqüente,
24,4%, seguido de alterações digestivas (náuseas), em 14,1% das 43 pessoas
estudadas. Quando indagados sobre as reações adversas durante o tratamento da
tuberculose, a principal queixa referida pelos pacientes foi o desequilíbrio, seguindo-se
a dor de cabeça e por último as alterações auditivas. Muitos autores também referem,
em relação às pessoas submetidas a esquemas de tratamento com a estreptomicina,
que a vertigem ou desequilíbrio é a causa mais freqüente de reações adversas.
Em 1948, na Inglaterra, o Comitê de Tratamento da Tuberculose à Base de
Estreptomicina apresentou os resultados sobre seus efeitos tóxicos em um tipo de
tuberculose pulmonar, relatando que estes efeitos foram observados em muitos
pacientes, mas em nenhum houve necessidade de cessar o tratamento. O mais
83
importante efeito tóxico foi o dano ao sistema vestibular, sendo o desequilíbrio o
sintoma mais freqüente (MARSHALL et al., 1948).
Castro (1981), ao estudar a eficácia e toxidade de algumas associações
medicamentosas no tratamento da tuberculose pulmonar, concluiu que as reações
adversas no esquema de tratamento com a estreptomicina+isoniazida+etambutol, no
período de 60 dias, foram observadas em 42,2% das pessoas, o segundo esquema
mais tóxico perdendo apenas para a combinação etionamida+pirazinamida+rifampicina,
em 52,2% dos casos.
Ao que se pensava, o risco de alterações auditivas era proporcional ao número de
drogas utilizadas, devido a possibilidade de efeitos combinados, muito embora o PNCT,
só reconheça como potencialmente ototóxica, no tratamento da tuberculose, a
estreptomicina. Entretanto, na associação da estreptomicina com cinco a seis drogas ou
com três a quatro drogas, não foram identificadas diferenças significativas; o maior
percentual de alterações ocorreu no grupo que usava menor número de drogas. Já as
alterações vestibulares ocorreram, em sua maioria, no grupo que tomava maior número
de drogas.
Segundo a literatura consultada, a terapia prévia ao aminoglicosideo constitui um fator
de risco para o desenvolvimento da ototoxicidade (SANTOS, 2000). Semelhante
associação foi identificada nos pacientes do Recife, tanto em relação às alterações
auditivas como às vestibulares. Um outro fato a ser observado é o período de uso da
medicação; as alterações foram mais presentes nas pessoas que usaram a
estreptomicina por mais de dois meses.
O tempo de uso de qualquer droga é considerado importante fator nas reações
adversas. Os efeitos da estreptomicina foram pesquisados em pessoas que
a
utilizaram, durante seis meses (MARSHALL et al.,1948). Os resultados indicaram que o
efeito máximo da droga foi atingido nos primeiros três ou quatro meses. Os primeiros
sintomas (desequilíbrio) ocorreram na 4a ou 5a semana de terapia, persistindo por
períodos que variaram de uma semana a vários meses. Atualmente, o esquema de
tratamento preconizado pelo PNCT recomenda o uso da droga diariamente, por três
84
meses. Neste estudo, o tempo mínimo de uso da droga foi de 15 dias, e o máximo, de
oito meses.
Inicialmente, pretendia-se retirar as informações sobre o tempo de uso da droga
diretamente dos prontuários nas unidades de saúde. Foi realizada uma visita às
unidades referidas, com este objetivo. Contudo, não foi possível obter dados precisos
para análise, tendo em vista vários motivos: alguns prontuários não foram encontrados,
outros foram encontrados, mas não registraram o tempo de tratamento por droga, em
outros foram encontrados os registros, porém, sem nenhuma padronização, o que
dificultou a organização e construção da informação. É importante esclarecer que, pelo
fato da estreptomicina ser uma droga injetável diariamente, os pacientes não tiveram
dificuldade em recordar por quanto tempo a usaram.
Os dados referentes às pessoas que usaram estreptomicina para o tratamento da
tuberculose, no Recife, no período 2000-2001, evidenciaram que foram detectadas
75,1% de alterações auditivas, as sensório-neurais ocorrendo com maior freqüência,
quando comparadas às alterações auditivas mista e condutiva. Estas últimas
concentraram-se no grupo de adultos jovens; as patologias da orelha média ocorrem,
geralmente, em jovens.
A ASHA (1994) afirma que a cocleotoxidade causada por aminoglicosídeos tem sido
registrada numa faixa de 0% a 63%. As perdas auditivas causadas por ototóxicos são
do tipo sensório-neural, pelo fato das drogas atingirem a orelha interna. Neste estudo,
as alterações auditivas com características semelhantes as causadas por ototoxicos,
(sensório-neurais) correspondem a 63,9% dos casos.
Para Oliveira (1990), a freqüência de ototoxicidade é variável entre os diferentes
grupos, tipos de drogas e registro na literatura. Segundo o autor, os estudos com
aminoglicosídeos referem 15% de labirintotoxicidade. Entretanto, devido a diferenças
metodológicas nos estudos sobre ototoxicidade, há uma certa dificuldade para
interpretar os resultados (OLIVEIRA, 1994). Barrionuevo et al. (1987) referem ser pouco
precisas as informações sobre o efeito ototóxico da estreptomicina, acrescendo que a
bibliografia sobre o assunto, a partir de 1970, é escassa.
85
Estudo realizado por Soriano Romero et al. (1988), na República Dominicana, entre
1986 e 1987, em 30 pacientes diagnosticados com tuberculose pulmonar, concluiu,
após a realização da audiometria, que 100% das pessoas apresentavam algum tipo de
alteração auditiva, sendo 30% severa, 46,6% moderada e 23,3% leve.
Dishtchekenian et al. (2000), ao estudarem o efeito da quimioterapia com cisplatina,
carboplatina e outras drogas associadas, na audição de 27 pacientes, verificaram que
as alterações auditivas foram predominantemente sensório-neurais e bilaterais. Para
Oliveira (1994), a alteração auditiva por medicação ototóxica é do tipo sensório-neural
uni ou bilateral.
De um modo geral, as alterações auditivas ocorreram na forma bilateral, atingindo as
duas orelhas, em 62,9% das pessoas estudadas no Recife. A bilateralidade é a
condição mais esperada em alterações auditivas por ototóxicos, uma vez que o
mecanismo fisiopatológico de entrada da droga nos líquidos da orelha interna deve
ocorrer em ambas as orelhas.
As doenças associadas identificadas, que poderiam ocasionar alterações auditivas,
foram: AIDS, Hipertensão e Diabetes. Para Birchall et al. (1992), as alterações auditivas
nos portadores de HIV podem ser ocasionadas por viroses, herpes simples, hepatite B,
herpes Zoster, toxoplasmose e ototoxidade, devido ao tratamento das infecções
oportunistas e neoplasias. Hungria (1995) relata que as perdas auditivas provêm de
várias etiologias, sempre relacionadas ao local afetado pela doença; na orelha interna,
o diabetes mellitus constitui uma das causas pós-natais mais freqüentes para a surdez,
além de ser um fator de predisposição para a surdez súbita. Os agentes
cardiovasculares, como: cromonar, digital, brometo de hexadimetria, propanol e
quinidina são, com freqüência, citados como de natureza ototóxica (ALMEIDA, C.;
ALMEIDA, R.; DUPRAT, 1993).
Devido à baixa ocorrência destas doenças no grupo estudado, os testes estatísticos
não puderam ser aplicados para análise da correlação. Como anteriormente justificado
por alguns autores existem doenças que podem causar alterações auditivas
86
semelhantes e concomitantes às causadas pela ototoxicidade, e necessariamente
precisariam ser investigadas entre o grupo.
A predisposição genética da ototoxicidade com o uso da estreptomicina foi relatada,
podendo ser por gene autossomo dominante ou herança mitocondrial (SANTOS, 2000).
A síndrome da “otoxicidade familiar à estreptomicina”,
em que baixas doses de
estreptomicina levam a uma ototoxicidade severa (SATALOFF, 1986, apud ALMEIDA et
al., 1993), é uma possibilidade que precisa ser melhor pesquisada, uma vez que, neste
estudo, as pessoas com tuberculose na família apresentaram maior número de
alterações vestibulares e não auditivas. Se esta predisposição pode ser prevista, a
prescrição de medicação ototóxica deve considerar esta situação.
Uma outra relação importante a ser investigada é o antecedente de alteração auditiva
que, dependendo do fator etiológico, aumenta o risco de desenvolvimento de alteração
auditiva por ototoxicidade (SANTOS et al., 2000). Neste estudo, dentre as oito pessoas
que referiram antecedente de alteração auditiva, 87,5% apresentaram estas alterações.
Trata-se de uma variável importante para ser analisada, uma vez que as atuais
alterações auditivas podem ser apenas as mesmas.
A literatura relata, de maneira freqüente, o ruído como fator agravante das alterações
auditivas, por ototóxicos (ALMEIDA, C.; ALMEIDA, R.; DUPRAT, 1993; ASHA, 1994;
OLIVEIRA, 1994; SANTOS et al., 2000); neste estudo, apenas duas pessoas referiram
exposição a ruído em ambiente de trabalho e ambas apresentaram alterações
auditivas.
De acordo com a ASHA (1994), as perdas auditivas decorrentes do uso de ototóxicos
são iniciadas nas freqüências agudas e, muitas vezes, restringem-se a estas áreas. As
drogas ototóxicas atingem todos os líquidos do corpo, inclusive o líquido da orelha
interna. No Órgão de Corti, as células ciliadas se distribuem, de modo que as células na
base da cóclea são responsáveis pelos sons agudos, e as que estão no ápice, pelos
sons graves. Para Girod, Tucci e Rubel (1991), não está ainda bem compreendido o
motivo pelo qual as freqüências agudas são mais atingidas. O fato de que o acúmulo
87
orgânico da droga na perilinfa e tecidos cocleares é específico das células ciliadas
basais constitui uma das justificativas mais aceitas.
As audiometrias constataram alteração auditiva, na maioria dos casos, apenas para as
freqüências agudas. Resultados coincidentes com os descritos na literatura,
enfatizando que, quanto mais aguda, mais afetada é a freqüência. A maior freqüência
(mais aguda) testada foi a de 12.500 Hz, que apresentou maior número de alterações
auditivas.
Monitorar os limiares auditivos apenas numa área circunscrita de alta freqüência seria
um método objetivo na detecção precoce da ototoxicidade (ASHA, 1994; FAUSTI et al.,
1998). Dishtchekenian et al. (2000), pesquisando a ototoxicidade causada pela
cisplatina, concluiram que as mudanças de limiares auditivos ocorreram em 100% dos
casos, nas freqüências agudas.
As perdas auditivas de até 30 dB podem ser detectadas pelas emissões otoacústicas
por transientes (KEMP et al., apud KATZ, 1999). Neste estudo, estiveram alteradas em
82% das pessoas que apresentaram alterações auditivas e em 61,5% das que não
apresentaram. Na comparação das alterações auditivas, nas duas orelhas de uma
mesma pessoa, constatou-se grande coincidência dos resultados, ou seja, em 90,3%
dos casos as emissões otoacústicas por transiente reproduziram-se bilateralmente. A
bilateralidade das situações auditivas coincidiu com os resultados do exame de
audiometria (86,6%).
Foi estreita a correlação entre as emissões otoacústicas produto de distorção e as
alterações auditivas. Dentre as pessoas com alterações auditivas, 100% apresentaram
ausência de emissões, produto de distorção, em ambas as orelhas. Segundo Katz
(1999), estas emissões estariam ausentes em alteração auditiva sensório-neural maior
do que 50-60 dB.
Para Vallejo et al. (2001), ao estudarem a detecção precoce de ototoxicidade usando as
emissões otoacústicas produto de distorção, concluíram que, nos ouvidos sem
alteração audiométrica, as emissões não se alteraram, já para os ouvidos com
audiometria alterada, as quedas nas respostas das emissões ocorreram em todas as
88
freqüências, principalmente as mais agudas. Neste estudo às emissões produto de
distorção, demonstraram comportamento semelhante, ao exame de audiometria. Em
algumas pessoas com alterações auditivas, as emissões otoacústicas estiveram
presentes, fato que pode ser explicado considerando que a emissão produto de
distorção só está ausente, conforme já mencionado, em perdas auditivas acima de 40
dB.
Neste trabalho, foram analisadas as emissões otoacústicas, tanto por transientes como
produto de distorção, concordantes ou não com o exame de audiometria, uma vez que
não foram realizadas as emissões antes do tratamento para tuberculose.
Apesar das alterações auditivas e vestibulares terem ocorrido em um percentual
elevado de pessoas, não pode ser relevado o fato de que se trata de um grupo com
características especiais. Muito embora os fatores socioeconômicos e culturais, não
tenham sido analisados, eles influenciam o aparecimento, agravamento e permanência
de qualquer doença.
Os achados apontam para a necessidade de aprofundamento deste tema em outros
estudos, tendo em vista as danosas conseqüências que a estreptomicina pode trazer
ao sistema auditivo e vestibular. Reportasse também a reflexão dos benefícios do
desenvolvimento científico e tecnológico, sobre a Biomedicina e Farmacologia, onde
mesmo com a descoberta de novas drogas, permanece o uso de algumas com elevado
poder de toxidade.
E por fim questiona-se, de que valeria o conhecimento produzido, se, na gestão dos
serviços de saúde, não existe regulação efetiva de protocolos clínico-terapêuticos,
fazendo com que mesmo com outra opção de intervenção, faz-se uso de esquemas
mais lesivos a saúde.
Por todas estas questões é que convém continuar estudos como este, para contribuir
com o resgate de responsabilidade e da ética com seres humanos.
89
6 - CONCLUSÕES
90
O grupo em estudo foi assim caracterizado: predomínio do sexo masculino (79,4%), da
forma pulmonar da doença (94,4%) e faixa etária média de 38,8 anos.
Foram 38,9% as pessoas sem tratamento prévio a tuberculose, mas já utilizando a
estreptomicina no primeiro tratamento.
Apenas uma pessoa fez uso da combinação medicamentosa, que inclua a
estreptomicina, recomendado pelo PNCT. Também como a estreptomicina fez parte de
12 diferentes combinações medicamentosas para o tratamento destes pacientes.
O desequilíbrio foi a queixa mais freqüente, quando no tratamento da tuberculose.
Dos 36 pacientes estudados, 75,1% apresentaram algum tipo de alteração auditiva, a
mais freqüente foi a sensório-neural (63,9%), na forma bilateral (62,9%), com
predomínio de alterações nas freqüências agudas a partir de 4000 Hz.
Houve comprovação de relação estatística significante entre as variáveis queixas
vestibulares versus queixas auditivas e entre os grupos de freqüências graves e
agudas, as primeiras apresentaram maior ocorrência.
Não houve comprovação de associação significativa, neste estudo, entre as alterações
auditivas e vestibulares, quando comparadas com as variáveis: sexo, faixa etária,
número de drogas associadas à estreptomicina, tempo de uso da estreptomicina,
tratamento anterior para tuberculose, doenças associadas à tuberculose, casos de
tuberculose na família, antecedentes de alteração auditiva, exposição ao ruído e
emissões otoacústicas.
Algumas unidades de saúde não têm registro sistemático das informações sobre o
tratamento da tuberculose, inviabilizando a análise de variáveis que não constem na
ficha do SINAN.
No município do Recife, atualmente, cerca de 40 pessoas, a cada ano, fazem uso da
estreptomicina, embora, o estudo, não tenha constatado, em alguns casos, justificativa
para tal administração. Quantitativo este passível de monitoramento específico para o
sistema auditivo e vestibular.
91
O alto percentual de alterações auditivas e vestibulares constatados na população em
estudo evidencia a necessidade de realização de novos estudos, com amostragem
mais numerosa, possibilitando maior poder de análise, a fim de diagnosticar a situação
com a eficácia devida.
Finalizando, sugere-se a implantação de um programa de monitoramento auditivo,
dirigido aos pacientes que realizam tratamento da tuberculose. Atenção deve ser dada
tanto ao esquema de tratamento adotado, como para as queixas relatadas (reações
adversas) durante o tratamento. Deste modo, poderão ser evitadas ou minimizadas
possíveis seqüelas resultantes desta terapia.
92
7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
93
ALBUQUERQUE, M. F. M. et al. Fatores prognósticos para o desfecho do tratamento
da tuberculose pulmonar em Recife, Pernambuco, Brasil. Revista Panamericana de
Salude Pública, v.9, n.6, p.368-374, 2001.
ALMEIDA, C. I. R.; ALMEIDA, R.R. ; DUPRAT, A. de C. Otoxicidade. Folha Médica,
v.106, n.3, p.79-84, 1993.
AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION (ASHA). Guidelines for
the audiologic management of individualis receiving cochleotoxic drug therapy. ASHA,
v.36, p. 11-19,Mar,1994.
BARRIONUEVO, C. E. et al. Drogas ototóxicas. Revista
Otorrinolaringologia, v.53, n.4, p.111-116, out./dez. 1987.
Brasileira
de
BESS, F. H.; HUMES, L. E. Fundamentos da audiologia. 2.ed. Porto Alegre: Artmed,
1998. p.187-188.
BIRCHALL, M.A. et al. Auditory function in patients infected with the human
immunodeficiency virus. Clinical Otolaryngology and Allied Sciences, v.17: p.117121, 1992.
BRANCO, B. C. et al. Esquemas antituberculose padronizados no Brasil. Jornal
Brasileiro de Medicina, v. 78, n. 4, p.44-50,52-56, 2000.
BRASIL. Ministério da Saúde. Centro Nacional de Epidemiologia. Coordenação de
Pneumologia Sanitária. Manual de normas para o controle da tuberculose. 4. ed.
Brasília, 1995. p.3-43.
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Guia de doenças
infecciosas
e
parasitárias.
Brasília,
2002a.
Disponível
em
[WWW.funasa.gov.Br/guia_epi/htm/doenças/tuberculose/index.nt].
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Sistemas de informação
em saúde. Brasília, 2002b. Disponível em [www. Funasa.gov.Br/sis/sis03_sinan.htm].
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Manual técnico para o controle da tuberculose: cadernos de
atenção básica. 6. ed. rev. e ampl. Brasília, 2002c. p. 5-57.
CALDAS, N.; CALDAS Neto, S. Surdez súbita. In: LOPES Filho, O. Tratado de
otorrinolaringologia. São Paulo: Rocca, 1994. 869-880 p.
CAMPOS, H. S. Tuberculose. Ars Cvrandi, v.20, n.2, p. 35-8,40,42, mar. 1987.
________. Tuberculose, um perigo real e crescente. Jornal Brasileiro de Medicina,
v.70, n.5, p. 73-104, maio 1996.
94
CAMPOS, H. M. A. O retratamento da tuberculose no município de Recife, 1997:
uma abordagem epidemiológica. 1999. 82 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) Departamento de Saúde Coletiva, Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz,
NESC/CpqAM/FIOCRUZ, Recife.
CAMPOS, M.L. et al. Tuberculose: como diagnosticar e tratar. Revista Brasileira de
Medicina, v. 57, n.6, p. 505-520, jun. 2000.
CASTRO, L. L. de. Contribuição para o estudo da eficácia e toxicidade de algumas
associações medicamentosas no tratamento da tuberculose. 1981. 135 f. Tese
(Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
DALCOLMO, M. P. et al. Estudo da efetividade de esquemas alternativos para o
tratamento da tuberculose multirresistente no Brasil. Jornal de Pneumologia, v. 25,
n.2, p.70-77, mar./abr. 1999.
DANIEL, T. M. Tuberculose. In: ISSELBACHER, K.J. et al. Medicina Interna. 13.ed.
México: Nueva Editorial Interamericana, 1995. p.744-752.
DISHTCHEKENIAN, A. et al. Acompanhamento audiológico em pacientes com
osteossarcoma submetidos à quimioterpia com cisplatina. Revista Brasileira de
Otorrinolaringologia, v. 66, n.6, p.580-590, nov./dez. 2000.
FAUSTI, S. A. et al . Intrasubject reliability of high-frequency (9-14 KHz) thresholds:
tested separately vs. following conventional frequency testing. Journal of the American
Academy of Audiology, v. 9, p.147-152, 1998 .
FLETCHER,R.H.; FLETCHER, S.W.; WAGNER,E.H. Epidemiologia
elementos essenciais. 3.ed. Porto alegre:Artes Medicas, 1996. p.217-235.
clínica:
GIROD, D. A.; TUCCI, D. L.; RUBEL,E. W. Anatomical correlates of functional recovery
in the avian inner ear following aminoglycoside ototoxicity, Laryngoscope, v. 101,
p.1139-1149, Nov.1991.
GLASHAN, R. de Q. O que o enfermeiro deveria saber antes de administrar
aminoglicosídeos ao cliente/paciente. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo,v.9,
n.1,p. 45-52, jan./abr. 1996.
HUNGRIA, H. Otorrinolaringologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.
JAWETZ, M.D. Aminiglicosideos e polimixinas. In: KUTZUMG, B.G. Farmacologia
básica e clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. p.485-489.
KATZ, J. Tratado de audiologia clínica. 4.ed. São Paulo: Manole, 1999. p.97-107,
444-458.
95
LEITE,C.Q.F.;TELAROLLI Jr., R. Aspectos epidemiológicos e clínicos da tuberculose.
Revista de Ciências Farmacêuticas, v. 18, n.1, p.17-28,1997.
LONSBURY-MARTIN,B. L.; MARTIN, G.K.; TELISCHI, F. F. Emissões otoacústicas na
prática clínica. In: MUSIEK, F.E., RINTELMAN,W.F. Perspectivas atuais em avaliação
auditiva. São Paulo: Manole, 2001. p.163-192 .
MARSHALL, G. et al. Streptomycin treatment of pulmonary tuberculosis. A medical
research council investigation. British Medical Jornal, London, Oct., 1948.
MELO,F.A.F.; HIJJAR, M. A. Tuberculose. In: VERONESI, R. Tratado de infectologia.
São Paulo: Atheneu, 1996. p.915-956.
MONTANER, L. J. G. et al. Resultados del tratamiento planificado de la tuberculosis en
condiciones de rutina con un esquema terapéutico que incluye isoniazida, rifampicina y
estreptomicina. Revista Argentina de Tuberculosis, Enfermedades Pulmonares Y
Salud Pública, v. 43, n.2, p. 5-9, 1982.
MOSTAJO, R. P. et al. Reacciones adversas a drogas antituberculosas: estudio
retrospectivo en 6.545 pacientes. Revista Gastroenterologia del Peru, v.7, p.187-197,
1987.
MUNHOZ, M. S. L. et al. Audiologia clínica. São Paulo: Atheneu, 2000. p.121-135.
OLIVEIRA, J. A. A . Ototoxicity. Revue de Laringologie, v.111, n.5, p. 491-496, 1990.
______. Ototoxicidade. In: COSTA, S. S.; CRUZ, O. L. M. OLIVEIRA, J. A . A . et al.
Otorrinolaringologia. Princípios e práticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 215221p.
______. Ototoxicoses: prevenção e orientação. In: CALDAS, N.; CALDAS Neto, S.; SIH,
T. Otologia e audiologia em pediatria. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. p. 189-194.
______. Ototoxicidade. In: SHI, T. Otorrinolaringologia pediátrica. Rio de Janeiro:
Revinter, 1998. p.171-177.
OLIVEIRA, J. A. A.; DEMARCO, R. C.: ROSSATO, M. Regeneração de células ciliadas
após ototoxicidade com aminoglicosídeo na cóclea de aves. Revista Brasileira de
Otorrinolaringologia, v. 66, n.1, p. 24-29, jan./fev. 2000.
ORGANIZAÇÂO MUNDIAL DE SAÙDE. Directrices para el tratamento de la
tuberculosis farmacorresistente. Programa Mundial Contra la Tuberculosis. Genebra,
1997.
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. El controle de la tuberculosis em las
Américas: perfil de los países. Washington, 2000.
96
OTT, W. Bases essenciais para o controle da doença. In: PICON,P.D.; RIZZON,C.F.C.;
OTT,W. Tuberculose. Epidemiologia, diagnóstico em clínica e saúde pública.Rio de
Janeiro:Medsi, 1993. p.3-19.
PEDROSO, M. Z. Drogas antimicrobianas. O Mundo da Saúde, São Paulo, v.24, n.2, p.
135-143, mar./abril.2000.
PEREIRA,W.S.B. Tuberculose: sofrimento e ilusão no tratamento interrompido.
1998. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) -Universidade Federal da
Paraíba, João Pessoa.
PERNAMBUCO.Secretaria Estadual de Saúde. Programa de Controle da Tuberculose
no Estado de Pernambuco. Recife, 2003.
PICON, P.D. et al. Resultado do tratamento da tuberculose com estreptomicina,
isoniazida e etambutol (esquema SHM). Jornal de Pneumologia, v.28, n.4, p.187192,jul./ago.2002.
PILHEU,J.; CUESTA ARAMBURU,V. Tuberculosis en los países del MERCOSUR.
Revista Argentina Tórax, v.59,n. 1/4, p.5-9, dez.1998.
RAMIRO, F. S. et al . Aplicación de criterios de diagnóstico y valoración de tratamiento
acortado sin estreptomicina en tuberculosis infantil. Gaceta Medica Boliviana,
v.18,n.1,p.19-24, 1994.
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001. p.586-593.
RECIFE.Secretaria Municipal de Saúde. Diretoria de Epidemiologia e Vigilância à
Saúde. Recife, 2002.
RIBEIRO, S.A . et al. Estudo caso-controle de indicadores de abandono em doentes
com tuberculose. Jornal de Pneumologia, v.26,n.6,p.291-296,nov./dez. 2000.
ROM, W.N.; GARAY, S.M. Tuberculosis. New York: Lippincott ,1996.
RUFFINO Neto, A. Controle da tuberculose no Brasil: dificuldades na implantação do
programa. Jornal de Pneumologia, v. 26,n.4, p.159-162, jul./ago. 2000.
SANTOS, C. F. et al. Aspectos clínicos da ototoxicidade dos aminiglicosídeos. Acta
Awho, v.19, n.3, p.160-164, 2000.
SCHACHT, J. Molecular mechanisms of drug-induced hearing loss. Hearing Research,
v.22,p.297-304,1986.
SHARMA, S.C.; SINGHAL, K.C. Cochlear toxicity of streptomycin in man. Journal
Phisiol. Phamac, v.33, n. 2, p. 89-92, 1989.
97
SORIANO ROMERO, J. R. et al. Valoración audiometrica en pacientes tuberculosos
tratados con estreptomicina. Acta Medica Dominicana, v. 10, n.3, p. 96-99, 1988 .
TOLEDO Jr., A . C. de C. Tuberculose: doença reemergente ou endêmica. Revista
Médica de Minas Gerais, v. 8, n.1, p.20-23, jan./mar. 1998.
TORRES, B. S. et al. Comportamento epidemiológico da tuberculose no Estado de
Pernambuco no período de 1982 a 1992. Revista Brasileira de Medicina, v. 53, n.4,
p.217-225, abr. 1996.
TRABULSI, L.R.; SOARES, L. A. Antibióticos aminoglicosídeos. In: SILVA, P.
Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. p 1006-1014.
TRUJILLO, L.M. Monitoramento terapêutico de fármacos administrados no tratamento
da tuberculose – estudo da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. 2000. 86
f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) - Universidade de São Paulo, São Paulo.
TRUJILLO, W. F. Tuberculose. In: BATISTA, R.S. Medicina tropical. Abordagem atual
das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2001. p.593610.
VALENZUELA, P.; ROJAS,M.; ZUÑIGA, M. Evaluacion del tratamiento antituberculoso
secundário para enfermos antes tratados. Cohorte 1994. Revista Chilena de
Enfermagem Respiratória, v. 12, n.3,p.198-201,1991.
VALLEJO, J.C. et al. Detecção precoce de ototoxicidade usando emissões otoacústicas
produtivas de distorção. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v.67, n. 6, p.845851.
VARELA, C.; ALVARADO, C. Tratamiento convencional y nuevas drogas para el
manejo de la tuberculosis. Medicina Clínica, v.2, n 1-2, p. 12-19, 1993.
WEINSTEIN, B. Presbiacusia. In: KATZ, J. Tratado de audiologia clínica.4.ed. São
Paulo: Manole, 1999. p.562-575.
98
8 - ANEXOS
99
Anexo A
100
Anexo B
CARTA - CONVITE AO PARTICIPANTE
Prezado(a) Senhor(a)
Tivemos conhecimento, através do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do
Ministério da Saúde, que o Sr(a) realizou tratamento para tuberculose, nos últimos
anos. Sabemos que algumas pessoas que realizaram este tratamento podem
apresentar alterações auditivas, como zumbidos, tontura e perda de audição que,
muitas vezes, passam despercebidas.
Diante disso, o Sr(a) poderá comparecer à Clínica de Audiologia do Curso de
Fonoaudiologia da UFPE, para realizar uma investigação na sua audição.
A Clínica de Audiologia está situada na Av. Prof. Artur de Sá (atrás do Hospital das
Clínicas), s/n , Cidade Universitária, Recife-PE. Os atendimentos serão realizados nos
dias: segunda, quarta e sexta-feira, de 13:00 às 16:00 horas. Procurar a Fonoaudióloga
Maria Luiza Lopes Timóteo de Lima. O telefone para contato é: 32718929.
Caso compareça para realização do exame, em horário de trabalho, ser-lhe-á fornecido
atestado comprobatório.
Agradecemos a participação.
Recife,______________________
___________________________________________
Assinatura do responsável
101
Anexo C
Questionário:
A) Dados Pessoais
1)Nome:_______________________________________________________________________
2)Idade:_________________________3)Data de nascimento:____________________________
4)Fone:________________
B) Exposição ocupacional ao ruído e hábitos auditivos:
5) Onde o Sr. trabalha tem barulho ( ) sim (
) não
6) Qual é ou foi a sua função:________________________________
7) Qual é a sua profissão:___________________________________
8) É possível conversar com outras pessoas no seu trabalho? ( ) sim
não (
)
9) Por quanto tempo trabalha (ou) neste ambiente?____________________
10) Quantas horas, por dia, trabalha (ou) neste ambiente?_______________________
11) Já esteve exposto a ruído como: explosões, fogos de artifícios ou tiros, próximo à orelha?
Sim ( ) Quando?______________________
Não ( )
12) Você tem algum(ns) hábito de laser que o expõe a barulho ou som forte?
Usar Walkman (
)
Praticar tiro ao alvo ( )
Freqüência sistemática a discotecas, bailes, shows (
)
Pratica mergulho ou caça submarina ( )
Pratica algum tipo de vôo (
)
Outros (
) Qual?______________________________________________
13) O Sr. (a) mora perto de ambiente barulhento: como aeroporto, fábrica, bar?
(
) sim
(
)não faz quanto tempo?__________________e o barulho ocorre quando?___________
C) Dados referentes a manifestações clínicas otológicas
14)Você acha que ouve bem, atualmente?
Sim ( )
Não ( )
15) Antes da realização do tratamento para tuberculose, o senhor (a) tinha algum problema de audição?
(
) sim
(
) não
Qual?__________________________________________________________________________
16) Sentiu alguma alteração auditiva quando estava realizando o tratamento para tuberculose ?
Sim ( )
Não ( )
17) Sente alguma alteração auditiva atualmente?
Sim ( )
Não ( )
18) Sentiu alguma alteração no equilíbrio quando estava realizando o tratamento para tuberculose ?
Qual?
(
) Sim
a) (
) vertigem ( sensação de estar girando, objetos girando)
(
) Não
b) (
) desequilíbrio ( sensação de flutuação)
19) Sente alguma alteração no equilíbrio, atualmente ?
Qual?
(
) Sim
a) (
) vertigem ( sensação de estar girando, objetos girando)
(
) Não
b) (
) desequilíbrio ( sensação de flutuação)
20) Sentiu náuseas ou enjôo quando estava realizando o tratamento para tuberculose ?
(
) Sim
102
(
) Não
21) Sentiu dores de cabeça ou enxaqueca quando estava realizando o tratamento para tuberculose?
(
) Sim
(
) Não
22) Costuma ter dor de ouvido?
Sim ( ) Quando?_________________
Não ( )
23) Já teve ou tem infecções no ouvido?
Sim ( ) Quando?_____________________
Não ( )
24) Tem ou já teve:
a) Diabetes
sim ( ) não (
)
Quando?_______________
b) Pressão alta sim ( ) não ( )
Quando?_______________
c) Meningite
sim ( ) não ( )
Quando?_______________
d) Sífilis
sim ( ) não ( ) Quando?_______________
e) Caxumba
sim (
) não ( ) Quando?_______________
f) Problemas renais sim (
) não ( ) Quando?_______________
g) AIDS
sim ( ) não ( ) Quando?_______________
D) Dados referentes à Tuberculose
25) Quando sentiu os primeiros sintomas da tuberculose:______________________________
26) Unidade de saúde em que fez ou faz tratamento_________________________________
27) Alguém na família tem ou teve tuberculose:_____________________________________
28) Realizou tratamento, anteriormente, para tuberculose:
a) Não (
)
b) Sim - curou (
)
c) Sim – abandonou ( )
d) Não sabe ( )
e) falência (
)
f) mudança de esquema (
)
29) Qual foi a data do início do tratamento atual: ___________________________
30) Destes medicamentos, quais foram utilizados no último tratamento:
a) Rifampicina ( )
b) Isoniazida ( )
c) Pirazinamida (
)
d) Etambutol ( )
e) Estreptomicina
h) ( ) Por quanto tempo?__________________
f) Etionamida ( )
g) Outra(s)_____________________________________________
31) Qual a data do término do tratamento atual___________________________
103
Anexo D
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu,___________________________________________________________________
___,RG ___________________________, participarei voluntariamente da pesquisa
intitulada “Tratamento para tuberculose com estreptomicina: perfil auditivo”,
desenvolvida pela mestranda Maria Luiza Lopes Timóteo de Lima, do Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães/NESC/Fundação Oswaldo Cruz.
Segundo me foi informado, este trabalho tem o propósito de investigar a audição de
pessoas que realizaram tratamento para tuberculose e, caso apresente alguma
alteração auditiva, serei orientado e encaminhado para acompanhamento adequado na
Clínica de Audiologia do Curso de Fonoaudiologia da UFPE.
Voluntariamente, participarei da entrevista e investigação da audição, exame simples,
de fácil e rápida execução, e sem nenhum ônus de minha parte.
Autorizo a responsável pela pesquisa a conservar, sob sua guarda, os resultados dos
exames, com objetivo futuro de pesquisa. Autorizo ainda a utilização destas
informações sobre minha pessoa, em reuniões, congressos e publicações científicas,
desde que a minha identificação seja preservada.
Este termo de consentimento me foi apresentado e entendi perfeitamente seu
conteúdo.
Estou ciente de que poderei recusar ou retirar meu consentimento, em qualquer
momento da investigação, sem qualquer penalização.
Recife, _____________________________________
________________________________________________________
Assinatura do participante
________________________________________________________
Pesquisador (Maria Luiza Lopes Timóteo de Lima)
________________________________________________________
Testemunha