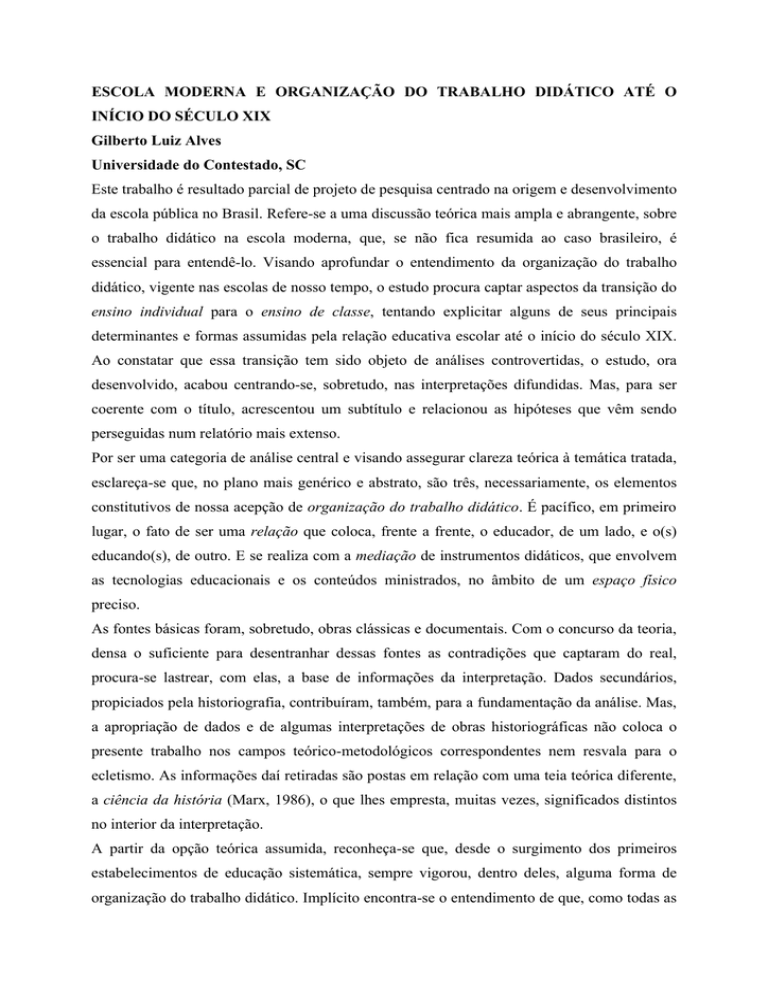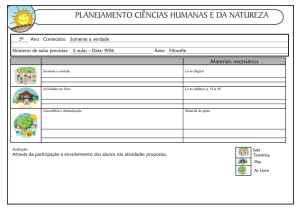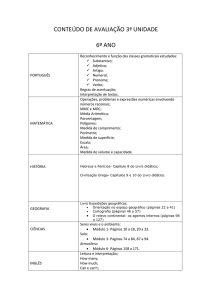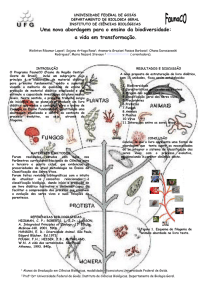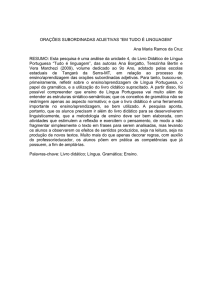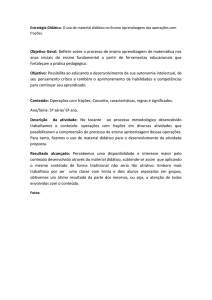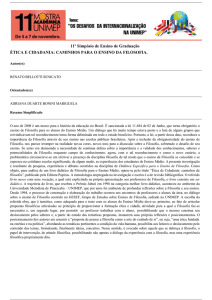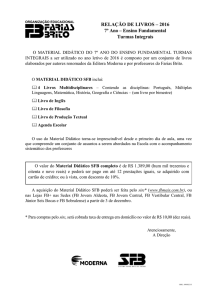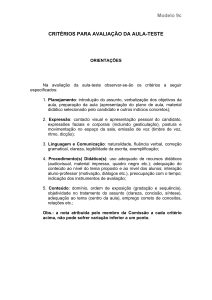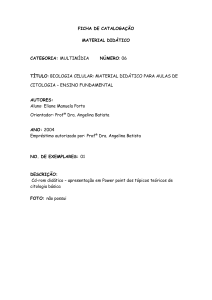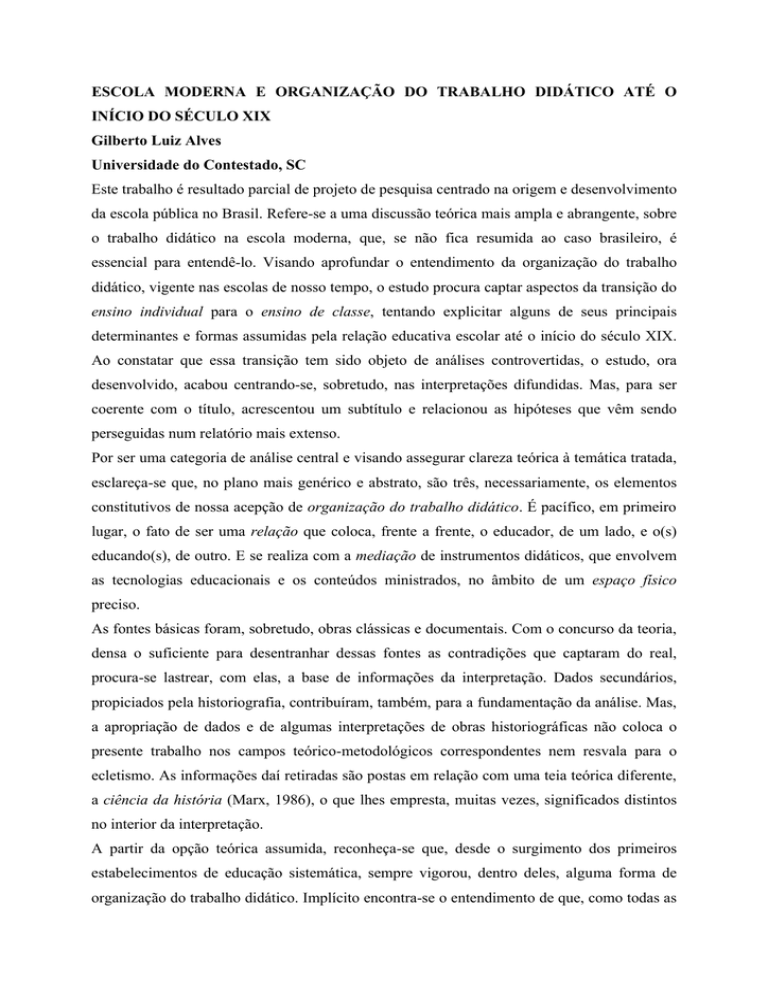
ESCOLA MODERNA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DIDÁTICO ATÉ O
INÍCIO DO SÉCULO XIX
Gilberto Luiz Alves
Universidade do Contestado, SC
Este trabalho é resultado parcial de projeto de pesquisa centrado na origem e desenvolvimento
da escola pública no Brasil. Refere-se a uma discussão teórica mais ampla e abrangente, sobre
o trabalho didático na escola moderna, que, se não fica resumida ao caso brasileiro, é
essencial para entendê-lo. Visando aprofundar o entendimento da organização do trabalho
didático, vigente nas escolas de nosso tempo, o estudo procura captar aspectos da transição do
ensino individual para o ensino de classe, tentando explicitar alguns de seus principais
determinantes e formas assumidas pela relação educativa escolar até o início do século XIX.
Ao constatar que essa transição tem sido objeto de análises controvertidas, o estudo, ora
desenvolvido, acabou centrando-se, sobretudo, nas interpretações difundidas. Mas, para ser
coerente com o título, acrescentou um subtítulo e relacionou as hipóteses que vêm sendo
perseguidas num relatório mais extenso.
Por ser uma categoria de análise central e visando assegurar clareza teórica à temática tratada,
esclareça-se que, no plano mais genérico e abstrato, são três, necessariamente, os elementos
constitutivos de nossa acepção de organização do trabalho didático. É pacífico, em primeiro
lugar, o fato de ser uma relação que coloca, frente a frente, o educador, de um lado, e o(s)
educando(s), de outro. E se realiza com a mediação de instrumentos didáticos, que envolvem
as tecnologias educacionais e os conteúdos ministrados, no âmbito de um espaço físico
preciso.
As fontes básicas foram, sobretudo, obras clássicas e documentais. Com o concurso da teoria,
densa o suficiente para desentranhar dessas fontes as contradições que captaram do real,
procura-se lastrear, com elas, a base de informações da interpretação. Dados secundários,
propiciados pela historiografia, contribuíram, também, para a fundamentação da análise. Mas,
a apropriação de dados e de algumas interpretações de obras historiográficas não coloca o
presente trabalho nos campos teórico-metodológicos correspondentes nem resvala para o
ecletismo. As informações daí retiradas são postas em relação com uma teia teórica diferente,
a ciência da história (Marx, 1986), o que lhes empresta, muitas vezes, significados distintos
no interior da interpretação.
A partir da opção teórica assumida, reconheça-se que, desde o surgimento dos primeiros
estabelecimentos de educação sistemática, sempre vigorou, dentro deles, alguma forma de
organização do trabalho didático. Implícito encontra-se o entendimento de que, como todas as
obras humanas, as formas concretas de organização do trabalho didático são históricas e que,
cada uma delas, só pode ser captada concretamente quando referida à forma social que
determinou o seu aparecimento, como decorrência de necessidades educacionais dos homens.
Sumariando as conclusões preliminares, afirme-se que, ainda nos primeiros séculos da época
feudal, o ato educativo foi, predominantemente, uma relação que envolvia um educador, de
um lado, e um educando, de outro. Enquanto se realizava a educação intelectual de um jovem,
a relação que se estabelecia entre ele e seu preceptor, tanto na sociedade escravista quanto na
sociedade feudal, era, sobretudo, de natureza individual. Foi essa a relação, por exemplo,
entre Aristóteles e Alexandre, entre o sofista e seus discípulos, entre o mestre de gramática e
os jovens que demandavam pelos seus serviços, entre o retor e seus aprendizes e entre o
monge e o aspirante à vida cenobítica, nos primeiros tempos dos monastérios.
Antes da instauração da modernidade, a educação sistemática foi concebida como uma
atividade que se colocava ao lado de tantas outras de natureza artesanal. Não por acaso, o
educador foi designado mestre. Alternativamente, foi denominado pela expressão equivalente
de preceptor. Na sociedade feudal, o mestre artesão foi celebrado como um trabalhador que
tinha o domínio pleno, tanto no aspecto teórico quanto no prático, da atividade à qual se
dedicava. Ele era o senhor dos segredos de seu ofício. O mestre ou preceptor, na educação,
como decorrência, era encarado como o profissional que dominava todos os segredos do
trabalho didático e todas as etapas da atividade de ensino. Sob esse aspecto, no âmbito da
educação, o mestre não poderia ser concebido senão como sábio e trabalhador qualificado. A
organização do trabalho didático, portanto, reproduzia a própria organização do trabalho
artesanal.
Nesse interregno, variou, tão somente, o conteúdo da educação, como decorrência das
transformações sociais. Para descer a maiores detalhes sobre a variação em pauta, tome-se a
sociedade feudal como referência básica. Ainda no seu alvorecer, um registro relevante é De
magistro, de Santo Agostinho, no qual o autor, imbuído da função de preceptor, dialoga com
seu filho Adeodato. O texto expõe a natureza da relação educativa, no final do século IV, e
aspectos do conteúdo didático, típicos desse lapso. O diálogo permite demonstrar como é falsa
a crença segundo a qual o ensino medieval era dogmático e centrado na autoridade absoluta
do mestre. As questões nascem no debate e podem redirecioná-lo quanto ao aprofundamento.
“AGOSTINHO − Desejo, portanto, que compreendas bem que se devem apreciar mais as
coisas significadas do que os sinais. Tudo o que existe devido a outra coisa, necessariamente
tem valor menor que a coisa pela qual existe, caso não penses diversamente.
ADEODATO − Parece-me que não se possa concordar com isto sem refletir. Quando, por
exemplo, se diz “coenum” (lamaçal), parece-me que este nome seja em muito superior à coisa
que significa. Com efeito, o que nos ofende ao ouvirmos esta palavra não é o som; “coenum”,
mudando apenas uma letra, torna-se “coelum” (céu), mas nós sabemos que enorme diferença
há entre as coisas significadas por estes dois nomes. Por isso eu não atribuiria a essa palavra
todo o ódio que reservo ao que significa, e, portanto, eu a prefiro a isso; pois menos desagrava
ouvir esta palavra do que ver ou tocar a coisa que significa.
AGOSTINHO − Falas muito habilmente. Assim, seria falso dizermos que todas as coisas têm
um valor superior aos sinais pelos quais se expressam.” (Santo Agostinho, 1984, p. 312)
Também a disputatio, coligida por Luiz Jean Lauand, referente à educação do jovem Pepino,
filho de Carlos Magno, confiada a Alcuíno, revela uma instigante relação entre mestre e
discípulo. Do texto, correspondente ao final do século VIII, fluem a curiosidade e a
desafiadora troca que perpassam os exercícios intelectuais. Nesses exercícios ocorre uma
sistemática inversão de papéis, pois ambos, educador e educando, se revezam na formulação
de perguntas e de respostas. As questões debatidas são simples, mas abarcam toda a amplitude
da existência humana e revelam, por meio de uma linguagem sistematicamente metafórica, as
concepções medievais. O extrato subseqüente é ilustrativo.
“P.: Que é o homem? / A.: Servo da morte, caminhante passageiro, sempre um hóspede em
qualquer lugar. (...)
P.: Qual a condição humana? / A.: A de uma candeia ao vento. (...)
P.: O que é a liberdade do homem? / A.: A sua inocência. (...)
P.: O que é o cérebro? / A.: O conservador da memória. (...)
P.: O que são as estrelas? / A.: A pintura que adorna o céu, piloto dos navegantes, o encanto
da noite. (...)
A.: O que é o soldado? / P.: A muralha do Império, o pavor do inimigo, um serviço glorioso.
(...)
A.: O que é que é e que não é? / P.: O nada.
A.: E como pode ser e não ser? / P.: É enquanto palavra; não é, enquanto realidade.” (Alcuíno,
1986, p. 79-88)
A experiência educacional realizada nos monastérios é mais reveladora da natureza dos
conteúdos didáticos e dos ajustamentos impostos pelas transformações sociais. No início do
século VI, Cassiodoro e Boécio já haviam sistematizado um plano de estudos, que se
consubstanciara no trivium e no quadrivium, as sete artes liberais. O trivium, composto pela
gramática, pela retórica e pela lógica, lastreava a educação humanística de nível médio.
Visava assegurar ao jovem aprendiz o domínio da estrutura da língua latina, bem como
desenvolver sua capacidade de argumentar e construir discursos segundo regras de estilo e
rigor lógico. Quanto aos conteúdos didáticos propriamente, na fase de transição da sociedade
escravista para a sociedade feudal, a patrística relegou os textos clássicos pagãos ao
ostracismo e promoveu ao primeiro plano as Escrituras Sagradas (Loyn, 1997, p. 32). Santo
Agostinho já verberara, em Confissões, contra a utilização dessas obras na educação (Santo
Agostinho, 1984). Por ora, vale registrar que, mesmo tendo se centrado sobre a preocupação
de assegurar ao jovem o domínio dos fundamentos da religião, a relação educativa entre o
monge, imbuído da função de mestre, e os seus discípulos, frise-se mais uma vez, continuava
se realizando de indivíduo para indivíduo, nos primórdios da existência dos monastérios.
Mas, ainda no interior da sociedade feudal, ocorreu um momento de crise dessa relação de
natureza individual, com certeza a partir de uma intensificação da demanda por instrução. Isso
começou a se dar, dentro do monastério, no momento em que o processo de formação de
quadros viu-se agravado pelo aumento da quantidade de jovens que pretendia dedicar-se à
carreira monástica. Aprofundou-se a crise, em seguida, quando o monastério abriu-se para
ministrar lições referentes às artes liberais aos filhos da nobreza, o que gerou a necessidade de
ser criado, dentro dessa instituição, um espaço físico específico onde fossem ministradas as
lições. Surgia, dessa forma, a escola monástica, a base material para o desenvolvimento do
ensino dirigido a um coletivo de estudantes, agora organizado em classe. Mais tarde, com a
emergência das catedrais, nos burgos, foi reproduzida essa forma de organização do trabalho
didático, até então exclusiva dos monastérios, e, no interior de suas estruturas arquitetônicas
monumentais, também foram criados espaços escolares. A escola da catedral ampliou o
atendimento à clientela externa, de forma a envolver, inclusive, os filhos de uma burguesia
que começava a se enriquecer.
As escolas monásticas e das catedrais ensejaram, ainda, o aumento do número de letrados,
produzindo, assim, profissionais que viabilizaram a criação de escolas paroquiais, escolas
palacianas e, até mesmo, escolas familiares. Muitos desses letrados, na condição de
preceptores particulares, passaram, igualmente, a fundar escolas e, mediante estipêndio
contratado antecipadamente com os pais, se dispunham a ministrar lições aos jovens,
sobretudo de gramática.
Acentue-se que, nesse movimento de ampliação da clientela, se impôs a produção não só de
espaço escolar para atender, em conjunto, crianças e jovens, mas, também, a configuração de
uma nova relação educativa, que exigia sistematização. Essa sistematização deveria se
expressar como forma intencional de organização do trabalho didático, na qual a ação do
educador sobre o conjunto dos estudantes pudesse combinar técnicas de atendimento
individual e de atendimento coletivo. Essa necessidade deu margem a um processo de longa
gestação, que, ainda na modernidade, passava por diversas formas de transição. De fato, se
estabeleceu uma tensão entre o atendimento individual e o atendimento coletivo, que só o
tempo e a experiência levaram a um termo de equilíbrio.
A análise da historiografia permite constatar que a transição do ensino individual para o
ensino de classe vem recebendo interpretações não desprovidas de controvérsias. Pela sua
importância, pois aclara condições importantes que, mais tarde, desaguariam na gênese da
escola moderna, é o que se discute na seqüência.
Para expressar a natureza da organização do trabalho didático, dentro da escola monástica, são
instigantes e cheias de ensinamentos as memórias de um jovem estudante.
“Eu era totalmente ignorante e fiquei muito maravilhado quando vi os grandes edifícios do
convento, nos quais deveria morar daquele momento em diante; mas fiquei muito contente
pelo grande número de companheiros de vida e de jogo, que me acolheram amigavelmente.
Depois de alguns dias, senti-me mais à vontade e apenas me adaptara aos hábitos comuns,
quando o Scholasticus Grimaldo me confiou a um mestre, com o qual devia aprender a ler. Eu
não estava sozinho com ele, mas havia muitos outros meninos da minha idade, de origem
ilustre ou modesta, que, porém, estavam mais adiantados do que eu. A bondosa ajuda do
mestre e o orgulho, juntos, levaram-me a enfrentar com zelo as minhas tarefas, tanto que após
algumas semanas conseguia ler bastante corretamente não apenas aquilo que escreviam para
mim na tabuinha encerada, mas também o livro de latim que me deram. Depois recebi um
livrinho alemão, que me custou muito sacrifício para ler mas, em troca, deu-me uma grande
alegria. De fato, quando lia alguma coisa, conseguia entendê-la, o que não acontecia com o
latim; tanto que no início ficava maravilhado porque era possível ler e, ao mesmo tempo,
entender o que se tinha lido. (...)
Ano 816. A primeira coisa que tive que fazer foi aprender de cor algumas frases de
conversação latina, para me fazer entender em latim com meus colegas. A maioria deles
estava mais adiantada, alguns no segundo, outros no terceiro ou quarto ano de gramática.
Portanto, tinham que, com exceção do recreio, conversar sempre em latim; mas a nós,
principiantes, era permitido, quando necessário, conversar em alemão. Após algum tempo,
entregaram-me a Grammatica de Donato e um aluno mais velho foi encarregado de
interrogar-me até que eu tivesse decorado todas as declinações e as regras para o seu uso. Nas
primeiras duas horas o mestre dava-se ao trabalho de mostrar-me como devia fazer para
aprender estas palavras e estas formas de falar; mas depois vinha somente no final da aula,
para perguntar ao meu instrutor como eu tinha feito minha tarefa.” (Strabo, 1989, p. 134-5)
Elaboradas no início do século IX, essas “lembranças” demonstram que o ensino individual,
por um lapso relativamente longo, continuou dominando o trabalho didático, mesmo em face
de um coletivo de estudantes organizado como classe. Como se verifica, a atenção do mestre
se concentrava em um único discípulo, por vez, e a cobertura ao conjunto de estudantes se
realizava com a ajuda de estudantes mais adiantados e instrutores. As tecnologias
empregadas, da mesma forma, associavam-se ao atendimento individual, a exemplo da
“tabuinha encerada”, onde o exercício do jovem aprendiz era previamente escrito ou ditado
pelo professor ou pelo instrutor. Em seguida, enquanto o estudante desenvolvia o exercício, o
mesmo educador ou instrutor deslocava-se para o posto seguinte para dar atenção individual a
outro jovem. Também o texto de apoio citado, a Grammatica de Donato, era o mesmo que,
desde o século IV, vinha sendo utilizado pelos mestres medievais (Loyn, 1997, p. 122). Tais
“lembranças” patenteiam, também, a convivência de crianças e jovens, numa mesma turma,
junto a um único mestre, com níveis de domínio diferenciados em face das matérias
estudadas. Revelam, por fim, as dificuldades dos jovens, provenientes de distintas regiões da
Europa e falantes das mais diferentes línguas, para compreender os conteúdos memorizados
em latim.
Apesar de os estudantes se aglutinarem como um coletivo e se organizarem como classe, em
face da tendência de manutenção da prática do ensino individual, nos primeiros séculos de
existência das escolas monásticas, alguns estudiosos da educação medieval realizaram uma
interpretação equivocada. Erroneamente, concentraram sua atenção sobre o atendimento do
mestre, dirigido a cada indivíduo, e cristalizaram a idéia de que a organização do trabalho
didático, que lhe correspondia, teria sido dominante ao longo da educação feudal.
Este é o caso de David Hamilton. No seu instigante estudo Sobre as origens dos termos classe
e curriculum, afirma:
“(...) uma escola medieval era primariamente uma relação educacional na qual entravam um
professor particular e um grupo de escolares individuais. Tal como os mestres das guildas e
seus aprendizes, os professores adotavam estudantes em todos os níveis de competência e,
conseqüentemente, organizavam seu ensino geralmente numa base individual. Esta
individualização tinha implicações, por sua vez, sobre a organização geral da escolarização.
Primeiro, não havia nenhum pressuposto de que todo estudante estava ‘aprendendo’ a mesma
passagem. Segundo, não havia nenhuma necessidade pedagógica de que todos os estudantes
devessem permanecer na presença do professor durante todo o tempo de ensino – eles
poderiam igualmente estudar (isto é, memorizar) suas lições em outro local. E, terceiro, não
havia nenhuma expectativa de que os estudantes iriam permanecer na escola depois que seus
objetivos educacionais específicos tivessem sido atingidos. Essencialmente, a escolarização
medieval era uma forma organizacional de textura frouxa que podia facilmente absorver um
grande número de estudantes. Sua aparente frouxidão (por exemplo, o absenteísmo ou o fato
de que as matrículas não correspondiam à freqüência) não constituía tanto um fracasso (ou
uma ruptura) da organização escolar quanto uma resposta perfeitamente eficiente às demandas
feitas em relação a ela.” (Hamilton, 1992, p. 36)
Como se observa, para David Hamilton a prática do ensino individual teria sido a marca
distintiva da relação educativa feudal. Mas essa relação individual só se manteve enquanto a
quantidade de estudantes não extrapolou o limite máximo de distribuição do tempo disponível
do mestre. A consistente progressão do número de estudantes foi a condição que, num certo
estágio, colocou em crise o ensino individual e determinou a emergência de uma nova
qualidade: a relação educativa que incorporava o atendimento coletivo. Tratou-se, então, de
uma superação dialética, que culminou com uma reorganização radical do trabalho didático.
Hamilton naturalizou o ensino individual, no interior da sociedade feudal, deixando de captar,
portanto, a substancial transformação que o solapava e exigia a sua superação. Com isso, teve
a visão cerrada para ocorrências que não convergiam para as suas conclusões. Desconheceu o
fato, por exemplo, de que estavam sendo criadas as condições materiais para a emergência de
algo novo. A organização dos alunos em classes, paradoxalmente um dos objetos de
investigação de Hamilton, bem como a própria escola medieval, eram evidências desse novo
que desabrochava.
Por outro lado, a emergência da relação entre um mestre e um coletivo de educandos, na
sociedade feudal, não dá guarida ao entendimento de que o educador teria passado,
repentinamente, a se despreocupar com as individualidades colocadas à sua frente.
Antagônica ao que afirma Hamilton, essa idéia, também bastante difundida, se reduz a uma
caricatura que distorce a imagem do ensino medieval distanciando-a do real.
Philippe Ariès, por exemplo, traçou um expressivo quadro das escolas particulares medievais,
no qual confirmou a composição heterogênea da clientela, quanto ao domínio do conteúdo
ministrado pelo mestre e ao convívio, no mesmo horário, de jovens e adultos num único
espaço escolar. Nas entrelinhas, contudo, insinua a idéia de que o atendimento do mestre se
dirigia, sobretudo, ao coletivo dos estudantes.
“(...) Em geral, o mestre alugava uma sala, uma schola, por um preço que era regulamentado
nas cidades universitárias. Em Paris, essas escolas se concentravam numa rua, a Rue de
Fouarre: vicus straminis. Essas escolas, é claro, eram independentes umas das outras. Forravase o chão com palha, e os alunos aí se sentavam. Mais tarde, a partir do século XIV, passou-se
a usar bancos, embora esse novo hábito de início parecesse suspeito. Então, o mestre esperava
pelos alunos, como o comerciante espera pelos fregueses. Algumas vezes, um mestre roubava
os alunos do vizinho. Nessa sala, reuniam-se então meninos e homens de todas as idades, de
seis a 20 anos ou mais. ‘Vi os estudantes na escola, diz Robert de Salisbury no século XII.
Seu número era grande (podia ser superior a 200). Vi homens de idades diversas: pueros,
adolescentes, juvenes, senes’, ou seja, todas as idades da vida, pois não havia uma palavra
para designar o adulto, e as pessoas passavam sem transição de juvenes a senes.
Ainda no século XV, os mestres do Doctrinal de Pierre Michault se dirigiam ao mesmo tempo
aos pequenos e aos grandes que compunham seu auditório:
‘Bons alunos, de compreensão aberta,
Quer sejais velhos ou jovens, maduros ou verdes...’
‘E essa escola, com uma grande multidão de alunos, jovens e velhos, estava lendo o capítulo
sobre as construções (do Doctrinal de Alexandre la Villedieu, sucessor de Priscien e
predecessor de Despeutères).’ Como poderia ser de outra forma, se não havia gradação nos
currículos, e os alunos mais velhos simplesmente haviam repetido mais vezes o que os jovens
haviam escutado apenas uma vez, sem que houvesse outras diferenças entre eles?” (Ariès,
1981, p. 166-7)
Ariès não levou em conta todas as partes constitutivas do trabalho didático. Reteve, tão
somente, o momento em que predominava a ação do mestre medieval e ignorou o momento
de atividade do estudante, sobretudo aquele denominado disputatio. Sob esse aspecto, Ariès
não está só. Um verbete do Dicionário da Idade Média padece da mesma limitação e vai
mais longe, pois, além de sugerir que a ação do mestre só se dirigia ao coletivo dos
estudantes, atribui a estes um papel eminentemente submisso, que, se não fosse pelo exercício
da memória, seria passivo no trabalho didático.
“Na aula, os textos eram usados sobretudo pelos professores; a raridade e o custo dos livros
colocavam-nos fora do alcance da maioria dos alunos, muitos dos quais eram afortunados por
possuir um saltério, tradicionalmente o primeiro livro dado a uma criança. A sala de aula
medieval refletia a natureza preponderantemente oral da cultura medieval, com o professor
lendo e explicando o texto, e o estudante absorvendo-o e confiando-o à memória (...).” (Loyn,
1997, p. 128-9)
O concurso de outros estudiosos da matéria permite corrigir tais entendimentos distorcidos.
Mario Serenellini, além do tom categórico ao ter afirmado a participação ativa de estudantes
nos exercícios escolares, fez uma elucidativa descrição das partes componentes da aula,
fundamental para a discussão da questão relativa à organização artesanal do trabalho didático.
Essa descrição tornou evidente, também, que os procedimentos adotados no exame das
questões escolásticas eram as matrizes para o tratamento das questões didáticas.
“(...) a metodologia didática, seguida naquele tempo, (...) comportava a participação ativa dos
estudantes. O ensino medieval desenvolvia-se de acordo com uma linha que passava por
várias fases sucessivas e conseqüências. No início, havia a simples leitura do texto, lectio.
(Ensinar, dizia-se legere, em latim; daqui vem lector, sinônimo de docente; e lectio, isso que
nós chamamos “lição”.) Depois, o professor passava ao comentário, denominado expositio. A
expositio apoiava-se sobre três pontos: a littera, isto é, a explicação gramatical; o sensus, ou
inteligência do texto; e a sententia, ou seja, o sentido profundo ou subterrâneo, ou, ainda, o
conteúdo doutrinário. O conjunto de littera, sensus e sententia constituía a glossa. Quando se
chegava à sententia, uma multidão de problemas podia ser levantada; e tinha de ser resolvida;
este era o momento da discussão, da disputatio; e isto fazia parte integrante dos exercícios
escolásticos. No ano de 1200, muitas obras, e, em particular, uma de São Tomás, eram
intituladas Quaestiones disputatae – ou questões disputadas; elas dão testemunho das
condições em que foram elaboradas; elas o foram, por outras palavras, no decorrer daquelas
discussões de que participavam professores e estudantes.” (Serenellini, 1978, p. 214)
Portanto, o trabalho didático na Idade Média comportava diversos momentos e, dentro deles,
poderiam predominar técnicas de atendimento coletivo ou técnicas de atendimento individual,
dependendo da função que correspondia a cada uma. Na lectio e na expositio o mestre se
dirigia ao coletivo dos estudantes ao mesmo tempo; na disputatio, ganhava realce a
participação individual de cada jovem. Apesar da forma imprecisa, pois não revela uma
preocupação central com a organização do trabalho didático, também Jacques Verger
corrobora com esse entendimento (Verger, 2001, p. 267-72). Não procedem, dessa forma, as
definições absolutas sugeridas por Hamilton e por Ariès. O próprio fato de terem se
focalizado sobre procedimentos didáticos antagônicas é a evidência de que as duas formas
estavam presentes na educação medieval. Faltou-lhes a percepção clara das partes
componentes da aula e o entendimento de que a algumas se adequavam melhor técnicas de
atendimento coletivo e, a outras, técnicas de atendimento individual.
Vistas as duas principais distorções, referentes às formas de conceber o trabalho didático na
educação medieval, vale realçar um aspecto importante da análise de Hamilton. Mesmo
omitindo algumas das partes constitutivas da aula na Idade Média, a comparação que realiza
entre o mestre-escola e o mestre das guildas é muito rica de conseqüências teóricas. É,
também, essencial para quem quer aprofundar o estudo da organização do trabalho didático
nesse lapso. Em outras palavras, o historiador da educação inglês reconhece que os dois tipos
de trabalhadores referidos, apesar de desenvolverem atividades distintas, estavam submetidos
a uma forma de organização do trabalho medularmente comum: o artesanato. Essa é uma
questão substantiva.
Concluindo expõe-se um conjunto de hipóteses, pertinente à temática tratada, que está
merecendo desenvolvimento num trabalho mais extenso:
1. O modus italicus de ensinar correspondeu a uma forma de organização do trabalho
didático, predominante nos primeiros séculos do ensino de classe, que teve como
matriz o artesanato;
2.
O modus parisiensis de ensinar, em seguida, representou uma nova forma de
organização, que mudou substancialmente o trabalho didático, como decorrência de
uma incipiente divisão do trabalho, típica das manufaturas nascentes;
3. O ensino jesuítico, influenciado pelo modus parisiensis de ensinar, foi um
desenvolvimento do ensino escolástico medieval, o que se verifica pelos elementos
constitutivos da aula, muito próximos da descrição empreendida por Serenellini
(Franca, 1952, p. 57-60), mas produziu uma materialidade escolar e uma concentração
de educadores e educandos que ensejou as condições objetivas para a instauração de
uma divisão do trabalho mais elaborada no âmbito de trabalho didático;
4. O movimento de universalização da educação, já presente claramente nas regiões
influenciadas pela Reforma protestante, foi marcado por uma importante contradição
no que se refere ao trabalho didático: de um lado, avançou ao conceber uma
organização que incorporou a divisão do trabalho característica da manufatura madura,
daí a seriação dos estudos e a divisão das áreas do conhecimento no currículo, mas, ao
mesmo tempo, por não ter desenvolvido os procedimentos técnicos exigidos pelo
atendimento dessa imensa e nova demanda, apontou no sentido da utilização de uma
fórmula que foi incorporada, posteriormente, pelo ensino mútuo (Coménio, 1976, p.
281). A solução convergiu para um retorno ao ensino individual, no qual a relação do
educador e dos educandos passou a ser mediada por monitores e decuriões.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGOSTINHO, Santo. Confissões; De magistro. 3.ed. Trad. J. Oliveira Santos e Ambrósio de
Pina. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 432 p. (Os pensadores)
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2.ed. Trad. Dora Flaksman. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1981. 279 p. (Antropologia social)
COMÉNIO, João Amós. Didáctica Magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos.
2.ed. Trad. Joaquim Ferreira Gomes. Lisboa: Gulbenkian, 1976. 525 p.
FRANCA, Leonel Pe. O método pedagógico dos jesuítas. Rio de Janeiro: Agir, 1952. 236 p.
(Obras completas, 10)
HAMILTON, David. A trajetória de uma pesquisa; Sobre as origens dos termos classe e
curriculum. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Teoria & Educação, Porto Alegre, v. 6, 1992, p. 352.
ALCUÍNO. Diálogo entre Pepino e Alcuíno. In: LAUAND, Luiz Jean (Org.). Educação,
teatro e matemática medievais. São Paulo: Perspectiva, 1986. 119 p. (Coleção Elos, 45)
LOYN, H. R. (Org.) Dicionário da Idade Média. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1997. 371 p.
STRABO, Walafried. Lembranças de escola. In: MANACORDA. Mario Alighiero. História
da educação: da Antiguidade aos nossos dias. Trad. Gaetano Lo Mônaco. São Paulo:
Cortez, 1989. 382 p. (Coleção educação contemporânea. Série memória da educação)
MARX, Karl. A ideologia alemã (Feuerbach). 5.ed. Trad. José Carlos Bruni e Marco
Aurélio Nogueira. São Paulo: HUCITEC, 1986. 138 p.
SERENELLINI, Mario. O nascimento das universidades: as formas corporativas medievais da
organização da cultura. In: 100 eventos que abalaram o mundo. Trad. Raul de Polillo. São
Paulo: Melhoramentos, 1978. p. 209-16.
VERGER, Jacques. Cultura, ensino e sociedade no Ocidente nos séculos XII e XIII. Trad.
Viviane Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 317 p. (Coleção História)