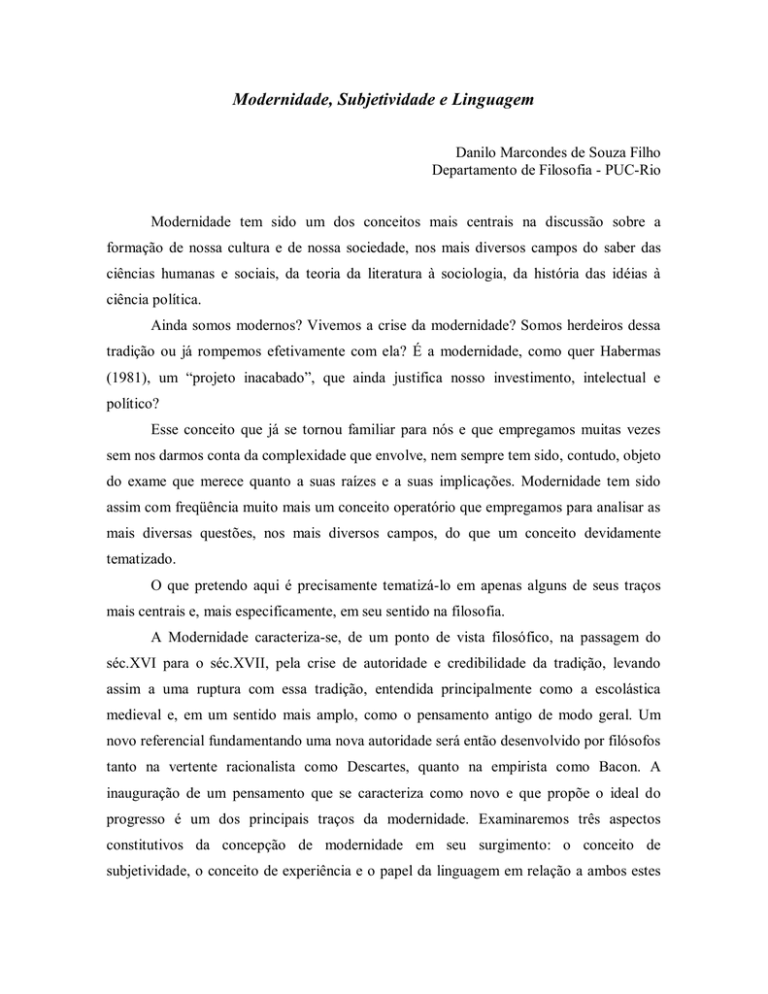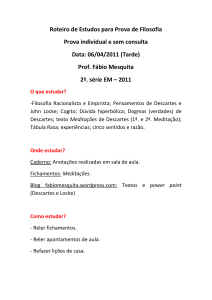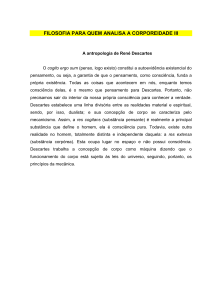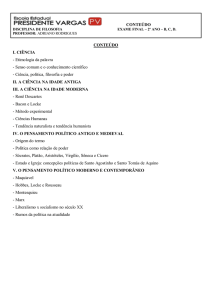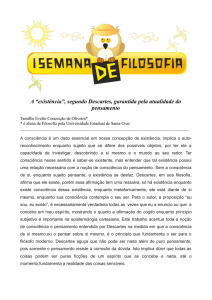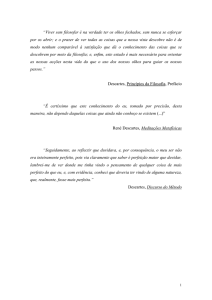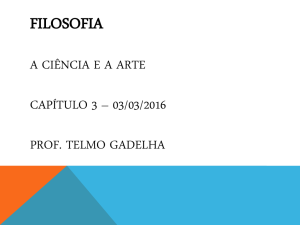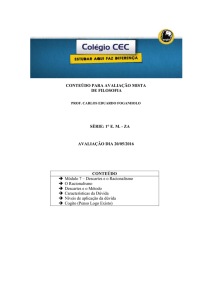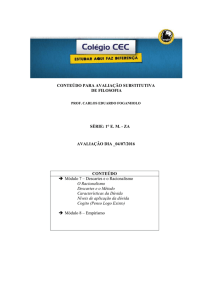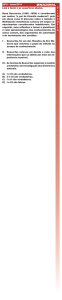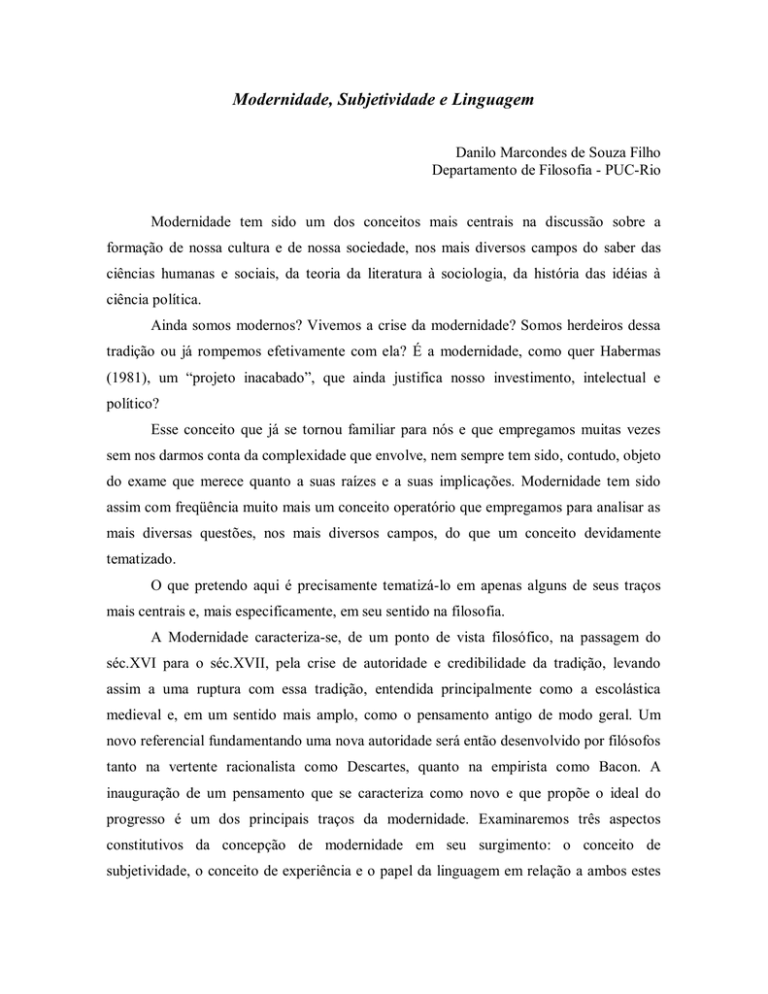
Modernidade, Subjetividade e Linguagem
Danilo Marcondes de Souza Filho
Departamento de Filosofia - PUC-Rio
Modernidade tem sido um dos conceitos mais centrais na discussão sobre a
formação de nossa cultura e de nossa sociedade, nos mais diversos campos do saber das
ciências humanas e sociais, da teoria da literatura à sociologia, da história das idéias à
ciência política.
Ainda somos modernos? Vivemos a crise da modernidade? Somos herdeiros dessa
tradição ou já rompemos efetivamente com ela? É a modernidade, como quer Habermas
(1981), um “projeto inacabado”, que ainda justifica nosso investimento, intelectual e
político?
Esse conceito que já se tornou familiar para nós e que empregamos muitas vezes
sem nos darmos conta da complexidade que envolve, nem sempre tem sido, contudo, objeto
do exame que merece quanto a suas raízes e a suas implicações. Modernidade tem sido
assim com freqüência muito mais um conceito operatório que empregamos para analisar as
mais diversas questões, nos mais diversos campos, do que um conceito devidamente
tematizado.
O que pretendo aqui é precisamente tematizá-lo em apenas alguns de seus traços
mais centrais e, mais especificamente, em seu sentido na filosofia.
A Modernidade caracteriza-se, de um ponto de vista filosófico, na passagem do
séc.XVI para o séc.XVII, pela crise de autoridade e credibilidade da tradição, levando
assim a uma ruptura com essa tradição, entendida principalmente como a escolástica
medieval e, em um sentido mais amplo, como o pensamento antigo de modo geral. Um
novo referencial fundamentando uma nova autoridade será então desenvolvido por filósofos
tanto na vertente racionalista como Descartes, quanto na empirista como Bacon. A
inauguração de um pensamento que se caracteriza como novo e que propõe o ideal do
progresso é um dos principais traços da modernidade. Examinaremos três aspectos
constitutivos da concepção de modernidade em seu surgimento: o conceito de
subjetividade, o conceito de experiência e o papel da linguagem em relação a ambos estes
2
conceitos, distinguindo os pensadores que valorizaram a linguagem dos que a consideraram
fonte de erro.
I. A Centralidade do Sujeito:
A morte do sujeito tem sido amplamente anunciada no pensamento contemporâneo,
desde o formalismo estruturalista até a epistemologia sem sujeito do conhecimento de Karl
Popper. Contudo o sujeito tem sido mais resistente do que inicialmente parecia e tem
sobrevivido a pelo menos alguns daqueles que pretenderam escrever seu epitáfio, como
parecer ser por exemplo o caso de Popper. Mais recentemente, os campos da Ética e dos
Direitos Humanos têm trazido mais uma vez o sujeito para um lugar central.
Mas se a morte do sujeito foi bastante propalada e atraiu muita atenção no início do
século XX, o mesmo não se pode dizer sobre seu nascimento. Proponho que iniciemos
nossa discussão com algumas considerações sobre o nascimento do sujeito como um dos
acontecimentos definidores do surgimento do pensamento moderno. Embora pensamento
moderno e, sobretudo, modernidade, sejam conceitos um tanto vagos, que vão desde o final
do Renascimento até a Revolução Industrial no séc.XIX, passando por acontecimentos do
início do séc.XX, como o movimento modernista no Brasil, emprego aqui este termo no
sentido mais preciso que lhe tem dado a História de Filosofia, inspirado principalmente na
periodização hegeliana. Hegel atribui o surgimento da filosofia moderna, ou “filosofia do
novo tempo” (Neuezeit), para ser mais exato, a três pensadores quase contemporâneos,
René Descartes, Francis Bacon e Jacob Boehme. A tradição subseqüente deixou o místico
Boehme de lado, destacando Descartes e Bacon, talvez devido a alguma afinidade entre
ambos quanto ao objetivo de ruptura com a tradição.
A afirmação da centralidade do sujeito como marca da filosofia moderna é uma tese
comumente aceita na interpretação do surgimento da modernidade, assim como a atribuição
a Descartes e a seu argumento do cogito (“Penso, logo existo”) da formulação mais
explícita dessa centralidade, por visar fornecer o critério de validade de toda pretensão a
conhecimento. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, pela seguinte passagem de Heidegger
(Nietzsche, II):
No início da filosofia moderna se encontra a proposição de Descartes, “cogito, ergo
sum”. Toda a consciência das coisas e do ente em sua totalidade são referidas à
3
consciência de si mesmo do sujeito humano como fundamento inabalável de toda
certeza. No período posterior, a realidade do real se determina enquanto objetividade,
enquanto algo concebido como tal pelo sujeito, algo que lhe é projetado e pro-posto.
Mas, quais as razões que levam os pensadores do início da Modernidade,
num processo que culmina em Descartes, a dar ao sujeito esta centralidade? Retomemos a
interpretação segundo a qual a Modernidade caracteriza-se pela a ruptura com a tradição.
A filosofia contemporânea – dos positivistas lógicos aos estruturalistas – ao atacar o
“subjetivismo moderno” acabou por criar a falsa imagem de uma homogeneidade e a nos
levar a uma leitura da tradição moderna que pode ser questionada a esse respeito. Ao
contrário, as diferentes formas de subjetividade nesse período resultam de tentativas por
parte de diferentes filósofos de responder a problemas diversos e a superar dificuldades
diversas, sendo que nem todas essas formas estão expostas às críticas contemporâneas, que
se aplicam, sobretudo, a uma determinada concepção do que se poderia chamar de “sujeito
epistêmico” ou “cognitivo”1.
Podemos começar com o exame de um desses problemas que pode ser considerado
central: o problema do critério2. O contexto desse problema consiste na retomada do
Ceticismo Antigo no início do Pensamento Moderno, final do século XV e início do XVI.
O motivo pelo qual o problema do critério torna-se central igualmente para filósofos,
teólogos e cientistas naturais é o mesmo do Ceticismo Antigo, o conflito de teorias ou
doutrinas, no caso específico agora em conseqüência inicialmente da crise da escolástica
medieval e logo em seguida das grandes transformações pelas quais passa o mundo europeu
nos séculos XV e XVI com a descoberta da América, a Reforma Protestante e a Revolução
Científica3.
Trata-se, portanto, da necessidade de diante de modelos alternativos de explicação,
tomar uma decisão sobre qual seria o único válido. A crença de que deve haver um único
válido - um pressuposto não questionado numa era que pôs quase tudo em questão – parece
ser uma herança da metafísica antiga, talvez remontando a Parmênides e a Platão. Por sua
vez, a tese de que apenas uma doutrina pode ser verdadeira é conseqüência da tese de que
1
Sobre as diferentes questões que levam ao início da modernidade e que caracterizam o seu desenvolvimento
inicial, ver Tom Sorell (1993).
2
Ver Robert P. Amico (1993).
3
Ver a este propósito, Richard H. Popkin (2000), especialmente caps. I e II.
4
se há apenas uma realidade, deve haver apenas uma verdade correspondendo a esta
realidade. Só posteriormente essa herança será questionada.
O problema do critério consiste na impossibilidade de se determinar um critério de
validade universal para se avaliar teorias e pretensões ao conhecimento, uma vez que os
critérios são sempre eles próprios internos às teorias.
Descartes teria sido o filósofo por excelência que vê na subjetividade a saída para o
problema cético do critério4. Com efeito, Descartes parece formular o modelo mais claro e
mais elaborado de subjetividade neste período. Mas porque se considera que Descartes vê
no recurso ao sujeito a solução do problema? A interpretação tradicional relaciona dois
textos em que se encontra a resposta a essa questão:
O primeiro é o do Discurso do Método, parte II, a passagem sobre as “regras do
método”, destacando-se a primeira regra, ou preceito:
O primeiro preceito era o de jamais aceitar alguma coisa como verdadeira que
não soubesse ser evidentemente como tal, isto é, de evitar cuidadosamente a
precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse
tão clara e tão distintamente a meu espírito que eu não tivesse nenhuma chance de
colocar em dúvida.
Trata-se certamente de uma exigência muito forte, talvez até excessivamente forte.
O que poderia satisfazer essa exigência? A resposta pode ser encontrada no segundo texto,
a formulação do célebre “argumento do cogito” nas duas primeiras das Meditações
Metafísicas5, em que Descartes apresenta uma certeza imune à dúvida. Isso responde à
necessidade de encontrar uma certeza que supere o dilema em que o problema cético do
critério nos mergulha; o cogito é a evidência pretendida e fornece assim o critério, o que
permite satisfazer a exigência da primeira regra do método, citada acima.
Segundo essa interpretação, o projeto cartesiano consiste na investigação conceitual
da possibilidade do conhecimento científico antes (anterioridade lógica) de se empreender a
investigação científica. É nesse sentido que se pode afirmar que o sujeito é definido como
4
5
Sobre a tentativa cartesiana de solução desse problema, ver Popkin, op.cit., cap.IX.
Descartes, op.cit, págs.121-127.
5
sujeito epistêmico. O sujeito cartesiano, enquanto sujeito cognitivo, de acordo com essa
tradição interpretativa tem as seguintes características6:
1) Reflexividade: O sujeito é dotado da capacidade de autoconsciência, ou seja, de
examinar-se a si mesmo.
2) Imediaticidade: Possui a faculdade de ter acesso direto ou imediato a si mesmo,
sem intermediários em razão precisamente da reflexividade.
3) Transparência: Trata-se de uma conseqüência do caráter reflexivo e imediato da
subjetividade; o sujeito revela-se a si mesmo, sem intermediários e sem
obstáculos à sua auto-apreensão.
4) Substancialidade: Descartes define o “cogito” como substância pensante, a res
cogitans, ou seja uma realidade separada do corpo. É esta substancialidade que
dá ao “cogito” unidade e auto-suficiência.
5) Interioridade: A subjetividade, enquanto substância pensante, se constitui em
um espaço interior, imaterial e abstrato; radicalmente distinto do mundo
exterior, material e, portanto, extenso7.
6) Fundamento: É uma conseqüência das características anteriores, fazendo assim
com que a subjetividade seja o critério de certeza e o ponto de partida do
processo de conhecimento.
7) Racionalidade: Consiste na capacidade do sujeito de realizar raciocínios lógicos,
inferências, e demonstrações, indispensáveis ao conhecimento científico.
8) Universalidade: O sujeito cartesiano é universal, não se reduz ao indivíduo
concreto, mas as características acima se aplicam a todos os indivíduos
potencialmente.
São esses os principais elementos que definem o assim chamado “sujeito moderno”
e são o principal alvo da crítica ao subjetivismo. Na verdade a noção de sujeito que
encontramos aí é derivada basicamente de uma característica, a substancialidade.
6
Para uma análise semelhante de características definidoras do sujeito, ver Telma de Souza Birchal,
Montaigne e seus duplos: elementos para uma história da subjetividade, dissertação de doutorado em
filosofia, UFMG, 2000, pág.4.
7
Sobre a noção de interioridade ver Charles Taylor, The Sources of the Self, Harvard Univ.Press, 1989,
especialmente a parte II, “Inwardness”.
6
Descartes define o sujeito como substância, especificamente como substância
pensante, res cogitans, diferente da res extensa, a matéria, de modo que o sujeito
possa ter o acesso direto, imediato, às idéias, definidas por sua vez como modos da
substância pensante. É essa característica que garante a reflexividade e a
imediaticidade e, portanto, a transparência, que tornam, por sua vez, o cogito capaz
de fornecer o critério de validade pretendido. É, portanto, o objetivo de
fundamentação da possibilidade do conhecimento científico que leva a essa
formulação da subjetividade8.
As críticas a essa concepção de sujeito moderno se encontram já no próprio
desenvolvimento inicial da filosofia deste período9. Essas críticas são voltadas,
sobretudo, contra a dicotomia, ou o dualismo, sujeito/objeto, corpo/alma,
interioridade/exterioridade, que o sujeito cartesiano parece acarretar. Podemos
destacar basicamente três, que podem ser consideradas as mais importantes nesse
contexto e das quais as críticas posteriores em grande parte se originam:
A crítica de Hume, no Tratado sobre a Natureza Humana (I, parte IV, sec.6, “Sobre a
identidade pessoal”) à unidade da consciência. Segundo Hume, não existe um sujeito
puro, tal como a substância pensante cartesiana, independente de suas experiências. Não
podemos ter qualquer experiência desse “eu”, independentemente de suas percepções:
Nunca posso apreender a mim mesmo, a qualquer momento, sem nenhuma
percepção, e nunca posso observar nada além da percepção. Quando minhas
percepções são eliminadas por algum momento, como no sono profundo,
durante esse período sou insensível em relação a mim mesmo e posso
verdadeiramente dizer que não existo.
A crítica de Kant na seção sobre o Paralogismo da Substancialidade na Dialética
Transcendental da Crítica da Razão Pura, em que se dirige especificamente contra
Descartes, questionando a noção de um sujeito como substância pensante, no sentido de
“substância” como aquilo que só pode ser sujeito, não podendo ser atributo de algo;
bem como no Paralogismo da Idealidade, em que questiona a dicotomia
8
Esse é o teor, por exemplo, da interpretação de Richard Rorty (1979) das noções modernas de subjetividade
e de representação em Descartes, Locke e Kant, que influenciam o desenvolvimento da epistemologia
moderna e do projeto filosófico da modernidade.
9
Além do debate suscitado pelos contemporâneos de Descartes , p.ex. seus principais interlocutores como
Arnauld e Gassendi, podemos destacar Spinoza, Locke, Leibniz e Malebranche, que se dirigem
explicitamente a Descartes, e um pouco mais tarde Giambattista Vico. Sobre o ataque ao cartesianismo, ver
também Richard Watson (1987).
7
interioridade/exterioridade10. Em sua formulação da assim chamada “Revolução
Copernicana” (Prefácio à 2ª Edição da Crítica da Razão Pura), Kant mostra que o
sujeito é essencialmente um termo relacional, definindo-se pela sua relação com o
objeto. Enquanto que a tradição metafísica mantinha que o conhecimento humano
deveria regular-se por seu objeto Kant propõe que os objetos devem regular-se pelo
conhecimento, invertendo assim a relação tradicional e atribuindo ao sujeito um lugar
central, tal como o Sol no sistema de Copérnico.
A crítica de Hegel nas Lições de Iena e na Fenomenologia do Espírito ao caráter
originário, a-histórico, “desenraizado”, do sujeito moderno, incluindo aí o sujeito
transcendental kantiano11.
Poucos são os defensores da subjetividade moderna, em sua acepção
cartesiana, e certamente não pretendo incluir-me entre eles. Porém, é curioso notar
que Descartes, o formulador por excelência do sujeito moderno não tenha usado o
termo “sujeito” uma única vez na sua obra considerada mais importante a esse
respeito, as Meditações Metafísicas, e apenas uma única vez nas “Respostas às
Objeções” a esse texto12.
O primeiro ponto que podemos levantar a esse respeito é que a subjetividade
moderna não se reduz ao sujeito epistêmico. Descartes ele mesmo utiliza os termos
“mente”, “espírito”, “eu”, “consciência”, termos, aliás, nem sempre equivalentes
para o que denominamos genericamente “sujeito”13, de diferentes maneiras em
diferentes textos. Por exemplo, no Tratado do Mundo (1633) a questão da unidade
corpo/alma é tratada em uma perspectiva naturalista. Nas Meditações Metafísicas
(1640), especialmente na 6 ª, é adotada uma posição dualista quanto à natureza do
corpo e da alma, visto se tratar aí do problema da imortalidade da alma. Nos
Princípios da Filosofia (1644) e nas Paixões da Alma (6ªparte), Descartes dá valor
aos sentimentos e emoções, discutindo a interação entre o corpo e a alma. Mesmo
10
Sobre a crítica de Kant a Descartes, ver Landim (1997). Preferi evitar aqui uma discussão sobre a distinção
entre o sujeito cartesiano e o sujeito transcendental kantiano, o que seria tema para outro artigo.
11
Ver a esse respeito J.Habermas (1982), cap.I, “A crise da crítica do conhecimento”.
12
Especificamente no apêndice à “Resposta às Segundas Objeções”, intitulado “Razões que provam a
existência de Deus e a distinção que há entre o espírito e o corpo humano, dispostas de uma forma
geométrica”.
13
Ver S. Gaukroger (1995).
8
nas Meditações, Descartes não é tão racionalista quanto parece, se o racionalismo
for entendido como uma separação radical entre a razão, a vontade e os sentidos, por
exemplo, quando afirma na Segunda Meditação (sec.9): “Que é uma coisa que
pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que
não quer, que imagina também e que sente”. A certeza do cogito se estende assim
aos atos de imaginar, de sentir e ao exercício da vontade.
Poderíamos questionar a tese interpretativa (de Rorty e outros) segundo a
qual Descartes teria como objetivo primordial, e mesmo único, a fundamentação do
conhecimento científico por meio do sujeito epistêmico e de sua teoria das idéias e
da representação mental. A discussão sobre a natureza humana, a questão da
imortalidade da alma, e o problema da existência de Deus, são questões filosóficas
tradicionais para a discussão das quais Descartes pretendeu contribuir e que têm
para ele importância ao menos equivalente ao problema epistemológico. Portanto, a
formulação de noções como “alma”, “espírito”, “consciência”, “eu” em Descartes,
que geralmente são interpretados como constituindo o campo da subjetividade, bem
como o problema da interação corpo/alma, não estão relacionados apenas à
epistemologia, mas igualmente a essas questões tradicionais da metafísica.
Se levarmos em consideração o pensamento moderno de forma mais ampla,
devemos distinguir ao menos:
1) O sujeito epistêmico ou cognitivo, enquanto aquele que é agente do processo de
conhecimento, e que possui as características examinadas acima.
2) O sujeito no sentido religioso ou teológico: A consciência que fornece critério
de certeza e validade e possui a experiência da fé, mas não é fundamento do
conhecimento científico, já que se trata de outra esfera da experiência humana.
Origina-se de Santo Agostinho, tem talvez sua primeira formulação moderna em
Lutero e podemos mesmo considerar que é essa concepção que fornece as bases
do sujeito epistêmico, sendo que Descartes chegou a ser considerado por seus
contemporâneos como realizando a “Reforma na Filosofia”.
3) O sujeito ou o “eu” moral, que pode ser ilustrado pelo “eu” dos Ensaios de
Montaigne14. Não se trata aí de um sujeito desenraízado, como na crítica de
14
Michel de Montaigne (1962). Sobre a subjetividade em Montaigne ver Telma de Souza Birchal, op.cit.
9
Hegel, porque, ao contrário, o sujeito moral pertence a um contexto concreto no
qual decide e age; nem se trata de um sujeito universal, mas sim de um
indivíduo cujas circunstâncias e vivências são formadoras de sua subjetividade
moral. Segundo Montaigne (Apologia de Raymond Sebond), “Somos cristãos
como somos périgordinos ou alemães”.
4) O sujeito político, ou seja, o ser humano dotado de direitos e deveres e cuja
vontade é a base do “contrato social”. As teorias contratualistas do estado e as
teorias do direito natural, tal como encontramos em Locke e Rousseau são
exemplos dessa concepção e estão na base do liberalismo moderno 15.
Essa distinção preliminar e bastante genérica entre essas várias acepções de
subjetividade permite inferir que o sujeito moderno não pode ser reduzido ao sujeito
epistêmico que corresponde apenas a uma dessas acepções e que talvez nem sequer
seja a mais originária. Por outro lado, a própria distinção não pode ser considerada
de forma rígida. O caráter reflexivo da subjetividade e a questão do exame de si
como definidor da atitude moral é característico da filosofia antiga tendo grandes
representantes em Sócrates e já no estoicismo romano, em Sêneca16. Poderíamos
dizer que no Pensamento Antigo, ao menos em Platão e no Helenismo, o sujeito
epistêmico e o sujeito moral não estão separados. A atitude ética se define pelo
conhecimento do Bem e dos princípios morais e pelo equilíbrio da alma. A
concepção de subjetividade como interioridade e como lugar da certeza e da verdade
em um sentido moral e teológico, enquanto caminho para a salvação e o encontro
com Cristo, é formulada por Santo Agostinho e retomada por Lutero que contrapõe
essa interioridade à Igreja como instituição e à tradição17. Descartes, por sua vez, ao
formular sua versão da subjetividade epistêmica enquanto interioridade pode ser
entendido como a contrapondo ao mundo exterior, lugar da incerteza e da
instabilidade e à tradição científica- a ciência aristotélica - lugar de crenças falsas. A
separação entre o sujeito epistêmico e o sujeito moral acentua-se em Kant que chega
15
Ver C.B.MacPherson (1979).
Ver M.Foucault (1984).
17
Sobre as raízes antigas da subjetividade moderna e a influência de Santo Agostinho, ver Taylor, op.cit.
16
10
mesmo a afirmar que vivemos em dois mundos, no primeiro somos livres (o moral)
e no segundo somos determinados (o epistêmico).
Não há assim uma unidade do conceito filosófico de sujeito. O conceito de
subjetividade que sofre as principais críticas já ao longo do Pensamento Moderno é
derivado, sobretudo, da definição de sujeito epistêmico atribuída a Descartes e
projetada em outras formas de se conceber a subjetividade que nem sempre
compartilham das mesmas características básicas, como, por exemplo, no texto de
Heidegger, citado acima. Para Descartes é necessário que o sujeito epistêmico seja
definido como substância para justificar o acesso privilegiado às idéias. O objeto
para o sujeito são as idéias que são definidas como modos da substância pensante.
“Sujeito” pode ser entendido literalmente como uma substância no sentido clássico,
aquilo de que se predica algo, aquilo que possui atributos. O acesso privilegiado às
idéias garante a evidência e, por conseguinte, a certeza, bem como a possibilidade
de examiná-las, no sentido reflexivo, em sua correspondência e adequação ao real.
Portanto, a noção de “sujeito” é derivada basicamente de um aspecto,
substancialidade, cuja aplicação restrita ao sujeito epistêmico se ampliou ou
generalizou. Os sujeitos moral, teológico e político não têm claramente essas
mesmas características e são definidos como sujeitos em um sentido diferente, por
exemplo, enquanto agentes. A mesma noção de substância empregada na discussão
sobre a imortalidade da alma adquire outro sentido e é utilizada com outro
propósito.
Podemos concluir que a subjetividade não é um tópico tão unificado quanto
de início possa parecer, ou quanto os críticos da “subjetividade moderna” nos têm
feito acreditar, nem sequer mesmo em Descartes, o filósofo a cuja paternidade essa
concepção é atribuída. Se quisermos efetivamente fazer a crítica da subjetividade
moderna é necessário começarmos a levar em conta essas distinções.
II. O Problema da Linguagem
11
O período inicial da Modernidade, que vai aproximadamente de meados do século
XVI até o final do século XVII, é um período de profundas e radicais mudanças no
pensamento da tradição ocidental, podendo ser considerado mesmo um momento de ruptura
dessa tradição. Contudo, no que diz respeito à linguagem, encontramos uma quase ausência
de interesse e até mesmo uma visão negativa, especialmente em comparação com períodos
anteriores como a Antigüidade, em que se dá o surgimento da retórica, da lógica e da
gramática, e o Período Medieval em que esses mesmos campos do saber são retomados e
desenvolvidos, com grandes inovações teóricas. É representativo disso que Descartes, um
filósofo tão influente em sua época, tenha dedicado tão pouca atenção à linguagem. A
hipótese mais corrente a respeito do relativo desinteresse filosófico pela linguagem no
início da modernidade, mantém que as principais questões da época, filosóficas, científicas,
políticas e mesmo religiosas eram discutidas e resolvidas de uma forma que dispensava
quase que inteiramente a consideração da linguagem. É dito também com freqüência que a
rejeição pelos modernos da tradição medieval levou à redução, e mesmo à perda, do
interesse pela lógica e pela gramática bastante desenvolvidas na escolástica de inspiração
aristotélica. O pressuposto central dessa hipótese é que, segundo a filosofia moderna, nossa
forma de conhecer a realidade independe do recurso à linguagem. Assim o desinteresse pela
filosofia acerca de questões sobre linguagem é conseqüência em grande parte da visão
negativa sobre a linguagem dos filósofos da época. Isso parece justificar a possibilidade de
se afirmar a inexistência de uma filosofia da linguagem nesse contexto.
A razão principal disso parece encontrar-se na consideração, pelo pensamento
moderno, da tradição como lugar do erro, do falso, do engano, da ilusão. Os erros do
passado levaram essa tradição ao descrédito. As navegações e a descoberta do Novo Mundo
revelaram a falsidade da imagem tradicional na Idade Média do mundo pequeno e fechado,
cujo centro era o Mediterrâneo. Revelaram, ao mesmo tempo, outros povos e outras
culturas com línguas e hábitos inteiramente desconhecidos dos europeus18. A Reforma
Protestante contestou a autoridade doutrinária da Igreja, dos teólogos e dos concílios, pois
como afirmou Lutero, “tantas vezes no passado erraram e se contradisseram” (apud Popkin,
1979, cap.I). A Revolução Científica introduziu novas hipóteses interpretativas sobre a
natureza e o funcionamento do universo e novos métodos científicos de descoberta e de
18
Montaigne, por exemplo, reflete sobre essa questão das novas culturas da América em seus Essais.
12
demonstração que acabaram por derrubar por completo a Física e a Astronomia
tradicionais, colocando filósofos e cientistas em busca de novos rumos para a ciência.
Abalados os sistemas tradicionais de crenças da Antigüidade Clássica e do Mundo
Medieval, a cultura européia se encontra diante do desafio de construir novos sistemas de
crenças, que sejam, no entanto, mais do que simples sistemas de crenças, mas venham a se
constituir em ciência, um saber sólido e definitivo, bem fundamentado e bem conduzido, no
dizer de Descartes no Discurso do Método (1637). Os céticos questionaram essa
possibilidade e levantaram a questão sobre a viabilidade da ciência, de qualquer ciência, e
sobre o caráter vão das pretensões humanas ao conhecimento dos mistérios mais profundos
do universo, bem como de suas tentativas de demonstrar conclusivamente qualquer
verdade. As principais teorias filosóficas e científicas da Antigüidade e do Período
Medieval viam a realidade como racionalmente ordenada, por uma razão imanente à
própria Natureza, ou por uma ordem introduzida de fora por um criador onisciente e todopoderoso. No mundo moderno o conhecimento dessa ordem, e até mesmo a sua existência,
são pela primeira vez questionados de modo radical, tendo por base as descobertas e
transformações citadas acima.
Nesse processo de elaboração de um novo conhecimento e de definição de uma
nova metodologia científica que evitasse o erro dos antigos, os pensadores modernos se
encontram diante de um dilema e de um desafio. Não podem confiar no saber da tradição
porque esse saber se revelou com freqüência falso e errôneo. É por esse motivo que o
problema do erro e de como evitá-lo, constitui-se em uma das questões fundamentais desse
período. Ora, se a tradição deve ser rejeitada porque sobre ela pesa essa desconfiança, o que
pode ser encontrado que ocupe o lugar dessa tradição, sem, contudo, ser afetado pelas
mesmas dificuldades que a levaram ao fracasso e ao descrédito? Há duas respostas básicas
a essa questão nesse momento inicial. A dos racionalistas, como Descartes, que vê na razão
humana natural o ponto de partida do processo de conhecimento, confiável por ser esta
razão inata. E a dos empiristas que consideram a experiência direta da realidade natural
como o ponto de partida para o processo de elaboração de um saber que não depende dos
pressupostos da tradição, evitando os seus erros. “O homem deve ser como uma criança
diante da natureza”, afirma Francis Bacon (1561-1626).
13
A desconfiança dos filósofos da época em relação à linguagem deve-se
precisamente a esse descrédito da tradição e a essa necessidade de formulação de um novo
modelo de conhecimento. É através da linguagem que as crenças, práticas, e valores da
tradição se formulam, se difundem, se veiculam, se reproduzem. É essencialmente por esse
motivo que ambas essas respostas acima referidas, a racionalista e a empirista, excluem a
linguagem.
Por outro lado, a linguagem é objeto de estudo intenso em campos como a
hermenêutica, a poética e a retórica, que não são, contudo, vistos como estritamente
filosóficos. Talvez se possa até considerar anacrônica essa caracterização de um conceito
genérico ou abstrato de linguagem em relação à filosofia desse período. Talvez não haja
ainda nesse momento uma concepção de linguagem como objeto da filosofia, o que só se
constituirá ao longo do século XIX, levando ao surgimento de uma ciência da linguagem e
de uma filosofia da linguagem efetivamente apenas no período contemporâneo. Mas qual
era finalmente a concepção moderna de linguagem? Trata-se na verdade basicamente da
língua, das diferentes línguas naturais, dos discursos enquanto usos concretos da língua em
contextos determinados e para fins específicos. Esses discursos são, por sua vez, objetos de
quatro tipos básicos de interesse: a gramática que estabelece suas regras de uso correto na
tradição das gramáticas do período antigo e medieval; a hermenêutica, que examina o
discurso religioso como contendo uma mensagem simbólica a ser interpretada e
reconstruída para que seja mais eficaz; a poética que investiga os gêneros literários como o
épico, o lírico, o trágico e o cômico, descreve suas características e fornece os padrões
estilísticos da época; e a retórica que se constitui em um instrumental importante para a
elaboração do discurso persuasivo e da arte de convencer, ou seja, o discurso político. Não
há, contudo, um interesse especificamente filosófico sobre a linguagem e é por isso que
podemos dizer que não há uma filosofia da linguagem.
Minha hipótese básica a esse respeito consiste em manter que embora possamos
encontrar nesse período uma gama ampla e variada de interesses englobando desde o
simbolismo hermético e sua manipulação pela alquimia e pela astrologia, até o projeto,
bastante difundido, de construção de linguagens artificiais, passando ainda por campos
mais tradicionais do saber como lógica e gramática, retórica e poética, que hoje
incluiríamos na caracterização genérica de concepções de linguagem, não havia nesse
14
contexto histórico precisamente essa concepção genérica ou integrada de linguagem que
permitisse unificar todos esses diversos campos de interesse, integrando-os em uma
problemática comum, por exemplo, a questão do significado, que pudesse ser tratada de
modo sistemático. Ao contrário, esses campos de interesse eram considerados como
autônomos, sem nenhuma relação especial entre si e sem nenhuma concepção de que
possuiriam algo que se pudesse considerar um objeto comum.
Em seu domínio específico a filosofia passa por um processo de redefinição de sua
concepção básica, tornando a questão epistêmica, ou seja, a questão sobre a possibilidade e
os fundamentos do conhecimento, como a questão mais central, em conseqüência em
grande parte da crise que mencionamos acima. O desenvolvimento de qualquer área teórica
do saber, de qualquer pretensão à ciência, depende de uma epistemologia básica, ou seja, de
uma análise do conhecimento que justifique em que sentido precisamente esse saber
teórico, ou essa ciência, vêm a ser conhecimento. Essa epistemologia se desenvolve, tanto
na perspectiva racionalista, quanto na empirista, tendo por base uma análise do sujeito do
conhecimento, uma vez que seu projeto é o estabelecimento de uma teoria do conhecimento
centrada no sujeito que possa justificar o processo do conhecimento independentemente do
apelo à tradição que se encontra sob suspeita. Sob que condições o sujeito pode conhecer a
realidade sem recorrer ao conhecimento tradicional é a questão central a que a filosofia se
dedica e o pressuposto de todas as demais questões que possam lhe interessar. A análise do
conhecimento empreendida pela epistemologia moderna em nenhum aspecto depende de
uma consideração da língua ou do discurso, já que o conhecimento depende essencialmente
dos poderes do intelecto e da experiência da natureza e não dos discursos constituídos. Ao
mesmo tempo, nenhum dos interesses tradicionais sobre o discurso acima indicados tem
qualquer relação direta com o problema epistêmico. Ao contrário, e esse é um lugar comum
na filosofia da época, a linguagem é vista precisamente como fonte de erro e, portanto,
como sujeita ao mesmo tipo de desconfiança que o saber tradicional.
É essa visão da linguagem como fonte de erro, a assim chamada doutrina do abuso
das palavras, que gostaria de examinar em mais detalhe através da consideração de dois
pensadores de grande influência no início da Modernidade, Francis Bacon e René
Descartes, que apesar das profundas diferenças entre suas respectivas filosofias,
compartilham, no entanto, o mesmo tipo de visão negativa sobre a linguagem, ou melhor,
15
sobre o discurso, ou talvez mais precisamente, sobre as palavras que compõem esse
discurso.
III. A Doutrina do “Abuso das Palavras”
O que significa exatamente o “abuso das palavras”? Em um sentido amplo, a
concepção segundo a qual a linguagem, entendida aqui como discurso, é veículo das
crenças e valores da tradição e, portanto, o seu uso traz consigo esses erros e equívocos do
passado. Se confiarmos no saber constituído, que se encontra nos livros do passado e nos
discursos dos mestres do saber tradicional estaremos perpetuando esses erros e equívocos.
Além disso, devido à diversidade do uso, freqüentemente as palavras são usadas de forma
variável e imprecisa, o que as torna pouco confiáveis. Esse último argumento remonta à
filosofia grega e encontra-se, por exemplo, no Crátilo de Platão e no Tratado da
Interpretação de Aristóteles. Em sua busca da verdade a filosofia deve encontrar um meio
mais sólido e rigoroso do que as palavras que podem servir para o uso habitual em nossa
experiência comum, mas não para alcançar o conhecimento de verdades universais e
necessárias, nem tampouco para formulá-lo ou expressá-lo.
No Pensamento Moderno, como vimos acima, esse problema ressurge no contexto
da crise do pensamento filosófico e do conflito entre as visões de mundo tradicional, que
luta para se manter, e a nova, que procura se legitimar. A questão do discurso e do
significado das palavras que o compõem é um dos aspectos mais evidentes desse conflito.
O argumento do “abuso das palavras” encontra-se em Francis Bacon notadamente
em seu Novum Organum (1620), sua obra principal de ataque à interpretação escolástica do
modelo aristotélico de ciência, mais especificamente como parte de sua doutrina dos ídolos
(Livro I, seções 38-69), um dos principais pontos de partida da concepção moderna de uma
epistemologia crítica. Bacon distingue quatro tipos de ídolos, falsas noções que afetam a
mente humana e criam obstáculos ao conhecimento: os ídolos da tribo, da caverna, do
mercado e do teatro (op.cit.,seção 39). Os ídolos da tribo pertencem à própria natureza
humana e dizem respeito às limitações cognitivas do ser humano. Os ídolos da caverna são
de caráter individual, resultando tanto das características naturais específicas de cada
indivíduo, quanto de sua formação. Os ídolos do mercado e do teatro nos interessam mais
16
de perto por terem uma relação mais direta com a linguagem. Os ídolos do mercado são os
mais perniciosos, no dizer de Bacon, e surgem em conseqüência da vida social, da interação
entre os homens. Segundo Bacon (op.cit., seção 43) essa interação se faz por meio da
linguagem e “de uma formação inadequada e inepta das palavras resulta uma fantástica
obstrução da mente”; essas palavras “forçam o entendimento, lançam tudo em confusão e
levam a humanidade a inúmeras controvérsias e falácias”(op.cit., loc.cit.). Há dois tipos de
erros que são conseqüência da má influência das palavras sobre o entendimento: palavras
cuja referência é ilusória e resultam de crenças falsas e fantasiosas, como o destino, o
primeiro motor, etc.; e palavras cuja definição é imprópria e confusa, resultando de um
processo de abstração inadequado, o que provoca controvérsias sobre o seu verdadeiro
significado (op.cit., seção 60). Os ídolos do teatro decorrem de teorias e sistemas
filosóficos e científicos falsos e errôneos, que criam “mundos fictícios”, comparados por
Bacon ao teatro (op.cit., seção 44). Embora a crítica de Bacon a essas teorias seja
essencialmente epistemológica, já que é do ponto de vista metodológico que se revelam
errôneas, no entanto, elas se constituem em discursos e dessa forma suas falhas são em
parte as descritas acima na caracterização dos ídolos do mercado. Bacon apresenta ainda
um argumento adicional sobre o abuso das palavras, que consiste em uma tendência do ser
humano, por força do hábito, de prestar mais atenção às palavras do que aos seus
conteúdos, a seu significado, ou seja, às idéias (notions, na terminologia de Bacon)
associadas às palavras. O abuso consiste então em tomar as palavras, cujo uso leva a
distorções e imprecisões, no lugar do que deveriam significar, as idéias ou noções, essas
sim dotadas de valor cognitivo (op.cit., seções 59-60).
A posição de Bacon consiste na rejeição da tradição devido a seus erros e
contradições, a imprecisão das palavras dada a sua variação e origem no uso comum, que as
torna instrumentos ineficazes para a constituição do conhecimento e o caráter equívoco das
definições que se pretendem sobre a natureza das coisas, mas dependem apenas do
significado impreciso das palavras. Bacon acrescenta ainda, como um tipo de abuso, a
relação entre as palavras e as idéias correspondentes, quando em vez de passar das palavras
às idéias nos fixamos nas palavras, um veículo imperfeito desse conhecimento.
Embora a filosofia de Descartes seja radicalmente diferente da de Bacon, sobretudo
por adotar a razão natural ou inata como critério epistemológico de certeza capaz de superar
17
as objeções céticas e fundamentar o novo modelo de ciência, do ponto de vista da
consideração da linguagem há muitas semelhanças entre a posição desses dois filósofos,
encontrando-se em Descartes também a mesma linha de argumentação acerca do “abuso
das palavras”.
A rejeição da tradição, característica dos pensadores inaugurais da Modernidade,
encontra-se explicitamente em várias passagens de Descartes, podendo-se destacar o
prefácio à edição francesa dos Princípios da Filosofia (1647) e a 1ª parte do Discurso do
Método (1637). No Discurso do Método, especificamente, a tradição é identificada com o
saber livresco e com o estudo de obras do passado, que devem ser substituídas pelo saber
adquirido pela experiência própria e pelo pensar por si mesmo. A linguagem, enquanto
discurso, é vista assim como parte dessa tradição. Descartes afirma mesmo que tão logo
pôde, “abandonou inteiramente o estudo das letras”, preferindo o “grande livro do mundo”;
contrastando assim a leitura dos livros da tradição, com a “leitura” do “grande livro do
mundo”, esse sim confiável, porque natural, e podendo ser lido diretamente pelo filósofo a
partir de sua razão e de sua experiência, sem depender de nenhum saber tradicional
(Discurso do Método, 1ª parte ). O estilo biográfico e quase confessional adotado por
Descartes tanto no Discurso quanto posteriormente nas Meditações Metafísicas (1641)
parece visar legitimar essas obras precisamente enquanto expressões das reflexões pessoais
do próprio filósofo que contém, ao mesmo tempo, um convite ao leitor para realizar por si
próprio esse tipo de experiência.
Descartes subordina sempre a linguagem, enquanto discurso, ou enquanto palavras
que compõem o discurso, inteiramente ao pensamento, não lhe dando autonomia, nem
reconhecendo nela nenhum papel epistêmico relevante; ao contrário, e aí se encontra o
“abuso das palavras”, com freqüência, ela é um obstáculo para o conhecimento, tal como
vimos em Bacon.
Este breve exame desses filósofos nos permitiu ilustrar a concepção filosófica
moderna sobre a linguagem, examinando algumas dos principais motivos pelos quais não
se encontra neste contexto uma filosofia da linguagem. Esses motivos podem ser
sintetizados da seguinte forma: 1) A rejeição pela modernidade do saber da tradição, de seu
discurso, portanto; 2) o uso vulgar das palavras que as torna imprecisas e eivadas de falsas
crenças e preconceitos, não se qualificando assim como instrumentos adequados para a
18
ciência; 3) as definições que as teorias científicas apresentam pretendendo ser definições da
natureza das coisas são apenas definições nominais, dependendo desse modo do significado
das palavras que entram nessas definições e recaindo assim no problema anterior; 4) nosso
hábito nos leva a prestar mais atenção às palavras do que a seu significado, isto é, às idéias
a elas associadas, tomando com freqüência uma coisa pela outra, o que provoca erros e
enganos. Excetuando o primeiro ponto, de caráter mais genérico, todos os demais podem
ser entendidos como conseqüências do “abuso das palavras”, como caracterizado acima, no
sentido inicial.
Embora tenhamos nos detido nesses filósofos como ilustrativos da concepção
moderna, essa posição não está de modo nenhum restrita a eles, mas é bastante generalizada
em todo este período, vindo a se constituir em um autêntico lugar comum, e fazendo com
que a investigação da linguagem não tenha qualquer relevância do ponto de vista
epistêmico. É significativo, por exemplo, que obras de grande influência na época como o
Dictionnaire Historique et Critique (1697) de Pierre Bayle, que serviu de modelo a vários
outros dicionários, praticamente não discuta a questão da linguagem.
IV. O “Remédio” para o “abuso”
O primeiro filósofo a divergir explicitamente dessa tendência, dando uma
importância central ao estudo dos signos e de seu significado, ao que denominou Semiótica,
e, portanto, a inaugurar o que, sob certos aspectos, podemos considerar uma filosofia da
linguagem, foi John Locke (1632-1704). Locke está em grande parte de acordo com seus
contemporâneos quanto ao argumento sobre o “abuso das palavras”, quando, por exemplo,
afirma que:
Os homens falam uns com os outros, e discutem entre si, por meio de palavras, cujo
significado não foi acordado entre eles, com base no engano de que o significado comum
das palavras está estabelecido de modo certo, e de que as idéias precisas a que
correspondem são perfeitamente conhecidas, e que seria vergonhoso ignorá-las. Mas ambas
essas suposições são falsas: nenhum nome de idéias complexas é tão bem estabelecido de
modo a determinar significados a tal ponto que sejam usados de modo constante para se
referir precisamente às mesmas idéias.
John Locke, Ensaio, III, xi, 25
19
Sob esse aspecto sua atitude em relação à linguagem não é muito diferente da que
examinamos em Bacon e Descartes. Por outro lado é significativo que em sua obra mais
importante do ponto de vista epistemológico e que teve grande influência no
desenvolvimento do pensamento moderno, o Ensaio sobre o Entendimento Humano
(1689), Locke dedique todo o livro III, intitulado “Sobre as palavras”, ao problema do
significado. Podemos realmente nos perguntar porque Locke julga necessário, após a
discussão com o inatismo cartesiano no livro I, e a apresentação de sua teoria das idéias no
livro II, redigir o livro III dedicado à linguagem, antes do livro IV sobre o conhecimento, se
a linguagem não tem nenhum papel relevante no processo de conhecimento e na
formulação das teorias científicas. A posição de Locke acerca da linguagem, entendida
como palavra, ou seja, signo lingüístico, é na verdade bastante ambivalente. Locke
considera que a linguagem é indispensável para a comunicação, isto é, para veicular nossos
pensamentos a nossos interlocutores e, portanto, é indispensável para a vida em
comunidade, inclusive para a comunidade científica. O filósofo foi um membro ativo da
Royal Society na Inglaterra, participando de suas reuniões e convivendo com os principais
cientistas da época19. Ao mesmo tempo, considera a linguagem sujeita ao “abuso”
exatamente no sentido examinado acima, sendo por este motivo, pouco confiável.
O argumento da imprecisão e da variação do significado é utilizado explicitamente
por Locke:
Embora os nomes “glória” e “gratidão” sejam os mesmos na boca
de todos os homens, em todo um país, contudo a idéia complexa
coletiva, que está no pensamento de cada um, ou que cada um
intenciona por estes nomes, é aparentemente muito diferente em
homens usando a mesma língua.
Locke, Ensaio, III, x, 22.
É este argumento que leva à consideração das palavras como sofrendo um “abuso”,
no mesmo sentido dos filósofos examinados acima:
Este inconveniente do mal uso das palavras os homens sofrem em
suas próprias meditações privadas; mas, muito mais manifestas são
as desordens que ocorrem em conseqüência disso na conversação,
no discurso e na argumentação com outros. Pois a linguagem sendo
19
Restrinjo-me aqui a uma análise do aspecto epistêmico da questão da linguagem em Locke. Uma análise na
mesma linha, ressaltando a importância da comunicação, pode ser feita acerca da filosofia política de Locke,
também de grande importância e influência na época.
20
o veículo por excelência [the great conduit], por meio do qual os
homens transmitem suas descobertas, raciocínios e conhecimento,
uns para os outros, aquele que faz mal uso da linguagem, embora
não corrompa as fontes de conhecimento, que são as coisas elas
próprias; entretanto, ele obstrui ou impede os meios [the pipes]
pelos quais este conhecimento é distribuído para o uso público e
vantagem da Humanidade.
Locke, op.cit., III, xi, 15.
A passagem acima citada revela, contudo, a diferença radical entre a posição de
Locke e a dos filósofos examinados anteriormente. Embora admitindo a imperfeição das
palavras e o inconveniente e as desordens que isso causa, Locke assinala que a linguagem é
o “veículo por excelência” [the great conduit] da comunicação, sendo de vital importância
para a discussão do conhecimento e para sua difusão, o que vem a constituir uma
“vantagem para a Humanidade”. Temos, na verdade, o reconhecimento da necessidade da
comunicação para a ciência, ou seja, a discussão entre a comunidade científica e a
disseminação de suas teorias e descobertas, ao mesmo tempo em que Locke constata a
imperfeição dos meios ou canais [pipes] utilizados para isso. É interessante e significativo,
a esse respeito, o uso por Locke da metáfora mecanicista dos encanamentos e dutos [pipes,
conduit], pelos quais deve circular o conhecimento, mas que se encontram obstruídos pelo
“abuso”. Ressalte-se também que essa dificuldade não afeta as fontes do conhecimento, as
coisas elas próprias, já que se encontra não nelas, mas em nosso modo de representá-las por
meio dos signos. Portanto, Locke segue a posição comum na época ao adotar o argumento
do abuso das palavras, mas afasta-se dessa posição ao destacar a importância da
comunicação entre os cientistas para o desenvolvimento da ciência, indo além do
tratamento do conhecimento científico através de uma análise estrita do sujeito do
conhecimento.
Essa sua posição leva, contudo, a um impasse na medida em que a linguagem é vista
quase que como um “mal necessário”. É em relação a este ponto que encontramos a
contribuição inovadora de Locke. Se as palavras sofrem um “abuso” e se isto causa um
grande inconveniente e desordem, como vimos na passagem acima, é necessário, segundo
Locke, encontrar um “remédio” para o abuso. Isso corresponde ao reconhecimento da
importância da linguagem, de tal modo que, como não podemos prescindir dela, é preciso
superar suas deficiências. Porém, se a posição de Locke é inovadora no sentido da
21
valorização da comunicação a ponto de buscar uma forma de aperfeiçoar o mecanismo pelo
qual essa comunicação se faz - a constituição do significado das palavras - o “remédio” que
oferece não difere muito das posições adotadas anteriormente por Bacon e Descartes. Se as
palavras são veículos das idéias que temos das coisas e é exatamente no processo de
representar as idéias por meio de signos lingüísticos que se dá a imprecisão e a distorção,
então a forma de remediar isso é buscar reconstruir o processo pelo qual essa representação
se constitui. Locke formula assim um método de análise pelo qual a filosofia, em uma
perspectiva epistemológica, deve reconstruir o processo de constituição do significado,
examinando-o com base na relação entre palavras e idéias, segundo sua tese semântica
básica de que “as palavras são signos de idéias assim como as idéias são signos das coisas”
(Kretzmann, 1977), estabelecendo uma relação entre semântica e epistemologia. A
superação dos erros e abusos torna-se possível através da reconstrução, por análise, dessa
relação.
Locke reconhece a relevância da linguagem para a ciência. Embora a linguagem não
seja um instrumento de descoberta do conhecimento, o que se dá através do intelecto e da
experiência, sem a linguagem não haveria comunicação e, por conseguinte, não haveria
difusão do conhecimento. Para que a linguagem seja adequada ao conhecimento que deve
comunicar e difundir, seu vínculo com este conhecimento deve ser explicitado, revelandose a relação entre as palavras e as idéias. São as idéias que dão conteúdo cognitivo às
palavras, enquanto signos convencionais das coisas. As idéias representam as coisas porque
se originam em última instância, pela experiência, da percepção sensível das coisas, pelos
processos de generalização, abstração e reflexão. Portanto, as palavras nos remetem às
coisas por intermédio das idéias. É essa mediação que é recuperada pela análise semântica
realizada pelo filósofo, permitindo corrigir os abusos e equívocos e imprecisões que
decorrem do uso comum em que esse vínculo entre idéias e palavras nem sempre é levado
em conta.
Locke compartilha, portanto, o diagnóstico de grande parte dos filósofos modernos
sobre o “abuso” das palavras e de sua causa. Compartilha também a conclusão de que são
as idéias e não as palavras que devem ser objeto do interesse epistemológico do filósofo.
Porém, difere desses filósofos ao propor um método de análise semântica que sirva de
“remédio” para o abuso, reconhecendo assim que a linguagem pode ter um papel filosófico
22
relevante. Embora a solução de Locke seja essencialmente mentalista, uma vez que
subordina as palavras às idéias, considerando o significado como dependente da
representação mental, ainda assim consiste em uma proposta de uma teoria do significado,
ou seja, de uma filosofia da linguagem.
Estamos ainda muito distantes dos desenvolvimentos posteriores na filosofia e na
ciência da linguagem, que se iniciam no séc. XIX, bem como das posições anteriores, do
final da Idade Média, com as filosofias nominalistas e as gramáticas especulativas, mas, por
outro lado, a posição de Locke parece ser a primeira a romper com a visão puramente
negativa de linguagem na tradição epistemológica moderna, apontando o caminho para o
desenvolvimento posterior de um maior interesse filosófico pela linguagem.
Referências Bibliográficas
Amico, Robert P., The Problem of the Criterion, Rowman & Littlefield Publ.Inc,
1993.
Bacon, Francis. Novum Organum. Chicago, Encyclopaedia Britannica, Great Books,
vol.30, 1956.
Birchal, Telma de Souza, Montaigne e seus duplos: elementos para uma história da
subjetividade, dissertação de doutorado em filosofia, UFMG, 2000, p.4.
Descartes, René, Oeuvres Complètes. Ed.C.Adams e P.Tannery. Paris, Vrin, 1963.
Foucault, Michel de, Le Souci de Soi, Histoire de la Sexualité, vol.3, Paris,
Gallimard, 1984.
Gaukroger, Stephen, Descartes: an intellectual biography. Oxford, Clarendon Press,
1995.
Habermas, J. “La Modernité: um projet inachevé”, Critique, Octobre, 1981, n.431.
Heidegger, Martin, Nietzsche, Paris, Gallimard, 1971.
Kretzmann, Norman. “The main theses of Locke’s semantic theory”, em I.C.Tipton
(org.) Locke on Human Understanding, Oxford, Oxford Univ.Press, 1977.
23
Landim, Raul, “Idealismo ou Realismo na Filosofia Primeira de Descartes: Análise
da Crítica de Kant a Descartes no IV Paralogismo da CRP(A)”, Analytica, vol.2, n.2,
págs.129-159.
Locke, John. An Essay on Human Understanding. Chicago, Encyclopaedia
Britannica, Great Books, vol.35, 1956.
MacPherson, C.B., A Teoria Política do Individualismo Possessivo, Paz e Terra,
1979.
Montaigne, Michel de, Essais, em Oeuvres Completes, Paris, Gallimard, 1962.
Popkin, Richard H., A História do Ceticismo de Erasmo a Spinoza, Rio, Francisco
Alves Ed., 2000 .
Rorty, Richard, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton Univ.Press, 1979.
Rosenfield, Denis, Métaphysique et Raison Moderne, Paris, Vrin, 1997.
Sorell, Tom (org.) The Rise of Modern Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1993.
Taylor, Charles, Sources of the Self, Harvard, Harvard Univ.Press, 1989.
Watson, Richard, The Breakdown of Cartesian Metaphysics, Indianapolis, Hackett,
1987.